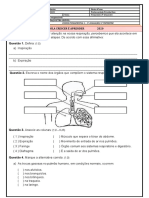Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF
Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF
Enviado por
Anderson Neco RochaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF
Volumes e Capacidades Pulmonares Colunistas - Sanar Medicina PDF
Enviado por
Anderson Neco RochaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Menu
Ciclo Básico
Volumes e Capacidades
Pulmonares | Colunistas
Lucas Queiroz
8 min • 4 de mai. de 2021
Índice
1. Volumes pulmonares
2. Capacidades pulmonares
3. Resumo rápido
4. Determinantes dos volumes
pulmonares
5. Limitações da espirometria
6. Leituras relacionadas
Quer saber tudo sobre volumes e capacidades
pulmonares? Continue lendo este post!
A quantidade total de ar presente nas vias
aéreas de um adulto é tipicamente 5 a 6 litros.
Essa quantia pode ser divididos em uma série
de volumes e capacidades. Esses valores
podem ser facilmente medidos em
instrumentos laboratoriais, propiciando
informações úteis para as avaliações clínicas.
Inicialmente, vamos entender o conceito de
cada um desses volumes e capacidades.
Depois vamos entender o que influencia no
seu valor.
Volumes pulmonares
Corrente (VC): volume de ar inspirado ou
expirado em cada respiração normal.
Reserva inspiratória (VRI): volume máximo
de ar que pode ser inspirado após uma
inspiração espontânea. Isso significa
volume extra de ar inspirado além do
volume corrente normal.
Reserva expiratória (VRE): máximo volume
extra de ar que pode ser expirado em uma
expiração forçada após a expiração
espontânea.
Residual (VR): volume de ar que fica nos
pulmões após uma expiração forçada
máxima.
Mesmo tentando ao máximo, é impossível
esvaziar completamente os pulmões em uma
expiração forçada.
Esse volume que permanece é o volume
residual. Fundamental para manter a abertura
dos alvéolos e impedir a tendência de
colabamento alveolar.
Uma situação de colapso alveolar total
demandaria a geração de uma pressão
anormalmente elevada para reinsuflar os
pulmões. De modo que o volume residual
otimiza o gasto energético.
Além disso, a presença do volume residual
garante contato contínuo entre o sangue
venoso misto e o ar alveolar. Permitindo
continuidade das trocas gasosas mesmo
durante a expiração.
Ventilação Mecânica: entenda as
curvas do ventilador
Cadastre-se e tenha acesso a essa e outras aulas
gratuitas.
Capacidades pulmonares
As capacidades pulmonares são sempre
formadas pela soma de 2 ou mais volumes
pulmonares.
Capacidade pulmonar total (CPT): volume
máximo a que os pulmões podem ser
expandidos com o maior esforço. Ou seja,
representa a quantidade total de ar
presente nos pulmões na inspiração
máxima. Corresponde à soma dos quatro
volumes pulmonares.
Capacidade residual funcional (CRF):
quantidade de ar que permanece nos
pulmões ao final da expiração normal.
Corresponde à soma do volume residual
com o volume de reserva expiratória.
A CRF representa o “ponto de equilíbrio” do
sistema respiratório. Reflete a quantidade de
ar em que a resultante entre as forças de
recolhimento elástico do pulmão anula as
forças de expansão da caixa torácica.
Capacidade inspiratória (CI): volume total
de ar que pode ser inspirado a partir da
CRF. Corresponde à soma do volume
corrente com o volume de reserva
inspiratório.
Capacidade vital (CV): quantidade total de
ar que pode ser mobilizado entre a
inspiração máxima e a expiração máxima.
Reflete a soma entre o volume de reserva
inspiratória, o volume de reserva
expiratória e o volume corrente.
A CV representa a quantidade máxima de ar
que uma pessoa pode expelir dos pulmões
após enchê-los previamente a sua extensão
máxima. Ela corresponde à amplitude útil de
ar disponível ao sistema respiratório.
A monitoração periódica da CV pode ser
usada para seguir a progressão da doenças
pulmonares (obstrutivas e restritivas,
principalmente).
Resumo rápido
Capacidade inspiratória = Volume de
reserva inspiratória + Volume corrente
Cap. vital = Capacidade inspiratória +
Volume de reserva expiratória
Capacidade residual funcional = Volume de
reserva expiratória + Volume residual
Cap. pulmonar total = Capacidade vital +
Volume residual
Capacidade pulmonar total = Capacidade
inspiratória + Capacidade residual funcional
Figura 1: Diagrama mostrando as excursões respiratórias
durante respiração normal e durante inspiração e
expiração máximas
Fonte: HALL, John E. Guyton & Hall – Tratado de
Fisiologia Médica, 13ª edição, 2013
Determinantes dos volumes
pulmonares
Os volumes pulmonares são determinados
pelas propriedades do parênquima pulmonar
e pela sua interação com a caixa torácica.
Desse modo, a magnitude dos volumes de
reserva inspiratória e expiratória depende de
diversos fatores.
Complacência do pulmão: medida das
propriedades elásticas do pulmão que
representa a pressão necessária para variar
o volume pulmonar. Quanto maior a
complacência, menor a força necessária
para enchimento. Assim, quedas na
complacência pulmonar reduzem o VRI.
Volume pulmonar no instante: o VRI
também sofre influência do volume
pulmonar no instante de medida. Uma vez
que o pulmão apresenta diferentes
complacências de acordo com seu volume.
A complacência pulmonar diminui com o
enchimento do pulmão. De modo que
quanto maior o volume após uma
inspiração, menor o volume que pode ser
inspirado e, consequentemente, menor o
VRI.
Força muscular: o VRI diminui quando a
musculatura respiratória está fraca ou sua
inervação está comprometida.
Conforto: dores e lesões limitam a vontade
ou habilidade do paciente de
desempenhar um esforço máximo durante
a inspiração e a expiração. O que pode
reduzir o VRI e o VRE.
Flexibilidade do esqueleto: a rigidez
articular reduz o volume máximo ao qual
alguém pode inflar os pulmões. O que
reduz o VRI. Isso pode ocorrer em doenças
como artrite e cifoescoliose, por exemplo.
Postura: o VRI diminui em decúbito, porque
o diafragma tem maior dificuldade de
mover os conteúdos abdominais. Isso nos
ajuda a entender por que ocorre ortopneia
em certas condições, como a insuficiência
cardíaca.
Todas essas condições que reduzem o VRI
consequentemente diminuem as capacidades
pulmonares que dependem dele. Como a
capacidade inspiratória, capacidade vital e
capacidade pulmonar total.
Pontuações sobre volumes
pulmonares
Além disso, vale ressaltar que os volumes e
capacidades pulmonares são cerca de 20 a
25% menores em mulheres do que homens. E
são maiores em pessoas atléticas e com
maiores massas corporais.
Considerando esses fatores, podemos
perceber que essas medidas são alteradas em
diversas condições. O que justifica a
importância de sua análise na prática clínica.
Um exemplo clássico é o contraponto entre
fibrose e enfisema. Na fibrose pulmonar, o
processo patológico causa deposição de
tecido fibroso, enrijecendo o pulmão e
dificultando seu enchimento.
Dessa forma, há uma redução da
complacência pulmonar, o que resulta em
redução do VRI, da CRF e da CPT.
Em contraste, no enfisema pulmonar, há
destruição da elastina presente na matriz
extracelular. Tornando os pulmões mais
frouxos, o que aumenta a complacência
pulmonar. Dessa forma, há um aumento do
VRI, que resulta em elevação da CRF e CPT.
Limitações da espirometria
O registro indireto dos volumes pulmonares
pode ser feito pela espirometria. Esse método
é usado para avaliar a função pulmonar.
Sendo útil na avaliação da eficácia do
tratamento ou da avaliação de risco no pré-
operatório de cirurgias pulmonares (no caso
de neoplasias, por exemplo).
O espirômetro mede o volume de ar inspirado
e expirado dos pulmões e, assim, permite
calcular mudanças no volume pulmonar. Em
função disso, esse instrumento não é capaz
de medir o volume de ar que existe nos
pulmões, mas apenas a sua variação.
Dessa forma, o espirômetro não serve para
calcular o volume residual e as capacidades
que dependem dele (CRF e CPT), sendo útil
apenas na avaliação dos volumes e
capacidades contidos na capacidade vital.
O VR, a CRF e a CPT podem ser medidos por
outras técnicas. Entre elas: a diluição de gases
com hélio e a pletismografia.
Autor: Lucas de Mello Queiroz – @lucasmello.q
O texto acima é de total responsabilidade do
autor e não representa a visão da sanar sobre o
assunto.
Referências
WEST, John B. Respiratory physiology: The
essentials. 9ª edição. Lippincott Williams &
Wilkins, 2012
LEVITSKY, Michael G. Pulmonary
Physiology. 9ª edição. McGraw-Hill
Education, 2018
CARVALHO, Carlos R. R. de. Fisiopatologia
Respiratória. 1ª edição. Editora Atheneu,
2005
HALL, John E. Guyton & Hall – Tratado de
Fisiologia Médica. 13ª edição. GEN
Guanabara Koogan, 2013
Leituras relacionadas
Saiba tudo sobre a vacina contra o câncer
de próstata, pulmão e ovários
O que preciso saber sobre o uso da
ECMO?
7 revistas médicas que todo profissional de
medicina precisa ler
Três disciplinas mais difíceis do ciclo básico
O que preciso saber sobre drenagem de
abscesso?
Você sabe a resposta dessa questão de
residência?
Com relação à síndrome dispéptica do idoso,
podemos afirmar: I - A gastropatia por AINE é muito
frequente; II - A disfagia alta pode ser uma causa
para dispepsia em pacientes idosos com doença de
Alzheimer; III - A endoscopia alta é um exame de
primeira linha na investigação da dispepsia em
idosos; IV - Os idosos dispépticos devem ser
tratados com inibidor de bomba de prótons, sendo
desnecessário investigação específica nessa
população; São CORRETAS apenas as afirmativas:
A I e II.
B I e III.
C II e III.
D II e IV.
E III e IV.
Política de Privacidade
© Copyright, Todos os direitos reservados.
Entrar
Você também pode gostar
- Atividade Avaliativa de Ciências 4º Ano 2020Documento3 páginasAtividade Avaliativa de Ciências 4º Ano 2020Priscila Dias100% (12)
- Ventilacao Mecanica Invasiva e Nao Invasiva Aplicada A FisioterapiaDocumento92 páginasVentilacao Mecanica Invasiva e Nao Invasiva Aplicada A FisioterapiaUalissonLucasAinda não há avaliações
- Ventilação MecânicaDocumento35 páginasVentilação MecânicaeliseldafariaAinda não há avaliações
- Asma FluxogramaDocumento2 páginasAsma FluxogramaCardio Med100% (1)
- Aula 15 - OxigenoterapiaDocumento8 páginasAula 15 - OxigenoterapiaGabrielNascimento100% (1)
- 6 Sist. RespiratórioDocumento10 páginas6 Sist. RespiratórioDomingos Hernane Mudender100% (1)
- Ficha de Avaliacao de Ciencias Da Natureza Do 6 Ano Sistema RespiratorioDocumento4 páginasFicha de Avaliacao de Ciencias Da Natureza Do 6 Ano Sistema RespiratorioAnonymous bhOvN2cH4LAinda não há avaliações
- Revisão de Ciências p3 8º Ano GabaritoDocumento7 páginasRevisão de Ciências p3 8º Ano GabaritoMaico DenckAinda não há avaliações
- Exerc RespDocumento10 páginasExerc RespAlessandra SonegoAinda não há avaliações
- OxigenoterapiaDocumento9 páginasOxigenoterapiaTurma enfermagem s1 benficaAinda não há avaliações
- Monitorização Respiratória/Ventilatória: R1 Pemi Gustavo Cardozo Lhanos AvilaDocumento31 páginasMonitorização Respiratória/Ventilatória: R1 Pemi Gustavo Cardozo Lhanos AvilafatimmaAinda não há avaliações
- Fisiologia - Respiração Interna e ExternaDocumento7 páginasFisiologia - Respiração Interna e Externacb_penatrujillo100% (4)
- Bingo: Metabolismo Celular: CloroplastoDocumento50 páginasBingo: Metabolismo Celular: CloroplastoCleiton Belizario NetoAinda não há avaliações
- Sistema RespiratorioDocumento1 páginaSistema RespiratorioJulio SanchezAinda não há avaliações
- VENTILAÇÃO MECÂNICA AlunosDocumento28 páginasVENTILAÇÃO MECÂNICA AlunoskakalpAinda não há avaliações
- Sistema RespiratórioDocumento25 páginasSistema RespiratórioDarlan SilvaAinda não há avaliações
- Biofísica Dá Respiração - Medicina VeterináriaDocumento52 páginasBiofísica Dá Respiração - Medicina VeterináriaGuilherme P AraujoAinda não há avaliações
- Slide de BiofisicaDocumento47 páginasSlide de BiofisicaJecivane Solidão0% (1)
- Trabalho Sobre o Ciclo de KrebsDocumento6 páginasTrabalho Sobre o Ciclo de KrebsTeo Silva100% (2)
- Curso 115998 Aula 00 7c98 CompletoDocumento40 páginasCurso 115998 Aula 00 7c98 CompletoAntonioAinda não há avaliações
- 8 Ano CienciasDocumento9 páginas8 Ano CienciasNatali Barauna - DoulaAinda não há avaliações
- Ficha de Preparacao para o Teste Intermedio 3-BiologiaDocumento4 páginasFicha de Preparacao para o Teste Intermedio 3-Biologialili100% (1)
- Gds FisiologiaDocumento6 páginasGds FisiologiaLucas Silva de Oliveira100% (2)
- Oxidação de Substratos Energéticos e Produção de ATPDocumento5 páginasOxidação de Substratos Energéticos e Produção de ATPJuliano BatistaAinda não há avaliações
- 2020 - Sistema RespiratórioDocumento45 páginas2020 - Sistema RespiratórioChanel de mandalena ZinenguaAinda não há avaliações
- NBR14372 - Arquivo para ImpressãoDocumento20 páginasNBR14372 - Arquivo para ImpressãoCarlos Akira TresohlavyAinda não há avaliações
- Exam 1494484Documento8 páginasExam 1494484wellingtonlealAinda não há avaliações
- Sistema RespiratórioDocumento10 páginasSistema RespiratórioFernando João MateusAinda não há avaliações
- Aplicaciones e Implicaciones de La Pausa Al Final de La Inspiración en Ventilación MecánicaDocumento7 páginasAplicaciones e Implicaciones de La Pausa Al Final de La Inspiración en Ventilación MecánicaSaid SanchezAinda não há avaliações
- TTO RespiratorioDocumento20 páginasTTO RespiratorioLaís MedeirosAinda não há avaliações