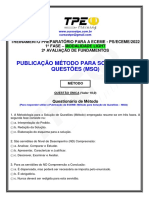Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Escola de Copenhague Nos ESI
Escola de Copenhague Nos ESI
Enviado por
K W0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações43 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações43 páginasEscola de Copenhague Nos ESI
Escola de Copenhague Nos ESI
Enviado por
K WDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 43
O Papel de Sintese
da Escola de
Copenhague
nos Estudos de
Seguranca
Internacional*
Marina Guedes Duque**
O fim da Guerra Fria e seu impacto na sociedade internacional en-
gendraram mudangas profundas nos estudos de seguranga internac
onal, ao colocar em xeque 0 paradigma até entdo predominante do
realismo. Na academia, comegarama se fortalecer as demandas por
uma nova agenda de pesquisa, Essa conjuntura abriu espago para.
uma produtiva insergao dos estudos de seguranga internacional no
didlogo — que ganhava intensidade no campo de teoria das Relagdes
Internacionais — entre as abordagens racionalistas e construtivis-
mo social:
* Artigo recebido em fevereiro e aceito para publicagio em novembro de 2009, Este artigo se baseia
na Dissertagao de Mestrado da autora, intitulada A teoria de securitizagio e o processo decis6rio
da estratégia militar dos Estados Unidos na Guerra do Iraque, apresentada a0 Programa de
P6s-Graduagdo em Relacdes Internacionais da Universidade de Brasilia em 2008.
‘© Mestre em Relagdes Internacionais pela Universidade de Brasilia e diplomata. E-mail: marina
‘guedes @ gmail.com.
CONTEXTO INTERNACIONAL Rio de Janeiro, vol. 31, n?3, setembro/dezembro 2009, p, 459-501.
459
Marina Guedes Duque
Durante a tiltima década, 0 campo dos estudos
de seguranga tornou-se uma das dreas mais di-
namicas e contestadas em Relages Internacio-
nais. Especificamente, ele se tomou talvez. 0
f6rum primario no qual abordagens largamente
construtivistas tm desafiado teorias tradicio-
nais —em sua maioria realistas ou neorrealistas
—no seu “terreno doméstico”, a area em que al-
gumas das mais vibrantes novas abordagens
para a andlise da politica internacional esto
sendo desenvolvidas, e 0 Ambito em que alguns
dos debates te6ricos mais engajados estao
ocorrendo (WILLIAMS, 2003, p. 511). ‘
No campo de relagdes internacionais, o construtivismo, em seus
versos matizes, tem chamado atengo para a construgao social do co-
nhecimento e a construgao social da realidade — 0 que tem suscitado
Tevis6es e reposicionamentos nos estudos da area. Segundo Fearon e
Wendt (2002, p. 53), dois pontos sao considerados principais no de-
bate entre racionalistas e construtivistas:
+ aimportancia das ideias na politica internacional, assim como
a maneira pela qual a influéncia das ideias se processa; nesse
ponto, segundo os autores, ha bem menos discordancias do que
se costuma pensar; e
+ arelacio entre os atores internacionais e as estruturas em que
eles se inserem.
Por outro lado, o debate entre as diversas variag6es do construtivismo
sobre a natureza do conhecimento gerou 0 que Fearon e Wendt iden-
tificam como trés posic¢des construtivistas: a positivista, a “interpre-
tativista” e a pés-moderna.
Todas essas questdes tém sido tratadas no debate que se realiza no
campo dos estudos de seguranga, antes considerado um bastidio do
racionalismo e, mais especificamente, do (neo)realismo. O construti-
vismo, principalmente na forma do trabalho da Escola de Copenha-
460 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
gue, tem tido impacto no mainstream do campo, até entdo represen-
tado majoritariamente por perspectivas positivistas e autores nor-
te-americanos.
O grupo de Copenhague realizou uma sintese proficua nao s6 de dife-
rentes vertentes dos estudos de seguranga, como também das corren-
les realista e construtivista de teoria das Relagoes Internacionais.
Abriu-se espaco, desse modo, para uma nova agenda de pesquisa em
seguranga, que se fazia necessdria apés o fim da Guerra Fria e 0 ad-
vento de uma nova configuragao das relag6es internacionais.
O objetivo deste artigo € analisar a contribuigdo da Escola de Cope-
nhague para os estudos de seguranga da atualidade, por meio do exa-
ime de sua relagao com as tworias das RelagGes Internacionais e seus
desdobramentos no campo de seguranga internacional.’ Para tanto,
em primeiro lugar, realizar-se-4 uma breve contextualizagao da lite-
ratura académica mainstream dos estudos de seguranga desde a gé-
nese do campo, com vistas a compreender melhor o impacto do cons-
trutivismo na 4rea a partir da década de 1990_
Posteriormente, proceder-se-4 a uma breve revisao dos debates reali-
zados tanto entre racionalistas ¢ construtivistas como entre as varia
goes do construtivismo, com vistas a situar 0 trabalho do grupo de
Copenhague nas discussdes da drea. Apresentar-se-4, por fim, um
panorama da produgio da Escola de Copenhague, sustentado em
dois eixas principais: (a) as contribnighes que mais se destacaram: @
(b) os debates suscitados, com as criticas recebidas e as respostas for-
necidas pelos autores.
1. Breve Historico dos
Estudos de Seguranga
Assim como 0 campo das Relagées Internacionais, os estudos de se-
guranga consolidaram-se ao longo do século XX, tendo como mar-
461
Marina Guedes Duque
cos histéricos principais a Segunda Guerra Mundial, a revolugdio nu-
clear, a Guerra Fria e o pés-Guerra Fria. Desde a consolidagao do
campo até 0s dias atuais, ocorreram mudangas considerdveis tanto na
conjuntura internacional como nas perspectivas de estudo utilizadas
— as quais tiveram desenvolvimentos diferentes nos Estados Unidos
da América (EUA) e na Europa, além de refletirem debates realiza-
dos no campo de teoria das Relagdes Internacionais.”
Até a Segunda Guerra Mundial, o estudo da guerra era dominio qua-
se exclusivo dos militares, e o estudo da paz restringia-se ao Ambito
do direito internacional. De acordo com Nye e Lynn-Jones (1988, p.
8), aemergéncia da Guerra Friae o desenvolvimento de armas nucle-
ares chamaram a atengao dos civis para o tema, por causa do ineditis-
mo dos problemas de seguranga a serem enfrentados pelos Estados
Unidos. O contraste entre a situagdo deste pafs e a da Europa, marca-
da pelo flagelo de duas grandes guerras, gerou uma divisiio mais ou
menos definida entre o que seriam:
« 08 estudos estratégicos — predominantes nos EUA e, por con-
seguinte, na maior parte do mundo:* centravam-se na seguran-
ga nacional e eram largamente policy-oriented; &
« os estudos para a paz—prevalecentes na Europa, nao possuiam
tanta repercussfio coma a perspectiva das estudos estratégicos:
enfatizavam as concepgdes de sociedade internacional e segu-
ranga internacional.
Em consonancia com a conjuntura politica internacional e as pers-
pectivas tedricas da época, a génese dos estudos de seguranga nos
EUA ocorreu sob o paradigma do realismo, o que propiciou a elabo-
ragdo dos conceitos de estratégia nuclear, dissuasio ¢ deterrence.
Essa fase inicial do campo, que Freedman (1998) denomina “Anos
dourados” dos estudos estratégicos, ocorre a partir de meados da dé-
cada de 1950 e até 0 comego da década de 1960. Nela, predomina o
trabalho de autores como Thomas Schelling, que tinham por instru-
462 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenh
nos Estudos de Seguranca Internacional
mentos analiticos principais a teoria dos jogos ea premissa do ator ra-
cional, além de, em geral, nao considerarem as varidveis domésticas
das politicas externa e de defesa.
Segundo Freedman (1998, p. 51), no entanto, apés as crises de Ber-
lim e Cuba, no comego da década de 1960, 0 clima de disputa com a
Unido das Repiblicas Socialistas Soviéticas (URSS) arreteceu-se,
a0 Mesmo tempo em que 0 envolvimento dos EUA na Guerra do Vi-
etna tornou o campo de estudos estratégicos menos atrativo. Como
consequéncia, a produgdio dessa época adquiriu cardter mais cético,
“com os analistas advertindo sobre os |
(Alexander George), as distorgées causadas pela politica burocratica
(Graham Allison) e os perigos das percepgdes equivocadas (Robert
Jervis)” (FREEDMAN, 1998, p. 51). Além disso, o tema do controle
de armamentos adquiriu espago politico e académico em meados da
década de 1970.
tes de deterrence e coergio
Com a invasao soviética do Afeganistaio em 1979 e a eleicdo de Ro-
nald Reagan em 1980, entretanto, enecrrou-se a década de détente, ¢
iniciou-se uma época caracterizada por preocupagdes com a compe-
tigdo militar (MILLER, 2001, p. 14-15). Nao por acaso, a publicaciio
de Teoria da politica internacional (no original, Theory of inter-
national politics), de Kenneth Waltz (1979), niio 86 renovou o inte-
resse pela corrente realista de Relagdes Internacionais — entao revista
na forma do que seria conhecido como neorrealismo ou realismo es-
trutural —, como também consolidou uma concepgiio de ciéncias so-
ciais positivista, metodologicamente sofisticada e com inclinagées
te6ricas.° De acordo com Walt (1991), essa “renascenca dos estudos
de seguranga” permitiu a adogio de uma definicao mais ampla de po-
litica, que contemplava fontes nao militares de tensio em lugar de
ater-sc somente as capacidades militares.°
Por outro lado, na década de 1970, 0 declinio relativo da economia
norte-americana e as duas crises do petrdleo levaram alguns estudio-
463
Marina Guedes Duque
sos a demandar a inclusao de quest6es da economia internacional no
conceito de seguranga.” Na década de 1980, a crescente importéncia
concedida as relag6es transnacionais e a interdependéncia econdmi-
ca gerou desafios ao paradigma realista, ainda que continuasse ocor-
rendo no ambito do positivismo metodolégico. A corrente libe-
|-institucionalista, também racionalista, e representada por obras
como Keohane (1984) e Krasner (1983), afirmava que: a seguranga
nao consistia em drea tematica nica ou prioritaria na agenda interna-
cional; e a cooperagaio entre os Estados modificava os incentivos para
agdo, de forma que o uso da forga nem sempre possufa a melhor rela-
¢o custo-beneticio.
ral
Os interesses estatais, segundo a corrente liberal-institucionalista,
nao seriam definidos apenas em termos de poder ou da luta por sobre-
vivéneia; 0 poder militar, por sua vez, perderia utilidade em um qua-
dro de cooperagia interestatal, em decorréncia de seu alto custo rela-
tivo.
Além disso, o alargamento da concepgao de seguranga passou a ser
demandado para incluir quest0es relativas a: (i) recursos, meio ambi-
ente e demografia (MATHEWS, 1989); (ii) ameagas nao militares e
internas (ULLMAN, 1983); e (iii) economia, ecologia, fatores do-
mésticos da seguranga e ameagas transnacionais (HAFTENDORN,
1991). A producio da corrente (neo)realista como um todo, dessa
forma, parecia insuficiente para o estudo dos fendmenos da politica
internacional.”
De modo andlogo, segundo Freedman (1998), 0 colapso da URSS
gerou perda de credibilidade na utilidade de previsao dos estudos es-
tratégicos, uma vez que o evento nao poderia ser explicado dentro do
paradigma do (neo)realismo. Assim, consolidou-se a mudanga do
campo de estudos “estratégicos” para o campo de estudos “de segu-
ranga”. Por outro lado, com a queda do Muro de Berlim, o desapare-
cimento da questdo que até entdo havia ocupado lugar central no
464 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
campo ~a Guerra Fria— foi, segundo Miller (2001, p. 27-37), “libera-
dor” para os estudos de seguranga. Tornou-se possivel, assim, a reali-
zagdo de grandes debates sobre:
+ temas fundamentais das RelagSes Internacionais, como a con-
figuragdo da nova ordem mundial e suas consequéncias;
+ aguerra em geral. Consideraram-se nao sé instrumentos alter-
nativos de politica externa, tais como as sangdes econdmicas,
como também as guerras civis em diferentes partes do mundo,
0 fatores hist6ricos, culturais e socioecondmicos que as influ-
enciavam, e a temdtica da intervendo internacional; e
bas
metodolégicas, te6ricas e conceituais da andlise de
politica internacional e de seguranga.
Nessas circunstancias, os estudos de seguranga inseriram-se no de-
bate mais geral realizado no campo das Relagées Internacionais —
aquele entre racionalistas, pertencentes as correntes (neo)realista e
liberal-institucionalista, e as diferentes variagdes do construtivismo
social. Na proxima secdo, apresentar-se-d de forma breve esse deba-
te, assim como seus reflexos nos estudos de seguranga.
2. O Construtivismo e seu
Impacto nos Estudos de
Seguranca
2.1 Diferencas principais entre o
racionalismo e o construtivismo”
De acordo com os construtivistas, 0 mundo social — assim como as
identidades ¢ interesses dos agentes ~ é construido por estruturas ¢
processos intersubjetivas e coletivos. Para estudé-lo, portanto, é ne-
cessério questionar as premissas realistas ¢ liberal-institucionalistas
sobre a natureza das relagées internacionais, de modo a analisar di-
versas varidiveis que siio tomadas como dadas (ou “naturalizadas”) na
465
Marina Guedes Duque
epistemologia racionalista. O construtivismo, dessa forma, busca re-
ver perspectivas estabelecidas no campo de teoria das RelagGes Inter-
nacionais com o propésito de desvendar processos antes desprezados
¢ de chamar atengao para varidveis cuja relevancia para a anilise vi-
nha sendo subestimada:
strutivistas interessam
da vida
pela forma
cial sio
I... 08 cor
como os objetos e as pritic:
“construidos”, especialmente aqueles que as
sociedades ou os pesquisadores tomam como
dados ou naturais. A naturalizagao € problemé-
tica porque obscurece as formas como objetos
€ priticas sociais dependem, para sua existén-
cia, de escolhas continuas, de modo que ela
pode ser opressiva e representar uma barreira A
mudanga social (FEARON; WENDT, 2002,
p.57).
As principais discordancias epistemolégicas entre racionalistas
construtivistas dizem respeito: (a) a importancia das ideias na andlise
das relag6es internacionais; (b)a relagdo agente-estrutura; ¢ (c) Ana-
tureza das explicagdes no campo de Relagdes Internacionais.
Primeiramente, para os racionalistas, as ideias possuem importancia
no estudo das relagdes internacionais, mas stio objeto marginal de
andlise. Os construtivistas, por sua vez, enfatizam o papel das ideias
na politica internacional, por considerarem que elas desempenham
funcao primordial na construg%o do mundo social.
Para os racionalistas, as varidveis materiais, e nao as ideativas, ocu-
pam lugar central no estudo das relagdes intenacionais. Um exemplo
da centralidade das varidveis materiais nas explicagdes racionalistas
€oconceito de Waltz (1979, p. 79-101) de estrutura do sistema inter-
nacional, definido em termos de trés fatores: o principio ordenador
do sistema; a fungao das unidades que compdem o sistema; ¢ a distri-
buigdo relativa de capacidades materiais entre as unidades do siste-
ma.
466 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
A anarquia internacional — entendida como a auséncia de autoridade
supraestatal — é, para Waltz, a “caracterfstica proeminente” do siste-
ma internacional, ou seja, corresponde ao principio ordenador do sis-
tema desde sua instituigdo. A fungao das unidades que formam o sis-
tema, por sua vez, a mesma para todas, pois todas sao Estados. Des-
se modo, segundo Waltz, dois dos fatores definidores da estrutura do
sistema internacional s4o constantes.
A distribuicdo relativa de capacidades entre os Estados, portanto, 6 0
fator central do conceito de estrutura do sistema internacional
(WALTZ, 1979, p.97); para Wallz, mudangas na distribuigdo relative
de capacidades equivalem a mudangas na estrutura do sistema inter-
nacional. Além disso, Waltz procura desenvolver uma teoria sistémi-
ca, na qual o sistema internacional concentra as varidveis indepen-
dentes da explicago dos fendmenos internacionais. As capacidades
materiais e sua distribuicao relativa, dessa forma, possuem peso con-
siderdvel nas explicagdes neorrealistas das relag6es internacionais.
De acordo com os construtivistas, por outro lado, as capacidades ma-
teriais e os fatos sociais apenas adquirem significado por meio da es-
trutura de conhecimento compartilhado na qual se inserem, ou seja,
por meio das ideias. Essa premissa construtivista é a base da famosa
frase de Alexander Wendt (1992): “a anarquia é aquilo que os Esta-
dos fazem dela”. Para Wendt (1999, p. 260), a auséncia de autoridade
supraestatal ndo significa, necessariamente, que os Estados viverao
algo proximo ao estado de natureza hobbesiano. U estado de guerra
de todos contra todos provém de uma estrutura de ideias comparti-
Ihadas, é resultado de contingéncias hist6ricas — e nao uma conse-
quéneia direta da natureza humana ou da anarquia internacional,
conforme afirmam, respectivamente, realistas e neorrealistas.
A segunda principal discordancia entre as duas epistemologias fun-
da-se em concepgées distintas da relaco agente-estrutura. Os con
trutivistas consideram que as estruturas de ideias e os agentes se
467
Marina Guedes Duque
constituem mutuamente, em um processo dindmico e que abre espa-
co para a mudan¢a social perpetrada pelos agentes. De acordo com
Wendt (1999, p. 308-312), por exemplo, a depender do grau de inter-
nalizagao da cultura politica compartilhada no sistema internacional,
© padrao de interagao entre Estados pode modificar-se mais facil-
mente entre os tipos ideais de cultura hobbesiana (inimizade), locke-
ana (rivalidade) e kantiana (amizade). Além disso, a menos que ocor-
raum grande choque externo, é provavel que o sistema internacional
evolua progressivamente de uma cultura hobbesiana para uma locke-
ana e, finalmente, para uma cultura kantiana (WENDT, 1999, p.
312). Wendt, assim, além de buscar explicar as mudangas nas rela-
Ges internacionais, possui uma visao prospectiva mais otimista do
que aquela dos racionalistas.!°
Os racionalistas, por seu turno, concentram-s
¢ NOs constrangimentos
¢ incentivos das estruturas sobre os agentes, ou seja, concebem uma
relacdo agente-estrutura de carter mais estitico, em que se privilegi-
am as continuidades no sistema internacional. A prépria intengao de
‘Waltz, por exemplo, de elaborar explicagdes causais nas quais as va-
ridveis explicativas sao sistémicas demonstra a énfase dada a estrutu-
ra do sistema internacional, em detrimento das unidades estatais (os
agentes). Além disso, a relagao entre estruturas e agentes, para os ra-
cionalistas, centra-se nus aspects matetiais: apenas os agentes privi-
legiados pela distribuigdo relativa de capacidades interferem de algu-
ma forma na estrutura, a0 passo que os agentes mais fracos se limi-
tam a sofrer constrangimentos. Nas palavras de Waltz (1979, p. 94):
“Contanto que os Estados principais sejam os atores principais, a es-
trutura da politica internacional é definida em termo deles”. As agdes
dos Estados mais poderosos, desse modo, possuem impacto sobre to-
das as unidades do sistema internacional.
Aterceira discordancia principal entre as epistemologias racionalista
e construtivista concerne aos objetivos da explicago no campo das
Relagdes Internacionais. Os construtivistas nao buscam formular
468 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
apenas explicagdes causais, como os racionalistas, mas também ex-
plicagdes constitutivas — ou seja, eles nao pretendem apenas dizer
como as coisas sao, mas também como elas se tornaram 0 que sao.
Para 0s construtivistas, tanto as estruturas e processos sociais como
08 objetos de andlise so historicamente contingentes, e nao a Gnica
configuraciio possivel das relag6es internacionais — como 0 mundo
foi apresentado, por muito tempo, pelos racionalistas. A anarquia in-
ternacional ou uma determinada concepgdo da natureza humana,
nesse sentido, nao implicam que os Estados vivam em condi¢ao se-
melhante ao estado de natureza hobbesiano, e tampouco determinam
que os interesses estatais sejam definidos em termos de poder ou de
sobrevivéncia.'! Essa percepgaio das relagées internacionais identifi-
cada com 0 (neo)realismo se constituiu por meio de processos histé-
ricos e sociais; ela ndo é, portanto, inevitével ou imutavel.
Além de analisar os processos causais de socializagéio por meio dos
quais os agentes adquirem identidades ¢ interesses especificos, por
exemplo, os construtivistas procuram analisar as condig6es constitu-
tivas das estruturas dos processos sociais que influenciaram a for-
magio de identidades e interesses. Os interesses estatais, de acordo
com a epistemologia construtivista, nao decorrem diretamente de
circunstincias sistamicas on psicoldgicas: eles provém de pracessos
de socializago, nos quais sao formadas também as identidades esta-
tais. E essencial, por conseguinte, nao sé analisar os processos cau-
sais de formagao de identidades e interesses estatais, como também
examinar as condig6es constitutivas desses processos. Apenas assim
€ possivel, segundo os construtivistas, explicar por que, entre uma
gama de identidades ¢ interesses concebiveis, formaram-se algumas
combinagées especificas. Por outro lado, é justamente a busca por
explicagdes constitutivas que permite ao construtivismo questionar 0
determinismo (neo)realista e explicar a mudanga nas relagées inter-
nacionais.
Em suma, os racionalistas: concedem as varidveis materiais papel
central na andlise das relagdes internacionais; enfatizam os constran-
469
Marina Guedes Duque
gimentos e incentivos das estruturas sobre os agentes; e visam tecer
explicagdes causais para os fendmenos estudados em Relacées Inter-
nacionais. Os construtivistas, por seu turno: enfatizam a importancia
das ideias no estudo das relagdes internacionais, consideram que
agentes ¢ estruturas se constituem mutuamente; ¢ buscam tecer
explicag6es nao s6 causais como também constitutivas.
‘Uma vez apresentado o panorama geral das diferengas epistemolégi-
cas entre o racionalismo e o construtivismo, analisar-se-ao, na pr6xi-
ma seco deste artigo, as diferentes vertentes do construtivismo, com
© propésito de se examinarem, na segiio seguinte, os desdobramentos
te6ricos do campo das Relagées Internacionais nos estudos de segu-
ranga internacional. Isso permitird considerar, posteriormente, as
contribuigées da Escola de Copenhague para a nova agenda de
pesquisa do campo de seguranga internacional.
2.2 As variagées do
construtivismo
Apesar de haver uma base comum da abordagem construtivista das
Relagoes Internacionais, hd importantes pontos de dissenso entre os
autores, que se identificam com diferentes variagées do construtivis-
mo. Da mesma forma que as discordancias entre o racionalismo ¢ 0
construtivismo se refletem nos estudos de seguranga internacional,
Os pontos de dissenso entre construtivistas possuem impacto sobre as
Pperspectivas no campo de seguranga, como se ver. E, portanto, fun-
damental analisar as diferentes variagdes do construtivismo antes de
se considerarem as principais correntes teéricas do campo de segu-
ranga internacional.
Segundo Fearon e Wendt (2002, p. 57), um dos pontas de dissenso
entre construtivistas diz respeito & natureza do conhecimento —o que
configura uma discussio na qual se distinguem pelo menos duas
questdes epistemolégicas principais. A primeira questiio epistemo-
470 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
I6gica é denominada a “questo do relativismo”: pode-se conceder as
declaragdes de conhecimento sobre 0 mundo social mais do que po-
der discursivo? Em outras palavras: existe uma realidade externa aos
observadores, que pode ser “testada” empiricamente? E, por outro
ado, quais as consequéncias de se adotar tal premissa?
A segunda questo epistemoldgica ¢ denominada a “questo do nawu-
para os estudos so-
ralismo”: as explicagdes causais so apropriad:
ciais? Ou elas implicariam a naturalizagao de praticas construidas so-
cialmente? Essa questio diz respeito a possivel interferéncia dos ob-
servadores na reprodugao, constituigio e fixacilo das préticas sociais
observadas; ela pressupde outra questio: é possivel separar 0 obser-
vador do agente?
Com base na “questao do relativismo” e na “questao do naturalis-
mo”, Fearon e Wendt (2002, p. 56-58) estabelecem trés posigdes
dentro do construtivismo:
(i) a positivista, que reponde afirmativamente a ambas as ques-
tes, ¢ aproxima-se do racionalismo. Para os construtivistas
positivistas, existe uma realidade objetiva que pode ser “testa-
da” empiricamente, e as explicagdes causais sao apropriadas
para os estudos sociais. Essa posicao é, assim, caracterizada
como “objetivista”, e tenta se espelhar nos procedimentos
metodolégicos das ciéncias naturais;
(ii) ainterpretivista, que responde afirmativamente & “questo do
relativism” © negativaneute & “questau du naturalisiu”. Os
construtivistas interpretivistas também podem ser qualifica-
dos como “objetivistas”, por considerarem que ha uma reali-
dade externa aos observadores, mas, diferentemente dos cons-
trutivistas positivistas, eles acreditam que explicagées causais
acarretam a natnralizacio de pratieas canstrnidas socialmente:
e
(iii) _apds-moderna, que responde negativamente a ambas as que:
t6es. Os construtivistas pés-modernos refutam a existéncia de
471
Marina Guedes Duque
uma realidade objetiva e consideram ser impossivel separar 0
observador do agente. Para eles, a observacao implicaria sem-
pre a naturalizagao das praticas observadas, ou seja, a interfe-
réncia nas praticas sociais observadas, no sentido de sua repro-
dugio, constituigao e fixacao.
De modo similar, Hopf (1998) realiza uma distingao entre 0 que de-
nomina variac6es convencional e critica do construtivismo. Sua dis-
tingdo baseia-se em outro ponto de dissenso entre os construtivistas.
Os construtivistas criticos, segundo Hopf, possuem 0 objetivo de ilu-
minare emancipar os individuos, ao desvendar, por meio da observa-
ao e da anilise, as relagdes sociais de poder. As consequéncias poli-
ticas desencadeadas pela andlise constituem preocupagao central dos
construtivistas criticos, ao passo que os construtivistas convencio-
nais nao concedem relevancia a essa questao:
A abordagem da identidade por parte da teoria
critica fundamenta-se em pressupostos sobre o
poder. Os te6ricos criticos veem 0 poder como
sendo exercido em cada intercambio social, e
hd sempre um ator dominante nesses intercim-
bios. Desmascarar as relagdes de poder é uma
grande parte da agenda substantiva da teoria
critica: o construtivismo convencional, por ou-
tro lado, permanece “neutro analiticamente”
sobre a questiio das relagdes de poder (HOPF,
1998, p. 185)
O construtivismo, dessa forma, nao deve ser concebido como um
mondlito. Hé uma base comum para a epistemologia construtivista—
apresentada de modo breve, na segao anterior, durante a comparacao
com o racionalismo ~, mas exisiem, ao mesmo tempo, discordancias
importantes dentro da corrente construtivista. Coma se veré na préxi-
ma segio deste artigo, as controvérsias tanto entre racionalistas e
construtivistas como entre construtivistas refletem-se nas discussdes
atuais dentro do campo de seguranga internacional.
472 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
2.3 Reflexos das discussées
teéricas nos estudos de
seguranca internacional
Segundo Buzan (1997), no campo tedrico dos estudos de seguranga,
podem-se distinguir trés vertentes:
w
(ii)
(ii)
a tradicionalista, que: (a) enfatiza 0 uso da forca e as questoes
militares; (b) estuda as ameagas a seguranga a partir de uma
perspectiva objetivista, mesmo quando considera os proble-
mas de percep¢ao por parte dos tomadores de decisao; e (c)
estado-céntrica em alguns de scus autores;
a vertente critica, que considera que as ameagas e os objetos de
seguranga so socialmente construidos, de forma que nao é
possivel determiné-los sem realizar uma interferéncia na cons-
trugdo social (ou uma naturalizagiio). Para essa vertente, por-
tanto, os académicos possnem o papel de mostrar a possibili-
dade de construgées sociais diferentes e, dessa forma, emanc!
par os individuos;"? e
avertente abrangente —na qual se inclui a Escola de Copenha-
gue —, que defende: (a) o alargamento do conceito de seguran-
ga, com base na existéncia de ameagas nao militares e (b) a re-
definigao do significado de seguranga como ato de fala (spe-
ech-act). Essa vertente representa, assim, uma posigdo inter-
mediaria entre as duas outras vertentes de estudos de seguran-
ga.
As trés vertentes no campo de seguranga internacional identificadas
por Buzan (1997) refletem nao sé as discordancias no campo de teo-
ria das Relagdes Internacionais, entre racionalistas e construtivistas,
como também os pontos de dissenso entre construtivistas. Como de-
monstra 0 Quadro 1, a vertente “tradicionalista” de seguranga inter-
nacional pode ser associada ao racionalismo e ao construtivismo
“positivista” ou “convencional”, da mesma forma que a vertente “cri-
tica” se associa ao construtivismo “pés-moderno” ou “critico”. A’
473
Marina Guedes Duque
vertente “abrangente”, por sua vez, est4 relacionada ao construtivis-
mo “interpretivista” ou “convencional”.
Quadro 1
Base Te6rica das Vertentes do Campo de Seguranca Internacional
Racionalismo Variagées do Variagées do
Construtivisme Gonsuutivisiie
Construtivismo (EARON; (HOPF, 1998)
WENDT, 2002)
A + & Tradicionalista racionalista _posttivista, ‘convencional
8 geek
eka
eg Ss ‘i 5 ‘i
$8235 critica consirutivista |pés-modema —_ritica
saSes
§E B35 Abrangente consiutivista jnterpretivista_convencional
S83Ee
Embora ambas as vertentes tenham realizado contribuig6es relevan-
tes A acumulagiio de conhecimento na drea de seguranca internacio-
nal, tanto a vertente tradicionalista como a critica enfrentam limita-
des em seu desenvolvimento. Por um lado, os tradicionalistas, que
ocupam historicamente posigdo hegemOnica dentro do campo de es-
tudos de seguranga, ainda nao lograram formular um quadro te6rico
© conceitual que permita lidar com as mudangas verificadas no con-
texto pés-Guerra Fria. A posigao tradicionalista no debate limita-se a
contestar as perspectivas bascadas no construtivismo, sem propor
novas alternativas ou mesmo assimilar contribuig6es construtivistas.
Por outro lado, a vertente critica, em larga medida, nao visa formular
um quadro teérico e conceitual ou realizar investigagdes empiricas,
mas sim demonstrar as construgdes sociais realizadas no campo dos
estudos de seguranga. Ela se limita, muitas vezes, ao objetivo politico
de emancipar os individuos das relagdes de poder consolidadas.
Dessa forma, destaca-se o trabalho da vertente abrangente. Ao longo
das duas tiltimas décadas, a Escola de Copenhague desenvolveu um
quadro tesrico e conceitual inovador, cujo escopo permite a interpre-
474 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
taco de continuidades e mudangas no ceniirio internacional, ao ser
aplicdvel nao sé ao perfodo atual como também a histéria recente das
relages internacionais. O grupo de Copenhague realizou uma pro-
dutiva sintese tanto das vertentes tradicionalista e critica de seguran-
¢a internacional como das abordagens realista ¢ construtivista de
teorias das Relagdes Internacionais; ele abriu espago, assim, para
uma nova agenda de pesquisa na drea.
O trabalho da Escola de Copenhague, além disso, concedeu fluidez
a0 didlogo entre os estudos sobre seguranca, de origem estaduniden-
se, e os estudos para a paz, de origem europeia. Observa-se, assim,
um impacto inédito de perspectivas europeias no mainstream do
campo de seguranga, centrado nos Estados Unidos. Faz-se nec
rio, por conseguinte, conhecer e analisar os instrumentos analiticos
sa possibilitar
© refinamento e 0 aprofundamento da abordagem proposta pelo
grupo.
sd
desenvolvidos pela Escola de Copenhague, com vis
As discussdes epistemoldgicas e tedricas entre racionalistas e cons-
trutivistas, e de construtivistas entre si, desse modo, estabelecem 0
contexto do desenvolvimento do trabalho do grupo de Copenhague,
que serd analisado na proxina sega,
3. A Escola de Copenhague:
Uma Perspectiva
Nesta segao, apresentar-se-4 um breve histérico da produgao da
Escola de Copenhague, sobre dois eixos principais: (a) as contribui-
ges que mais se destacaram; ¢ (b) os debates suscitados pelo traba-
Iho da Escola, com as criticas recebidas e as respostas fornecidas pe-
Jos autores. Como referéncia, serao consultadas as obras mais recen-
tes e que possuem carater mais geral/tedrico da Escola, notadamente
Waever (1995), Buzan (1997), Buzan et al. (1998) e Buzan e Waever
(2003).
475
Marina Guedes Duque
Em 1985, fundou-se o Centre for Peace and Conflict Research, atual-
mente Conflict and Peace Research Institute (COPRD, que veio a ser
conhecido como Escola de Copenhague, pela coeréncia e continui-
dade do conjunto de sua obra.'* Ole Waever esteve no projeto desde o
inicio, e Barry Buzan passou a incorpord-lo em 1988. O trabalho an-
terior do grupo, no entanto, ja refletia impacto considerdvel de obras
de Buzan, Pode-se dizer que a raiz do papel de sintese do trabalho da
Escola se encontra na parceria entre os dois autores, que em obras an-
teriores possufam, respectivamente, inclinagdes mais associadas ao
construtivismo e ao realismo.'* O trabalho da Escola de Copenha-
gue, portanto, caracteriza-se por uma dinamica coletiva e pelo que
Huysmans (1998b) chama “desenvolvimento criative”: ha unidade,
proveniente da continuidade e coeréncia que o caracterizam, e ao
mesmo tempo hi criatividade, representada por mudangas proveni-
entes da revisio do trabalho e da formulagao de ideias.
Como observa Huysmans (1998b, p. 482), ha duas motivagdes prin-
cipais no alargamento da agenda de estudos de seguranga proposto
pela Escola:
+ o interesse, de natureza empirica, em relagao a tendéncia veri-
ficada nas agendas de seguranga da Europa de considcrar as
questdes nio militares como questdes de seguranga: e
+ 0 interesse académico de formular uma contribuigao original
para os debates tesricos realizados na drea de seguranga inter-
nacional.
Talvez. como consequéncia do carter tanto empirico como académi-
co de suas motivagdes de pesquisa, a Escola adota uma abordagem
interpretativa da seguranca internacional, na qual: “Os fatos nao cor-
roboram ou falsificam [a teoria]; eles nao esta externamente, mas
internamente relacionados ao empreendimento teérico”
(HUYSMANS, 1998b, p. 485). Ao mesmo tempo, ao pressupor que
existe uma realidade empirica que pode ser investigada e, assim, pro-
476 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
ver a base para seus estudos, a Escola desvincula-se da perspectiva
que denomina “(des)construtivista”, caracteristica da vertente critica
dos estudos de seguranca.
Entre as contribuigdes mais relevantes da Escola de Copenhague
para os estudos de seguranga, encontram-se: (i) 0 conceito de securi-
tizayau; (ii) as uuvas unidades da andlise de seguranya; € (iii) a abur-
dagem multissetorial da seguranga.!° A seguir, serdio explorados es-
ses pontos, com 0 propésito de se observar seu papel de sintese nos
debates do campo de seguranga e de teoria das Relagdes Internacio-
nais,
3.1 Contribuicées do
trabalho da Escola de
Copenhague
3.1.1 O conceito de securitizacao
Oconceito de securitizagao proposto pela Escola de Copenhague é 0
exemplo mais evidente da aplicagao da epistemologia construtivista
no trabalho do grupo. De acordo com 0s construtivistas, o mundo so-
cial—assim como as identidades e os interesses dos agentes — é cons-
trufdo por estruturas € processos intersubjetives e coletivos. Enquan-
to os tradicionalistas vinculam o estudo da seguranga a existéncia de
ameagas objetivas, os autores de Copenhague consideram que as
ameagas a seguranga sao socialmente construidas. A securitizagao e
08 critérios para securitizagao, segundo o grupo de Copenhague, so
praticas intersubjetivas, por meio das quais um agente securitizador
procura estabelecer socialmente a existéncia de uma ameaga a sobre-
vivéncia de uma unidade (BUZAN et al., 1998, p. 29-31).
Para Buzan etal. (1998, p. 30), como nao é possivel medir a seguran-
¢a objetivamente, uma abordagem objetivista da seguranga sé é vid-
vel em casos de ameagas inequivocas e imediatas, como tanques hos-
477
Marina Guedes Duque
tis cruzando a fronteira de um pais. Mesmo nesse caso, no entanto, os
autores observam que a condig2o de “hostilidade” resulta de uma re-
lagdo constitufda socialmente e, por conseguinte, nao é objetiva; os
tanques poderiam ser, por exemplo, parte de uma operag&o de paz.
Para que uma questao seja considerada como de seguranga, é neces-
sitio que isso seja estabelecido socialmente por meio de praticas
intersubjetivas.
A Escola utiliza, assim, 0 conceito de “ato de fala” (speech-act), pro-
vyeniente da lingufstica, para analisar 0 processo comunicativo por
meio do qual uma questao é transposta para a esfera da seguranga. A
securitizagao é, segundo Buzan et al. (1998), um “ato de fala”. Esse
conceito, cuja formulacao se atribui a John L. Austin, baseia-se na
premissa de que o discurso € uma forma de ago e, portanto, carrega
consequéncias.'° Segundo a Escola de Copenhague, palavras que fa-
zem referéncia a ameagas a existéncia de uma unidade, além de
serem apenas signos linguisticos, trazem consigo a demanda de que
medidas sejam tomadas para contrabalangar as ameagas. Tal aspecto
se reforga se o agente securitizador é um representante do Estado e se
encontra, por conseguinte, em condigdes de implementar as medidas
demandadas, apés requerer poderes especiais para tanto:
O que &, entio, a seguranga? Com o auxilio da
teoria da linguagem, podemos conceber a se
guranga como um ato de fala. Nessa acepeao, a
seguranga nfo é objeto de interesse como um
signo que se refere a algo mais real: a fala em si
€oato, Ao se falar, algo ¢ feito (como ao se fa~
zerem apostas ou promessas, ou ao se dar nome
a.um navio). Ao dizer “seguranga”, um repre-
sentante estatal faz referéncia a um aconteci-
mentoem uma drea especffica, e assim deman-
da um direito especial para utilizar quaisquer
meios que se fizerem necessérios para evitd-lo
(WAEVER, 1995, p. 55).
478 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
Segundo Buzan et al. (1998, p. 26), portanto, para se estudar a securi-
tizagdo, é necessério estudar os discursos de securitizagao, que pos-
suem uma estrutura retérica especifica. Nesse tipo de discurso, 0
agente securitizador faz referéncia nao s6 a sobrevivéncia de uma
unidade, como também a prioridade de acdo para conter uma ameaga
a existéncia da unidade — sem necessariamente utilizar a palavra “se-
guranga”. Segundo os autores, o significado da securitizagiio nao é
fixo, mas se baseia em seu uso por parte dos agentes securitizadores.
O discurso de securitizagao, no entanto, nao acarreta a securitizagao
de um tema de forma automitica; ele é apenas uma iniciativa de secu-
ritizagdo (securitization move), que pode ser aceita ou no. A securi-
tizagio sé é efetivada quando o piiblico considera legitima a deman-
da do agente securitizador, e a ameaga é estabelecida com saliéncia
suficiente para que se justifique a quebra das regras normais da
politica com vistas a contrabalangar essa ameaga (BUZAN et al.,
1998, p. 25).
Quando um tema é securitizado, ele sai da esfera da politica normal e
pas:
sa para a esfera da politica emergencial, caracterizada pela confi-
dencialidade © pela desconsideragau dos mecanismos institucionais
normais ~ 0 que costuma legitimar, por exemplo, 0 uso da forga.'7
Uma securitizagao bem-sucedida, desse modo, “possui trés compo-
nentes (ou passos): ameagas a existéncia, agdo emergencial e efeitos
nas relagdes entre as unidades por meio da quebra de regras”
(BUZAN etal., 1998, p. 26).
A securitizago pode ser vista de forma mais geral como uma versio
extrema da politizagiio (BUZAN et al., 1998, p. 23). Politizagaio e se-
enritizagiio, assim, encantram-se emnm continuum de temas, que vai
desde temas “nao politizados” (que nao so objeto de politicas esta-
tais ou de debates piblicos) aos “politizados” (objeto de politicas
publicas) e, entio, aos securitizados:
479
Marina Guedes Duque
A “seguranga” 6 a iniciativa que leva a politica
além das regras estabelecidas do jogo e identi-
fica a questo como uma forma especial de po-
litica ou acima da politica, A securitizac:
pode ser vista, assim, como uma versio mais
extrema da politizacdo. Em tese, qualquer as-
sunto ptiblico pode ser situado no espectro que
vai de assuntos nao politizados (ou seja, o Esta-
do nao lida com eles, ¢ eles no so temas de
discussdes ou decisdes ptiblicas) a assuntos po-
litizados (ou seja, 0 assunto & objeto de politi-
cas puiblicas e requer decisdes e alocagoes de
recursos por parte do governo, ou, mais rara-
mente, requer outra forma de administracao
comunitaria) e ainda a assuntos securitizados
(ou seja, apresentados como uma ameaga a
existéncia, que requer medidas de emergéncia
¢ justifica a tomada de agdes fora das fronteiras
normais dos proccdimentos politicos)
(BUZAN et al, 1998, p. 23-24).
A securitizagaio coloca as questées acima da politica normal, ¢ no
Ambito do que Waever (1995) denomina “politica do pnico”, na qual
a desvinculacio em relacdo &s regras normais justifica tornar assun-
tos confidenciais, criar poderes executives adicionais ou desempe-
nhar atividades que, de outro modo, seriam ilegais. A securitizagdo
possui, portanto, impacto consideravel sobre © processo decisério
que concerne a questdes relacionadas ao objeto referente.
Para a Escola de Copenhague, uma vez que a securitizagao leva as
questdes para o Ambito da “politica do panico”, a seguranga nao pos-
sui valor intrinsecamente positivo, como veem os tradicionalistas.
Muito pelo contrario; segundo Buzan et al. (1998, p. 4, 29), ndo s6a
securitizagfo deve ser evitada na maioria dos casos, como também se
deve visar a “dessecuritizagao” dos temas e a sua discussio no ambi-
to da politica normal. Essa posigdo consiste, assim, na parte normati-
va da teoria desenvolvida pela Escola de Copenhague. Ela represen-
480 CONTEXTO INTERNACIONAL ~ vol. 31, n®3, setembro/dezembro 2009
© Papel de Sintese da Escola de Copenhague
nos Estudos de Seguranca Internacional
ta, ademais, um limite ao alargamento da agenda de seguranca que se
realiza ao se considerar a “politica de ameagas a existéncia” como 0
foco dos estudos de seguranga e se permitir, por conseguinte, a andli-
se de varios setores tematicos. De acordo com Buzan (1997, p. 15),
esse limite impede que se perca a qualidade essencial do conceito de
seguranga. Ao mesmo tempo em que conceber a securitizagao como
um ato de fala permite considerar um amplo espectro de ameagas in-
tersubjetivas, variando de Estado para Estado, 0 objetivo normativo
de dessecuritizago reduz a gama de temas com legitimidade sufi-
ciente para pertencerem a agenda de seguranca.
Além disso, as iniciativas de securitizagdo com maior probabilidade
de sucesso, o formato em que podem ser feitas, os objetos a que po-
dem se referir e as posigdes sociais que Ihe conferem mais credibili-
dade sao praticas profundamente sedimentadas e estruturadas. Exis-
tem “condigdes facilitadoras” — condicdes sob as quais um ato de fala
€ bem-sucedido em relagdo a seus objetivos — especificas para cada
setor temdatico, o que limita as chances de sucesso das iniciativas de
das ao objetivo normativo de limitar 0 conjunto de temas sujeitos a
securitizacao, as condigées facilitadoras fornecem a nova agenda de
pesquisa em seguranga internacional, segundo os autores de Cope-
nhague, um objeto de estudo relativamente previsivel, em lugar de
aberto e sujeito a todo tipo de expansdes.
© conceit de securitizagau deseuvelvido pela Escola de Cupentia-
gue, desse modo, é representativo da posicio intermediaria que 0
grupo ocupa nas discuss6es tedricas do campo de seguranga interna-
cional. Para a corrente critica, como se vera, 0 conceito de seguranga
deve ser alargado, mas sem que se determinem (ou “naturalizem”) as
praticas que corresponderiam a ele. Para a corrente tradicionalista,
por outro lado, o alargamento acarreta a perda da coeréncia intelectu-
al do conceito de seguranga, que deveria continuar a se restringir ao
que a Escola de Copenhague denomina setores politico e militar.
481
Você também pode gostar
- Método Sem MistérioDocumento74 páginasMétodo Sem MistérioK WAinda não há avaliações
- Mov RTRDDocumento2 páginasMov RTRDK WAinda não há avaliações
- Anexo - Memento de LiderançaDocumento3 páginasAnexo - Memento de LiderançaK WAinda não há avaliações
- Dissertação - Mariana Miranda Freire Rondon - 2015 - CompletaDocumento114 páginasDissertação - Mariana Miranda Freire Rondon - 2015 - CompletaK WAinda não há avaliações
- Memento Loc P RTRDDocumento1 páginaMemento Loc P RTRDK WAinda não há avaliações
- Check ListDocumento1 páginaCheck ListK WAinda não há avaliações
- O Frag Mov RTRD MangiavacchiDocumento3 páginasO Frag Mov RTRD MangiavacchiK WAinda não há avaliações
- Memento Loc Trens MangiavacchiDocumento2 páginasMemento Loc Trens MangiavacchiK WAinda não há avaliações
- Diferença de Operaçao de Pacificaçao E AogDocumento4 páginasDiferença de Operaçao de Pacificaçao E AogK WAinda não há avaliações
- Memento de 2º e 3º MangiavacchiDocumento3 páginasMemento de 2º e 3º MangiavacchiK WAinda não há avaliações
- 02 - 2 Avl TPE PSECEME2022 1 Fase Guia Al e FAC 2021 ProntoDocumento8 páginas02 - 2 Avl TPE PSECEME2022 1 Fase Guia Al e FAC 2021 ProntoK WAinda não há avaliações
- Memento O Frag MangiavacchiDocumento2 páginasMemento O Frag MangiavacchiK WAinda não há avaliações
- Resumo - Teorias Geopolíticas Clássicas e ContemporâneasDocumento27 páginasResumo - Teorias Geopolíticas Clássicas e ContemporâneasK WAinda não há avaliações
- 01 - 1 Avl Tpe Pseceme2022 1 Fase Guia Al e Fac 2021 ProntoDocumento4 páginas01 - 1 Avl Tpe Pseceme2022 1 Fase Guia Al e Fac 2021 ProntoK WAinda não há avaliações
- Hist Bunker CompletoDocumento263 páginasHist Bunker CompletoK WAinda não há avaliações
- 1 - Analisar Barema 17Documento4 páginas1 - Analisar Barema 17K WAinda não há avaliações
- Bizurometro de GeografiaDocumento25 páginasBizurometro de GeografiaK WAinda não há avaliações
- Geo Bunker CompletoDocumento237 páginasGeo Bunker CompletoK WAinda não há avaliações