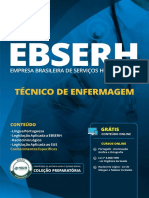Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Art07 Moura
Art07 Moura
Enviado por
Fer NandaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Art07 Moura
Art07 Moura
Enviado por
Fer NandaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Educao Unisinos 10(3):228-236,setembro/dezembro 2006 10 2006 by Unisinos
Explorando outros cenrios: educao no escolar e pedagogia social
Exploring other scenarios: Non-formal education and social pedagogy
Eliana Moura
elianapgm@feevale.br
Dinora Tereza Zuchetti
dinora@feevale.br
Resumo: Este ensaio pretende problematizar o termo Pedagogia Social tal como empregado na Europa, mais especificamente na Espanha e Portugal, em comparao s prticas de educao no escolar construdas e consolidadas no Brasil. Prope explorar possveis convergncias e/ou divergncias existentes entre os pressupostos terico-filosficos e metodolgicos de ambas as experincias. Trata-se, no entanto, de uma primeira aproximao de cunho terico ao tema, motivada pela insero das pesquisadoras em reas de ensino, pesquisa e extenso que privilegiam prticas de educao historicamente (re)conhecidas como no formais. O texto tambm pretende refletir sobre estas intervenes educativas, estabelecendo com elas um dilogo no sentido de tensionar os seus contornos com diferentes reas do conhecimento, ao mesmo tempo em que reitera a necessidade de um estudo que se debruce sobre a Pedagogia Social enquanto um conhecimento que ultrapassa fronteiras disciplinares e transversaliza prticas de educao no escolar. Palavras-chave: educao, prticas de educao, educao no escolar, pedagogia social. Abstract: This article discusses the concept of Social Pedagogy as it has been used in Europe, more specifically in Spain and Portugal, comparing it to the experiences of non-formal education constructed and consolidated in Brazil. It explores the possible convergences or divergences between the philosophical theories and methodological assumptions of both experiences. However, it is a tentative theoretical approach to the topic, motivated by the authors involvement in the areas of teaching, research and extension courses that emphasize educational practices historically seen as non-formal. The paper also reflects on these educative interventions, establishing a dialog with them in order to relate them to other areas of knowledge. At the same time it reiterates the need for a study on Social Pedagogy as a knowledge that crosses discipline boundaries and transversalizes non-formal educational practices. Key words: education, educational practices, non-formal education, social pedagogy.
O contexto: concepes e prticas de educao1
Tomamos a concepo proposta por Humberto Maturana (1999), na
1
qual a educao um processo de interao que ocorre o tempo todo, confirmando o conviver em sociedade e ressaltando seus efeitos de longa durao, suas caractersticas con-
servadoras, alm de sua constituio como via de mo dupla onde quem educa , ao mesmo tempo, educado bem ao gosto da Pedagogia Freireana porque demarca sua am-
Este artigo resultado das discusses produzidas a partir do projeto de pesquisa Formao de Educadores em Prticas Socioeducativas, que financiado pelo CNPq e conta com a participao da Bolsista de Iniciao Cientfica acadmica Marcieli Beluczyk, do Curso de Graduao Ensino da Arte na Diversidade da Feevale.
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
228
28/2/2007, 15:23
Explorando outros cenrios: educao no escolar e pedagogia social
plitude para alm da instituio escola e contextualiza o mbito das prticas educativas sobre as quais nos referimos. Todavia, em nosso contato dirio com professore(a)s/acadmico(a)s que atuam, especialmente, em escolas de ensino bsico, temos nos deparado com comentrios que revelam e expressam suas severas crticas em relao forma como pais educam seus filhos. Segundo este(a)s professore(a)s/acadmico(a)s, os pais, ao exercitarem a tarefa de educar, s vezes por omisso ou negligncia, cada vez mais depositam sobre o(a)s professore(a)s a expectativa da boa educao dos seus filhos. Tais comentrios induzem-nos a constatar que as crescentes demandas pela educao geral das crianas, no mbito da escola, tm se traduzido num certo mal-estar, o qual o(a)s educadore(a)s/ acadmico(a)s referem como o peso de administrar os conflitos/problemas/ fragilidades familiares que invadem o cotidiano da escola. Tais discursos revelam, tambm, uma ntida diviso de atribuies entre o que da escola e o que est para alm dela, sugerindo que estas atividades no se constituem em tarefa educativa que merea a ateno do professor. No obstante, os relatos daquele(a)s educadore(a)s/acadmico(a)s que atuam em projetos socioeducativos2 denunciam uma crescente impotncia e/ ou negligncia dos pais diante da educao dos filhos. Conduzem-nos a suspeitar desconhecerem as atuais tendncias em relao ao cuidado despendido a jovens e crianas, independentemente da origem socioeconmica, que recomendam seja cada vez mais compartilhado entre famlias e instituies de educao, entre elas, as escolas, mas tambm aquelas reconhecidas como de apoio sociofamiliar.
Neste contexto, em que tanto os/ as educadore(a)s/acadmico(a)s que atuam em projetos socioeducativos quanto seus/suas colegas que atuam em espaos escolares fazem uma ampla utilizao de um discurso que condiciona a ignorncia atribuda aos pais e/ou responsveis causa e/ou conseqncia de sua suposta falta de compromisso e/ou negligncia em relao educao de seus filho(a)s, indagamos se no estariam ele(a)s analisando a realidade vivida pelas famlias desde uma tica extremamente simplificadora. Em especial, naqueles casos em que a situao socioeconmica das famlias de desvantagem como no universo de escolas pblicas das periferias urbanas e nas aes socioeducativas em geral no estariam este(a)s educadore(a)s/acadmico(a)s lanando mo de valores preconcebidos para explic-las? Preocupaes dessa ordem so vlidas quando pensamos no potencial de transformao que pode no vir a se atualizar em prticas de educao que evitam confrontar-se com problemas e dificuldades de naturezas diversas, porque no colocam em questo os contextos dos quais emergem e sobre os quais intervm. Isto porque a idia hegemnica a de que a educao est completamente ligada instituio escola. H aqui um movimento necessrio, no sentido de desestabilizar esta construo histrica recente, para que outros cenrios possam se agregar escola no compartilhamento da tarefa de educar. No caso dos saberes das famlias, por exemplo, trata-se de resgatar o seu papel de lcus afetivo do educar, enquanto um espao possvel e necessrio que foi sendo substitudo e desprestigiado pelos saberes e poderes acadmico-cientficos.
Prticas de educao no escolar: formais ou no formais
Vivemos num tempo e numa realidade em que a sociedade civil tem sido chamada a parceirizar com o Estado a interveno sobre os pior situados. Talvez por inspirao na lgica crist que propugna necessrio fazer-se algo para ajudar os necessitados ou para reafirmar idias preconcebidas de que estes grupos sociais pais, mes, responsveis com ou sem relao de parentesco no so capazes de educar e, portanto, necessitam da interveno de outrem. Nos anos recentes, temos assistido ao crescimento vertiginoso de projetos sociais de carter educativo, com caractersticas compensatrias, acolhendo crianas e jovens e desenvolvendo, entre outras atividades, uma educao pautada em valores para a vida e para o bem comum. Na sua maioria, esses projetos referenciam uma educao voltada cidadania, no mais no sentido da garantia da participao e organizao da populao civil, na luta contra o regime militar tal como ocorria no perodo dos anos 70 e 80 mas no sentido de uma cidadania ressignificada para o exerccio da civilidade, da responsabilidade e para a responsabilizao social de todos, conforme Gohn (2002). Numa proposio, nem sempre experimentada, de vivermos melhor em/na sociedade que aes de carter socioeducativo e projetos sociais, geralmente (de)marcados por aes pontuais, de baixo custo e com recursos materiais, financeiros e humanos escassos, tm sido apresentados como direito dos que deles necessitam, conforme anuncia a Lei Orgnica da Assistncia Social, de 1993. Resguardados os resultados destas prticas que ocorrem mais no en-
229
2 Entendemos, em consonncia com Carvalho e Azevedo (2004), que os projetos socioeducativos so aes complementares escola e que conjugam educao e proteo social, baseadas em legislaes afirmativas que atendem, preferencialmente, crianas, adolescentes e jovens no contraturno escolar.
volume 10, nmero 3, setembro
dezembro 2006
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
229
28/2/2007, 15:23
Eliana Moura e Dinora Tereza Zuchetti
torno das atividades do que nelas prprias3, interessa-nos compreendlas no atual contexto brasileiro e, mesmo que numa primeira aproximao terica ao tema, demonstrar as convergncias e divergncias entre suas diversas formas de nome-las, alm de refletir sobre seu lugar nas cincias humanas. Sabe-se que inmeras experincias de educao no escolar tm sido definidas, pesquisadas, estudadas e sistematizadas historicamente como educao no formal. Nesse sentido, recorremos a Maria da Gloria Gohn (2001a, p. 32) para uma definio desta prtica que
aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos educativos da sociedade civil, ao redor de aes coletivas do chamado terceiro setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizaes no governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na rea [...]4.
No entanto, na tentativa de melhor compreender estas formas de educao, pretendemos discutir e pensar conceitos que nos auxiliem na compreenso destes espaos educativos em ascenso, num universo em que as pesquisas, em geral, debruam-se mais sobre os resultados dos processos educativos que envolvem sujeitos excludos na busca por brechas de incluso social do que anlises epistemolgicas das aes sociais de carter educativo. Partimos, assim, da denominao educao no escolar com o propsito de distinguir esta prtica educativa daquela que acontece no intramuros da escola. Embora, historicamente, o termo educao no formal venha sen3 4
do utilizado, de forma sistemtica, para nomear prticas fora do mbito das escolas, entendemos que esta nomeao pode constituir um importante limitador para a anlise das inmeras experincias de educao fora da escola e sua relao com o complexo contexto atual. Sabemos que, no mbito das prticas de educao em geral, a expresso no formal ope-se formalizao da escola e suas legislaes, que impem a participao compulsria de segmentos da sociedade de acordo com faixas cronolgicas estabelecidas. No entanto, ressaltamos a emergncia de legislaes afirmativas voltadas para as populaes mais vulnerabilizadas que sugerem, direta ou indiretamente, aes que resgatam e (re)afirmam direitos e que compensam perdas histricas, entre outras. Geralmente, estas aes afirmativas se apresentam como prticas socioeducativas e, mesmo que realizadas em espaos diferentes do escolar, constituem prticas formalizadas. O Estatuto da Criana e do Adolescente ECA, no artigo 90, no deixa dvidas da formalidade e necessidade de formalizao destas prticas:
As entidades de atendimento so responsveis pela manuteno das prprias unidades, assim como pelo planejamento e execuo de programas de proteo e scio-educativos destinados a crianas e adolescentes, em regime de: I - orientao e apoio scio-familiar; II - apoio scio-educativo em meio aberto; III - colocao familiar; IV - abrigo; V - liberdade assistida; VI - semi-liberdade; VII - internao. Pargrafo nico. As entidades governamentais e no-governamentais devero proceder inscrio de seus
programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente, o qual manter registro das inscries e de suas alteraes, do que far comunicao ao Conselho Tutelar e autoridade judiciria.
Este artigo do ECA reitera que as entidades de carter social, educativas ou de qualquer outra natureza, que se dedicam proteo da infncia e da juventude devem formalizar e justificar as suas aes numa rede social mais ampla a fim de legitimar o seu projeto e sua prtica pedaggica e, de certa forma, ter o aceite prvio de um ente reconhecido organizador da poltica, no mbito dos municpios. Alm disso, nestas prticas tambm est presente a questo da obrigatoriedade, em especial naqueles casos em que h determinao judicial para o atendimento de crianas ou adolescentes em projetos de (res)socializao, destacando-se o seu carter educativo, mas lembrando-se que, na maioria, constituem prticas de educao no escolar. Deste modo, entendemos que os exemplos citados, na medida em que h a presena do Estado direta ou indiretamente por meio de um aparato burocrtico mais ou menos democrtico, como nos casos em que existe uma rede de proteo (controle) mais ampla, constituem prticas formais de educao, ainda que situadas fora do contexto escolar. Um segundo elemento a ser destacado, em torno da reflexo sobre a expresso no formal para nomear experincias educativas fora do mbito das escolas, diz respeito ao expressivo sentido de oposio que pode ser
230
Ver Zucchetti (2003). Deivis P. B. dos Santos (2004) demonstra que a Educao no Terceiro Setor se caracteriza como um campo de ao mais restrito que a Educao No Formal. Sugere que ao conceito apresentado por Gohn seja acrescido que a Educao no Terceiro Setor deve ser voltada para as populaes pauperizadas e ter, como compromissos centrais, o apoio aos processos de emancipao humana e superao das condies de explorao, s quais grandes parcelas sociais esto submetidas (p. 47). Estas subdivises e uma nfase mais nos sujeitos e suas situaes do que em caractersticas pedaggicas comuns poder ocasionar uma multiplicidade de formas de nomeao, ao infinito, no mbito do no formal. Algumas experincias do esta dimenso: educao de/na rua, educao comunitria, educao no terceiro setor, entre outras, sugerem uma tentativa de circunscrever as especificidades em detrimento das convergncias.
Educao Unisinos
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
230
28/2/2007, 15:23
Explorando outros cenrios: educao no escolar e pedagogia social
atribudo a estas prticas para, desta forma, definir, a priori, os sujeitos que lhes so atinentes e uma possvel distino entre os que acessam a educao e a cultura erudita e os que tm demandas por servios sociais, no pior sentido da expresso, entendida pelo vis assistencialista. Embora reconheamos as necessrias distines entre as diferentes formas de educao, entendemos que preciso resguardar e, mais, garantir a sua complementaridade, alm da necessidade de ambas serem asseguradas como direito da cidadania. Alm disso, um terceiro elemento enfatiza a relao formal das prticas de educao no escolar que, de forma crescente, tem se visibilizado e publicizado por meio de expresses como educao popular, educao comunitria, educao nos movimentos sociais, educao social de/na rua, etc., e que, em geral, apresentam-se formalizadas atravs de aes que contam com corpo docente, metodologias definidas, processos de avaliao e acompanhamento, entre outros. Desse modo, as prticas de educao no escolar parecem estar fixadas num Sistema tanto quanto a educao escolar, embora no componham o Sistema de Ensino. Talvez, nesta lgica, fosse possvel pensar num Sistema de Formao na medida em que tambm esto pautadas por legislaes, metas, tempos, princpios, obrigatoriedade, entre outros sob os auspcios de Ministrios como Educao, Desenvolvimento Social e Combate Fome, Trabalho e Emprego, Cidades, entre outros, reiterando a dimenso intersetorial de prticas desta natureza.
Com efeito, embora preservando certas caractersticas, como concepo de direito, garantia de acesso/participao e permanncia, dadas por demandas internas de sujeitos vulnerabilizados ou externas ancoradas na sociedade e seu medo ambiente, expresso cunhada por Bauman (1999), nos ltimos anos, as prticas de Educao No Escolar tmse transformado em atividades reconhecidas pelo Estado e pela sociedade. Neste sentido, ao mesmo tempo em que se apresentam, sem dvida alguma, como uma alternativa de acesso educao, tambm configuram prticas de educao formal(izadas). Por fim, no efeito da experincia, a diferenciao entre prticas de educao no formal (enquanto sinnimo de educao no escolar)5 e prticas de educao formal (como sinnimo de educao escolar), alm da (de)marcao de lugares sociais, escamoteia e legitima processos de ensino e aprendizagem marcados pela presena de relaes poder-saber. Se, no espao da escola, esta relao se explicita por meio da presena e do papel do professor, do currculo escolar, por exemplo, no campo social, embora mais diluda, ela tambm se manifesta atravs da presena de marcadores especficos tais como metas, metodologias, tcnicas, processos de avaliao e acompanhamento, impacto social, etc. A partir das reflexes acima e mesmo correndo os riscos da utilizao binria, propomos a simples denominao educao no escolar para distinguir todas as prticas educativas que ocorrem no campo social daquelas que ocorrem no interior da escola. Entendemos que a nomeao
escolar e no escolar6 permitenos referenciar a educao mais pelas suas prticas pedaggicas (eixo que baliza a utilizao da expresso proposta) do que pela nfase nos sujeitos a elas afetos. A partir desta distino primeira e mais geral, podese acolher a expresso formal para designar qualquer tipo de prtica educativa que, a despeito de situar-se, ou no, no espao escolar, seja desenvolvida segundo marcadores institucionalmente legitimados, tais como legislaes, metas, tempos, princpios, obrigatoriedade, entre outros. Entendemos que, mais do que insistir numa demarcao nominal, fazse necessrio firmar e afirmar a existncia de uma prtica de educao no escolar, de carter social, com toda a ambigidade que esta expresso pode significar.
As mutaes das praticas educativas: para alm de nomeaes e dicotomias
Historicamente, a realidade brasileira caracterizada pela desigual distribuio de renda produziu um contexto de marginalizao e excluso social cuja soluo, necessariamente, passa pela instaurao de uma nova ordem social que demanda tempo e investimentos. A fim de amenizar essa situao, tradicionalmente, inmeras entidades e rgos (governamentais ou no, laicos ou confessionais) tm buscado alternativas a partir de intervenes baseadas em prticas educativas. Em geral, trata-se de propostas engajadas (ao menos discursivamente) em projetos de transformao social que, geralmente, desenvolvem-se no m-
5 Neste caso h ainda a presena de um imaginrio que pouco se sustenta, nos tempos atuais, uma vez que o no formal, de forma geral, est longe de possuir a dimenso poltica transformadora de outrora. 6 A justificativa pela escolha da expresso educao no escolar em detrimento da educao no formal como prtica complementar educao formal/escolar est fundamentada especialmente pelo carter formal que experincias socioeducativas tm adquirido nos ltimos anos. Este artigo explicita algumas destas formalizaes, entre elas, as legislaes afirmativas, a busca pela formao acadmica dos educadores de projetos sociais e movimentos sociais, a opo por construir projetos pedaggicos que contemplam propostas metodolgicas, avaliao, etc. Desta forma e considerando que a expresso educao no formal ope-se crescente formalizao das prticas no escolares que optamos pela sua utilizao. A dimenso poltica, na maioria das vezes pouco presente em prticas socioeducativas, mais um elemento de distino.
231
volume 10, nmero 3, setembro
dezembro 2006
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
231
28/2/2007, 15:23
Eliana Moura e Dinora Tereza Zuchetti
bito do que se convencionou chamar uma educao social. Com efeito, a matriz terico-prtica da educao social7 parece estar alicerada nas inmeras experincias de educao popular latino-americanas, principalmente, ocorridas nos anos 1960 e 1970. No entanto, na medida em que esto voltadas para mudanas objetivas no campo social, essas propostas tambm vo sofrendo alteraes ao longo do tempo. Neste sentido, faz-se necessrio mencionar os movimentos ocorridos no Brasil, aps a dcada de 1970, que conduziram tais experincias a uma crescente aproximao com o Estado, quer na busca de uma atuao conjunta, quer tomando-o como parceiro na disponibilizao de recursos pblicos para a execuo dos diversos projetos. Assim, ao longo das ltimas dcadas, pelo menos, uma mudana concreta pode ser observada: a gesto de projetos de educao no escolar, realizada por entidades do chamado Terceiro Setor e/ ou por Organizaes No Governamentais, vem configurando um novo cenrio para as experincias de educao fora do mbito escolar e demonstrando a forma crescente como o Estado tem se omitido de suas responsabilidades sociais. Outra mudana relevante pode ser observada na forma como as prticas de educao no escolar vmse apresentando, perdendo muito de suas caractersticas de projeto popular de transformao social e de formao da conscincia, com ex-
ceo daquelas experincias vinculadas aos movimentos sociais e a segmentos especficos da Igreja, que (de)marcam sua luta nas dimenses tico-polticas e educativas. Alm disso, no que se refere atuao do(a)s educadore(a)s, temos observado que, na sua maioria, este(a)s no possuem uma compreenso mais ampla e crtica sobre este fenmeno, assim como no demonstram possuir um engajamento poltico no sentido de militarem por alguma questo social. Assim, a partir do nosso envolvimento em projetos de pesquisa e de extenso universitria uma proposta de gerao de trabalho e renda e do resgate bibliogrfico que temos realizado sobre a educao popular8, emergiu nosso interesse em realizarmos um estudo mais detalhado a fim de compreendermos a educao no escolar enquanto fenmeno social demarcado no/pelo tempo presente. Primeiro, cada vez mais, pode-se perceber que, em sua maioria, tais prticas no parecem tratar-se de uma educao com o povo e sim para o povo, na qual os sujeitos sejam eles jovens, crianas, mulheres, desempregados ou subempregados no se constituem, necessariamente, em autores do processo. Tambm se pode observar um deslocamento no perfil do(a) clssico educador(a) popular e/ou do educador social engajado, o qual, hoje, no necessariamente um(a) ativista ou militante, mas algum que com ou sem formao acadmica
aproxima-se mais do perfil do(a) professor(a) ou, em alguns casos, do(a) instrutor(a), que, orientado por um projeto maior, constitui um(a) entre o(a)s outro(a)s membros de um grupo de trabalho que ganha ares de atuao/interveno tcnica. Em geral, a formao deste(a)s educadore(a)s9 ocorre em servio, mas, em vez de estar assentada na prxis no sentido marxista constitui uma formao na qual existe a presena de orientadore(a)s/ coordenadore(a)s desempenhando a funo de fazer refletir de fora sobre uma prtica com o propsito de capacitar o(a) educador(a) para o trabalho social. Tambm merece ser mencionado o advento do trabalho voluntrio. Sem que se pretenda realizar, aqui, uma anlise pormenorizada desta prtica, principalmente, no que se refere s condies de precarizao do trabalho, destacamos as possveis conseqncias de suas intervenes sobre o campo social, as quais, geralmente, descontextualizadas dos pressupostos tico-filosficos que as permeiam, correm o risco de tornarem-se aes que apenas respaldam e legitimam as hegemnicas vises de homem e de sociedade. Alm disso, as prticas de educao no escolar tambm tm sido, cada vez mais, exercidas via estgios, concorrendo para que se torne uma ao ainda mais desqualificada, na medida em que a formao acadmica oferecida, geralmente, tende a estar prioritariamente mais voltada
232
7 Marlene Ribeiro (2004, p. 1), questiona: Se o processo de formao humana de natureza social, como se poderia falar de uma educao social? No seria esta qualificao do substantivo educao uma redundncia ou mesmo uma reduo da responsabilidade do social, tornado adjetivo pela educao substantivada? Reforando a experincia positiva da Pedagogia Social do Movimento Sem Terra MST e, ao mesmo tempo, referenciando outras experincias especialmente voltadas s populaes mais vulnerabilizadas e suas demandas por projetos populares, a autora reitera a riqueza destas experincias ao mesmo tempo em que alude que a educao social uma questo mais complexa do que aparenta. 8 A reviso bibliogrfica em torno deste tema percorreu autores como Carlos Rodrigues Brando (1986, 1995), Paulo Freire (1989), Maria da Gloria Gohn (2001b), entre outros. 9 O educador social, como profissional hbrido (Fermoso, 1998, p. 93), pode atuar de diferentes formas, designadamente com a famlia, com as crianas ou jovens, no meio onde se registrem focos de violncia e mesmo na escola como elemento mediador. Seu campo de ao, segundo Petrus (1997, p. 27) so os setores sociais em desequilbrio [] alm de solucionar determinados problemas prprios da inadaptao, tem duas funes no menos importantes: a primeira, desenvolver e promover a qualidade de vida de todos os cidados; a segunda, adotar e aplicar estratgias de preveno das causas dos desequilbrios sociais. Paulo Freire (1989) faz uma distino entre o educador popular e o professor. Sobre o primeiro afirma ser intelectual de classe mdia comprometido com as lutas populares. A professora ou o professor aquela pessoa que se dedica ao assim chamado ensino dentro da escola formal (p. 45).
Educao Unisinos
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
232
28/2/2007, 15:23
Explorando outros cenrios: educao no escolar e pedagogia social
para o contexto escolar do que os espaos no escolares 10 . Desse modo, a formao especfica desse(a) educador(a), quando existe, constitui-se em formao em servio, coordenada por diferentes profissionais, com distintas vises de mundo e de sociedade, com suporte terico de diferentes matizes, o que fragmenta ainda mais a possibilidade de uma prtica efetiva de mudana social ou, na melhor das hipteses, esta multidisciplinaridade pode contribuir na sistematizao de um trabalho que busca aproximao com uma viso mais integral dos sujeitos e do ambiente. Evidentemente, este processo de transformao tem suscitado polmicas e gerado inmeras crticas, na medida em que as atuais prticas de educao social tm-se revelado pouco eficazes e, ao mesmo tempo, tm demonstrado um grande distanciamento do carter de presso popular sobre o Estado que, outrora, caracterizava o modelo de educao popular/no formal. Com efeito, as atuais prticas de educao no escolar distinguem-se daquelas porque, geralmente, constituem prticas protagonizadas pelo Estado e/ou executadas pelo Terceiro Setor e por ONGs, que, priorizando aes voltadas para grupos vulnerveis, tais como jovens, crianas, portadores de necessidades especiais, fundamentam-se em conceitos como risco social, vulnerabilidade social, excluso social que, em geral, pouco ou nada contribuem para uma efetiva transformao das condies de existncia destes sujeitos, apenas definindo quem so
os novos sujeitos a serem temidos (Bauman, 1999). Em suma, nesse panorama podese observar que dentre outras mudanas houve um gradual desaparecimento do(a) militante, o(a) ator/atriz social, o(a) protagonista da cidadania na luta por direitos polticos e sociais, em favor do surgimento do(a) voluntrio(a) e/ou do(a) estagirio(a), personagens que foram demandados para lidar com o(a) jovem em conflito com a lei, a mulher vtima da violncia domstica, o(a) pequeno(a) e precoce trabalhador(a), entre outro(a)s, por meio de aes que recaem mais sobre formas de controle e de assistencialismo do que de cuidado e fomento cidadania plena.
Pedagogia Social: um campo de conhecimentos transversais
Antes de apresentarmos as razes pelas quais postulamos pensar a Pedagogia Social como um campo de conhecimentos transversais s prticas de educao no escolar, faz-se necessrio apresentar as diversas formas atravs das quais o fenmeno da pedagogia social e/ou educao social tem sido experimentado. Diferentes atores, em diferentes pases, demonstram nuances de um conhecimento que tem se constitudo de forma diversa em diferentes espaos e que tem, em geral, procurado delimitar campos, definir sujeitos-usurios, o que, em suma, tende a conformar mais uma especializao nas cincias humanas.
Ao nos aproximar do tema e de seus interlocutores o(a)s educadore(a)s sociais e/ou pedagogo(a)s sociais encontramos muitos dissensos e algumas afinidades, especialmente em experincias em Portugal e Espanha. Em comum, identificamos que sua origem remonta a uma educao social11 que se prenunciava nas prticas caritativas advindas do desenvolvimento inicial do capitalismo e seus reflexos sobre os no empregveis, as quais ganharam fora com as concepes e os pressupostos do Estado de Bem Estar Social. A partir da crise deste, com o crescimento desenfreado de populaes desassistidas de mnimos sociais desempregadas ou subempregadas a necessidade de lanar mo de aes assistenciais que, pelo carter eventual e pontual, nem sempre podem ser nomeadas de polticas pblicas na garantia dos direitos sociais. No entanto, apesar da nfase na atuao socioeducativa, em geral, as prticas da chamada Educao Social na Europa, predominantemente, recaem sobre populaes vulnerabilizadas trabalhadore(a)s infantis, jovens em conflito com a lei, mulheres, idoso(a)s, presidirio(a)s, entre outros abordando as questes sociais desde distintas perspectivas, umas mais de carter caritativo, outras com mais nfase poltica, sindical e uma terceira perspectiva de carter mais educativo (Hamburguer, 1998, p. 233). Contudo, no caso europeu, ainda que sob distintas perspectivas, estas experincias construram um acmulo que resultou num quadro terico-
10 As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, embora reconheam e demarquem o campo da educao no escolar, ainda centram a formao no professor para a escola, no caso, para a docncia na Educao Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme a Resoluo CNE N 1/2006, de 15 de maio de 2006, e nos Pareceres CNE/CP N 05/2005, de 13/12/2005, e CNE/CP N 03/2006, de 21/02/2006. 11 Centramo-nos, especialmente, nas experincias europias, embora reconhecendo que, no mbito da Amrica Latina, a Pedagogia Social j est consolidada em diversos pases como Uruguai, Argentina, Venezuela, Chile. Da reviso sobre a sua origem possvel afirmar que, de 1915 a 1960, a Pedagogia Social se caracterizava mais como uma prtica de voluntariado sob a inspirao da Igreja para responder aos graves problemas sociais que surgiam no ps-guerra. Formalmente, ela se instala como disciplina em torno de 1960, quando as Universidades Complutense e de Barcelona a introduzem no currculo dos cursos de Pedagogia, mesmo que em carter optativo. Simultaneamente, sob a influncia de experincias francesas, surge no contexto espanhol a figura do educador social, enquanto educador especializado. Apenas em 1991, a Federao de Associaes de Educadores Especializados pressionou o Ministrio da Educao para formalizar a titulao de Bacharel em Educao Social. Disponvel em: http://www.fice.deusto.es/ nuevosalumnos/educacionsocial/ dealumnos/aparicion/default.asp?lang=SP. Acesso em: 30/08/2005.
233
volume 10, nmero 3, setembro
dezembro 2006
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
233
28/2/2007, 15:23
Eliana Moura e Dinora Tereza Zuchetti
234
metodolgico detalhado e definiu uma especificidade para a Pedagogia Social e/ou a Educao Social, instituindo-a como profisso, com implcitos interesses de reserva de mercado, e demandando a formao de um super profissional o educador social voltado para a educao para o consumo, a educao de adultos, a educao especial, a educao na terceira idade, a educao para sujeitos em dificuldades de adaptao social, entre outras. Enfatizando tratar-se de uma profisso muito jovem, especialmente, consolidada nas ltimas dcadas do sculo XX, comprometida em dar respostas objetivas e guardando diferenas em relao s especificidades das prticas de trabalhadores sociais e de assistentes sociais, Marchena (2004) demarca os diferentes mbitos de atuao dessas profisses, e Carreras (1998, p. 257) ressalta seus atrativos e promissores campos profissionais. Segundo os autores, na Europa, a Educao Social precisa dar respostas educativas a desafios sociais, econmicos e culturais enquanto que o Trabalho Social prtica que resultou das polticas do Estado de BemEstar Social orienta-se para aes assistenciais e de correo. Por sua vez, a prtica do Servio Social, no seu sentido estrito, dedica-se s necessidades individuais ou problemticas coletivas, como as situaes de pobreza, por exemplo, que demandam por assistncia social com o propsito de melhorar o bem-estar e garantir o acesso ao direto da populao atendida. Ante um quadro de profisses e regulamentaes que demarca especificidades muito prximas, Hamburguer e Lpes (1998) constatam que a linha que divide as diversas prticas sociais muito tnue, advertindo que isto pode resultar em profisses de difcil definio de seus marcos tericos e campos de interveno. Em todo o caso, o educador social pare-
ce ser o profissional devidamente titulado, ou em vias de titulao, que responde sobre aes de carter socioeducativo, no mbito de intervenes primrias, secundrias e teraputicas. Tambm reforam a tese de criao de postos de trabalho atravs da Pedagogia Social, num cenrio em que as Faculdades de Pedagogia, para a carreira do magistrio ou da formao de especialistas, encontram-se, de certa forma, em recesso. Segundo Carvalho e Santos (s.a., p. 9), desta forma refora-se o risco de incorrer em reducionismos de carter emprico, racionalista e pragmtico do estatuto da pedagogia social, na sua relao com a educao social e com a formao e atuao do educador social, em detrimento de toda uma complexidade deste universo tericoprtico. Destacam a multidimensionalidade do educador social e da educao social, de onde concluem por um educador que se constitui num prtico, especialista e militante onde a pedagogia social assume-se como cincia e tecnologia do fenmeno e da interveno scio-educativa ou pedaggico social (p. 14). Enfim, conclui-se, com certo consenso, que os autores afirmam a pedagogia social, na Europa, como cincia prtica, orientada por valores de justia, igualdade, fraternidade, entre outros; sustentada pelos princpios de uma sociedade democrtica, dispondo sua orientao para a ao socioeducativa na perspectiva da integrao social. Reiteramos que, a partir da reviso da literatura, as experincias da pedagogia social e/ou educao social (expresses que, s vezes, aparecem como sinnimos) e suas diferentes modalidades de formao (no mbito do Ensino Superior e/ou Mdio, principalmente, da Europa), visualiza-se uma prtica de interveno disciplinar, sustentada numa educao especializada e voltada para segmentos muito especficos,
mesmo quando seu carter generalista ressaltado. Embora, para Marlene Ribeiro (2006), os termos pedagogia social e educao social remetam a sentidos diversos e diferentes, entendemos que esta distino no relevante. A educao social e a pedagogia social tal como a entendemos designa uma perspectiva transdisciplinar de olhar um campo de prticas educativas. Todavia, consideramos que, mais do que delimitar contornos disciplinares, seria interessante explorar as potencialidades da pedagogia social e/ou educao social para oferecer uma outra perspectiva a fim de instaurar um campo de conhecimento transversal s prticas de educao no escolar. Considerando que, em geral, no Brasil as prticas de educao social esto enraizadas na melhor tradio/ filiao da Educao e Cultura Popular, pensamos ser oportuno tomar o termo Pedagogia Social para demarcar as distines entre, de um lado, aquilo que postulamos como um campo de conhecimentos transversais e, de outro, as diversas e diferentes prticas de educao no escolar. No se trata, no entanto, de uma mera substituio de nomes, mas de uma distino em relao a algumas novas (nem to novas assim) prticas de educao presentes de forma crescente, especialmente, no mbito das Organizaes No-Governamentais. Apesar da tradio brasileira, em torno dos estudos de Paulo Freire, na sistematizao da Educao Popular, entendemos que a emergncia do voluntariado, a proliferao de ONGs e as recentes legislaes em torno dos direitos compem o ambiente privilegiado dessas novas prticas e suas demandas por estudos tericos. Alm disso, a desregulamentao da economia, a globalizao dos mercados, o predomnio de valores econmicos que arregimenta lugares sociais, o
Educao Unisinos
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
234
28/2/2007, 15:23
Explorando outros cenrios: educao no escolar e pedagogia social
(novo) mundo do trabalho e a crise do emprego definem o contexto de emergncia (nos dois sentidos da palavra) desta discusso. Contudo, consideramos desnecessria qualquer preocupao em delimitar campos tericos que remetam necessidade e/ou possibilidade de formao/titulao acadmica, ao contrrio, desejamos pautar esta reflexo no sentido da valorizao do carter transdisciplinar que visualizamos neste campo de conhecimento. Assim, seja na formao em servio ou na formao acadmica, em nvel de graduao e/ou ps-graduao, a presente discusso visa pensar uma racionalidade tico-afetiva e, tambm, instrumental para as prticas de educao que exceda os espaos escolares e as tradicionais anlises da realidade efetuadas sob o limite da classe social. Por entendermos existir um hiato na formao do(a)s profissionais, no que se refere s prticas de educao no escolar, em vez de novas intervenes para as clssicas e tradicionais profisses e seus conhecimentos hegemnicos, interessa-nos pensar um corpo de conhecimentos transdisciplinares que opere sobre o social, tanto em prticas formais como no formais, potencializando uma educao para a cidadania pautada na solidariedade. Uma educao assim, voltada para a vida, para a paz, para a efetiva incluso social, demanda, portanto, uma pedagogia da complexidade12 que, pela sua dimenso tico-poltico-esttica, concretiza uma educao comprometida com o cuidado, com o bem viver coletivo e com a liberdade. Teria, ento, a pedagogia social o poder de agregar diferentes reas do conhecimento e, sem que se perca o carter necessariamente compensatrio das prticas scio educativas, res-
gatar a tradio da Educao Popular e seu enfoque tico-poltico? Entendemos que sim, desde que se pense a Pedagogia Social como um recurso que, ultrapassando as cantilenas das melhorias na educao da populao vulnerabilizada, onde h dficit de humanizao (Baptista e Carvalho, 2004), transversalize o direito de cidadania, indistintamente, a todos os sujeitos independentemente de sua posio socioeconmica. Entendemos que a Educao, enquanto prtica social, precisa (re)criar uma Pedagogia Social que se apresente como um campo de saber e fazer, no entremeio da Educao e da Assistncia Social, e que se abastea de um arcabouo terico-metodolgico capaz de intervir naqueles fatores que produzem vulnerabilidades e/ ou nos tornam vulnerabilizados. Fazendo referncia ao que ele nomeia como pedagogia da produo associada, Jos Pereira Peixoto Filho (2004, p. 51) afirma que a pedagogia, entendida como prtica social e como movimento que articula saberes e conhecimentos, pode e deve ser um instrumento poderoso para que sejam elaboradas estratgias, as quais venham contribuir com a realizao de novos modos de se produzir e construir novas relaes na sociedade. Nossos estudos nesta rea permanecem. Nossos desejos de melhor compreender os fenmenos sociais e suas demandas por aes de educao, quer no mbito da escola ou fora dela, tensionam a necessidade de refletirmos sobre a educao enquanto prtica social, na medida em que ambas, educao e prtica social, exigem novos e generosos olhares sobre uma realidade que se faz e refaz a cada dia. Para tanto, h necessidade de rompermos com algumas certezas, entre elas, as amarras da educao enquan-
to prtica eminentemente escolar, a supremacia do racional sobre o afetivo desenhando lugares e fomentando racionalidades. Com isso, podemse explorar outros cenrios que vislumbrem a possibilidade da educao constituir-se em potncia para os sujeitos, num encontro com os outros e com o mundo. Sem perder de vista a sua temporalidade, a sua necessria vinculao institucional sob a responsabilidade do Estado, o direito da cidadania e o resgate da sua dimenso poltica atualmente esquecida nos e pelos diferentes setores organizados da sociedade a discusso, para ns, dever agregar educao valores afetivos que favorecem a emergncia de uma cultura da solidariedade e uma tica do cuidado.
Referncias
BAPTISTA, I. e CARVALHO. A.D. 2004. Educao Social: fundamentos e estratgias. Porto, Porto Editora, 110 p. BAUMAN, Z. 1999. Globalizao: as conseqncias humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 145 p. BRANDO, C.R. 1986. A educao como cultura. So Paulo, Brasiliense, 195 p. BRANDO, C.R. 1995. Em campo aberto: escritos sobre a educao e a cultura popular. So Paulo, Cortez, 229 p. BRASIL. 1991. Lei n 8.069 de 13 de julho de 1990: Estabelece o Estatuto da Criana e do Adolescente. Braslia, Imprensa Nacional. BRASIL. 1995. Lei n 8.742 de 7 de dezembro de 1993: Dispe sobre a organizao da Assistncia Social e d outras providncias. Braslia, [s.n.], [s.p.]. CARRERAS, J.S. 1998. Entrevista al profesor Jos Mara Quintana Cabanas. Pedagoga Social: Revista Interuniversitaria, 12(4):257-261. CARVALHO, M. do C. e AZEVEDO, M. J. 2004. Aes complementares Escola no mbito das polticas pblicas. Indito. s.p. CARVALHO, A.D. e SANTOS, E. Novas racionalidades e novos imperativos da educao social. Disponvel em:
235
12
A complexidade enquanto aquilo que tecido junto, no sentido atribudo por Edgar Morin nos seus estudos sobre a Teoria da Complexidade.
volume 10, nmero 3, setembro
dezembro 2006
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
235
28/2/2007, 15:23
Eliana Moura e Dinora Tereza Zuchetti
www.pedagogiasocial.cl/docs/copesoc/ pdf, acesso: em 31/08/2005. FERMOSO, P. 1998. La violencia em la escuela: el educador-pedagogo social escolar. In: L. PANTOJA (org.), Nuevos espacios de la educacin social. Bilbao, Universidad de Deusto, p. 89-111 FREIRE, P. 1989. Que fazer: teoria e prtica em educao popular. 2 ed., Petrpolis, Vozes, 68 p. GADOTTI, M. 2003. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. Novo Hamburgo, Feevale, 80 p. GOHN, M.G. 2001a. Educao no-formal e cultura poltica: impactos sobre o associativismo do terceiro setor. 2 ed. So Paulo, Cortez, 120 p. GOHN, M. G. 2001b. Educao Popular na Amrica Latina no Novo Milnio: impactos do novo paradigma. In: REUNIO ANUAL DA ANPED, 24., 2001, Caxambu, Anais ... Caxambu: ANPEd, 2001. 1 CD-ROM. GOHN, M.G. 2002. Sociedade Civil no Brasil conceito e sujeitos atuantes.
In: M. MAIA (org.), Caderno Ideao: Polticas Sociais para um novo mundo necessrio e possvel. Porto Alegre, (s.e.), p. 73-82 . HAMBURGUER, F. e LPES, A. 1998. Reflexiones en torno a la situacin de la Pedagoga Social en la universidad alemana. Pedagoga Social: Revista Interuniversitaria, 12(4):233-241. MARCHENA, J.A.M. (org.). 2004. Educacin social, trabajo social e servicios sociales. Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educacin, Dpto. Teora e Historia de la Educacin/ Pedagoga Social. Resmenes de los temas do curso acadmico 2004. Disponvel em: www.us.es/pedsocial, acesso em: 30/08/2005. MATURANA, H. 1999. Emoes e linguagens na educao e na poltica. Belo Horizonte, Ed. UGMG, 98 p. PEIXOTO F, J.P. 2004. Puxando o fio da meada: a educao popular e produo associada. In: I.T. PICANO (org.), Trabalho e educao. Aparecida, Idi-
as & Letras, p. 33-54. PETRUS, A. 1997. Pedagoga Social. Barcelona, Ariel Educacin, 422 p. RIBEIRO, M. 2004. Uma educao social faz sentido? Alguns apontamentos. Disponvel em: http://www.ufrgs.br/ tramse/argos/edu/2004/06/uma-educabrasil-16-de-abril-de-2004.html, acesso em: 04/04/2006. RIBEIRO, M. 2006. Excluso e educao social: conceitos em superfcie e fundo. Revista Educao e Sociedade, 27(94):155178. Disponvel em: www.cedes.unicamp.br, acesso em: 08/08/2006. SANTOS, D.P.B. 2004. Formao de educadores para o Terceiro Setor. So Paulo, SP. Dissertao de Mestrado. Faculdade de Educao, Mackenzie, 187 p. ZUCCHETTI, D.T. 2003. Jovens: A educao, o cuidado e o trabalho como ticas de ser e estar no mundo. Novo Hamburgo, Feevale, 215 p. Submetido em: 25/09/2006 Aceito em: 24/10/2006
Eliana Moura
Feevale, RS, Brasil
236
Dinora Tereza Zuchetti
Feevale, RS, Brasil
Educao Unisinos
228a236_ART07_Moura[rev].pmd
236
28/2/2007, 15:23
Você também pode gostar
- How To Take Smart NotesDocumento19 páginasHow To Take Smart NotesCaio Rodrigues Cid100% (1)
- Mestres Ascencionados e Os 7 RaiosDocumento18 páginasMestres Ascencionados e Os 7 RaiosErica Christina100% (1)
- Ebook Smart MoneyDocumento33 páginasEbook Smart MoneyƬ亗TEODOZIO亗100% (3)
- Ebserh 2019 Tecnico de EnfermagemDocumento477 páginasEbserh 2019 Tecnico de EnfermagemHenrique Arantes100% (1)
- Estacas Metálicas GerdauDocumento84 páginasEstacas Metálicas GerdauJaime EscobarAinda não há avaliações
- 0404 ManualDocumento19 páginas0404 ManualCatiapgouveia100% (2)
- Cristaoateu 4Documento3 páginasCristaoateu 4Carol Moreno Mendonça100% (1)
- AtlasDocumento148 páginasAtlasdsadasAinda não há avaliações
- Manual de Transporte e Instalação Comau Smart 5 NJ4Documento54 páginasManual de Transporte e Instalação Comau Smart 5 NJ4Cris RochaAinda não há avaliações
- Manual Válvula Herion - TraduzidoDocumento4 páginasManual Válvula Herion - TraduzidoluizAinda não há avaliações
- REGULAMENTO OFICIAL Copa de InvernoDocumento10 páginasREGULAMENTO OFICIAL Copa de InvernoThiego BentoAinda não há avaliações
- Validaçao Da EScala de NSRASDocumento281 páginasValidaçao Da EScala de NSRASSandra BelémAinda não há avaliações
- DDS FevereiroDocumento21 páginasDDS Fevereirotecnicodamasio1241Ainda não há avaliações
- Aula 1 - Texto - Os Conflitos Entre Os Alunos e A Aprendizagem de Valores - VinhaDocumento28 páginasAula 1 - Texto - Os Conflitos Entre Os Alunos e A Aprendizagem de Valores - VinhaKaluana Bertoluci BryanAinda não há avaliações
- Ariane 5 - Um Erro Numerico (Overflow) Levou A Falha No Primeiro LancamentoDocumento4 páginasAriane 5 - Um Erro Numerico (Overflow) Levou A Falha No Primeiro Lancamentothinroses10Ainda não há avaliações
- Enviando Por Email Abordagem Progressiva de DTTDocumento11 páginasEnviando Por Email Abordagem Progressiva de DTTIsis Bacelar AraujoAinda não há avaliações
- Conceicão Das Crioulas: Um Caso de Sucesso (Monografia Design UFPE - Josivan Rodrigues)Documento51 páginasConceicão Das Crioulas: Um Caso de Sucesso (Monografia Design UFPE - Josivan Rodrigues)Josivan RodriguesAinda não há avaliações
- Aula de Direito Trabalho I Ii-1Documento18 páginasAula de Direito Trabalho I Ii-1Ednilson MondlaneAinda não há avaliações
- Emai 2º Ano Volume II Professor Parte IIDocumento90 páginasEmai 2º Ano Volume II Professor Parte IIeliane100% (1)
- Texto - Estudo Das Ideologias Filisofia Da LinguagemDocumento5 páginasTexto - Estudo Das Ideologias Filisofia Da LinguagemErnaniPereiraNetoAinda não há avaliações
- SANCHEZ - MOREIRA - Cartografias Do Conflito Rio de Janeiro - Alta - ResolDocumento108 páginasSANCHEZ - MOREIRA - Cartografias Do Conflito Rio de Janeiro - Alta - ResolgabrielsbergAinda não há avaliações
- Casamento de Padrão Com Busca Exata e AproximadaDocumento24 páginasCasamento de Padrão Com Busca Exata e Aproximadagandalf_mlAinda não há avaliações
- 0 - Analise ComportamentalDocumento17 páginas0 - Analise ComportamentalDayanne OliveiraAinda não há avaliações
- 5 - A Escola No Brasil de Darcy Ribeiro PDFDocumento12 páginas5 - A Escola No Brasil de Darcy Ribeiro PDFBeatriz AvelarAinda não há avaliações
- Artigo - Resolução - de - ProblemasDocumento9 páginasArtigo - Resolução - de - ProblemasBeatriz CostaAinda não há avaliações
- Manual Controlador Termperatura - MT-543RiDocumento3 páginasManual Controlador Termperatura - MT-543RiCassio PazAinda não há avaliações
- Língua Inglesa VDocumento210 páginasLíngua Inglesa VDri Br1100% (1)
- Habilidades Prioritárias - 2º Ano - 1º Bim de 2024Documento8 páginasHabilidades Prioritárias - 2º Ano - 1º Bim de 2024acervo.educ.infantilAinda não há avaliações
- Resenha Redes Sociais de Raquel RecueroDocumento5 páginasResenha Redes Sociais de Raquel RecueroVinícius Silva Mesquita100% (1)
- Fiasco Livro de RegrasDocumento129 páginasFiasco Livro de RegrasJoanny Vieira JasperAinda não há avaliações