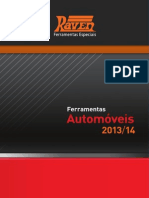Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila HST
Apostila HST
Enviado por
jordivinoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila HST
Apostila HST
Enviado por
jordivinoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
HIGIENE E SEGURANA DO TRABALHO
a cincia e arte devotada ao reconhecimento, avaliao e controle dos agentes de risco presentes nos locais de trabalho que podem causar doena, comprometimento da sade e bem estar ou significante desconforto e ineficincia entre os trabalhadores ou membros de uma comunidade.
1. NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANA E SADE NO TRABALHO NR-1 NR-2 NR-3 NR-4 NR-5 NR-6 NR-7 NR-8 NR-9 NR-10 NR-11 NR-12 NR-13 NR-14 NR-15 Disposies Gerais Inspeo Prvia Embargo ou Interdio Servios especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho-SESMT Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA Equipamento de Proteo Individual - EPI Exame Mdico Edificaes Riscos Ambientais Instalaes e Servio em Eletricidade Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais Mquinas e Equipamentos Caldeiras e Recipientes sob Presso Fornos Atividades e Operaes Insalubres Anexo n 1: . Limites de Tolerncia para Rudo Contnuo ou Intermitente Anexo n 2 . Limites de Tolerncia para Rudos de Impacto Anexo n 3 . Limites de Tolerncia para Exposio ao Calor Anexo n 4: Revogado Anexo n 5 . Limites de Tolerncia para Radiaes Ionizantes Anexo n 6 . Trabalho sob Condies Hiperbricas Anexo n 7 . Radiaes no Ionizantes Anexo n 8 . Vibraes Anexo n 9 . Frio Anexo n 10 . Umidade Anexo n 11 . Agentes qumicos cuja insalubridade caracterizado por limite de tolerncia e inspeo no local de trabalho Anexo n 12 . Limites de tolerncia para poeiras minerais Anexo n 13 . Agentes qumicos Anexo n 14 . . Agentes biolgicos Atividades e Operaes Perigosas Ergonomia Obras de Construo, Demolio e Reparos Explosivos Lquidos Combustveis e Inflamveis Trabalho a Cu Aberto
NR- 16 NR-17 NR-18 NR-19 NR-20 NR-21
NR-22 Trabalhos Subterrneos NR-23 Proteo contra Incndios NR-24 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho NR-25 Resduos Industriais NR-26 Sinalizao de Segurana NR-27 Revogada NR-28 Fiscalizao e Penalidades NR-29 Segurana e Sade no Trabalho Porturio NR-30 Segurana e Sade no Trabalho Aquavirio NR-31 Segurana e Sade no Trabalho na Agricultura, Pecuria, Silvicultura, Explorao Florestal e Aquicultura NR-32 Segurana e Sade no Trabalho em Servios de Sade
2. INSALUBRIDADE So consideradas atividades ou operaes insalubres aquelas que, por sua natureza, condies ou mtodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos sade, acima dos limites de tolerncia fixados em razo da natureza e da intensidade do agente e do tempo ou exposio aos seus efeitos. Limite de Tolerncia ( LT ) A concentrao ou intensidade mxima ou mnima relacionada com a natureza e o tempo de exposio ao agente, que no causar dano sade do trabalhador durante a sua vida laboral.
2.1 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES So considerados atividades ou operaes insalubres aquelas que se desenvolvem: a) ACIMA DOS LIMITES DE TOLERNCIA: rudos ; calor ; radiao ionizante ; agentes qumicos ; poeiras minerais. b) EXERCCIO DE ATIVIDADES ESPECFICAS : condies hiperbricas ; agentes qumicos ; agentes biolgicos . b) COMPROVADAS POR INSPEO NO LOCAL DE TRABALHO : radiao no ionizante ; vibrao ; frio ; umidade . 2.2 ADICIONIAL DE INSALUBRIDADE O exerccio de trabalho em condies de insalubridade assegura ao trabalhador a percepo de adicional, incidente sobre 1 ( um ) salrio mnimo oficial do pas , equivalente a: - GRAU MXIMO 40%(quarenta por cento) de 1 salrio mnimo - GRAU MDIO - GRAU MNIMO 20% (vinte por cento) de 1 salrio mnimo 10% (dez por cento) de 1 salrio mnimo
GRAUS DE INSALUBRIDADE Anexo 1 2 Atividades ou Operaes que exponham o Percentual trabalhador a Nveis de rudo contnuo ou intermitentes superiores aos 20% limites de tolerncia. Nveis de rudo de impacto superiores aos limites de 20% tolerncia
Exposio ao calor com valores de I.B.U.T.G. superiores aos limites de tolerncia
20%
5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
Nveis de radiaes ionizantes com radioatividade 40% superior aos limites de tolerncia Condies hiperbricas 40% Radiaes no ionizantes consideradas insalubres em 20% decorrncia de inspeo realizada no local de trabalho Vibraes consideradas insalubres em decorrncia de 20% inspeo realizada no local de trabalho Frio considerado insalubre em decorrncia de inspeo 20% realizada no local de trabalho Umidade considerada insalubre em decorrncia de 20% inspeo realizada no local de trabalho Agentes qumicos cujas concentraes sejam 10%,20% e superiores aos limites de tolerncia 40% Poeiras minerais cujas concentraes sejam superiores 40% aos limites de tolerncia Atividades ou operaes, envolvendo agentes qumicos, 10%,20% e consideradas insalubres em decorrncia de inspeo 40% realizada no local de trabalho Agentes biolgicos 20% e 40%
3. PERICULOSIDADE Atividades ou operaes perigosas so aquelas em que o empregado manuseia ou tem contato permanentemente com : inflamveis, explosivos, eletricidade, radiao ionizante.
Ser tambm considerado em atividade perigosa o empregado que estiver trabalhando dentro de uma denominada REA DE RISCO apontada na NR-16, para cada atividade. Exemplo: Na atividade de abastecimento de aeronave, praticada apenas por um homem, toda a rea de operao considerada REA DE RISCO. Assim, todos os auxiliares necessrios operao so considerados sujeitos ao mesmo risco e, portanto, trabalhando em condies de PERICULOSIDADE. O trabalho em condies de periculosidade assegura ao empregado percepo de adicional, incidente sobre 30% do salrio base(salrio sem as gratificaes, horas extras e outros benefcios ). Esta parcela conhecida como adicional de periculosidade. Sempre bom lembrar que o recebimento do adicional de periculosidade no garante a segurana do empregado nem da turma que trabalha na rea de risco. A perfeita compreenso e obedincia das normas de segurana, o treinamento consciente do pessoal empenhado no trabalho, a organizao do trabalho e a responsabilidade de como ele executado, so alguns dos fatores que favorecem a continuidade do trabalho. Observaes Importantes: I- No caso de incidncia de mais de um fator de insalubridade, ser apenas considerado o de grau mais elevado, sendo vedada a percepo cumulativa . II- No caso de atividades que envolvam insalubridade e periculosidade. ao mesmo tempo, o trabalhador far opo do adicional , sendo vedada a percepo cumulativa. III- O direito do empregado ao adicional de insalubridade e ou periculosidade cessar com a eliminao do risco sua sade ou integridade fsica ; IV- Aos menores de 18 anos de idade vedado o exerccio de atividade insalubre e / ou
perigosa. V-. O exerccio atividade insalubre ou perigosa poder assegurar ao trabalhador o direito a aposentadoria especial(15, 20 ou 25 anos de servio), segundo normas do INSS . VI.- A caracterizao e a classificao da insalubridade e da periculosidade feita atravs da percia a cargo de mdico do trabalho ou engenheiro de segurana do trabalho. VII - Os adicionais de periculosidade e/ou de insalubridade, no servio pblico , so diferentes dos valores pagos aos empregados celetistas . VIII - Os estabelecimentos que mantenham atividades perigosas ou nocivas sade devero afixar nos respectivos setores avisos e/ou cartazes com advertncia quanto aos materiais e substncias perigosas ou nocivas sade. IXA empresa deve anotar na carteira de trabalho do empregado o fato de ele trabalhar em condies de periculosidade ou de insalubridade. Isto poder evitar possveis transtornos para o empregado no futuro.
4. ACIDENTE DO TRABALHO A legislao define como sendo acidente do trabalho aquele que ocorre pelo exerccio do trabalho, a servio da empresa, provocando leso corporal ou perturbao funcional que cause a morte, a perda ou reduo da capacidade para o trabalho, permanente ou temporria .
4.1 DIREITO AO ACIDENTE DO TRABALHO As prestaes relativas aos acidentes do trabalho so devidas: Ao empregado, exceto o domstico. Ao trabalhador avulso (vigia porturio, guindasteiro, estivador, conferente de carga ,etc) Ao segurado especial ( produtor rural, arrendatrio rural ,garimpeiro, pescador artesanal Ao mdico residente, de acordo com a Lei 8138 de 28/12/90. 4.2 BENEFCIOS PAGOS PELO INSS EM VIRTUDE ACIDENTE DO TRABALHO : a ) PARA O SEGURADO: AUXLIO DOENA- Ser devido ao acidentado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 ( quinze ) dias consecutivos. AUXLIO ACIDENTE Ser concedido ao empregado segurado quando, aps a consolidao das leses do acidente do trabalho. Este benefcio mensal e corresponde a um percentual do salrio de contribuio do segurado, vigente no dia do acidente. O pagamento do benefcio suspenso quando o segurado se aposenta ou quando falece.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Ser devida ao acidentado que, estando ou no em gozo de auxlio doena, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetvel de reabilitao para o exerccio de atividade que lhe garanta a subsistncia. b) PARA O(S) DEPENDENTE(S): PENSO POR MORTE Ser devida ao(s) dependente(s) do segurado falecido em conseqncia do acidente do trabalho, a contar da data do bito. O valor da penso ser igual ao salrio de contribuio vigente no dia do acidente. A penso por morte, havendo mais de um pensionista, ser rateada entre todos, em partes iguais e reverter em favor dos demais a parte daquele cujo o direito a penso cessar.
4.3 CARACTERIZAO DO ACIDENTE DO TRABALHO So consideradas como acidente do trabalho as seguintes enfermidades: a) Doena profissional- Aquela produzida ou desencadeada pelo exerccio de trabalho peculiar a determinada atividade e constante do Anexo do Regulamento dos Benefcios da Previdncia Social. b) Doena do trabalho- Aquela adquirida ou desencadeada em funo de condies especiais em que o trabalho realizado e com ele se relaciona diretamente, desde que constante do Anexo do Regulamento dos Benefcios da Previdncia Social. Observao: No so consideradas como doena do trabalho: A doena degenerativa; A inerente a grupo etrio; A que no produz incapacidade laborativa; A doena endmica adquirida por segurados habitantes de regio em que ela se desenvolva, salvo comprovao de que resultou de exposio ou contato direto determinado pele natureza do trabalho. Tambm so equiparados ao acidente do trabalho as seguintes situaes: a) O acidente ligado ao trabalho que, embora no tenha sido a causa nica, haja contribudo para a morte do segurado, para a perda ou reduo da sua capacidade para o trabalho, ou produzido leso que exija ateno mdica para a sua recuperao. b) O acidente sofrido pelo segurado no local e horrio de trabalho, em consequncia de : Ato de agresso, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ofensa fsica intencional , inclusive de terceiro , por motivo de disputa relacionada com o trabalho. Ato de imprudncia, de negligncia ou de impercia de terceiro, ou de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razo. Desabamento, inundao, incndio e outros casos fortuitos decorrentes de fora maior.
c) A doena proveniente de contaminao acidental do empregado no exerccio de sua atividade. d) O acidente sofrido, ainda que fora do local e horrio de trabalho : Na execuo de ordem ou na realizao de servios sob autoridade da empresa. Na prestao espontnea de qualquer servio empresa para lhe evitar prejuzo ou proporcionar proveito. Em viagem a servio da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitao da mo-de-obra, independentemente do meio de locomoo utilizado, inclusive veculo de propriedade do segurado. No percurso da residncia para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoo, inclusive veculo de propriedade do segurado.
e) Nos perodos destinados a refeio ou descanso, ou por ocasio da satisfao de outras necessidades fisiolgicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado considerado no exerccio do trabalho. 4.4 CONSEQUNCIAS DO ACIDENTE . Leso ( ferimento) no homem ; . Danificao de material; . Incapacidade ( permanente total; permanente parcial; temporria );
. Perda de tempo; - Problemas psicolgicos e ou familiares; - Etc 4.5 CAUSAS DOS ACIDENTES: a) ATO INSEGURO OU ATOS ABAIXO DO PADRAO tudo aquilo que o trabalhador faz, voluntariamente ou no, e que pode causar acidente, como por exemplo: .Utilizar equipamentos, ferramentas, etc., em mal estado ou de forma errada; . Movimentar peas sem o devido cuidado; . Operar mquinas sem o devido cuidado; . Operar mquinas sem autorizao ou habilitao; . Desenvolver velocidade em excesso com veculos automotores ou mesmo nas mquinas; . Manusear objetos pesados ao invs de moviment-los com equipamentos mecnicos; . Ficar ou passar por baixo de cargas suspensas ou entre mquinas em movimento; . No respeitar avisos de perigo; . Retirar protees das mquinas; . Empilhar peas de maneira errada; . Lubrificar ou limpar mquinas em movimento; . Distrair-se com assuntos alheios ao trabalho; b) CONDIO INSEGURA OU CONDICOES ABAIXO DO PADRAO So situaes existentes no ambiente de trabalho e que podem causar acidentes, tais como: - Iluminao deficiente - Falta de proteo nas partes mveis das mquinas - Arranjo fsico inadequado - Excesso de rudo e/ou calor - Falta de sinalizao -Matria prima com defeito -Etc c) FATOR PESSOAL DE INSEGURANA So problemas pessoais do indivduo e que agindo sobre o trabalhador podem vir a provocar acidentes , tais como: - Alcoolismo e outras dependncias qumicas; - Problemas de sade no tratados - Conflitos familiares - Problemas de ordem social e/ou psicolgicos; - Etc d) FENMENOS DA NATUREZA E OUTROS CASOS So situaes que fogem ao controle do homem, tais como: - Inundao; vendaval; maremoto; incndio etc.
4.6 COMUNICAO DO ACIDENTE DO TRABALHO O acidente do trabalho deve ser comunicado pela empresa at o 1 dia til seguinte ao da ocorrncia e, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa varivel cobrada pela previdncia social. Na falta de comunicao por parte da empresa, podem formaliz-la o prprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o mdico de atendimento ou qualquer autoridade pblica. A Comunicao do Acidente de Trabalho(CAT) ser preenchida em seis vias, com a seguinte destinao: . 1 via ao INSS; . 2 via ao segurado ou dependente; . 3 via ao sindicato dos trabalhadores; . 4 via empresa; . 5 via ao SUS; e . 6 via DRT/Ministrio do Trabalho
De posse da CAT, o segurado dever dirigir-se ao Servio de Sade mais prximo do local de trabalho ou do acidente ou da sua residncia, que prestar o primeiro atendimento. A seguir, a CAT dever ser entregue para registro, de imediato, no posto de benefcio do INSS.
5. COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES - CIPA ( NR 5 ) 5.1-INTRODUO A Organizao Internacional do Trabalho (OIT), entidade que visa soluo dos problemas relacionados ao trabalho, devido aos altos ndices de acidentes do trabalho, criou, em 1921, comits de segurana nas empresas. Os empregados integrantes deste comit, alm de suas atribuies normais, se preocupam tambm com a preveno de acidentes. Aps estudos, em 1923, para todos os pases a recomendao foi passada, criando-se, ento, a Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA). No Brasil, entretanto, s comeou a ser cumprida a partir de 1944. Ao longo dos anos, a legislao especfica da CIPA vem se aperfeioando e sofrendo as devidas alteraes. 5.2 - O QUE CIPA ? uma comisso formada por empregados da empresa com objetivo de promover a segurana e sade dos trabalhadores. 5.3-CONSTITUIO Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mant-la em regular funcionamento, as empresas privadas, pblicas, sociedade de economia mista, rgos de administrao direta e indireta, instituies beneficentes, associaes recreativas, cooperativas, bem como outras instituies que admitam trabalhadores como empregados. Esta disposio tambm se aplica para os trabalhadores avulsos e s entidades que lhes tomem servios . Estabelecimento - " Cada uma das unidades da empresa , funcionando em lugares diferentes , tais como : fbrica , refinaria , usina , escritrio , oficina , depsito , laboratrio . " 5.4-ORGANIZAO A CIPA ser composta de representantes do empregador e dos empregados.A escolha dos representantes feita da seguinte forma: - Representantes da empresa ( empregador) - A empresa escolhe os empregados, titulares e suplentes, que faro parte desta representao. - Representantes dos empregados - feita atravs de eleio realizada na empresa, no horrio de expediente, devendo ter a participao, na votao, de, no mnimo, a metade dos empregados do estabelecimento. Os candidatos eleitos assumiro a condio de titulares e suplentes respectivamente. 5.5- DIMENSIONAMETO O nmero de representantes da CIPA feito segundo o nmero de empregados do estabelecimento, e da CLASSIFICAO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONMICAS - CNAE Quando o estabelecimento no se enquadrar no quadro do dimensionamento, a empresa designar um responsvel para realizar as a atribuies da CIPA. 5.6- MANDATO O mandato dos membros eleitos da CIPA ter durao de um ano, permitida uma reeleio.. 5.7- CARGOS NA CIPA Na estrutura da CIPA existem alguns cargos preenchidos da seguinte maneira:
Presidente da CIPA Vice Presidente da CIPA Secretrio da CIPA e respectivo suplente
Indicado pela da empresa entre os seus representantes . Os representantes dos empregados escolhero entre os seus titulares . Os membros da CIPA escolhem de comum acordo um componente da comisso. necessria a concordncia do empregador se a escolha recair num empregado no integrante da comisso.
5.8 - GARANTIA DE EMPREGO vedada a dispensa arbitrria ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direo da CIPA, desde o registro da sua candidatura at um ano aps o final de seu mandato. 5.9- ALGUMAS DAS ATRIBUIES DA CIPA Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o MAPA DE RISCO , com a participao do maior nmero de trabalhadores, com assessoria do SESMT. Realizar, periodicamente, verificaes nos ambientes e condies de trabalho visando a identificao de situaes que venham a trazer riscos para segurana e sade dos trabalhadores. Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador,a paralisao de mquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente segurana e sade dos trabalhadores. Colaborar no desenvolvimento e implantao do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados segurana e sade no trabalho. Divulgar e promover o cumprimento das normas de segurana e medicina do trabalho ou de regulamento e instrumentos de servios visando a segurana e sade dos trabalhadores .
- Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da anlise das causas das doenas e acidentes do trabalho, propondo medidas de soluo dos problemas identificados. Promover anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana interna de Preveno de Acidentes do Trabalho - SIPAT . Participar , anualmente , em conjunto com a empresa , de campanhas de preveno da AIDS.
6. SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E EM MEDICINA DOTRABALHO (SESMT)
6.1INTRODUO Este servio regulamentado pela norma regulamentadora no 4 e torna obrigatria a manuteno desses servios nas empresas pblicas e privadas, os rgos pblicos de administrao direta e indireta e dos poderes legislativos e judicirios que possuam empregados regidos pela Consolidao das Leis do Trabalho - CLT.
6.2 OBJETIVO
Promover a sade e proteger a integridade dos trabalhadores no local de trabalho.
6.3 DIMENSIONAMENTO dimensionado de acordo com o nmero de empregados do estabelecimento e o grau de risco da atividade principal da empresa.
6.4 COMPOSIO DO SESMT O SESMT dever ser integrado por Mdico do Trabalho, Engenheiro de Segurana do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Tcnico de Segurana do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 6.5 ATRIBUIES DO SESMT Aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurana e de Medicina do Trabalho ao ambiente de trabalho de modo a reduzir ou eliminar os possveis riscos existentes sade do trabalhador. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminao e reduo do risco, a utilizao, pelo trabalhador, do Equipamento de Proteo Individual (EPI). Colaborar nos projetos e novas instalaes fsicas da empresa. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientao quanto ao cumprimento das normas de segurana na empresa e seus estabelecimentos. Manter permanente relacionamento com a Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA). Promover a realizao de atividades de conscientizao, educao e orientao dos trabalhadores para a preveno de acidentes do trabalho e doenas ocupacionais, tanto atravs de campanhas, quanto de programas de durao permanente. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e de doenas ocupacionais, estimulando-os em favor da preveno. Analisar e registrar em documentos especficos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vtima, e todos os casos de doena ocupacional.
7. EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL ( E P I ) 7.1- DEFINIO: todo dispositivo de uso pessoal, de fabricao nacional ou estrangeira, destinado a proteger a sade e a integridade fsica do trabalhados durante o exerccio de suas atividades. "O EPI no evita que o acidente ocorra, mas reduz suas consequncias, evitando ou reduzindo as leses fsicas." 7.2-QUANDO ESPECIFICAR O EPI ? Sempre que as medidas de proteo coletivas forem tecnicamente inviveis ou que no ofeream completa proteo ao empregado, quer no aspecto de acidentes e/ou doenas profissionais ou do trabalho. - Enquanto as medidas de proteo estiverem sendo implantadas. - Em situaes de emergncia 7.3 - QUEM PODE RECOMENDAR O USO DO EPI AO EMPREGADOR?
10
Os profissionais do SESMT Os componentes da CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMT.
7.4 -Quais as gravaes que devero aparecer no EPI ? "Todo EPI dever apresentar, em caracteres indelveis e bem visveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importador e o nmero do CA." 7.5 -COMPETNCIAS a- CABE AO EMPREGADOR: - Adquirir o tipo de equipamento apropriado para a atividade do empregado; - Fornecer o equipamento gratuitamente ao empregado; - Treinar o empregado quanto ao uso do equipamento; - Tornar obrigatrio o uso do equipamento; - Substituir o equipamento caso seja danificado e/ou extraviado; - Responsabilizar-se pela sua higienizao e manuteno peridica. b- CABE AO EMPREGADO: - Usar o equipamento de proteo individual indicado para a finalidade a que se destinar; - Responsabilizar-se pela guarda e conservao do equipamento; - Responsabilizar-se pela danificao e/ou extravio do mesmo; - Comunicar ao empregador qualquer irregularidade ou situao que torne imprprio o uso do equipamento. 7.6 CLASSIFICACAO
PARTES DO CORPO
TIPOS DE EPIS -
CABEA E FACE
MEMBROS SUPERIORES
MEMBROS INFERIORES
Protetores faciais destinados proteo dos olhos qumicos e radiaes luminosas; - culos de segurana para trabalhos que possam impacto de partculas, e para trabalhos que causam irritao - Mscara para soldadores; - Capacete de segurana para proteo do crnio no ( trabalhos a cu aberto); impactos provenientes eltrico. - Capuz, touca, rede - Luvas e/ou mangas de proteo para: Produtos Frio ; - Agentes biolgicos; Materiais ou objetos aquecido - Calados de proteo ( sapatos , botinas ) contr locais enchar ados; midos etc... - Perneiras de proteo contra riscos de origem mec Cinto de segurana (dotados de corda de nylon); - Cadeira suspensa.
PROTEO CONTRA QUEDAS -
PROTEO AUDITIVA
Protetores auriculares ( do tipo concha , insero o
PROTEO RESPIRATRIA
Respiradores contra poeira e produtos qumicos; Aparelho de respirao autnoma para locais onde o
PROTEO DO TRONCO
Aventais, jaquetas, capas e outras vestimentas c . Trmica, radioativa e mecnica;. Agentes qumic . Agentes meteorolgicos; . Umidade.
10
11
PROTEO CORPO INTEIRO:
Aparelho de isolamento autnomo ou de aduo de
8. COR E SINALIZAO 8.1-INTRODUO A utilizao de cores no dispensa o uso de outras formas de preveno de acidentes e a sua utilizao deve ser a mais reduzida possvel, para no ocasionar distrao, confuso e fadiga ao trabalhador. 8.2 CORES COR APLICAO ( IDENTIFICAR ) Vermelho Caixa de alarme de incndio; hidrantes; bombas de incndio; sirene de alarme de incndio; extintores e sua localizao; localizao de mangueiras de incndio; transporte com equipamento de combate a incndio; portas de sada de emergncia; sprinklers; e excepcionalmente, como sentido de advertncia de perigo em obstrues perigosas. Amarelo . identificar gases no liquefeitos, em canalizaes; . indicar cuidado em: - partes baixas de escadas portteis, corrimes, parapeitos, pisos e partes inferiores de escada, poos e entradas subterrneas, meio-fios, partes de fundo de corredores sem fim. . passarelas e corredores de circulao, por meio de faixas; direo e circulao por meio Branco de sinais; localizao e coletores de resduos; localizao de bebedouros; reas em torno dos equipamentos de socorro de urgncia e de combate a incndios; reas de armazenamento e zonas de segurana. . indicar as canalizaes de inflamveis e combustveis de alta viscosidade(leos Preto lubrificantes, asfalto, leo combustvel, piche e etc.). Azul: .canalizaes de ar comprimido: . para indicar cuidado, ficando o seu emprego limitado a avisos contra o uso de equipamento, assim como a sua movimentao, que dever permanecer fora de servio. . barreiras e bandeirolas de advertncia a serem localizadas nos pontos de comando, partida ou fontes de energia de equipamentos. Verde: a . caixas de equipamento de socorro de urgncia, chuveiros de segurana; quadros para cor que exposio de cartazes; boletins; avisos e localizao de EPI; emblemas de segurana; caracteriz mangueiras de oxignio na solda; a . canalizaes de gua. segurana . partes mveis de mquinas e equipamentos; faces internas de caixas protetoras de Laranja dispositivos eltricos; faces externas de polias e engrenagens; dispositivos de corte; prensas; bordas de serras; . canalizaes de cidos. Prpura . indicar perigos advindos de radiaes eletromagnticas; portas e aberturas que do acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais radiativos; locais onde tenham sido enterrados materiais contaminados e recipientes de materiais radiativos. Lils . indicar canalizaes que contenham lcalis; . identificar lubrificantes nas refinarias de petrleo Cinza claro: utilizado nas canalizaes em vcuo; Cinza escuro: utilizado para identificar eletrodutos. . canalizaes com gases liquefeitos; inflamveis viscosidade(leo diesel, gasolina, querosene, etc.) e combustveis de baixa
Cinza Alumnio
Marrom:
. a critrio da empresa, para identificar qualquer fluido no identificvel pelas demais cores
11
12
8.3 Rotulagem preventiva Todas as instrues dos rtulos dos produtos ,perigosos ou nocivos sade devero ser breves , precisas e redigidas em termos simples e de fcil compreenso. Do rtulo devero constar os seguintes tpicos. a ) Nome tcnico do produto b) Palavra de advertncia designando o grau de risco As palavras de advertncia que devem ser usadas so: "Perigo", para indicar substncias que apresentem alto risco; "Cuidado", para substncias que apresentem risco mdio; "Ateno", para substncias que apresentem risco leve. c) Indicaes de risco - As indicaes devero informar sobre os riscos relacionados ao manuseio de uso habitual ou razoavelmente previsvel do produto. Exemplos: "Extremamente Inflamveis", "Nocivo se Absorvido Atravs da Pele", etc. d ) Medidas preventivas - Abrangendo aquelas a serem tomadas. Tm por finalidade estabelecer outras medidas a serem tomadas para evitar leses ou danos decorrentes dos riscos indicados. Exemplos: "Mantenha Afastado do Calor, Fascas e Chamas Abertas" e "Evite Inalar a Poeira". e) Primeiros Socorros - Medidas especficas que podem ser tomadas antes da chegada do mdico. f) Informaes para mdicos, em casos de acidentes.
g) Instrues especiais em caso de fogo, derrame ou vazamento, quando for o caso.
9. PROTEO CONTRA INCNDIO
9.1 Caractersticas Fsicas e Qumicas do Fogo
Uma vez que o fogo um processo de combusto que envolve reaes qumicas e que, alm disso, um dos efeitos mais evidentes do fogo, o calor, envolve a aplicao de conceitos de fsica, no possvel que se aborde um tema relacionado diretamente com o fogo sem que se faa meno aos seus aspectos qumicos e fsicos.
Assim, os fatos fundamentais acerca do fogo levam compreenso de como ocorre, tornando mais fcil a sua extino.
Quando uma substncia combustvel se une com o oxignio de um modo rpido, liberando luz e calor, diz-se que a substncia est em combusto.
12
13
O fogo , portanto, uma reao qumica de oxidao, que se desenvolve em alta velocidade, acompanhada da liberao de energia sob a forma de luz e calor.
Para que o fogo acontea, necessrio: a) b) c) d) combustvel; comburente; fonte de ignio (com calor suficiente para iniciar a combusto); e reao em cadeia.
At algum tempo atrs, somente eram considerados como essenciais combusto os elementos que eram indicados por meio de um tringulo, denominado "tringulo do fogo", que tinha como lados o combustvel, o comburente e a fonte de ignio.
Com a introduo no conceito de combusto da reao em cadeia, necessria para explicar o mecanismo de extino do fogo por agentes qumicos, tornou-se necessrio criar um novo meio, de fcil memorizao, constitudo de quatro elementos, um slido de quatro faces, denominado "tetraedro do fogo", cujas faces so: o combustvel, o comburente, a fonte de ignio e a reao em cadeia.
COMBURENTE COMBUSTVEL
FONTE DE IGNIO
REAO EM CADEIA A ausncia de qualquer uma destas faces faz com que o tetraedro deixe de existir,
ou seja, cessa a combusto, extingue-se o fogo.
Faremos, a seguir, algumas consideraes acerca dos componentes do tetraedro do fogo. Combustvel Qualquer material oxidvel (slido, lquido ou gasoso) capaz de reagir com um comburente, originando a combusto.
Comburente Denomina-se comburente a substncia oxidante indispensvel ao fenmeno da combusto. Geralmente, esta substncia o oxignio do ar, mas existem outros elementos que podem fazer o mesmo papel.
13
14
O ar formado, basicamente, por dois gases: nitrognio (78%) e oxignio (21%). O nitrognio age como diluente do oxignio, reduzindo a intensidade da queima do combustvel.
Para que haja a combusto, h que se ter um mnimo de 17% de oxignio em volume. Em atmosfera de altas concentraes de oxignio (acima de 18%), a combusto se processa com uma enorme rapidez e torna-se muito difcil extingui-la.
Uma vez que o oxignio existe no ar em forma gasosa, ele somente se combinar com outras substncias, num processo de combusto, se essas substncias tambm estiverem sob a forma gasosa. Isso significa que, na chama, o que queima no o lquido ou o slido, e sim o vapor ou o gs desprendido deles.
O carbono e alguns metais no obedecem regra de que o combustvel deve estar sob a forma de vapor ou gs para queimar, pois tais materiais queimam, mesmo no estado slido. Fonte de Ignio A ignio de um material combustvel ocorre quando uma frao desse material, em mistura com o ar, dentro da faixa de inflamabilidade, aquecida at uma determinada temperatura, que ns denominamos temperatura de auto-ignio.
Observemos o seguinte exemplo: temos uma mistura de um gs combustvel (por exemplo, o propano) com o ar, dentro da faixa de inflamabilidade. Coloquemos no interior dessa mistura um fsforo aceso e observemos o que vai acontecer. O fsforo aceso uma fonte de ignio; a reao de combusto da madeira est liberando uma certa quantidade de energia, parte sob a forma de calor. Este calor absorvido pela mistura de propano e ar, produzindo-se, num determinado ponto dessa mistura, um aquecimento localizado. Em determinado instante, a temperatura da mistura ultrapassa a temperatura necessria para que seja iniciada uma reao qumica de combusto, ou seja, a temperatura de auto-ignio. A partir desse momento, a combusto daquela frao de mistura inflamvel ir gerar mais calor, que ir aquecer, por sua vez, uma outra frao vizinha primeira, iniciando tambm nesta um processo de combusto, que, por sua vez, liberar calor, que ir provocar a ignio de uma terceira, e assim por diante. Este exemplo mostra no s como se inicia um processo de combusto, mas tambm como ele se mantm, utilizando o calor gerado para provocar a ignio de uma parte no queimada.
Existem vrias maneiras de se conseguir provocar a ignio numa mistura inflamvel, mas todas elas se resumem na existncia de uma fonte de ignio. As fontes de ignio so divididas comumente em quatro tipos, segundo sua origem: qumica, eltrica, mecnica e nuclear.
14
15
Reao em Cadeia O estudo moderno das reaes de combusto levou descoberta da formao de certas fraes qumicas, instveis e temporrias, denominadas "Radicais Livres". Estes radicais so os responsveis pela transferncia de energia entre uma molcula "queimada" e uma molcula "no queimada", e, embora sua vida no passe de fraes de segundos, so to indispensveis ao processo de combusto quanto o combustvel ou o comburente.
Imaginemos um recipiente contendo uma mistura de hidrognio e cloro. Estes gases no reagem entre si em temperatura e presses normais, a menos que se introduza um terceiro componente: energia, sob a forma de luz. A luz faz com que as molculas se transformem em radicais livres (ou tomos ativos), que, por sua vez, sero capazes de reagir com outras molculas, produzindo energia calorfica, que libertar outros radicais, formando a reao em cadeia.
9.2 Misturas Inflamveis
Os vapores ou gases de uma substncia combustvel, combinados com o oxignio do ar, so capazes de se inflamar, desde que a proporo ar/vapor ou gs combustvel esteja entre duas concentraes definidas para cada substncia, denominadas Limites de Inflamabilidade (ou Explosividade), conforme se observa no esquema a seguir.
+ O2 - C2 LIE
LSE - O2 +C2
FAIXA DE INFLAMABILIDADE A concentrao mnima de vapor ou gs combustvel no ar, abaixo da qual a mistura no se inflama, denomina-se "Limite Inferior de Inflamabilidade ou Explosividade LIE", e a concentrao mxima acima da qual a mistura no queima denomina-se Limite Superior de Inflamabilidade ou Explosividade LSE, e so expressas, geralmente, em forma de percentagem de vapor ou gs combustvel no ar.
Quando a concentrao da mistura est abaixo do Limite Inferior de Inflamabilidade, diz-se que a mistura pobre e no h queima; se estiver acima do Limite Superior de Inflamabilidade, diz-se que a mistura rica e tambm no h queima. regio compreendida entre os limites inferior e superior d-se o nome de "Faixa de Inflamabilidade (ou Faixa de Explosividade)". Os limites de inflamabilidade variam nos diferentes tipos de combustveis, como indica a tabela a seguir.
15
16
Combustvel Butano Gs Natural Gasolina lcool Etlico Querosene Acetileno Monxido de Carbono Hidrognio
LIE 1,9% 4,0% 1,4% 4,3% 0,7% 2,5% 12,5% 4,1%
LSE 8,5% 14,0% 7,6% 19% 5,0% 81,0% 74,0% 74,2%
ATENO! Verifique os exemplos a seguir. 1. Medimos a concentrao de vapor de querosene num ambiente e encontramos 0,4%. Consultando a tabela, verificamos que este valor est abaixo do seu LIE. No dever haver exploso. 2. A concentrao de vapor de gasolina medida num tanque foi de 2,3%. Verifica-se pela tabela que 2,3% para a gasolina est dentro da faixa de inflamabilidade. Logo, poder haver exploso. 3. Ainda para a gasolina, se a concentrao encontrada fosse de 9,0%, a exploso, naquele momento, no deveria ocorrer, pois este valor est acima do LSE para a gasolina.
9.3 Propagao do Calor
A propagao do calor responsvel pelo incio e pela continuidade da maior parte dos incndios. O calor transferido pelas seguintes formas: Conduo A propagao do calor de um corpo para outro por conduo se processa por meio de contato direto ou de um condutor intermedirio slido, lquido ou gasoso, passando o calor de molcula a molcula, como, por exemplo, o calor do caf dentro de uma xcara, que chega at os dedos passando pela prpria xcara. Do mesmo modo, uma tubulao de vapor em contato com um pedao de madeira transfere para este parte de seu calor por meio de contato direto. Neste exemplo, a tubulao de vapor o condutor de calor do vapor. Como na conduo o calor se propaga de molcula a molcula, fcil entender por que no ocorre conduo de calor por meio do vcuo perfeito. A
16
17
quantidade de calor transferida por conduo depende da condutividade trmica, da rea e da espessura do material.
Radiao A propagao do calor de um corpo para outro por radiao se processa por meio de ondas eletromagnticas, semelhantes luz ou s ondas de rdio. , tambm, desta maneira que um incndio em um tanque de petrleo provoca o aquecimento dos tanques vizinhos. O calor radiante passa livremente pelo vcuo. Assim como a luz, o calor radiante refletido por superfcies polidas e passa por meio de objetos translcidos. Outros fatores que afetam a transferncia de calor por radiao so: a composio, a cor e o polimento das superfcies. As superfcies escuras e rugosas absorvem calor mais rapidamente que as superfcies claras e polidas.
Conveco Conveco uma forma pela qual o calor se propaga somente por meio de um corpo gasoso ou lquido. Consideremos a seguinte experincia: colocando-se ao fogo um recipiente com lquido, por exemplo, a parte inferior se aquece primeiro; sua densidade, em conseqncia, diminui e sobe, deslocando a parte superior que est mais fria para baixo. Estabelece-se, assim, uma corrente de lquido, o que facilita o seu rpido aquecimento.
9.4 Requisitos de proteo
A NR-23 estabelece as medidas que devem dispor os locais de trabalho visando preveno da sade e da integridade fsica dos trabalhadores. Determina os seguintes requisitos mnimos e obrigatrios para o sistema de proteo contra incndios de todas as empresas:
sadas suficientes para a rpida retirada do pessoal em caso de incndio; equipamento suficiente para combater o fogo em seu incio; e pessoas adestradas no uso correto dos equipamentos.
a. Sadas de Emergncia
Os locais de trabalho devero dispor de sadas em nmero suficiente e dispostas de modo que todos os presentes nesses locais possam abandon-los com rapidez e segurana em caso de emergncia.
ATENO! As vias de sada e de acesso devem estar sempre desobstrudas, iluminadas e sinalizadas com a direo de sada. A existncia de iluminao de emergncia nesses locais muito importante, sobretudo nos casos de abandono de rea.
17
18
b. Portas
Consideraes gerais: As portas de sada devem ser de batentes ou corredias horizontais, a critrio da autoridade competente em segurana do trabalho. As portas verticais, as de enrolar e as giratrias no sero permitidas em comunicaes internas. Todas as portas de batente, tanto as de sada como as de comunicaes internas, devem abrir no sentido da sada e situar-se de tal modo que, ao se abrirem, no impeam as vias de passagem. As portas que conduzem s escadas devem ser dispostas de maneira a no diminurem a largura efetiva dessas escadas. As portas de sada devem ser dispostas de maneira a serem visveis, ficando terminantemente proibido qualquer obstculo, mesmo
ocasional, que entrave o seu acesso ou a sua vista. Nenhuma porta de entrada ou de sada ou de emergncia de um estabelecimento ou local de trabalho dever ser fechada chave, aferrolhada, ou presa durante as horas de trabalho. Durante as horas de trabalho, as portas podero ser fechadas com dispositivo de segurana que permita a qualquer pessoa abri-las facilmente do interior do estabelecimento ou do local de trabalho. Em hiptese alguma, as portas de emergncia devero ser fechadas pelo lado externo, mesmo fora do horrio de trabalho.
c. Escadas e Portas Corta-Fogo
Todas as escadas, plataformas e patamares devero ser feitos com materiais incombustveis e resistentes ao fogo.
As caixas de escadas devero ser providas de portas corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser abertas facilmente pelos dois lados.
c. Sistemas de Alarme
Nos estabelecimentos de riscos elevados ou mdios, dever haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptveis em todos os locais da construo.
Cada pavimento do estabelecimento dever ser provido de um nmero suficiente de pontos capazes de pr em ao o sistema de alarme adotado. As campainhas ou
18
19
sirenes de alarme devero emitir um som distinto em tonalidade e altura de todos os outros dispositivos acsticos do estabelecimento.
Os botes de acionamento de alarme devem ser colocados nas reas comuns dos acessos aos pavimentos, em lugar visvel e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plstico, facilmente quebrvel. Esta caixa dever conter a inscrio "Quebrar em caso de emergncia".
d. Exerccios de Alerta
Os exerccios de combate ao fogo devero ser feitos periodicamente, sob a direo de um grupo de pessoas capazes de prepar-los e dirigi-los, comportando um chefe e ajudantes em nmero necessrio, segundo as caractersticas do estabelecimento.
Os planos de exerccio de alerta devero ser preparados como se fossem para um caso real de incndio.
Nas fbricas que mantenham equipes organizadas de bombeiros, os exerccios devem realizar-se periodicamente, de preferncia sem aviso e se aproximando, o mais possvel, das condies reais de luta contra o incndio.
9.5 Classes de Fogo
Para facilitar a aplicao das disposies da NR-23, adotada a seguinte classificao:
Fogo classe A: considerado o fogo em materiais de fcil combusto, com a propriedade de se queimarem em superfcie e profundidade, deixando resduos, tais como tecidos, madeira, papel, fibra etc.
Fogo classe B: considerado o fogo em produtos inflamveis que queimem somente em sua superfcie, no deixando resduos, tais como leos, graxas, vernizes, tintas, gasolina etc.
Fogo classe C: considerado o fogo que ocorre em equipamentos eltricos energizados, tais como motores, transformadores, quadros de distribuio, fios etc.
Fogo classe D: considerado o fogo em elementos pirofricos, tais como magnsio, zircnio, titnio etc.
9.6 Sistemas de Extino de Incndio
19
20
Os sistemas de extino de incndio podem ser com gua e com extintores. Apresentamos a seguir, algumas recomendaes importantes sobre estes sistemas. Leia com ateno. a. Com gua Quando for usada a gua em incndios em edificaes, deve-se ter o cuidado de desligar toda a corrente eltrica antes de se iniciar o combate ao fogo, condio bsica para se evitar acidente com choque eltrico na equipe que combate o fogo.
Nos estabelecimentos industriais com 50 ou mais empregados deve haver um aprisionamento conveniente de gua sob presso, a fim de, a qualquer tempo, extinguir os comeos de fogo de classe A.
Os pontos de captao de gua devero ser facilmente acessveis e situados ou protegidos de maneira a no poderem ser danificados. Estes pontos e os encanamentos de alimentao devero ser experimentados, freqentemente, a fim de evitar o acmulo de resduos.
Os chuveiros automticos (splinklers) devem ter seus registros sempre abertos e s podero ser fechados em caso de manuteno ou inspeo, com ordem do responsvel pela manuteno ou inspeo.
Deve existir um espao livre de, pelo menos, 1 metro abaixo e ao redor dos pontos de sada dos chuveiros automticos (splinklers), a fim de assegurar a disperso eficaz da gua.
Especial ateno deve ser dada s mangueiras de incndio. Elas devem ser acondicionadas dentro de abrigos em ziguezague ou aduchadas. As mangueiras semirgidas podem ser acondicionadas enroladas. importante permitir sua utilizao com facilidade e rapidez.
As bombas de incndio devem ser acionadas periodicamente, como manuteno mnima, a fim de se verificar o seu perfeito funcionamento. b. Com Extintores
Todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros automticos, devero ser providos de extintores portteis, a fim de combater o fogo em seu incio. Tais aparelhos devem ser apropriados classe do fogo a extinguir.
Os aparelhos extintores de maior porte, de 60kg a 150kg, devero ser montados sobre rodas.
20
21
O extintor tipo "gua Pressurizada" ou "gua-Gs" deve ter capacidade varivel entre 10 e 18 litros.
Outros tipos de extintores portteis s sero admitidos com a prvia autorizao da autoridade competente em matria de segurana do trabalho.
b.1 Extintores de Incndio
De acordo com o agente extintor, o princpio de extino e o sistema de expulso, os extintores so classificados conforme a tabela a seguir.
Agente Extintor gua Espuma mecnica P qumico B/C P qumico A/B/C P qumico D Gs carbnico (CO2) Hidrocarbonetos halogenados
Princpio de Extino Resfriamento Abafamento Resfriamento Reao qumica Reao qumica Abafamento (classe A) Reao qumica Abafamento Resfriamento Abafamento Resfriamento Reao qumica Abafamento (classe A)
De acordo com a sua massa total (recipiente + agente extintor + acessrios), os extintores so classificados em portteis e sobre rodas. Seleo do Agente Extintor De acordo com a natureza do fogo, os agentes extintores devem ser selecionados entre os constantes da tabela a seguir.
Classe de fogo A B C
gua (A) (P) (P)
Espuma mecnica (A) (A) (P)
Gs carbnico (NR) (A) (A) D
P B/C (NR) (A) (A)
P A/B/C (A) (A) (A)
HC halogenados (A) (A) (A)
Nota: (A) Adequado classe de fogo. (NR) No recomendado classe de fogo. (P) Proibido classe de fogo.
Sinalizao
21
22
Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados para fcil localizao. Para sinalizao de paredes, recomenda-se a utilizao de indicadores vermelhos com bordas amarelas, situados acima dos extintores. Na faixa vermelha da sinalizao deve constar, no mnimo, a letra E na cor branca.
A sinalizao de coluna deve aparecer em todo o seu contorno, recomendando-se que utilize setas, crculos ou faixas vermelhas com bordas amarelas, situadas em nvel superior aos extintores e que, na parte vermelha da sinalizao, conste a letra E na cor branca, em cada uma de suas faces.
Nas reas industriais e depsitos, deve ser pintada de vermelho, com bordas amarelas, uma rea de piso sob o extintor, a fim de evitar que seu acesso seja obstrudo. Esta rea deve ter, no mnimo, as seguintes dimenses:
rea pintada de vermelho: 0,70cm x 0,70cm. Bordas amarelas: 0,15cm de largura.
Em reas que dificultem a visualizao das marcaes de parede e coluna, devemse utilizar, tambm, setas direcionais, dando o posicionamento dos extintores, as quais devem ser instaladas onde forem mais adequadas e visveis. Recomenda-se que seja utilizada a cor vermelha com bordas amarelas. Simbologia Para efeito de representao em peas grficas integrantes do projeto de sistema de proteo por extintores, deve ser usada a simbologia a seguir.
Extintor de gua Extintor de espuma qumica Extintor de espuma mecnica Extintor de gs carbnico (CO2) Extintor de p qumico Extintor de hidrocarboneto halogenado
Extintor, sobre rodas, de gua Extintor, sobre rodas, de espuma qumica Extintor, sobre rodas, de espuma mecnica Extintor, sobre rodas, de gs carbnico (CO2) Extintor, sobre rodas, de p qumico Extintor, sobre rodas, de hidrocarboneto halogenado
22
23
ATENO! A manuteno peridica e preventiva dos extintores, assim como o treinamento regular do pessoal da empresa, faz parte do sistema de preveno de incndios. Nenhum extintor ter eficcia se no houver algum capacitado para utiliz-lo corretamente na hora oportuna. O sistema de proteo por extintores est baseado na premissa da existncia de pessoal treinado para us-lo. Portanto, treinar o pessoal da empresa para a utilizao dos extintores uma forma de dar manuteno ao sistema.
9.7 Pontos de fulgor, combusto e de ignio
Os combustveis, para se queimar, se transformam primeiramente em vapores. A passagem de uma substncia para o estado de vapor se d a determinada temperatura, que varivel conforme a natureza do combustvel, conforme se observa a seguir.
PONTO DE FULGOR ( FLASH POINT ) a mais baixa temperatura em que os combustveis desprendem vapores, capazes de se incendiar em presena de chama, mas insuficientes para manter a combusto, devido a insuficincia de vapores. Ex: Tentar acender uma vela, ao retirarmos a fonte de calor, a combusto logo cessa.
PONTO DE COMBUSTO OU INFLAMAO ( FIRE POINT ) a menor temperatura em que os combustveis liberam vapores que se queimam de forma contnua, ao entrar em contato com a fonte de calor.
PONTO DE IGNIO OU AUTO INFLAMAO ( AUTO IGNITION POINT ) a temperatura mnima em que os vapores liberados dos corpos combustveis, que em contato com o oxignio do ar atmosfrico iniciam e mantm a combusto, independente do contato de qualquer fonte de calor.
9.8 HIDRANTES
Quando o fogo toma grandes propores e se torna impossvel combat-lo com aparelhos extintores, os bombeiros e os componentes da brigada de incndio usam o sistema de hidrantes, porque utiliza gua em abundncia e sob forte presso. Podemos definir o sistema de proteo por hidrantes como: conjunto de canalizaes, abastecimento dgua, vlvulas ou registros para manobras, hidrantes, mangueiras de incndio, esguicho, equipamentos auxiliares e meios de avisos e alarmes.
23
24
HIDRANTE
o ponto de contato da gua entre a tubulao fixa (canalizao)
e a tubulao mvel (mangueira).
Canalizaes fixas
So compostos de tubo de ferro fundido, ao
galvanizado, ao preto, devendo os mesmos a resistir presso no mnimo 50 % acima da presso mxima de trabalho e no podendo ter dimetro inferior a 2 (63 mm). . Mangueiras de incndio So constitudas de fibras naturais ou sintticas,
revestidas internamente com borracha sinttica, tendo nas extremidades, juntas metlicas de unio de roscas ou de engate rpido do tipo STORZ. Portanto, servindo para canalizar a gua do hidrante at o fogo; atualmente so fornecidos em lances de 15 metros nos dimetros de (38 mm) e 2 (63 mm). Os danos causados as mangueiras so ocasionados por arrastamento, calor, mofo, ferrugem, cidos, gasolina, leos e etc., devendo ser guardadas no interior das caixas dos hidrantes em forma de rolo.
Esguicho
So dispositivos acoplados a extremidade da mangueira com a
finalidade de dar forma , dirigir e controlar o jato de gua. Existem vrios tipos de esguichos podendo fornecer jato slido, jato slido ou regulvel (slido ou neblina)
Bomba de incndio
Utilizadas para dar presso na rede.
9.9 CHUVEIROS AUTOMTICOS ( SPRINKLERS )
So aparelhos instalados em vrios pontos de uma tubulao e equipados com um elemento que, ao ser submetido a uma temperatura pr-fixada, funde-se ou rompese permitindo a passagem livre de gua da rede de distribuio. Esta gua, ao atingir o dispositivo denominado defletor, distribuda na forma de um chuveiro sobre o foco do incndio.
Este tipo de sistema apresenta a vantagem de evitar a propagao do fogo e os danos causados pela gua a locais ainda no atingidos por ele, pois quando se origina um principio de incndio, o equipamento entra automaticamente em operao fazendo soar, simultaneamente, um alarme, porm somente os chuveiros nas proximidades do fogo se rompem e entram em funcionamento. Permitem tambm a proteo durante 24 horas ao dia, protegendo vidas e propriedades, proporcionando descontos nos prmios de seguro.
A tubulao contm gua sob presso cuja a passagem vedada por uma ampola (bulbo) de cristal contendo um lquido muito dilatvel, ou por um elemento
24
25
fusvel metlico. Estes elementos rompem-se a uma temperatura fixa. Normalmente nas ampolas a temperatura identificada pela cor do lquido, conforme tabela abaixo: COR DO LQUIDO DO TEMPERATURA DE TEMPERATURA BULBO ACIONAMENTO MXIMA AMBIENTE Vermelho 68 C 38 C Amarelo 79 C 49 C Verde 93 C 63 C Cinza 121 C 91 C Azul 141 C 111 C Malva 182 C 152 C Obs.: H variao quanto a temperatura mxima ambiente de fabricante para fabricante. Os chuveiros automticos devem ter seus registros sempre abertos e s podero ser fechados em casos de manuteno ou inspeo. Devero ter um espao livre pelo menos 1,00 ( um metro ) abaixo e ao redor das cabeas dos chuveiros, a fim de
assegurar em inundao eficaz.
9.10 EVITE O FOGO EM SUA CASA O mau uso da eletricidade e o gs de cozinha so os maiores geradores de incndio caseiros.
* A sobrecarga na rede eltrica atravs da instalao de vrios equipamentos numa mesma tomada, causa de expressivo nmero de incndios caseiros.
* Quando o disjuntor cair, tome medidas corretas, pois sua queda um aviso de que h sobrecarga e problemas na rede eltrica.
* Quando lmpadas comeam a queimar com freqncia sinal de que h problemas na instalao. No passe fios por baixo de almofades, tapetes ou portas.
* Tente tornar um hbito antes de deitar: revisar cinzeiros, fogo e outras fontes de calor, para evitar risco de fogo.
* Mantenha fsforos e isqueiros longe de crianas.
* Fios desencapados, rodos por ratos ou desgastados por algum vazamento, significam alto risco de incndio.
* Sempre feche bem o registro do gs e deixe alguma vidraa aberta para que haja ventilao. Quando entrar em casa e sentir cheiro de gs, no acenda lmpadas, fsforos ou isqueiros. Qualquer centelha causar uma exploso. Feche o registro e abra janelas.
25
26
* Ao cozinhar, muito cuidado para no esquecer panelas no fogo. * No deixe panelas com cabos para fora do fogo, de forma que as crianas possam tentar alcana-las.
* Os eletrodomsticos devem sempre estar em boas condies de funcionamento. No improvise com eletricidade.
* Ensine s crianas que o fogo e a eletricidade tem muitas faces. Mostre a utilidade do fogo e o perigo dele quando mal usado, assim como com a eletricidade.
* O ferro um grande gerador de incndios, porque as pessoas esquecem de desliglo.
* No armazene lquidos inflamveis em casa. Muito cuidado inclusive com o lcool, muito usado na limpeza da casa. Ele precisa estar bem guardado, bem fechado e ser usado com cuidado. No use lcool para alimentar o fogo da churrasqueira ou da lareira. H inmeros casos de incndio e de queimaduras graves em pessoas que lidaram com lcool prximas ao fogo.
* Permita a circulao de ar ao redor da televiso e outros aparelhos eltricos que ficam permanentemente ligados, para evitar superaquecimento.
* Nunca amontoe jornais ou revistas perto de fontes de calor.
* Importante: Tenha mo o nmero do telefone do Corpo de Bombeiros e treine com as crianas como deve ser feito o telefonema. Importante informar endereo, locais prximos, tipo de prdio e esperar telefonema de confirmao dos Bombeiros.
9.11 INSTRUES PARA CASO DE INCNDIO
* Se notar fogo no prdio onde voc trabalha ou habita, d imediatamente o alarme administrao do mesmo.
* No tente combater o incndio, a menos que voc saiba usar extintores ou mangueiras. Tambm no procure salvar objetos, salve sua vida! Saia rapidamente fechando portas atrs de si mas sem tranc-las. * Alerte os demais ocupantes em voz alta e bata suas portas, se estiverem fechadas. * Ajude e acalme os outros. * No use o elevador! Procure alcanar o trreo usando a escada mais prxima.
26
27
* Se ficar preso em meio fumaa, ponha um leno molhado no nariz e ande de rastros, pois o ar perto do cho mais respirvel. Mantenha-se vestido e procure molhar suas roupas. No se tranque em qualquer compartimento. Em breve a madeira da porta ser consumida e voc poder ser queimado.
* Se estiver preso, tente arrombar paredes com o impacto de qualquer objeto que seja resistente.
* Antes de abrir uma porta, toque-a com a mo. Se estiver fria, abra-a com cuidado, protegendo-se detrs dela. Se estiver quente, no abra. Aplique toalhas molhadas nas fendas e aberturas dela.
* Se no puder sair, mantenha-se junto ao cho e prximo de uma janela. Abra a janela e coloque perto de si um mvel para servir de anteparo contra o calor, que se propaga em linha reta. Atire para fora o que puder queimar facilmente (tapetes, cortinas, papeis, etc).
* No fique parado na janela sem nenhuma defesa: o fogo procura espao para queimar e ir busc-lo, se voc no estiver guarnecido.
*Se encontrar todas as vias de fuga bloqueadas, refugie-se em um banheiro, molhando a porta e vedando-a com panos e papis. Se puder sair do prdio, no retorne antes de debelado o incndio.
*Se for vencer alguns andares por meio de corda de pequeno dimetro, faa ns de 1 em 1 metro, para que voc consiga segurar.
* Quando usar as escadas do Corpo de Bombeiros, desa com o peito voltado para a escada, olhando sempre para cima.
* Se a laje estiver quente, procure uma posio favorvel ao vento. Se houver telhas de amianto, faa uma pilha de trs ou quatro folhas, depois monte uma cobertura, como um castelinho feito de cartas de baralho, e fique debaixo dela protegendo-se do calor.
* Em caso de salvamento por helicptero, tenha calma. Considere que a capacidade mdia de um helicptero de salvamento de 7 pessoas. Em cem viagens, em 2 horas e 30 minutos, poder salvar 700 pessoas. Em caso de pnico, poder matar os poucos sobreviventes sobre um prdio e os tripulantes do aparelho.
27
28
10. SEGURANA EM SERVIOS DE ELETRICIDADE
10.1 INTRODUO Os acidentes com eletricidade so freqentes e ocorrem tanto nas instalaes de alta como nas de baixa voltagem. As pessoas ao se depararem com uma instalao de alta voltagem sentem um certo receio, o mesmo no acontecem nas de baixa , pois nosso hbito de utiliz-la diariamente nos nossos lares ou locais de trabalho, nos torna displicentes quanto ao perigo, expondo-nos constantemente ao tentar consertar utenslios eltricos, interruptores, trocar fusveis etc, sem as devidas precaues e conhecimento tcnico suficiente, contribuindo com isto para os acidentes. Portanto, podemos concluir que a impercia, imprudncia, indisciplina, so os fatores que levam o homem aos acidentes com eletricidade. 10.2 CORRENTE ELTRICA A corrente eltrica se mantm sempre dentro de um fio devidamente isolado. Se houver falha no isolamento, linhas quebradas , conexes soltas , curto circuito etc, a corrente pode escapar e procurar a terra onde se dissipar, escolhendo sempre o material que oferecer menor resistncia em seu caminho. Se for o homem, provocar o choque eltrico. 10.3 CHOQUE ELTRICO Manifestao que se instala no organismo humano quando este percorrido em certas condies por uma corrente eltrica. GRAVIDADE DO CHOQUE ELTRICO A natureza e os efeitos da perturbao variam e dependem de certas circunstncias tais como: - Voltagem - Quantidade de corrente que atravessa o corpo humano (amperagem) - Percurso da corrente no corpo humano - Durao do choque - Condies orgnicas do indivduo. EFEITOS DA CORRENTE ELTRICA NO ORGANISMO Qualquer atividade biolgica, seja glandular, nervosa ou muscular originada de impulsos de corrente eltrica. Se essa corrente fisiolgica interna somar-se a uma corrente de origem externa, devido a um contato eltrico, ocorrer no organismo humano uma alterao de funes vitais normais que, dependendo da durao da corrente, pode levar o indivduo at a morte. PRINCIPAIS EFEITOS: - Tetanizao (contrao muscular) a paralisia muscular provocada pela circulao da corrente eltrica atravs dos tecidos nervosos que controlam os msculos. Neste caso, a corrente eltrica externa anulou as ordens emanadas dos centros de comando das atividades musculares localizadas no crebro. De nada adianta a conscincia dos indivduos e sua vontade de interromper o contato. Geralmente nota-se que uma pessoa est presa a um fio eltrico ativo sem capacidade de se liberar quando verifica-se um tremor violento que lhe sacode todo o corpo. Em muitos casos h, tambm, a contrao dos msculos da garganta, impedindo que a vitima grite por socorro. - Parada Respiratria
28
29
Este quadro acontece quando a corrente eltrica externa anula ou sufoca as correntes emanadas dos centros de comando da respirao, localizados no crebro, e como conseqncia os msculos que controlam a respirao so afetados, os pulmes bloqueados, parando a funo vital da respirao. - Fibrilao Ventricular O corao um rgo de funcionamento independente, isto , no necessita de comando do crebro para executar suas tarefas, uma vez que estas so contnuas e repetidas. No atrio direito do corao existe um ndulo denominado NDULO KEITH FLACK ou marca passo que, a intervalos regulares, emite impulsos eltricos que atuam sobre as fibras dos msculos que formam o corao, fazendo com que se contraiam e dilatem, ordenada e ritimadamente, comprimindo e dilatando alternadamente o corao na sua funo contnua de bombear o sangue atravs do corpo humano. Caso uma corrente externa, para atingir o solo, passe pelo corao e atinja diretamente o msculo cardaco, poder perturbar o seu funcionamento regular. Ou seja, os impulsos peridicos que em condies normais regulam as contraes (SSTOLE) e as expanses (DISTOLE) so alteradas e o corao vibra de forma desordenada. A este fenmeno chamamos de FIBRILAO VENTRICULAR. At bem poucos anos a fibrilao ventricular era um fenmeno irreversvel, resultando na morte do homem. Com a inveno do aparelho denominado DESFIBRILADOR passou a ser possvel recuperar o paciente com fibrilao ventricular. - Queimadura A passagem da corrente eltrica pelo corpo humano acompanhada do desenvolvimento de calor por efeito JOULE, podendo produzir queimadura. Este fenmeno ocorre principalmente nos pontos de entrada e sada da corrente pelo corpo, tendo em vista, principalmente: a elevada resistncia da pele e maior densidade de corrente naqueles pontos. As queimaduras produzidas por corrente eltrica so, via de regra, as mais profundas e as de cura mais difcil. - Outros efeitos A vtima em contato com energia eltrica poder ficar presa no circuito e os sintomas so os acima citados, mas poder tambm ser arremessada a distncia e, com a queda, Ter fraturas, entorse e at morte. Tambm poder ocorrer manifestaes nervosas, devido ao susto e ao pavor.
EFEITOS DA AMPERAGEM NO CORPO HUMANO Os que no esto familiarizados com esta medida devem ter em mente que para acender uma lmpada de 10 W na voltagem de 110 V preciso 0,090 A, ou seja:
I=
10 ____ = 110
0,090 A (90 Ma)
CORRENTES NO PERIGOSAS At 1 miliampre (Ma.) - Nada sentido De 1 a 8 Ma. - Sente-se o choque sob forma de formigamento, porm, sem dor. No h perda de controle muscular, da poder a vtima livrar-se, com facilidade, do contato com a fonte de eletricidade.
29
30
De 8 a 15 Ma. - Choque com sensao de dor. Ainda no h perda do controle muscular, podendo a vtima livrar-se facilmente por si s.
CORRENTES PERIGOSAS De 15 a 20 Ma. - Choque com sensao de dor. Perda do controle muscular nas adjacncias do ponto de incidncia do choque. Geralmente a pessoa no poder livrarse sozinha. De 20 a 25 Ma. - Choque doloroso, com contraes musculares mais srias. A respirao torna-se difcil. De 25 a 100 Ma. Produz uma condio cardaca que poder, eventualmente, resultar em morte instantnea. De 100 a 200 Ma. - Produz-se uma condio cardaca que fulmina a vtima. Acima de 200 Ma. - Produzem-se queimaduras srias com acentuadas contraes musculares, to acentuadas que os msculos do peito podem apertar o corao e par-lo enquanto durar o choque.
RESISTNCIA DOS MATERIAIS Como dito anteriormente, a corrente tende a procurar os materiais que ofeream menor resistncia, portanto os materiais com baixa resistncia so bons condutores e os com alta resistncia so maus condutores. - metais - 10 a 50 OHM () - corpo humano - mo-mo - 1000 a 1500 OHM - mo-p - 1000 a1500 OHM - mo-trax - 450 a 750 OHM
- madeira - 100.000.000 OHM bom frisar que em caso de materiais midos estes valores so bem menores
VOLTAGEM Qual a voltagem que pode causar danos? Levando em considerao a resistncia do corpo humano = 1500 e que 25 Ma. suficiente para causar o morte do indivduo, temos como aplicao da Lei de OHM. V=I.R V = 0,025 x 1.500 = 37,5V lgico que a condio do indivduo leva em considerao: Citamos um exemplo de uma pessoa que, imersa numa banheira com gua, foi atender o telefone com o fio com falha de isolamento. Como resultado, foi eletrocutada. - A tenso do fio = 24V - Admitindo a resistncia do corpo humano na ordem de 1000 para este caso, temos: V=IR 24 _____ = 24 Ma. 1000
I=
30
31
PERCURSO DA CORRENTE NO CORPO O corpo humano condutor de corrente e os efeitos fisiolgicos dependero, em parte, do percurso. - entrando na mo e saindo na outra mo. - Neste caso percorrer o trax e atingir a regio dos centros nervosos que controlam a respirao, os msculos do trax e o corao. um dos circuitos mais perigosos. - entrando pela mo e saindo pelo p. - Neste caso, ocorre atuao sobre o diafragma e rgos abdominais. Tambm um circuito perigoso. - entrando pelo p e saindo pelo outro p. Transitando atravs das pernas, coxas e abdomem os efeitos so diferentes, pois o corao e os centros nervosos no foram afetados, mas pode haver efeitos perigosos sobre outros rgos. obs: Em todos os casos, dependendo da intensidade do corrente, poder haver queimadura. 10.4 MEDIDAS PREVENTIVAS - Toda fonte de possveis vazamentos de corrente deve ser cuidadosamente investigada, pois a corrente pode escapar e constituir um risco; - Os fios quebrados e cordes pudos devem ser prontamente substitudos; - As pontas de fio e emendas soltas devem ser isoladas com fita isolante; - As emendas frouxas devem ser apertadas; - Os materiais condutores situados na vizinhana de circuitos devem ser afastados ou ento devem se tomar precaues para evitar contato acidental entre tais materiais e os circuitos eltricos; - O equipamento eltrico deve ser sempre ligado terra. A inspeo destes equipamentos deve incluir a verificao da existncia da ligao terra e se estas ligaes foram feitas de forma adequada. - No ter contato direto com a eletricidade; - No improvisar ou sobrecarregar instalaes eltricas; - Manter o corpo e, principalmente o rosto, afastado ao ligar uma chave eltrica ou fechamento de um circuito; - No usar equipamentos eltricos em locais midos ou molhados; - No reparar instalaes eltricas ou equipamentos eltricos sem que esteja devidamente capacitado; . Desligar a corrente ao fazer reparos; . Usar adequadamente as luvas de borracha, capacete de segurana, sapatos de segurana dieltrico, vara de segurana, cintos de segurana (para trabalhos em alturas) e ferramentas com isolamento eltrico. - Evitar o uso de objetos de adornos (pulseiras metlicas, correntinhas, canetas de corpo metlico nos bolsos da camisa) ao realizar servios em eletricidade. - Usar tapetes ou borrachas (devidamente secos) prximo aos quadros eltricos.
31
32
10.5 PROVIDNCIAS Cada segundo de contato com a eletricidade diminui a possibilidade de sobrevivncia da vtima. Devemos socorr-la o mais rpido possvel. Para tal necessrio o socorrista tomar algumas providncias: 1- No tocar na vtima at que ela esteja separada da corrente; 2- Desligar a tomada ou a chave geral, se estiver prxima; 3- Para afastar a vtima do fio, use somente material no condutor de eletricidade devidamente seco, como vara, corda ou mesmo um pano; 4- Aps libertar a vtima da corrente e se a mesma estiver desmaiada, faa a respirao artificial acompanhada ou no de massagem cardaca.
11 RISCOS AMBIENTAIS 11.1 DEFINIO So situaes existentes nos ambientes de trabalho capazes de provocarem leses integridade fsica, bem como comprometer a sade do trabalhador. 11.2 - TIPOS DE RISCOS Os riscos esto divididos em 5 (cinco) grupos , conforme tabela abaixo:
GRUPO I AGENTES QUMICOS
Poeira Fumos Nvoas
RISCOS AMBIENTAIS GRUPO II GRUPO III GRUPO IV AGENTES AGENTES AGENTES FSICOS BIOLGICOS ERGONMICO S Trabalho Rudo Vrus Fsico Pesado Vibrao Bactria Posturas Incorretas Radiao Protozorios Treinamentos Ionizante Inadequados/ e no Ionizantes Inexistentes Presses Anormais Temperatura Extremas Umidade Fungos
GRUPO V AGENTES MECNICOS Arranjo Fsico
Vapores
Gases
Bacilos
Produtos Qumicosem geral Neblina
Parasitas
Mquinas e Equipamentos Ferramentas Defeituosas, Inadequadas ou Inexistentes Trabalhos em Eletricidade/ turnos e Sinalizao Noturnos Ateno e Perigode Responsabilidad Incndio e Exploso Monotonia Transporte de Materiais Ritmo Excessivo Edificaes/ Armazenamento Inadequado Outros Outros AMARELA AZUL
Outros VERMELHO
Outros VERDE
Outros MARROM
32
33
11.3 RISCOS QUMICOS
a. CONTAMINANTE QUMICO toda substncia orgnica e inorgnica, natural ou sinttica, que durante sua fabricao, manuseio, transporte e utilizao, pode incorporar-se ao ar ambiente em forma de aerodispersides, gases e vapores, com efeitos irritantes, corrosivos, txicos, asfixiantes, etc..., em quantidade que tenham probabilidade de lesionar a sade dos trabalhadores que esto em contato com elas.
b. ABSORO E ELIMINAO DOS AGENTES QUMICOS b.1. VIAS DE PENETRAO As trs principais vias de penetrao dos agentes qumicos no organismo so a via respiratria, via cutnea e via digestiva. - Via Respiratria1 a mais importante, visto que a maior parte dos agentes qumicos encontra-se suspensa na atmosfera em forma de gases, vapores e poeiras. - Via Cutnea menos freqente. Muitos agentes qumicos no entanto, possuem a propriedade de penetrar atravs da pele intata, como o caso dos solventes industriais e de alguns agrotxicos. - Via Digestiva acidental, pode ocorrer pelo fato de se comer, beber ou fumar no local de trabalho contaminado.
b.2. MECANISMOS DE ELIMINAO Uma vez absorvidos pelo organismo as substncias podero, ou no, serem eliminadas do mesmo. Diversas substncias possuem a propriedade de se acumularem no organismo, sendo a sua eliminao demorada ou difcil. Quando eliminada do organismo, as substncias podem ser metabolizadas formando outros compostos, ou se apresentar inalterada. c. CLASSIFICAO Os contaminantes qumicos so classificados de acordo com o estado fsico em :
C.1- AERODISPERSIDES SLIDOS OU LQUIDOS C.2- GASES E VAPORES C.1. AERODISPERSIDES:
So partculas slidas ou lquidas que ficam dispersas no ar, podendo permanecer durante longo tempo no ar dependendo do seu tamanho, peso e velocidade de movimentao do ar. As partculas mais perigosas so as que se situam abaixo de 5 microns ,visveis apenas com o microscpio, pois podem ser absorvidas pelo organismo atravs do aparelho respiratrio e causar as doenas profissionais. As partcula maiores que 5 microns so retidas no aparelho respiratrio superior, ou nos clios da traquia.
poeiras
33
34
slidos fumos AERODISPERSIDES nvoas lquidos neblinas
c.1.1. POEIRAS: Partculas slidas produzidas mecanicamente por: manuseio, moagem , raspagem, esmerilhagem, impacto rpido, detonao, etc., de materiais como: pedras, carvo, madeira, gros, minrios e metais.
c.1.2. FUMOS: Partculas slidas produzidas por condensao ou oxidao de vapores metlicos de substncias que so slidas temperatura ambiente (ex: fumos gerados em processo de soldagem)
c.1.3. NVOAS: Partculas lquidas produzidas por ruptura mecnica de lquidos (ex: processo spray, pintura a pistola) c.1.4. NEBLINAS: Partculas lquidas produzidas por condensao de vapores de substncias que so lquidas temperatura ambiente.
TABELA I Estado Fsico Formao Ruptura Mecnica Condensao de Vapores Slidos Poeiras Fumos Lquidos Nvoas Neblinas Tamanho das Partculas 0 > 0,5 0 < 0,5
c.2. GASES E VAPORES: GS- qualquer substncia que, em condies normais de temperatura e presso, se encontra no estado gasoso.(T = 25C e p = 760 MM HG) No tem forma nem volume e tendem a se expandir indefinidamente. VAPOR a fase gasosa de uma substncia que em condies normais lquida ou slida. Os vapores em recinto fechado podem alcanar uma concentrao mxima, chegando ao ponto de saturao. Qualquer aumento a partir desse ponto produzir a condensao.
34
35
d. CLASSIFICAO DOS AGENTES QUMICOS E SEUS EFEITOS SOBRE O ORGANISMO HUMANO
d.1. IRRITANTES: So aqueles compostos qumicos que produzem uma inflamao, devido a uma ao qumica e fsica na reas com que eles entram em contato, principalmente pele, mucosas e sistema respiratrio. Ex: AMNIA, CLORO, CIDO CLORDRICO , CIDO SULFRICO, SODA CUSTICA , ETC. d.2. ASFIXIANTES d.2.1 ASFIXIANTES SIMPLES: So os que sem interferir nas funes do organismo podem provocar asfixia por reduzir a concentrao de oxignio no ar. Ex: METANO , HIDROGNIO ,GS CARBNICO, ETC.
d2.2 ASFIXIANTES QUMICOS Os de atuao qumica interferem no processo de absoro do oxignio pelos tecidos. EX: MONXIDO DE CARBONO E OS CIANETOS ( CIDO CIANDRICO,CIANETO DE SDIO, CIANETO E FERRICIANETO DE POTSSIO, CLORETO E BROMETO DE CIANOGNIO ,ETC. ) d.3 ANESTSICOS OU NARCTICOS So substncias capazes de provocar depresso sobre o SISTEMA NERVOSO CENTRAL, produzindo efeito anestsico aps terem sido absorvido pelo sangue. PODEM PROVOCAR: perda da sensibilidade, da conscincia e a morte. EX: ETER, TETRACLORETO DE CARBONO , ETC d.4. TXICOS SISTMICOS: So aquelas substncias qumicas que, independentemente de sua via de entrada, se distribuem por todo o organismo produzindo efeitos diversos, se bem que certos compostos apresentam efeitos especficos e seletivos sobre um rgo ou sistema. EX : MERCRIO, BENZENO , CHUMBO , ARSNICO , ETC. e- DOENAS CAUSADAS POR AGENTES QUMICOS e.1 PNEUMOCONIOSE- So doenas pulmonares resultantes da inalao de POEIRAS DE ORIGEM MINERAL, VEGETAL E ANIMAL. e.1.1 PNEUMOCONIOSE DE ORIGEM MINERAL - SILICOSE- inalao de poeira de slica Ex: FABRICAO DE LOUAS E VIDROS, FABRICAO DE SAPONCEOS, BRITADORES DE PEDRA , PERFURADORES DE TNEIS , CORTADORES DE MRMORES E GRANITOS, POLIMENTO A JATO DE AREIA. ASBESTOSE- inalao de poeiras de asbestos ( amianto ). EX: FABRICAO DE LONAS DE FREIOS, FABRRICAO DE TELHAS E CAIXA DAGUA , JUNTAS PARA MQUINAS.
- SIDEROSE inalao de poeira de ferro. e1.2 PNEUMOCONISE DE ORIGEM VEGETAL - BISSINOSSE inalao de poeiras de algodo
35
36
- BAGAOSE - inalao de poeira do bagao da cana - ANTRACOSE inalao de poeira de carvo e.1.3 PNEUMOCONISE DE ORIGEM ANIMAL: BRONQUITE ASMTICA- inalao de pelos e ou penas de animais, poeiras de couro.
e.2 DO0ENAS CAUSADAS POR OUTROS AGENTES QUMICOS Agente qumico Chumbo Doena Efeito no organismo Ocorrncias
Saturnism o
Sistema formador do Fundio, grfica , pintura , sangue, sistema nervoso soldagem, indstrias : de plstico central , rins, aparelho ; de borracha ; de tintas ; de digestivo. baterias.
Cloro
Arsnico
Irritao nas vias Lavanderias e tratamento de respiratrias; Alteraes piscinas oculares; Alteraes digestivas; Alteraes na pele. Fabricao de inseticidas, Arsenismo Pele e pulmes raticidas , herbicidas ,cermicas , vidros ; Conservao de peles e plumas Clorismo
Manganes Benzeno
Manganis mo
Sistema nervoso central
Sistema nervoso central Benzolism como depressor. Na medula ssea poder o causar : anemia , leucemia. Hidrargiris Sistema respiratrio , sistema nervoso central , mo inflamao nas gengivas, quedas de dentes , salivao em excesso e leses na pele. Causa irritao Sistema Cadmiose pulmonar, nervoso central e rins, colo dos dentes e leses sseas. Fosforism Via respiratria e pele o
Fabricao de ao, solda eltrica ( eletrodo) usado como solvente e matria prima em diversos produtos : tintas, colas , vernizes, borracha , detergentes, plsticos, inseticidas , etc Indstria de termmetros, barmetros , garimpeiros , fabricao de lmpadas incandescentes.
Mercrio
Cadmio
Trabalhadores de galvanoplastia e da indstria fotogrfica ; soldadores.
Fsforo
Fabricao de fogos de artifcio, material blico e defensivos agrcolas
f MEDIDAS PREVENTIVAS Para evitar o aparecimento de doenas, em primeiro lugar deve-se conhecer os produtos utilizados. Abaixo relacionamos algumas medidas de carter geral . MUDANA NO PROCESSO DE FABRICAO VENTILAO E OU EXAUSTO NO LOCAL LIMITAO DO TEMPO DE EXPOSIO EXAME MDICO
36
37
EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL HIGIENE PESSOAL ETC
11.4 RUDO a- INTRODUO O som parte to comum da vida diria que raramente apreciamos todas as suas funes. Ele nos permite experincias agradveis, como ouvir msicas ou o canto dos pssaros. Possibilitando-nos a comunicao falada com familiares e amigos. O som nos alerta ou previne em muitas circunstncias: o tintilar do telefone, uma batida porta, ou o toque de uma sirene. Contudo, com muita freqncia na sociedade moderna, o som nos incomoda. Muitos sons so desagradveis ou indesejveis, por isso chamamos rudo. Como fator de poluio um dos elementos de maior freqncia no meio industrial. Devemos levar em considerao que a sensibilidade humana fator muito importante, pois os indivduos reagem de formas diferentes ao rudo existente. Podemos citar os seguintes exemplos: Uma torneira pingando, um assoalho rangendo, podem incomodar mais que um forte rudo. Uma onda snica pode destruir vidraas, quebrar o reboco das paredes e at mesmo danificar, destruir o ouvido humano.
b- DEFINIES: SOM Qualquer variao de presso (no ar, gua ou algum outro meio) que o ouvido humano possa detectar. RUDO Uma vibrao sonora, indesejvel, que, de acordo com sua intensidade, durao ou intermitncia, se torna irritante, dolorosa e nociva ao ouvido. FREQUNCIA O nmero de oscilaes completas por unidade de tempo denominado freqncia ( ), que medido em ciclos por segundo ou Hertz ( Hz ), como chamado internacionalmente ULTRA-SOM Apresenta freqncia superior a 20.000 Hertz. INFRA-SOM Apresenta freqncia inferior a 20 Hz. OBS: O ultra-som e o infra-som so praticamente inaudveis para as pessoas. c- ALCANCE DA AUDIO O alcance da audio humana se estende aproximadamente de 20 Hz a 20000 Hz, chamado de audiofreqncia. As vibraes sonoras so detectveis com presses de 2 x 10-5 N/m2 (presso mnima audvel) ) a 200 N/m2, desde que a freqncia de vibrao esteja na faixa de audiofreqncia. d-PROPAGAO DO SOM O som pode se propagar no ar, e este, sendo formado por molculas distribudas uniformemente no espao, que se movimentam no acaso, provoca sobre os demais objetos uma presso conhecida como presso atmosfrica. Quando um objeto vibra, ou se movimenta, altera o valor da presso normal, provocando compresses e depresses. Zonas da compresso correspondem aos picos positivos da onda . Zonas de depresso Correspondem aos picos negativos da onda Comprimento de onda A distncia percorrida pela onda em cada oscilao completa chamada de comprimento de onda, representada pela letra grega (lambida).
37
38
Propagao do som A velocidade de propagao da onda ( c ) depende da temperatura do ar, o que significa que, se a temperatura por uniforme, a velocidade do som do ar uma constante. Podemos relacionar a velocidade da propagao do som com o comprimento da onda e a freqncia, atravs da frmula: C= x C Velocidade do som, para a acstica de espessura com 340 metros por segundo ( 340 m/s ). Comprimento da onda ( m ) Freqncia ( Hz) Exemplo: Para = 20 Hz, C = 340 m/s, qual ser o comprimento da onda ( ) ? C= x 340 = x 20 = 340 = 17 m 20 Para 20.000 Hz, C = 340 m/s, qual ser o novo comprimento da onda ? C= x 340 = x 20.000 = 340 = 0,017 m ou 1,7 cm 20.000 Os valores do comprimento da onda de um determinado som so importantes na avaliao ambiental.
e- Decibel ( dB ) Medir presso sonora no e tarefa simples. O aparelho auditivo consegue ouvir variaes de presso numa faixa de 0,00002 N/m2(2 x 10-5) a 200 N/m2 . A presso de 0,00002 N/ m2 to pequena que causa, na membrana do ouvido humano, uma deflexo infinitesimal. Sendo assim, para medir o som, teramos uma escala aritmtica muito extensa, com valores variando de 0,00002 a 200, tornando-a impraticvel. Para evitar isto, foi criada outra escala, a escala Decibel ( dB ). O meio criado foi uma relao logartmica, expressa em decibeis ( dB ), entre uma presso de referncia adotada e a presso sonora real que existe no local. A relao conhecida como nvel de presso sonora ( NPS) e calculada pela seguinte frmula: NPS = 10 log ( P 2 ) (Po 2)
P Presso sonora do local Po Presso sonora de referncia Po ) 2 NPS = 20 log P Po
NPS = 10 log ( P /
Adota-se 0,00002 N/m2 ( 2x1 0-5 N/m 2 ) como sendo o ponto de partida ou presso de referncia, e para corresponder a 0 dB.
38
39
Exemplo: 1 ) Calcular o nvel de presso sonora , em dB, para 2x10-5 N/m 2 NPS = 20 log P Po No caso: P= 2x10-5 N/m 2 e Po adotado em, = 2x10-5 N/m 2 NPS = 20 log 2x10-5 N/m 2/2x10-5 N/m 2 NPS = 0 dB 2 ) P =2x10-4 N/m 2 NPS = 20 log 2x10-4 N/m 2 2x10-5 N/m 2
NPS = 20 log P Po
NPS = 20 dB
OBS: Podemos observar que ao multiplicarmos o nvel de presso sonora por 10, observa-se que soma-se 20 dB:
f- LIMITES DE TOLERNCIA PARA RUDO CONTNUO OU INTERMITENTE Nvel de Rudo Mxima Exposio dB (A) Diria Permissvel 85 8 horas 86 7 horas 87 6 horas 88 5 horas 89 4 horas e 30 min 90 4 horas 91 3 horas e 30 min 92 3 horas 93 2 horas e 40 min 94 2 horas e 15 min 95 2 horas 96 1 hora e 45 min 98 1 hora e 15 min 100 1 hora 102 45 minutos 104 35 minutos 105 30 minutos 106 25 minutos 108 20 minutos 110 15 minutos 112 10 minutos 114 8 minutos 115 7 minutos Exemplos : Canto de pssaro 20 dB ; buzina 80 dB ; britador 120 dB; avio 120 dB
39
40
Os limites de tolerncia devem ser entendidos como conjunto de nveis de presso sonora e as duraes de exposio diria a cada um deles , aos quais a maioria dos trabalhadores podem estar expostos dia aps dia, durante toda uma vida til de trabalho, sem resultar efeito adverso na sua habilidade de ouvir ou entender uma conversao normal. Os tempos de exposio aos nveis de rudo no devem exceder os nveis de tolerncia fixados no quadro acima. As atividades ou operaes que exponham os trabalhadores a nveis de rudo, contnuo ou intermitente superiores a 115 dB(A), sem proteo adequada, oferecero risco grave e iminente. No permitida exposio a nveis de rudo acima de 115 dB(A) para indivduos que no estejam adequadamente protegidos. O aparelho para medir nvel de rudo conhecido na prtica por decibelmetro, mas o nome correto Medidor de Nvel de Presso Sonora. Este aparelho possui um circuito eletrnico e j fornece o resultado em decibeis ( dB ) e tambm possui curvas de composio na escala A, B, C e, dependendo da sofisticao, escala linear e respostas lentas e rpidas e rudo equivalente. Normalmente a mais usual a escala A. Os nveis de rudo contnuo ou intermitente devem ser medidos em decibis (dB) com instrumento de nvel de presso sonora operando no circuito de compensao A e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas prximas ao ouvido do trabalhador. g- CLCULO DA DOSE DE RUDO Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais perodos de exposio a rudo de diferentes nveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, aplicando-se a equao. D = C1 / T1 + C2 / T2 + C3 / T3 + .............................. + Cn / Tn Onde: Cn indica o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um nvel de rudo especfico e Tn indica a mxima exposio diria permissvel a este nvel. D < 1 D = 1 D > 1 ATIVIDADE SALUBRE ATIVIDADE SALUBRE ATIVIDADE INSALUBRE
importante frisar que, s vezes, o empregado executa vrias atividades durante a sua jornada de trabalho, sendo difcil quantificar o tempo de exposio. Neste caso, para maior preciso, o dosmetro o instrumento mais adequado. Esse instrumento fornece, no perodo avaliado, a dose ou efeitos combinados ( Cn / Tn ) . EXEMPLOS 1 - Um trabalhador executa sua atividade num determinado local com NPS = 84 dBA durante 6 horas . Aps um certo tempo , o NPS sobe para 95 dBa e ele permanece durante 2 horas . O limite de tolerncia foi excedido ? 84 dBa 95 dBa ------- durante 6 horas (C1) ------- durante 2 horas (C2)
Segundo anexo 1 ( NR 15 ) Para 84 dBA T = no entram no clculo rudos abaixo de 85 dBa Para 95 dBA T = 2 horas Soluo: Dose = C1 / T1 + C2 / T2 + ............. + Cn / Tn D = 2 / 2 = 1 O limite no foi ultrapassado, logo a atividade salubre.
40
41
2 - Se fosse : 95 dBA ------- durante 4 horas (C1) 85 dBA ------- durante 4 horas (C2) Na tabela anexo 1 da NR 15, limite tolervel de exposio: 95 dBA ------- durante 2 horas (T1) 85 dBA ------- durante 8 horas (T2) D = C1 / T1 + C2 / T2 D = 4 / 2 + 4 / 8 D = 2,5
2,5 > 1 , logo o limite de tolerncia foi ultrapassado. Sendo assim, a atividade INSALUBRE. h-LIMITES DE TOLERNCIA PARA RUDOS DE IMPACTO Entende-se por rudo de impacto aquele que apresenta picos de energia acstica de durao inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. Os nveis de impacto devero ser avaliados em decibis (dB), com medidor de nvel de presso sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas prximas ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerncia para rudo de impacto ser de 130 dB (LINEAR). Nos intervalos entre os picos, o rudo existente dever ser avaliado como rudo contnuo. No caso de no se dispor de medidor do nvel de presso sonora com circuito de resposta para impacto, ser vlida a leitura feita no circuito de resposta rpida (FAST) e circuito de compensao C. Neste caso, o limite de tolerncia ser de 120 dB(C). As atividades ou operaes que exponham os trabalhadores, sem proteo adequada, a nveis de rudo de impacto superiores a 140 dB(LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de respostas rpida (FAST), oferecero risco grave e iminente. i - CONSEQUNCIAS DO RUDO O rudo, alm de causar a perda da audio, diminui o rendimento, pe em risco a segurana do trabalho e, provavelmente, um fator de vrios distrbios orgnicos. Essa perda auditiva depende de componentes como o tempo de exposio e a sensibilidade individual. Surdez Temporria: Ocorre uma mudana temporria do limiar de audio fadiga auditiva. Aps termos estado em um local bastante barulhento por algum tempo, notamos uma certa dificuldade de audio, bem como precisamos falar mais alto para sermos ouvido. Esta condio permanece temporariamente, sendo que a audio do indivduuo retorna a condio anterior aps algum tempo. Aps 24 horas h uma recuperao total, ou quase. Em geral, o barulho capaz de provocar uma surdez temporria , potencialmente, capaz de provocar uma perda auditiva permanente, desde que as exposies sejam prolongadas e se repitam dia aps dia. Surdez Permanente: A exposio repetida durante um longo perodo de tempo a barulhos de uma certa intensidade pode levar o indivduo a surdez permanente. Quando adquirida no trabalho denomina-se surdez profissional, sendo decorrente de leso nas clulas nervosas do ouvido interno - coclea. Estudos realizados demonstraram que uma exposio a 90 dB de 8 horas dirias, aps cinco anos de trabalho, 4% dos trabalhadores apresentavam uma surdez irreversvel. Ruptura do Tmpano: pode decorrer a ruptura do tmpano por deslocamento muito forte do ar, como resultante de uma exploso, ou outros rudos de impacto violento. A ruptura desta membrana que separa o ouvido externo do mdio devido a variao brusca e relativamente acentuado. geralmente reversvel.
41
42
Na maioria dos casos, nveis de 120 dB causam sensao de extremo desconforto, a 130 dB sensao de prurido no ouvido com incio de dor, e a 140 dB h sensao de dor. Da em diante pode ocorrer ruptura do tmpano, muito provvel a 150 ou 160 dB. Tem havido casos raros de deslocamento dos ossculos mdio como resultado de exploses violentas. Alguns autores chamam de trauma acstico a perda auditiva de instalao repentina. j- MEDIDAS DE CONTROLE DO RUDO 1 - NA FONTE Substituio do equipamento por outro mais silencioso Balancear e equilibrar partes mveis Lubrificar eficazmente mancais , rolamentos, etc Modificao do processo de fabricao. Regular os motores Programar as operaes de forma evitar muitas mquinas funcionando simultaneamente - Reapertar as estruturas - Substituir engrenagens metlicas por outras de plstico ou celeron 2 - NA TRAJETRIA Isolamento acstico na fonte ou no meio Aumento da distncia entre a fonte e o receptor.
3- NO HOMEM: Preliminarmente, deve-se atuar na fonte, quando no for possvel, tenta-se na trajetria, e s em ltima instncia, no indivduo. Exame mdico (teste audiomtrico nas freqncias 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 HZ (HERTZ). - Limitao do tempo de exposio - Educao do trabalhador - Protetores auriculares
Observao: 1. Ultra-Som: Apresenta freqncia superior a 20.000 Hertz. Quando a freqncia superior a 31.500 Hertz s ocorre manifestao quando se entra em contato com o gerador da freqncia. Entre 20.000 e 31.500 Hertz pode ocorrer dor de cabea, fadiga, tonturas e desconforto geral. 2. Infra-Som: Apresenta freqncia inferior a 16 Hz. Os principais efeitos sobre o organismo so: . alterao de motricidade; . problemas neurolgicos; . necrose de ossos dos dedos; . deslocamentos anatmicos; . alterao da sensibilidade ttil.
11.5 RADIAES Correspondente energia emitida por uma fonte e que se propaga sob a forma de um feixe de partculas ou sob a forma de ondas eletromagnticas. Num corpo livre de influncias exteriores, os tomos permanecem tranquilos e seus eltrons circulam pelos respectivos nveis em ritmo normal.
42
43
Quando a energia de uma fonte externa atinge os tomos, podem acontecer os seguintes consequncias: - Retirada dos eltrons das camadas mais externas dos tomos e das molculas do corpo. - Os eltrons ganham energia suficiente para saltar de um nvel para o outro. Assim, pode-se dizer que, dependendo do efeito que produzam sobre os corpos, podem ser classificadas em ionizantes e no ionizantes .
11.5.1 RADIAES IONIZANTES So radiaes de baixo comprimento de onda e de alta energia e que podem tirar os eltrons das camadas externas dos tomos ou molculas e formar pares inicos . Estas radiaes no sensibilizam os orgos dos sentidos dos seres vivos . a) Caractersticas: A matria formada por tomos, os quais podem agregar-se em molculas. Os tomos constituem-se de eltrons, que orbitam ao redor do ncleo, o qual abriga os prtons e nutrons. Uma das propriedades do ncleo relaciona-se com a capacidade de se transformarem espontaneamente em outros ncelos, ou seja, de se desintegrarem, provocando o aparecimento de novos tomos diferentes. Recebem o nome de radioativos, radioistopos ou radionucldeos, os istopos instveis em que se observa este fenmeno (istopo o elemento qumico que apresenta nmeros de massa diferentes), os quais, aps uma srie de desintegraes, tendem a adquirir uma configurao estvel. b) Tipos TIPOS DE RADIAES IONIZANTES RADIAES CORPULARES So aquelas que produzem ionizao graas a interao da carga da partcula do racionucldeo com um eltron do tomo que sofreu a radiao. Quando a partcula se aproxima do tomo, sua carga positiva ou negativa expulsa o eltron pela atrao ou repulso eltrica. Compreende as partculas ALFA, BETA e Neutrons. Partcula ALFA: So partculas invisveis, emitidas pelo ncleo de elementos como o urnio, trio e o polnio, constitudas por 2 prtons e 2 nutrons. Apresentam trajetria quase retilnea e percorrem uma distncia muito pequena(no ar, apenas 1,67 cm, e no tecido humano, 1,00 x 10 -2 cm). Logo, no conseguem penetrar na pele humana, sendo apenas perigosos Quando ingeridos como radioistopos. Partcula BETA: So os eltrons emitidos durante a desintegrao de um tomo radioativo, como o urnio, trio, polnio, trtio e carbono-14. Por serem leves (pequena massa), apresentam trajetria tortuosa e se deslocam com a velocidade da luz. O seu alcance no ar de 1260 cm e no tecido humano 1,5 cm. So utilizados no tratamento do hipertireodismo e da angina pectoris. Nutrons: So partculas de carga eltrica, com velocidade da luz, que percorrem grandes distncias atravs da matria, sendo muito penetrantes. So emitidos quando ocorre a desintegrao beta. Eletromagnticas fotons : ou de Radiaes Gama So ondas eletromagnticas oriundas do ncleo atmico. Deslocam-se com a velocidade da luz e podem penetrar em matrias muito densas (alumnio, 2,5 a 4 cm; madeira, 25 cm). aquelas Ocorrem aps uma desintegrao alfa ou beta. So empregadas ondas no tratamento de tumores e em algumas atividades industriais. Radiaes X: So ondas eletromagnticas originadas fora do ncleo. Apresentam caractersticas semelhantes aos dos raios gama e so utilizados em medicina, metalurgia, gentica, geologia, qumica e astronomia.
So constitudas por eletromagnticas extremamente energticas, de grande poder de penetrao e que percorrem grandes distncias. Produzem ionizao ao transferir a
43
44
energia de seu fton para os eltrons dos tomos da matria, os quais so ejetados.
OCORRNCIAS NATURAIS . Raios csmicos So raios vindos do espao. To grande o seu poder de penetrao que as quantidades desse tipo de radiao recebidas por todos os rgos do corpo humano so uniformes e praticametne iguais fora e dentro de casa. Variam com a altitude e so maiores nos polos do que na zona equatorial. Rochas: Que compem a crosta terrestre. Nela encontram-se radionucldeos tais como o potssio-40, rubdio-87, urnio-238, trio-232 e o rdio. * aplicaes mdicas de radioistopos e de raios-x; *fisso e fuso nucleares, que liberam para a atmosfera carbono-14, csio-137, zircnio-95 e estrncio-90; * reatores nucleares; * aparelhos de TV a cores; * mostradores e ponteiros de relgios luminosos, pintados com tinta que contm rdio; * detetores de fumaa, que contm amercio-241; * pra-raios, que contm amercio-241.
ARTIFICIAIS
Uma outra fonte de radiao representada pelos radionucldeos situados no interior do nosso organismo, como o potssio-40, hidrognio-3, carbono-14, urnio-238, trio-232, que podem penetrar no organismo pelo ar inspirado, pela gua e alimentos.
c) Efeitos Em geral, os efeitos das radiaes ionizantes so quase sempre maiores nas clulas que tem maior atividade mittica ou menor grau de diferenciao, como as da pele, do revestimento intestinal e dos rgos hematopoiticos. Uma exceo dada pelos linfcitos, que, embora sejam clulas estveis, so extremamente radiossensveis. . Somticos:So aqueles que ficam restritos ao indivduo contaminado ou irradiado(a contaminao resulta de um contato direto com o contedo da fonte e, na irradiao, o contato com o contedo da fonte se faz distncia). . Genticos
. Agudos ou Imediatos: Ocorre pela exposio a doses re a dose de radiao recebida. Crnicos ou Tardios: Ocorre pela exposio a doses baixas
So aqueles que se transmitem s geraes subseqentes;
Teratognicos
Que so aqueles que se manifestam no feto, causando a su
44
45
Localizados
Que se manifestam em rgos especficos, causando radiod
d) Avaliao Visa determinar ou estimar o grau de exposio ou absoro de radiao. Pode ser realizar mediante: . mtodos fsicos: dosmetros fsicos . mtodos biolgicos: dosimetria biolgica Dosmetros Fsicos: * contador Geiger-Muller * dosmetros de bolso e de filme * contador de corpo inteiro So instrumentos que determinam a quantidade de radiao no ambiente, no vesturio e no interior do organismo. Dosimetria Biolgica ou Citogentica: Realiza-se por meio do estudo das aberraes cromossmicas. preciso a dose de radiao absorvida por um indivduo exposto. Fornece com
UNIDADES DE MEDIDA DAS RADIAES IONIZANTES . Curie(Ci) e Becquerel(Bq): expressam o nmero de tomos de uma fonte radioativa que se desintegra em cada segundo ou em cada minuto. . Roentgen(R) e Coulombs(C): define a quantidade de radiao qual a matria est exposta. . Rad Gray (Gy): expressa a dose de radiao absorvida pela matria que provoca a liberao, em l kg de matria, de uma energia igual a l joule.
. Sievert (Sv): define o efeito biolgico da radiao absorvida pelo organismo.
e) Controle *Distncia: A quantidade de radiao que atinge um objeto qualquer decresce com a distncia. Ex.: l metro de distncia = dose de 10 rad/h 10 metros de distncia = dose de 0,001 rad/h l km de distncia = dose insignificante *Enclausuramento(conteno em recipiente); O conhecimento da meia-vida de um elemento qumico permite determinar o tempo necessrio para que seja eliminado(ou se torne estvel). Meia-Vida o tempo necessrio para que metade da substncia radiativa se decomponha e perca sua atividade. Ex.: estrncio-90 tem meia-vida de 28 anos; csio-137, 27 anos; carbono 11, 20 minutos; carbono 14, 5760 anos; urnio 238, 4,5 bilhes de anos. *Blindagem:
45
46
So usados materiais densos e espessos como o chumbo, concreto, ferro, ao inoxidvel, rochas, solo, argila, com espessuras variveis em funo da energia da radiao e do material empregado. * educao * EPI * limitao do tempo de exposio * automatizao * ventilao adequada * proibio a menores de 18 anos e mulheres grvidas
f) Limites de Tolerncia dado em legislao especfica da Comisso Nacional de Energia Nuclear CNEN
11.5.2 RADIAES NO IONIZANTES So radiaes de maior comprimento de onda e possuem menos energia . No tm energia suficiente para ionizar os tomos . Tm energia apenas para excitar os tomos (excitao o acrscimo de energia suficiente para transferir os eltrons de seus nveis orbitais) . Desta forma, o eltron fica com um acrscimo de energia que, no podendo ser armazenada em seu nvel , liberado sob forma de ondas eletromagnticas . Estas radiaes podem se transmitir no vcuo e suas interaes com os tecidos humanos se caracterizam, em primeiro lugar, pela produo de calor. TIPO Radiofreqncias So radiaes com grandes comprimentos de onda e baixas freqncias que no determinam problemas ocupacionais significativos. APLICAO EFEITO
* fontes trmicas em Em exposies prolongadas, endurecimento de metais pode provocar aumentos na * esterilizao de temperatura corporal recipientes * moldagem de plsticos * radiodifuso * radionavegao * radioamadorismo
* correta * treinam *no se existem
Microondas So radiaes com freqncia maior que as radiofreqncias que apresentam como caracterstica penetrarem profundamente no corpo e produzirem aumento de temperatura no sentido do interior para o exterior do corpo.
* estaes de radar * fornos de microondas *indstria de alimentos (secagem, aquecimento, desidratao e esterilizao) * radiodifuso FM
1. trmico(afeta os olhos e testculos) -distrbios cardiovasculares -alteraes no SNC(sistema nervoso central) -distrbios endcrinos e menstruais 2.eletromagnticos: afeta implantes metlicos, microprocessadores, circuitos integrados e comandos numricos
* enclau * veda * barre metlica * verifica * evitar podem e * evitar integrad sofrer a
* EPI(c * evitar implanta radiao
46
47
Infravermelho So radiaes emitidas por corpos que apresentam superfcies com temperatura maior que a do ambiente. Em geral, os corpos com temperatura inferior a 500C emitem, predominantemente, radiaes infravermelho. Acima desta
* aquecimento de ambientes * cozimento de alimentos * terapia de reumatismos, sinusites e traumatismos * lmpadas de infravermelho * irradiao solar * arco voltaico * fornos metalrgicos e siderrgicos * fabricao e transformao do vidro * forja e operaes com metais quentes * secagem e cozedura de tintas e vernizes * desidratao de material txtil, papel, couro e alimentos * solda eltrica
* catarata trmica(opacificao do cristalino) queimaduras na pele e olhos * leses na retina
* barreir * EPI(ro * limita * exame
Ultravioleta So radiaes com freqncia acima do violeta, conseqntemente, com mais energia que a luz e mais ainda que o infravermelho. Assim como as anteriores, no percebida pelo olho humano.
* luz solar * lmpadas de vapor de mercrio *luz negra(usada em discotecas, gravao fotogrfica, etc) *solda eltrica(quanto maior a amperagem, maior a produo e quanto mais limpo o ar, maior a irradiao) * lmpadas germicidas ( poder germicida) * metais em fuso * permite a transformao do calciferol em vitamina D, na pele *lmpadas ultravioletas(com gastos nobres), utilizadas no tratamento do raquitismo, atraso no crescimento, anemia, feridas de difcil cura, tuberculose de pele, etc..)
* cncer na pele(trabalhadores ocupacionalmente expostos durante muitos anos irradiao solar) * queimaduras na pele * irritao dolorosa nos olhos * conjuntivite * perda parcial da viso
* EPI(pr * isolam * encla vidros e
47
48
Laser O termo laser significa amplificao de luz mediante emisso estimulada de radiao. uma radiao visvel, com a caracterstica de emitir apenas com um comprimento de onda, e no com uma faixa como acontece com outros tipos de radiao, altamente concentrada, com disperso insignificante e emitido em uma s direo. Para se obter atividade laser, deve ser alterada a estrutura atmica de uma susbstncia, pela ao de energia externa aquecimento, descarga eltrica ou radiao eletromagntica - qual produzira e fornecer ftons.
* nas telecomunicaes * danos viso(at * na astronomia, para cegueira) medio de distncias * leses na pele * destruio de tumores * queimaduras de verrugas * correo de miopia * como instrumento de perfurao, corte ou de solda * na construo civil, em tarefas de alinhamento e levantamentos de cotas do terreno *holografias (imagens tridimensionais)
a * no en * trabalh geral * EPI( adequad * o feixe refletor * aciona * enclau
Radiao Visvel Compreende a faixa do espectro eletromagntico capaz de ser detectada pelo olho humano. Possui freqncia alta, s superada pelo ultravioleta e constituda de sete cores bsicas - violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho - cada uma com freqncia e comprimento de onda especficos, capazes de sensibilizar a retina. A intensidade da radiao visvel nos ambientes deve ser adequada aos tipos de atividade e s caractersticas do local. Em razo disto, foram criados os nveis mnimos de iluminamento especficos para cada tipo de atividade e local. Para a avaliaao do nvel de iluminamento, utiliza-se um instrumento prprio - o luxmetro , o qual registra em lux a intensidade luminosa. Ambientes de trabalho bem iluminados proporcionam melhores condies de superviso e diminuem as possibilidades de acidentes. Ambientes de trabalho mal iluminados oferecem maiores riscos de acidentes, diminuem a produtividade, aumentam os disperdcios de materiais, pioram a qualidade dos produtos, produzem maior fadiga visual e geral, proporcionam ambientes desagradveis e baixam a moral dos trabalhadores
11.6 TEMPERATUARAS EXTREMAS Vrias so as atividades profissionais que, em funo de sua natureza e da geografia e clima em que so realizadas, oferecem aos trabalhadores condies ambientais de temperatura hostis ao seu organismo, isto , submetem o homem a calor e frio intensos. Por este motivo, diversos procedimentos so adotados no sentido de
48
49
oferecer ao trabalhador ambientes com um mnimo de conforto trmico, por meio de tcnicas de controle ambiental e pessoal.
1. CALOR a) Ocorrncia O calor representa, junto com o rudo, um dos mais nocivos sub-produtos da era industrializada, encontrando-se bem difundido em indstrias que utilizam processos quentes, que liberam energia trmica, como a siderrgica, a de fabricao de vidro, olarias, fundies, txtil e outras. Est presente, ainda, em atividades executadas ao ar livre, como os trabalhadores rurais e a construo civil.
b) Efeitos do Calor sobre o Organismo . Desidratao a perda excessiva de lquidos do organismo que pode provocar reduo do volume de sangue, distrbios celulares, uremia e morte. . Cibras do Calor Ocorre em razo da perda excessiva de cloreto de sdio pelos msculos em situaes de sudorese intensa. Provoca espasmos musculares. . Catarata Trmica a opacificao do cristalilno provocada pela exposio prolongada radiao infravermelha . Intermao e Insolao Resultam de distrbios no centro termo regulador, localizado no hipotlamo. indivduo apresenta pelo seca e avermelhada, tonturas e delrios.
. Prostrao Trmica Quando a vasodilatao se manifesta no indivduo, h, simultaneamente, aumento no trabalho do seu sistema cardio-circulatrio. Eventualmente, podero ocorrer distrbios neste sistema, provocando dores de cabea, tontura, fraqueza e malestar. c) Avaliao: Na avaliao do calor no se deve levar em conta apenas a temperatura do ar. Vimos que outros fatores que influem no ganho e perda de calor pelo organismo devem ser considerados (temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do ar, calor radiante e tipo de atividade exercida pelo trabalhador). A Portaria 3214/78 estabelece que a exposio ao calor deve ser avaliada pelo ndice de bulbo mido-termmetro de globo IBUTG. d) Limites de Tolerncia: O limite de tolerncia para exposies ao calor determinado de dois modos: * regime de trabalho com descanso no prprio local de trabalho * regime de trabalho com descanso em outro local Em ambos, a quantificao do calor pelo IBUTG leva em conta a presena ou no de carga solar no momento da medio, sendo calculada como se segue: . ambientes internos ou externos sem carga solar IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg . ambientes externos com carga solar
49
50
IBUTG = 0,7 tbn + 0,2 + 0,1 tbs onde: tbn = temperatura de bulbo mido natural tg = temperatura de globo tbs = temperatura de bulbo seco
REGIME DE TRABALHO COM DESCANSO NO PRPRIO LOCAL DE TRABALHO
Obtida a temperatura por uma das frmulas citadas anteriormente, a interpretao deve ser feita atravs da tabela abaixo.
Regime de trabalho(descanso, com repouso no prprio local de trabalho(p/hora) Traballho contnuo 45 minutos trabalho 15 minutos descanso 30 minutos trabalho 30 minutos descanso 15 minutos trabalho 45 minutos descanso No permitido o trabalho, sem a adoo de medidas adequadas de controle
TIPO DE ATIVIDADE LEVE at 30,0 30,1 a 30,6 30,7 a 31,7 31,5 a 32,2 acima de 32,2 MODERADA At 26,7 26,8 a 28,0 28,1 a 29,4 29,5 a 31,1 Acima De 31,1 PESADA at 25,0 25,l a 25,9 26,0 a 27,9 28,0 a 30,0 acima de 30,0
e) Medidas de controle: Assim como outros agentes fsicos, o calor pode ser controlado no ambiente e no local de trabalho. Do mesmo modo que naqueles, deve-se dar prioridade ao controle ambiental. As medidas de controle ambiental visam diminuir a quantidade de calor que o organismo produz e/ou recebe e aumentar a sua possibilidade de dissip-lo. Para tanto, deve-se atuar principalmente sobre os fatores de influem nas trocas trmicas, como se v abaixo. . Temperatura do ar: Insuflao de ar fresco no local de trabalho . Velocidade do ar: Maior circulao de ar no local de trabalho . Umidade do ar: Exausto dos vapores de gua
. Calor radiante: Barreiras refletoras e absorventes . Calor produzido pelo metabolismo: Automatizao do processo
50
51
Quanto s medidas de controle pessoal, as principais so: . Exames mdicos peridicos: Visa detectar possveis problemas de sade que possam ser agravados pela exposio ao calor
. Aclimatizao: Consiste na adaptao lenta e progressiva do trabalhador em local quente
. Limitao do Tempo de Exposio: Consiste em adotar perodos de descanso compatveis com o organismo humano
. Ingesto de gua e Sal Visa compensar a perda desses elementos atravs do suor, a fim de se evitar a ocorrncia de desidratao e cibras do calor; . EPI: Os principais so: culos de segurana com lentes especiais; luvas, mangotes, aventais e capuzes, feitos com amianto e tecido aluminizados. Recomenda-se o uso de vestimentas confeccionadas com tecido leve e de cor clara; . Educao e Treinamento: Consiste em orientar os trabalhadores no sentido de evitarem esforos fsicos desnecessrios e permanecerem longo tempo expostos fonte de calor.
2. FRIO a) Ocorrncia: O frio intenso encontrado no exerccio de algumas atividades profissionais, como as executadas ao ar livre, na qual se incluem as indstrias extrativas vegetais e minerais, a construo civil, a pesca e as atividades agrcolas e pastoris, e em indstrias que possuem e utilizem cmaras frigorficas, como o caso das indstrias de enlatados, de beneficiamento de pescado, matadouros e sorvetes. Genericamente, o frio intenso ocorre em exposies a ambientes com temperaturas iguais ou inferiores a 10 C.
b) Efeitos: . palidez nas extremidades dos membros, em virtude da vasoconstrico perifrica, qual visa diminuir a perda de calor pelo organismo . enregelamento dos membros, que pode levar gangrena e amputao . ulcerao do frio: a pele resseca, produz feridas e necrose nos tecidos superficiais . ps de imerso: ocorre quando o trabalhador permanece com os ps submersos em gua fria durante longos perodos, provocando estagnao do sangue. . possibilidade de acidentes: devido diminuio da sensibilidade dos dedos e de flexibilidade das juntas. . diminuio da eficincia: devido tremedeira, luvas grossas e considervel volume de roupas. c) Controle:
51
52
Na aplicao das medidas de controle relativas ao frio desejvel adotar-se procedimentos que visem conservar o calor no organismo. Assim sendo, pode-se enumerar as seguintes providncias: . ingesto de lquidos quentes; . ingesto de alimentos com elevado contedo calrico; . aumento da atividade fsica, que acarreta maior produo de calor interno; . roupas pesadas e isolantes; . quantidade de roupas que permita a transpirao do indivduo a um mnimo, reduzindo a resfriamento da superfcie do corpo; . vestimentas e calados impermeveis, para evitar a umidade; . educao; . exames mdicos pr-admissionais, que visem detectar indivduos portadores de doenas vasculares perifricas, alrgicos ou com leses do frio; . aclimatao; . barreiras, toldos e tendas para servios ao ar livre.
11.7 PRESSES ANORMAIS
1. INTRODUO So chamados de presses anormais aqueles ambientes com presso acima ou abaixo do normal. Entende-se por presso normal a presso atmosfrica a que normalmente esto expostos os trabalhadores fora do ambiente de trabalho. Quando as presses so acima da presso atmosfrica normal, so chamadas de altas presses. Quando abaixo, so chamadas de baixas presses. Baixas Presses Esto sujeitos a esse ambiente os trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes. No Brasil, h pouca ocorrncia, apenas de uns poucos pilotos de avies no pressurizados. Altas Presses Afetam os trabalhadores que executam suas atividades em tubules de ar comprimido, caixes pneumticos, campnulas, trabalhos executados por mergulhadores, etc... Tubules de Ar Comprimido: So utilizados para fazer escavaes abaixo do nvel do lenol fretico de gua. As presses acima do normal tem a finalidade de evitar infiltraes de gua e desbarrancamento de terra, permitindo as diversas operaes subterrneas; Caixes Pneumticos e Campnulas: So compartimentos estanques utilizados para executar trabalhos submersos. Os caixes pneumticos e campnulas so colocados no local de trabalho e por injeo de ar comprimido, h um aumento da presso, fazendo com que a gua seja expulsa do interior do caixo, a fim de que os operrios possam trabalhar. Os caixes comportam vrios trabalhadores e podem ser usados na construo de pontes e barragens. As campnulas so geralmente individuais e so mais usadas para tarefas espordicas ou de menor durao.
52
53
2. DANOS QUE A COMPRESSO PODE CAUSAR AO ORGANISMO . ruptura do tmpano(se o aumento for brusco) . irritao nos pulmes . efeitos narcticos
3. DANOS QUE A DESCOMPRESSO PODE CAUSAR AO ORGANISMO O principal deles a doena descompressiva, que afeta os mergulhadores que fazem descompresso abrupta.
4. MALES DOS MERGULHADORES . barotrauma . embolia pelo ar . intoxicao pelo CO2 . exausto do mergulhador . embriagus das profundidades
5. MEDIDAS DE CONTROLE a) Relativas ao Meio Os equipamentos utilizados devem estar em perfeitas condies. Em locais onde o trabalhador fique exposto a presses elevadas, alm do equipamento convencional de primeiros socorros, deve haver, tambm, um equipamento de emergncia especfico; . cmara de descompresso: so cmaras que reduzem vagorosamente a presso, a fim de no provocar danos sade do trabalhador. . mscara de oxignio: devem ser usadas nos trajes do trabalhador at a cmara de recompresso, pois facilitam a desintoxicao.
45
b) Relativas ao Pessoal . Deve ser feito um relacionamento mdico do pessoal em relao idade: 18 a anos. No devem ser admitidos pessoas muito gordas, devido afinidade do nitrognio pelo tecido adiposo. No devem igualmente ser escolhidas pessoas emocionalmente instveis ou portadoras de doenas nos ossos, ouvido, cardio-vasculares ou pulmonares. importante tambm a realizao de exames mdicos peridicos. E necessrio que o local esteja bem equipado para qualquer emergncia. Antes, durante e depois da descompresso, deve-se fazer com que o trabalhador respire mistura de hlio e oxignio para eliminar o nitrognio. Outra medida de segurana exigida pela Portaria n 3214 o uso de plaquetas de identidade pelos trabalhadores expostos s presses.
. O trabalhador exposto a presses anormais dever estar devidamente treinado para executar seu trabalho, conscientizado do perigo a que est exposto e que a sua sade depende da sua disciplina nos cumprimentos das normas de segurana.
53
54
12. RISCOS ERGONMICOS 12.1 INTRODUO A ergonomia tem por objetivo estudar o trabalho e adapt-lo s caractersticas psico-fisiolgicas do trabalhador, de modo a proporcionar um mximo de conforto e segurana , para alcanar um desempenho eficiente. Os fundamentos da ergonomia esto aplicados nos projetos de mquinas operatrizes, na delimitao de rea de trabalho, no dimensionamento de mobilirios, no desenvolvimento de uma atividade e em algumas situaes como: localizao de poltronas de nibus , nos mobilirios e dependncias de creches , nos colches de diversos modelos , nas cabines dos carros de corridas etc .
12.2 EXEMPLOS DE RISCOS ERGONMICOS -monotonia -posturas incorretas -posies incomodas -trabalho fsico pesado -trabalho de turno -jornada prolongada -trabalho repetitivo
12.3 CONSEQUNCIAS DOS RISCOS ERGONMICOS Quando os fundamentos da ergonomia no so aplicados , poderemos causar no trabalhador as seguintes consequncias : cansao , fraqueza , fadiga , dores musculares e doenas . Estudaremos neste captulo as LESES POR ESFORO REPETITIVOS ( LER ) e as LOMBALGIAS
LER ( LESES POR ESFORO REPETITIVOS ) So doenas originadas de trabalho repetitivo, emprego de fora, uso inadequado de ferramentas ou posies no trabalho que desviam os vrios segmentos corporais do sua posio de maior conforto . Essas doenas causam inflamaes nos tendes, msculos e nervos , atacando as seguintes partes do corpo : mos , pulsos , dedos, braos , cotovelos , antebraos e ombros. Apesar de parecer inofensiva, no tem cura. Essas doenas so comuns em digitadores, datilgrafos , empacotadores, caixas de bancos e de supermercados, jogadores de tenis, trabalhadores de linha de montagem, motoristas, nas atividades de tric, croch, bordado, etc .
TIPOS DE LER TENDINITE - Inflamao nos tendes BURSITE -Inflamao nos ombros EPICONDILITE -Inflamao nos cotovelos TENOSSINOVITE - Inflamao dos tecidos que revestem os tendes. Geralmente inflama os punhos, mas pode se estender pelo brao inteiro at o ombro. SNDROME DE QUERVAIN - Inflamao do tendo da regio polegar SNDROME DO TNEL DO CARPO - a compresso do nervo mediano do punho
54
55
- PRINCIPAIS SINTOMAS - No comeo surge a sensao de cansao - Depois surgem os inchaos , pele avermelhada , dores e perda de fora daquele membro. -Em casos mais graves a pessoa no consegue realizar tarefas simples como segurar objetos, folhear um livro, atender um telefone, etc . O funcionrio tem que ser afastado do trabalho para tratamento. Se for diagnosticada a tempo, ela pode ser tratada e controlada, e se j estiver em fase crtica, a pessoa poder ficar com o membro incapacitado.
MEDIDAS PREVENTIVAS - Rodzio de tarefas - Pausa para descanso - Respeitar jornada de trabalho e evitar sobrecarga - A temperatura ambiente no deve provocar a sensao de frio para evitar o episdio da vasoconstrio - Realizao de exerccios de alongamento e relaxamento nos msculos dos membros superiores - Utilizar mobilirios adequados e observar se a postura de trabalho est correta : - Os punhos devem ficar em linha reta com os antebraos e apoiados em suporte prprio . - A regio lombar deve estar reta e apoiada no encosto da cadeira - O ngulo formado pelos braos e antebraos devem ser de aproximadamente 90 graus . - Manter os joelhos em ngulo de 90 graus com as coxas ou um pouco acima delas e os ps devem ficar totalmente apoiados no piso ou em suporte prprio . - Como alternativa, nas atividades de digitao, usar tala de imobilizao do punho LOMBALGIAS ( DOR NAS COSTAS ) A lombalgia ataca as pessoas que foram a coluna sentando-se de forma incorreta ou fazendo movimentos penosos para as costas.
TIPOS DE LOMBALGIAS HRNIA DE DISCO - Um dos discos gelatinosos que separa as vrtebras da coluna sai do eixo, chocando-se com a medula nervosa e provocando dor DESLOCAMENTO DE VRTEBRA - Uma das vrtebras sai de seu eixo chocando-se com a medula nervosa e provocando a dor. TENSO MUSCULAR - o caso mais comum: os msculos ficam tensos e contrados, impedindo a circulao de sangue no local e provocando a dor .
MEDIDAS PREVENTIVAS -Levantar e abaixar peso mantendo a coluna ereta -No carregar peso na cabea: leve-o no ombro -No carregar peso em uma s mo, procure dividi-lo em ambas as mos, equilibrando a coluna -No carregar peso alm de sua capacidade: pea ajuda -Ao trabalhar abaixado, no fique curvado: ajoelhe-se para que os msculos das costas trabalhem menos -Ao subir escadas, incline-se ligeiramente para frente para dividir o peso do corpo e no sobrecarregar as costas -Evite cadeiras baixas e moles: prefira as de altura razovel e firmes -Para dormir, use colches e travesseiros firmes e evite dormir de barriga par cima e no utilizar travesseiros que deixem a cabea mais alta que o corpo -Fazer exerccios moderados, como alongamentos e caminhadas
55
56
13. MEIO AMBIENTE
13.1 INTRODUO Para sobreviver, o homem necessita de fontes de energia, isto , luz solar, ar, gua e alimentos. Ao utiliz-la, produz uma srie de resduos que devem sofrer tratamento para serem reutilizadas ou no. Contudo, comum verificar que, ao contrrio, as fontes de energia so destrudas por falta de tratamento.
13.2 POLUIO DO AR A poluio do ar ocorre quando so lanados na atmosfera gases, vapores e partculas geradas das diversas atividades humanas. Para os seres humanos uma das mais graves ameaas, pois o homem no consegue viver sem respirar, sendo obrigado a respirar um ar poludo ou no . Esta poluio pode provocar vrios danos ao homem,`a flora , `a fauna, aos materiais e ao clima .
COMPOSIO DO AR ATMOSFRICO componentes nitrognio oxignio argnio gs carbnico hidrognio nenio hlio criptnio xennio % em volume para ar seco 78,10 20,93 0,9325 0,03 0,01 0,0018 0,0005 0,0001 0,000009
Todo ar natural possui um certo percentual de umidade e o ser humano adaptou o seu metabolismo a esta composio do ar . A manuteno desta condio de vital importncia para o seu bem estar QUALIDADE DO AR RESPIRVEL - possuir no mnimo 18% de oxignio - ser isento de produtos prejudiciais sade - ter presso e temperatura normal - ser isento de substncia que o torne desagradvel
CONTAMINANTES DO AR Qualquer substncia ou forma de energia que altere a sua qualidade, implicando em riscos, danos ou molstias graves as pessoas. Os contaminantes podem apresentarse na forma gasosa e na forma de partculas (aerodispersides ) slidas ou lquidas, podendo causar asfixia , irritao , envenenamento, tumores, pneumoconioses( silicose e asbestose), perda da sensibilidade, da conscincia e morte .
PRICIPAIS FONTES DE POLUICAO - descargas dos veculos - emisses dos diversos processos industriais
DISPERSO DOS POLUENTES
56
57
A atmosfera dispe de mecanismos para dispersar e elimar os contaminantes. A disperso depende dos seguintes fatores: direo e velocidade dos ventos, precipitaes pluviomtricas , umidade e temperatura.
MEDIDAS DE CONTROLE - instalao de equipamentos: filtros e lavadores - mudana de local de um processo de produo , da matria prima , do combustvel e at na mudana da indstria para outro local . - racionalizao da circulao de veculos nas cidades .
13.3 GUA No nosso planeta, a gua esta na seguinte proporo: 97% de gua salgada e menos de 1% est prpria para o consumo humano. Com a crescente industrializao e aumento da populao, o consumo de gua vem aumentando e tambm as cargas poluidoras. Como consequncia as fontes de suprimento cada vez mais insuficientes.
a. Classificao das guas - metericas : chuva , neve - superficiais ; rios , oceanos , lagos - subterrneas : lenis freticos e artesianos
b. Uso da gua - domstica : alimentao , higiene pessoal ambiental - pblica : escolas , hospitais , lavagem de ruas . - comercial : bares , restaurantes , escritrios - agrcola : criao de animais , irrigao de plantaes - industrial : como matria prima
c. Consumo de gua - Consumo domstico por pessoa cozinha________________________________________10 a 30 litros lavagem e limpeza_______________________________ 20 a 40 litros higiene pessoal ________________________________ _30 a 60 litros instalaes sanitrias ___________________________ _15 a 30 litros outros usos e desperdcio _________________________25 a 50 litros - Consumo industrial , comercial , pblica e agrcola escritrios comerciais ____________________________50 litros / pessoa /dia restaurantes ______________________________________25 litros/ refeio hotis, penses ( sem cozinha e sem lavanderia )________120 litros / hspede / dia lavanderia ______________________________________30 litros / kg de roupa hospitais________________________________________250 litros / leito /dia beber __________________________________________1/4 litro/ trabalhador / dia sanitrios em indstrias ___________________________60 litros / trabalhador / dia posto de servio para veculo _______________________150 litros / veculo / dia matadouros ( animais de porte ) _____________________300 litros / cabea / abatida matadouros ( animais pequenos ) ____________________150 litros / cabea / abatida laticnios _______________________________________1 a 5 litros / kg de produto curtumes _______________________________________50 a 60 litros / couro papel __________________________________________100 a 400 litros / kg papel tecelagem sem alvejamento_________________________10 a 20 litros / kg tecido
d. Principais doenas
57
58
So causados por agentes microbianos e agentes qumicos. Agentes microbianos: - via oral : clera , febre tifide , hepatite, etc - via cutnea : leptospirosose Agentes qumicos : - chumbo (saturnismo) - arsnico : provoca envenenamento (arsenismo) - fluor : em grande quantidade, pode atacar o esmalte dos dentes, causando a fluorose; em quantidade reduzida, pode aumentar a incidncia de crie dentria . e. Requisitos de qualidade da gua. - Ser lmpida, incolor, inodora e de sabor agradvel. - Ser isenta de substncia qumica e microorganismos em quantidade suficientes para no causar doenas. f. Tratamento da gua Nem toda gua disponvel est em condies de uso e necessitando de tratamento para lhe devolver as condies de potabilidade . - Tratamento domiciliar : fervura, aplicao de cloro, filtrao . - Tratamento na rede pblica: As guas so captadas e levadas para estao de tratamento 1 fase: Adio de produtos qumicos Para agrupar as partculas ( cal e sulfato de alumnio ) Para matar as bactrias ( cloro ) 2 fase : Decantao Separar pela ao da gravidade as matrias em suspenso ( remoo de flocos ) 3 fase: Filtrao Retirar as impurezas 4 fase: Adio de produtos qumicos Para manter a gua livre de bactrias ( cloro ) Para corigir o PH da gua ( cal ) Para evitar a crie ( fluor ) 5 fase: Distribuio para a populao Obs: Durante o tratamento a gua passa por vrios testes para verificar a cor , turbides, dosagem de cloro e fluor e correo do ph .
g. guas residurias So as guas de origens pluviais, despejos industriais e esgoto sanitrio. guas pluviais As redes de guas pluviais carregam guas das ruas e dos telhados, levando tambm areia e outros slidos, causando o entupimento das redes . Esgoto sanitrio Contm em sua composio: sabes, restos alimentares , fezes , etc Despejos industriais So os responsveis pela poluio dos rios, mares , lagos e solo . Sua composio varia de acordo com o tipo de industria .
h. Efeitos dos contaminantes
58
59
Matria orgnica Consome o oxignio das guas dos rios, lagos, mares, etc, destruindo a vida aqutica, causando odores e gosto desagradvel na gua . Slidos em suspenso Localizados no fundo ou na superfcie da gua, se decompem causando odores, diminuindo o oxignio e, por conseguinte, matando os peixes. Tambm evitam a passagem de luz e na gua, tornando-a pouco transparente . cidos, leos, Graxas e Substncias Txicas Destroem a flora e a fauna dos rios, mares , lagos, etc. Microorganismos patognicos Doenas ao homem
i. Consequncias do no tratamento - Transmisso de doenas como: diarria, verminose, clera,etc. - Proliferao de insetos (mosca, mosquito), roedores e outros microorganismos causadores de doenas.
j. Tratamento do esgoto sanitrio
- Nas zonas rurais: fossa seca , fossa negra e fossa sptica. Fossa seca: construda fazendo-se uma escavao no profunda, de cerca de 2,5m, sem atingir o lenol fretico, isto , ficando aproximadamente a 1,5m acima deste, evitando assim a contaminao da gua. usada para a disposio de dejetos humanos, sem auxlio ou interferncia de gua, e nele as guas domsticas no tem acesso. A fossa deve ser protegida contra enxurradas, coberta por uma casinha, sem luz direta, com ventilao junto ao teto e sem janelas, para evitar moscas. Fossa negra: Sua construo inadequada, pois o fundo contata ou se aproxima do lenol fretico, e, muitas vezes, recebe outros dejetos domsticos. Exala mau cheiro e atrai moscas. Fossa sptica: Consiste em uma caixa de concreto fechada e impermevel, enterrada no solo, recebendo todo dejeto dos vasos sanitrios, tanques de lavar roupa, pias de cozinha e ralos. aconselhvel que as guas provenientes das pias de cozinha passem por uma caixa de gordura antes de chegarem fossa. Na caixa sptica, as matrias insolveis do esgoto domstico so digeridas e sedimentadas , sofrendo decomposio por meio de bactrias anaerbicas. A limpeza deve ser feita em intervalos que variam de 6 meses a 2 anos. Deve-se tomar cuidado com o fogo, pois normalmente h formao de gases inflamveis.
-No Sistema Pblico As guas residurias de origem domstica, industriais, pluviais e de infiltrao so despejadas nos coletores gerais das ruas, onde so encaminhadas para as estaes de tratamento, com o objetivo de reduzir o contedo orgnico e inorgnico, limitando os riscos que representam para sade pblica e ao meio ambiente. Dessa forma preservam-se os rios, lagos e mares para fins de abastecimento, agricultura, industria e recreao.
59
60
TIPOS DE TRATAMENTO Lagoa de oxidao - Lago artificial no qual os dejetos orgnicos so reduzidos pela ao das bactrias. Decantao - Separao , pela ao da gravidade, das matrias em suspenso em meio lquido de menor gravidade. Para os despejos industriais existem vrios tipos de equipamentos utilizados no tratamento como : - Separadores de leo - Decantadoes - Flotadores - Filtros ALGUMAS EXPERINCIAS Podemos citar como exemplo a experincia da indstria lcool-aucareira que gera como resduo a VINHAA. Este resduo lanado sem tratamento nos rios , lagos etc , destrua qualquer tipo de vida . Com o tratamento descobriu-se as seguintes aplicaes : - Produo de metano : usado como combustvel para alimentao de caldeiras e veculos . - Produo de adubos para canaviais : permitindo o replantio da cana aps 1 mes da colheita , aumentando a produtividade do solo . Antes s poderia faz-lo com 12 meses .
l. Resduos Slidos So os resduos de vrias atividades humanas e so classificados em : Resduos domiciliares- composto de restos alimentares, papis, latas, etc. Resduos comerciais -oriundos dos restaurantes e lojas , sendo composto por restos alimentares, papis, latas, etc. Resduo industrial - resultante dos processos industriais. Resduo pblico - oriundo das feiras livres, parques e ruas, sendo composto de galhos, terras, papis, etc. Resduo dos servios de sade - composto de esparadrapo, algodo, seringas, frascos, etc. Resduo radioativo- oriundo das usinas nucleares e radiologia de hospitais e industrias. - Destino final dos resduos Os materiais quando acondicionados de forma inadequada e descartados sem os devidos controles, geram a proliferao de ratos, baratas e moscas, exalam odores e causam a poluio dos solos e guas e aparecimento de doenas. Os materiais podero sofrer os seguintes tratamentos : enterramento , aterro sanitrio , incinerados e reciclados. Enterramento - um mtodo muito utilizado nas zonas rurais onde no h coleta urbana de lixo. Aterro sanitrio - Os resduos so espalhados em camadas finas , compactados e cobertos com terra. um processo que exige tcnica e local apropriado. Incinerao - Quando realizados sem controle pode causar poluio. Para alguns resduos industriais e o mtodo mais adequado. ex: resduo de ascarel .
60
61
Reciclagem - o mtodo que permite o reaproveitamento de metais, vidro, plsticos, etc. ALGUMAS EXPERINCIAS
Papel - Evitando o corte de rvore e reduzindo a quantidade de resduos qumicos na produo de celulose. Para cada tonelada de papel reciclado deixamos de derrubar de 15 a 20 rvores. Plstico - Ao recicl-lo economizamos petrleo ( que a sua matria prima ) . Usado tambm como combustvel para alimentao de fornos para fundio de metais . Vidro - Economia de matria prima .Para obter 1 kg de vidro necessrio 1,3 kg de slica . Escria de Alto Forno - Utilizada na industria do cimento e na pavimentao de ruas em substituio a brita. Alumnio - Economia de matria prima. Para obteno de 1 tonelada de alumnio necessrio processar 5 toneladas de bauxita.
14. PRIMEIROS SOCORROS
SALVAR UMA VIDA O PRINCIPAL OBJETIVO DA PRESTAO DOS PRIMEIROS SOCORROS. Os primeiros socorros protegem o paciente contra maiores danos, at a chegada do mdico. Faa s o que for rigorosamente essencial para controlar a situao at a remoo da vitima para o hospital mais prximo.
1- IMPORTNCIA DA PRESTAO DOS PRIMEIROS SOCORROS O conhecimento exato das medidas de primeiros socorros e a correta aplicao pode significar a diferena entre a vida e a morte. Devido a falta de um atendimento adequado as pessoas morrem ou ficam deformadas. 2- VERIFICAO DOS SINAIS VITAIS O primeiro procedimento do socorrista verificar os sinais vitais da vtima, que so: - CONSCINCIA Verificar se a vtima consegue responder ou se est desmaiada. -PUPILA Observar se a pupila se contrai ao levantar as plpebras, dando sinais de que h circulao de sangue no crebro. -RESPIRAO Observar se a pessoa est respirando. Uma pessoa respirao normal respira por volta de 20 vezes por minuto. com
-BATIMENTO CARDACO Verificar se o corao est bombeando sangue, apalpando, de preferncia, com dois dedos , a artria localizada no pescoo. - PULSO ARTERIAL De 60 a 100 batimentos por minuto. . 3- CONDUTA DO SOCORRISTA a) Manter-se calmo......Inspirar confiana - Evitar pnico b) Sinalizar o local.......Dispersar curiosos c) Evitar maiores danos fsicos, impedindo o agravamento das leses, no virando, empurrando ou puxando o acidentado inconsciente
61
62
d) Prevenir o estado de choque.....Manter a vtima deitada confortavelmente e aquecida e) No dar lquidos para beber f) Proteger as reas queimadas ou feridas.....No respirar e no tossir sobre elas g) Manter os ossos fraturados imobilizados na posio em que ficaram aps a fratura h) S tocar em ferimentos para conter hemorragias i) Transportar a vtima cuidadosamente, de preferncia deitada e de lado j) No retirar objetos penetrantes do corpo do acidentado (vidros, estilhaos de ao, pedaos de madeiras, etc...)
4- RESPIRAO ARTIFICIAL preciso ajudar a vtima a respirar, quando seus movimentos respiratrios no so perceptveis. Em caso de dvida, comece a respirao artificial. Nenhum mal pode resultar de seu uso, e uma demora pode custar a vida da vtima. 4.1- RESPIRAO ARTIFICIAL PELO MTODO BOCA-BOCA a)Deitar a vtima de costas com os braos estendidos ao longo do corpo. b) Verifique se h qualquer corpo estranho obstruindo a boca ou a garganta da vtima. Havendo, procure remov-lo com cuidado. c) Afrouxe as roupas da vtima, principalmente em volta do pescoo, peito e cintura d) Fazer a hiperexteno do pescoo para que o ar passe livremente. e)Fechar as narinas, usando o polegar e o indicador e encostando a palma da mo na testa da vtima. f)Encher os pulmes de ar g)Cobrir a boca da vtima com a sua boca. h)Soprar at ver o peito da vtima se erguer i)Soltar o nariz, afastar sua boca da vtima e observar se respira. j)Respirar profundamente e repetir o movimento 15 vezes por minuto. MESMO APS HAVER A VTIMA VOLTADO A RESPIRAR LIVREMENTE, ESTEJA PRONTO PARA INICIAR TUDO OUTRA VEZ.
4.2-ALGUMAS CAUSAS DE PARADA RESPIRATRIA a) Gases venenosos, vapores qumicos ou falta de oxignio . Remova a vtima para um local arejado e no contaminado; . Inicie a respirao de socorro pelo mtodo boca-a-boca;
b) Afogamento . Retire rapidamente a vtima da gua; . Inicie a respirao boca-a-boca o mais rpido possvel logo que alcance a vtima, ainda na gua ou no barco, ou to logo atinja um local mais raso; . Agasalhe a vtima. Se necessrio, comprima seu estmago para expulsar a gua c) Choque Eltrico . S toque na vtima depois que ela estiver separada da corrente eltrica, ou esta interrompida; . S tente retirar uma pessoa presa a um cabo eltrico exposto ao tempo, se voc for especialmente treinado para este tipo de salvamento;
62
63
. Lembre-se que cada segundo de contato com a eletricidade diminui a possibilidade de sobrevivncia da vtima de choque eltrico; . Se voc souber, desligue a tomada ou a chave geral da corrente eltrica. Se no souber, chame imediatamente quem entenda do assunto ou ento use uma vara para afastar ou empurrar o fio da vtima. Toque apenas em material seco no condutor de eletricidade; Inicie a respirao boca-a-boca logo que a vtima esteja livre de contato com a corrente. d) Abalos violentes resultantes de exploso ou pancada na cabea ou no abdome Inicie imediatamente a respirao boca-a-boca e) Envenenamento por ingesto de sedativos ou produtos qumicos . inicie imediatamete a respirao boca-a-boca . provoque vmitos da vtima, calando com o seu dedo a parte posterior da lngua da vtima 5- PARADA CARDACA Quando o corao pra de bater, seu rtimo muitas vezes pode ser restaurado atravs de massagem cardaca externa. Os casos de parada do corao exigem ao imediata. Inicie o socorro, mesmo antes de chegar a um mdico. 5-1CAUSAS DE UMA PARADA DO CORAO a) ataque cardaco b) choque eltrico c) estrangulamento d) sufocao e) reaes alrgicas graves f) afogamento 5.2 SINAIS E SINTOMAS a) Ausncia de batimentos cardacos. b) Falta de pulsos. c) palidez acentuada d) Pele fria. e) Pupilas dilatadas 5.3 LOCALIZAO DO CORAO - Na parte superior esquerdo do trax, entre os pulmes. - Atrs do osso esterno flexvel. - Em frente coluna vertebral. 5.4 MASSAGEM CARDACA Sua finalidade para reiniciar a batida do corao MODO DE FAZER : a) Coloque a vtima deitada de costas sobre uma superfcie dura. b) Coloque as duas mos sobrepostas, acima dois dedos da parte inferior do esterno. c)Faca presso suficiente para abaixar o trax ( 5 cm ) sem tocar os dedos nas costelas, mas, apenas, com as palmas das mos sobre o esterno. d) Repita o movimento 60 vezes por minuto. ( uma massagem por segundo ).
63
64
6- PARADA CRDIO-RESPIRATRIA Apresenta os sintomas e causas da parada respiratria e parada cardaca reunidos. 6.1 MODO DE FAZER Colocar-se ao lado da vtima. Executar primeiramente a respirao artificial e, em seguida, a massagem cardaca. Se estiver sozinho, executar 2 respiraes aps terem sido executadas 15 massagens cardacas. Se houver duas pessoas, executar uma respirao para cada 5 massagens cardacas.
CASO TENHA QUE TRANSPORTAR A VTIMA, CONTINUE APLICANDO OS SOCORROS, ININTERRUPTAMENTE
7-HEMORRAGIA 7.1 Definio o sangramento ocasionado pela ruptura de um vaso, devido a doena ou a traumatismo. 7.2- Classificao - Interna Ocorre no caso de leses internas no organismo, devido a lceras nos rgos ou traumatismo. - Externa Ocorre quando h leses da pele. 7.3- Sintomas - palidez ; pele fria ; sudorese ; pulso rpido e fino ( acima de 120 batimentos por minuto ); mucosas descoradas; OBS: O ser humano possui em mdia 5 LITROS DE SANGUE e a hemorragia abundante no controlada pode levar morte rapidamente. 7-4 MTODOS EMPREGADOS 7.4.1-TAMPONAMENTO - Comprimir as bordas da ferida com um pano ou leno limpos ou gaze. - Comprimir com a mo limpa caso no haja pano ou gaze. - Prender a gaze ou pano com uma atadura ou com pedao de pano ( tirado das vestes da vtima ). 7.4.2-TORNIQUETE Quando no obtiver efeitos com o tamponamento ou quando a vtima tiver MEMBROS AMPUTADOS, DILACERADOS OU ESMAGADOS. Enrolar um pano em torno da parte superior do brao ou perna , acima do ferimento. Dar um n Colocar um pedao de madeira no meio do n Dar um n completo sobre a madeira Torcer a madeira at parar a hemorragia Fixar a madeira DESAPERTAR GRADUALMENTE O TORNIQUETE A CADA 10 OU 15 MINUTOS
8-LESES NOS OSSOS 8.1- FRATURA o rompimento de um osso.
64
65
8.1.1 CLASSIFICAO A- FECHADA - Sem deslocamento- o osso quebrado permanece no local. - Com deslocamento- o osso quebrado no se exterioriza na pele, mas fica acavalado. B- EXPOSTA O osso quebrado se exterioriza na pele.
8.1.2 SINTOMAS - Dor local; inchao; impotncia funcional ; ossos rangendo ; deformidade do membro. 8.1.3 PROCEDIMENTO DO SOCORRISTA - Conter a hemorragia, caso haja. - Proteger a fratura com gaze ou pano limpo. - Imobilizar a fratura. - Transportar a vtima corretamente. - Procurar atendimento mdico. 9- QUEIMADURA Leses produzidas nos tecidos pela ao do calor ou reao qumica. 9.1- CAUSAS AGENTES FSICOS Substncias que tm ao custica, como cidos, soda custica, lcalis , derivados do petrleo, etc. AGENTES FSICOSLquidos quentes, slidos superaquecidos, vapores, radiaes, corrente eltrica, etc. AGENTES BIOLGICOS Animais, como larva de borboleta , gua viva e vegetais, como seringueira, figueira, etc.
9.2- CLASSIFICAO 9.2.1- QUANTO AO TIPO -SUPERFICIAIS Atingem apenas algumas camadas da pele. -PROFUNDAS Destroem totalmente a pele e outros tecidos. 9.2.2 QUANTO AO GRAU 1 GRAU Apresenta leso das camadas superficiais da pele, com vermelhido e dor local suportvel.. 2 GRAU Apresenta leso das camadas mais profundas, formao de bolhas, desprendimento das camadas da pele, dor e ardncia local de intensidade varivel. 3 GRAU Apresenta leses de todas as camadas da pele e dos tecidos mais profundos at os ossos( carbonizao ). 9.2.3- QUANTO GRAVIDADE A gravidade da queimadura medida pela extenso da rea corporal atingida, ou seja, QUANTO MAIOR A REA QUEIMADA, MAIS GRAVE A LESO, POIS H MAIOR POSSIBILIDADE DE INFECO E INSTALAO DO ESTADO DE CHOQUE.
65
66
A QUEIMADURA CONSIDERADA GRAVE QUANDO ATINGE A FACE , RGO GENITAL OU ACIMA DE 15% DA REA DO CORPO.
9.2.4 CONDUTA DO SOCORRISTA - Retirar a roupa queimada e suja. - Proteger a rea queimada com tecido limpo. - Providenciar socorro mdico com urgncia. 9.2.4 ATENDIMENTO AO CORPO EM CHAMA 1 - Se a vtima estiver deitada, deve-se abafar as chamas com um cobertor da cabea para os ps, a fim de se evitar a intoxicao das vias areas superiores, pelos gases produzidos em combusto. 2- Se a vtima estiver correndo , deve-se derrub-la e proceder da maneira anterior, ou tentar abaf-la com um cobertor, mesmo estando em p. 10 TRANSPORTE DE ACIDENTADOS importante fazer um transporte correto do acidentado pois estaremos evitando o aumento das leses. 10.1- CUIDADOS - Examinar a vtima antes de remov-la - Controlar a hemorragia. - Prevenir o estado de choque. - Proteger os ferimentos. - Imobilizar as fraturas. - Manter a vtima deitada com a cabea mais baixa que o corpo. - No manej-la constantemente. 10.2- MTODOS DE TRANSPORTE - 10.2.1- MACA - o melhor meio de transporte e deve utilizar 3 PESSOAS para colocar a vtima na maca. - O corpo da vtima deve estar sempre em linha reta. - o mtodo mais adequado para transportar vtimas de fraturas. 10.2.2- Puxe sempre a vtima pela direo da cabea ou ps. Nunca puxe pelos lados ou pelos ombros.
10.2.3- TRANSPORTE DE APOIO. 10.2.4 TRANSPORTE EM CADEIRINHAS 10.2.5- TRANSPORTE EM CADEIRA. 10.2.6- TRANSPORTE EM COLO. 10.2.7- TRANSPORTE NAS COSTAS. 10.2.8- TRANSPORTE PELAS EXTREMIDADES
66
67
67
Você também pode gostar
- Raven Catalogo Automoveis2012Documento47 páginasRaven Catalogo Automoveis2012Marco Aurelio Antunes100% (1)
- Totvs Obras e Projetos SOLUMDocumento66 páginasTotvs Obras e Projetos SOLUMv64x100% (1)
- Exercícios Meteorologia IIDocumento8 páginasExercícios Meteorologia IIWillian NascimentoAinda não há avaliações
- Instruções de Serviço / Montagem: Emissor Manual DRC-10 (D2 - Com Saltos de Frequência)Documento60 páginasInstruções de Serviço / Montagem: Emissor Manual DRC-10 (D2 - Com Saltos de Frequência)André PanezzaAinda não há avaliações
- Carretel IrtecDocumento20 páginasCarretel IrtecMarcos Vinicius RibeiroAinda não há avaliações
- IEC 61131-3 PortugueseDocumento6 páginasIEC 61131-3 PortugueseGiselle SoaresAinda não há avaliações
- Equipamentos Controle Poluentes AtmosfericosDocumento62 páginasEquipamentos Controle Poluentes AtmosfericosFernandaCCruzAinda não há avaliações
- S6-820 06-00 MBB VolvoDocumento18 páginasS6-820 06-00 MBB VolvoÁlvaro Ricardo LopatiukAinda não há avaliações
- O Papel Social Da Engenharia Civil - HQDocumento49 páginasO Papel Social Da Engenharia Civil - HQjrmarquinhosAinda não há avaliações
- O Que É Força de ArrastoDocumento8 páginasO Que É Força de ArrastoAntonioAinda não há avaliações
- Catalogo Tecnico Comercial de Tubos PEAD1Documento21 páginasCatalogo Tecnico Comercial de Tubos PEAD1EnginerdouglasAinda não há avaliações
- Anexo Iv - Volvo FH 500 GerDocumento6 páginasAnexo Iv - Volvo FH 500 GerPaulo LaraAinda não há avaliações
- Lista De Exercícios Sistemas Soloidais: μ = 10430Cp e ν = 174StDocumento3 páginasLista De Exercícios Sistemas Soloidais: μ = 10430Cp e ν = 174StCamila RiguettiAinda não há avaliações
- Cilindros FestoDocumento31 páginasCilindros FestoRogerio Zonta0% (1)
- Bromatologia Conservacao UmidadeDocumento9 páginasBromatologia Conservacao UmidadeJoyce LimaAinda não há avaliações
- PIRATA11Documento6 páginasPIRATA11rejane silva100% (1)
- Rejeitos Radioativos - ApresentaçãoDocumento27 páginasRejeitos Radioativos - ApresentaçãoMário GomesAinda não há avaliações
- Curriculo - Ricardo BritoDocumento2 páginasCurriculo - Ricardo BritoRicardo BritoAinda não há avaliações
- Exercícios Kurose Cap 5Documento2 páginasExercícios Kurose Cap 5Lucas TadeuAinda não há avaliações
- Ap. Protendido PDFDocumento100 páginasAp. Protendido PDFLuis Palomino AlbaAinda não há avaliações
- Mineralogia Óptica Óptica de Cristais Transparentes: Parte PráticaDocumento85 páginasMineralogia Óptica Óptica de Cristais Transparentes: Parte PráticaBoris Del Castillo HerreraAinda não há avaliações
- Explicação Tabela Geocientífica PeriódicaDocumento10 páginasExplicação Tabela Geocientífica PeriódicaMatheus PereiraAinda não há avaliações
- LAUDODocumento30 páginasLAUDOcassius badueAinda não há avaliações
- Conservação Do Solo A Preservação AmbientalDocumento80 páginasConservação Do Solo A Preservação AmbientalTiago Faria100% (1)
- Ficha Tecnica Basic 1plkDocumento5 páginasFicha Tecnica Basic 1plkPedro MoscaAinda não há avaliações
- A3 IsostáticasDocumento11 páginasA3 IsostáticasVinícius AlbuquerqueAinda não há avaliações
- LogísticaDocumento39 páginasLogísticajonasadm8666Ainda não há avaliações
- Portfólio ConteineresDocumento27 páginasPortfólio Conteineresarqbirafogaca1618Ainda não há avaliações
- 703472-Construção de Estradas AterrosDocumento50 páginas703472-Construção de Estradas AterrosGustavo LourencoAinda não há avaliações
- Controle de Qualidade de Fitoterápicos - Milleno D. Mota - Fitoterapia - UNIMEDocumento12 páginasControle de Qualidade de Fitoterápicos - Milleno D. Mota - Fitoterapia - UNIMEPublicCloud100% (4)