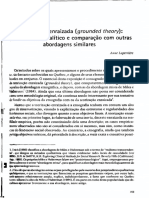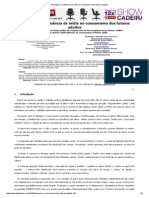Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Os Meios Rurais e A Descoberta Do Património
Os Meios Rurais e A Descoberta Do Património
Enviado por
Rui SantosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os Meios Rurais e A Descoberta Do Património
Os Meios Rurais e A Descoberta Do Património
Enviado por
Rui SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Paulo Peixoto
Centro de Estudos Sociais - Ncleo de Estudos sobre Cidades e Culturas Urbanas Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio*
O patrimnio revela-se no facto da sua perda constituir um sacrifcio e da sua conservao supor sacrifcios. Andr Chastel
Introduo Os meios rurais conheceram, depois da Segunda Guerra Mundial, e mais particularmente nos pases mais industrializados, transformaes profundas. Transformaes que, em muitos casos, tm conduzido ao desaparecimento de localidades tipificadas como rurais. Esse fenmeno de desaparecimento fsico e simblico sustentado, quer por fluxos aglutinadores do crescimento voraz de cidades e de zonas suburbanas, quer por movimentos de despovoamento e de abandono dos meios rurais. Em suma, a situao instvel, conflitual, imprevisvel e contraditria que caracteriza o mundo rural transporta indicadores de uma crise profunda e prolongada que se estende aos mais variados aspectos: economia e formas de organizao social, paisagens e ideologias, modos de vida, de habitar e de trabalhar. No contexto da problemtica em que este texto se insere, no deixa de ser interessante constatar a convergncia de duas tendncias ligadas transformao dos meios rurais. De um lado, o aumento das ameaas sobre o mundo rural. Do outro lado, o aumento das preocupaes com o patrimnio. esta convergncia que nos leva a esboar a tese da descoberta do patrimnio pelos meios rurais. Esta tese funda-se na ideia que as caractersticas culturais de
* Comunicao apresentada na actividade Conversas volta das estrelas. Campo europeu do patrimnio. Souto Bom, Tondela. Texto elaborado no mbito do projecto de investigao Intermedirios culturais, espao
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
cada sociedade esto em constante mudana, ainda que os ritmos sejam diversos e forosamente mais lentos em lugares mais isolados de demografia menos densa. Ela assenta, por outro lado, no pressuposto que a emergncia de um patrimnio , geralmente, marcada por trs etapas. A primeira uma fase caracterizada pela espontaneidade e remete para os momentos em que a sociedade ou um grupo social produz aquilo que necessita para assegurar a sua sobrevivncia fsica. Nesta fase sobretudo o gesto tcnico que predomina, funcionando como resposta a um problema prtico. A segunda corresponde ao momento de tomada de conscincia. Ela fica a dever-se a uma qualquer transformao que coloca fora do campo utilitrio inicial o objecto produzido. A terceira a etapa em que o objecto adquire uma identidade patrimonial, reclamando e justificando um estatuto de gesto colectiva. na passagem da segunda para a terceira etapa que a ideia patrimonial emerge e se cristaliza. Quando verificamos o interesse crescente que os meios rurais atribuem s questes do patrimnio, ou que determinados idelogos e profissionais da patrimonializao consagram ao patrimnio rural e descoberta de novos bens e campos patrimoniais, quase somos levados a pensar que os meios rurais descobriram agora que tm um patrimnio valioso a preservar. Mas que descoberta essa afinal? Donde vem esta inflao, este uso excessivo, do termo patrimnio? O que o torna o smbolo principal das identidades colectivas? A resposta a estas questes estruturada volta de trs processos: o processo de transformao recente do mundo rural; o processo de histeria patrimonial; e o processo de procura de um esprito de lugar. O argumento que resulta da anlise sumria destes processos procura relevar que a tese da descoberta do patrimnio pelos meios rurais est muito longe de corresponder a uma descoberta de algo que era ignorado. Trata-se, pelo contrrio, de encarar o patrimnio e as suas representaes como uma inveno cultural que procura legitimar e naturalizar um determinado tipo de discurso sobre a evoluo recente do mundo rural e que procura responder aos desafios presentes e futuros dos meios rurais. Neste mbito, o patrimnio corresponde a uma segunda vida das coisas, que adquirem novos sentidos e funcionalidades.
pblico e cultura urbana (Praxis/P/SOC/13151/1998), financiado pela Fundao para a Cincia e a Tecnologia. O texto mantm o carcter ensastico e, por vezes, coloquial da comunicao apresentada. 2
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
A transformao recente dos meios rurais Na vasta heterogeneidade que os caracteriza, os meios rurais encontram-se, como os meios urbanos, sujeitos a uma transformao que nunca ter sido to acelerada e profunda.1 No pretendemos neste ensaio caracterizar essas transformaes e o seu ritmo, nem desenvolver uma anlise que fornea uma tipologia dos meios rurais de modo a dar conta da variedade de situaes que descrevem a realidade. Acresce que a transformao recente e os desafios dos meios rurais est, nos seus mltiplos aspectos, retratada e avaliada (ver, entre outros, Monteiro, 1985; Almeida, 1986; Delfosse, 1988; Barthelemy e Weber, 1989; Hespanha, 1994; Pascual e Larrul, 1998; Sanz, 1998; Caleiras, 1999; Costa, 1999; Bourgeois e Demotes-Mainard, 2000; Abdelmalek, 2000; Lockie e Lyons, 2001). Destacamos, no entanto, os quatro factores que Jos Reis (2001), ao retratar o caso portugus, identifica para dar conta dos processos que, nos ltimos vinte anos, transformaram a sociedade portuguesa na sua globalidade e os meios rurais em particular: uma maior urbanizao, um maior cosmopolitismo dos comportamentos, uma mais intensa relao com os mercados de trabalho e uma maior territorializao das prticas quotidianas. Reconhecendo que estes factores e as suas mltiplas formas de manifestao do conta dos principais processos de transformao do mundo rural, limitamo-nos a assinalar as tendncias gerais que do origem a um discurso de crise dos meios rurais e que, de acordo com o argumento que sustenta este texto, conduzem a uma histeria do patrimnio e a uma procura incessante do esprito de lugar. Entre as ameaas que pairam sobre os meios rurais, as mais mencionadas e mediticas so de natureza demogrfica; por exemplo, o xodo rural, a diminuio e o envelhecimento populacional ou o encerramento de escolas por escassez de alunos. Outras so de ordem econmica; o caso da insolvncia dos modos agrcolas tradicionais, da falta de emprego, da inexistncia de circuitos comerciais para fazer chegar ao mercado os produtos da actividade agrcola ou a presso do crescimento urbano e da especulao imobiliria. Outras ainda so de cariz cultural, ou at mesmo moral, e revelam-se nos discursos sobre a uniformizao de valores e traos culturais, bem como na retrica da individuao crescente e da diminuio das prticas sociais colectivas suscitadas pelo incremento da mobilidade fsica das populaes e pela progresso de uma cultura de massas, que chega via televiso ou atravs dos meios e
1 A distino entre meios rurais e meios urbanos no um dos objectivos deste texto. Alis, a transformao acelerada que uns e outros enfrentam caracteriza-se pela impossibilidade crescente em delimit-los, distingui-los e, inclusivamente, aceit-los como categorias operativas. A utilizao do termo meios rurais neste texto ,
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
equipamentos de consumo. Este conjunto de ameaas d frequentemente azo a discursos de pendor moralista e poltico que anunciam, em tom de lamentao, e, no raras vezes, numa lgica de idealizao, o desaparecimento de um mundo harmonioso e virtuoso. Neste contexto, essas ameaas so indicadores de uma catstrofe ambiental e patrimonial. Catstrofe que se manifesta, por exemplo, nos fogos florestais, que, resultando da falta de limpeza das matas, so uma funo latente do xodo rural; ou no desaparecimento de misteres e de saberes tradicionais; ou, ainda, no inquinamento das guas, que resulta da adopo de mecanismos da agricultura produtivista. Em determinados meios rurais, onde se desenvolveram alternativas agrcolas ao abandono das terras, a substituio da agricultura tradicional pela agricultura produtivista tem levado a que os interesses privados se tenham vindo a sobrepor gradualmente aos interesses comuns em que assentava o funcionamento dessa agricultura tradicional de subsistncia. As novas tecnologias agrcolas vieram quebrar os laos afectivos que os camponeses tinham com a terra e muitos dos laos comunitrios baseados na necessidade de entreajuda. Com os filhos longe, a terra deixou de ser um projecto geracional e um lao patrimonial; ou seja, um bem comum, um patrimnio a transmitir aos filhos. Mas esta situao generalizou-se tambm nos meios rurais que, devido existncia de um meio urbano prximo e aglutinador, assistiram, quer ao desenvolvimento de prticas quotidianas mais competitivas e individuadoras (prprias das actividades comerciais e industriais), quer ao desenvolvimento de relaes e prticas sociais que no se baseiam no interconhecimento. Em muitos destes meios, a terra deixou tambm de ser um projecto geracional para se converter, enquanto recurso imobilirio, numa fonte imediata de rendimento. Por outro lado, a transformao do mundo rural e a urbanizao galopante tm suscitado uma grande sensibilidade relativamente ao rural, quilo que o tipifica e prpria natureza, quer junto das instncias governamentais, quer entre o pblico em geral. Essa transformao tem, tambm, captado o interesse crescente das mais variadas disciplinas cientficas, que nos diferentes ramos do ruralismo parecem encontrar caminhos de acesso a lugares alternativos e a uma outra cultura simultaneamente prximos e propcios descoberta (Chiva, 1997). Este interesse pelo rural acentua-se medida que o rpido crescimento urbano faz emergir reivindicaes e aspiraes ligadas natureza e ao ambiente, e manifesta-se
assim, um mero expediente operativo de construo de um discurso cientfico que no nos afasta da conscincia do carcter difuso das fronteiras desses espaos. 4
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
atravs de fenmenos como as segundas habitaes, novas formas de lazer e turismo ou, mais drasticamente, atravs de estratgias de mudana residencial. Portugal oferece, nas ltimas dcadas, exemplos paradigmticos destas transformaes e ameaas que caracterizam a evoluo recente dos meios rurais. Oferece tambm, para sermos congruentes com o nosso argumento, inmeros exemplos de fenmenos que traduzem essa histeria do patrimnio. Por isso, ilustraremos pontualmente os pontos que se seguem com alguns exemplos da realidade portuguesa. Se, como pretendemos deixar claro no ponto seguinte, o patrimnio aquilo que nos arriscamos a perder, a atribuio de valor patrimonial a o que quer que seja d-nos uma ideia das ameaas mais srias que pairam sobre o mundo rural. A histeria do patrimnio Ao falarmos em histeria do patrimnio estamos a referir-nos a uma tendncia global que, comportando vrias dimenses, caracteriza os processos de patrimonializao. Essa histeria revela-se, por um lado, no confronto entre um patrimnio mais oficial e elitista e um patrimnio de objectos vulgares ligados ao quotidiano; mas tambm no confronto entre um patrimnio feito de construes vernaculares monumentalizadas, marcado por uma antiguidade prestigiante, e um patrimnio constitudo pelos testemunhos mais recentes da actividade humana; revela-se, finalmente, no confronto entre o carcter material dos artefactos patrimoniais e um patrimnio intangvel, ligado s mentalidades, s representaes e ao saberfazer. Os meios rurais desempenham um papel particular e fundamental na produo e difuso desta histeria do patrimnio, na medida em que, ao mobilizarem-se para enfrentarem a crise agrcola ou a integrao em espaos urbanos, contribuem enormemente para um alargamento incessante do campo patrimonial. Yvon Lamy (1996) recorre expresso alquimia do patrimnio para caracterizar o processo de patrimonializao. Um processo marcado pelo entrelaamento de uma verbalizao excessiva e heterognea (as mltiplas linguagens do patrimnio) com as polticas concretas de reconhecimento oficial de um conjunto vasto de bens que no cessa de se alargar. Para dar conta desta fria patrimonialista que procura albergar debaixo de um estatuto formal um ilimitado nmero de bens materiais e simblicos, mveis e imveis, monumentais e ambientais, outros autores recorrem a noes igualmente expressivas como paixo patrimonial (Guillaume, 1980), reinveno do patrimnio (Bourdin, 1984), loucura patrimonial (Jeudy, 1990), alegoria do patrimnio (Choay, 1992), ou patrimomania (Martin-Granel, 1999).
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
Embora a noo de patrimnio seja relativamente recente (Babelon e Chastel, 1994; Desvalles, 1995) ela tem vindo, recorrentemente, a ser recodificada por vrias disciplinas cientficas num processo de etiquetagem patrimonial que conduz constituio de uma metalinguagem do patrimnio. O que significa que a palavra patrimnio, mais do que se converter num acto ou num objecto, converte-se em representao de alguma coisa (Lamy, 1996). Esta metalinguagem do patrimnio apresenta-se, assim, como um recurso retrico ao servio das operaes de patrimonializao levadas a cabo pelo Estado, por associaes locais e por outros actores envolvidos nesses processos. A linguagem pluridisciplinar2 que envolve a realidade patrimonial funciona, nesse contexto, como o principal instrumento de mediao entre os actores e os objectos patrimonializados e constitui-se como um dos indicadores da histeria do patrimnio. Nesse sentido, ela pode ser seleccionada como um dos eixos de anlise das mltiplas vertentes dos processos de patrimonializao. A estruturao da palavra patrimnio e do seu campo lexical afirma-se, ento, como a base de qualquer anlise dos processos de construo e de destruio de um patrimnio. No caso vertente, limitar-nos-emos a constatar que se falarmos com um campons muito dificilmente lhe vamos ouvir as palavras patrimnio ou mesmo natureza. E no , seguramente, por serem palavras caras. porque, relativamente aos modos de vida tradicionais das pessoas que vivem no campo, so palavras novas, que enformam essa metalinguagem que representa as ameaas que pairam sobre os meios rurais e as estratgias de conservao e de valorizao de tudo aquilo que corre o risco de desaparecer. Patrimnio e natureza so invenes culturais recentes que s pontualmente foram apropriadas pelos camponeses, que se referem aos bens para nomear o patrimnio e terra para designar a natureza. Como palavras novas que so dizem-nos alguma coisa sobre a evoluo recente dos meios rurais. Quando um campons diz que as terras esto a ficar de morto, porque no h quem as cultive, ou porque os mais novos no querem saber disto para nada, est-se a referir exactamente s mesmas coisas a que os discursos cientficos e tcnicos, que frequentemente sustentam a ideologia da agricultura ps-produtivista, se referem quando nos falam da necessidade em proteger o patrimnio e a natureza. Na verdade, fala-se de patrimnio (seja em relao a um monumento ou a um produto tradicional) face a um cenrio de morte de alguma coisa. A ideia de patrimnio , frequentemente, invocada em relao ameaa do desaparecimento de recursos naturais e culturais, num cenrio de uma catstrofe eventual.
2 Lamy (1996) aborda concretamente os discursos jurdicos, econmicos, ecolgicos, etnolgicos, lingusticos e sociolgicos. 6
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
A politizao de certos objectos que adquirem o estatuto de patrimnio e o carcter instrumental que a metalinguagem do patrimnio adquire no domnio da reconceptualizao do passado e das operaes de patrimonializao compreendem-se melhor se tivermos em conta que os camponeses intervm como agentes de conservao de bens naturais, daquilo que hoje chamamos patrimnio, quando utilizam estes bens como meios de produo (Jeudy, 1990) e de reproduo geracional. Quando, hoje, falamos de patrimnio estamos, sobretudo, a referir-nos a bens comuns que deixaram de estar integrados nas prticas quotidianas dos camponeses. Os camponeses que viram os filhos partir e a mo-de-obra diminuir sabem muito bem que se no limparem as matas elas vo arder. A ironia, quando nos deixamos levar pela ideia que os meios rurais tm de descobrir que so titulares de um patrimnio (a filosofia da sensibilizao, que to bem caracteriza essa histeria patrimonial), que se torna necessrio sensibilizar os camponeses que os seus antigos meios de produo so um bem comum. Ou como se diz: so patrimnio. Por isso que irnico estar a sensibilizar os camponeses que as matas so um bem comum, e estar a alert-los para a necessidade de as limpar, pois, caso contrrio, acabam por arder. profundamente irnico, num cenrio em que o universo das prticas e das representaes dos camponeses se transformou substancialmente, querer sensibilizar os camponeses para a necessidade de evitar o esgotamento da terra (que os adubos orgnicos estimulam) atravs do recurso ao pousio. E tanto mais irnico quanto essa foi, durante sculos, uma prtica comum das tcnicas agrcolas, cujo objectivo principal era, precisamente, o de preservar e de transmitir um bem comum. Ironia que acaba por extravasar na constatao que o patrimnio para o ser tem primeiro de morrer. A descoberta do patrimnio corresponde, neste contexto, ao anncio da morte do rural. Os processos de patrimonializao que promovem a dita descoberta caracterizam-se por trs dimenses essenciais que do conta da histeria do patrimnio a que nos referimos neste texto. Estas trs dimenses podem ser vistas como faces imbricadas de um mesmo tringulo, cuja base emerge de um paradoxo aparente. Por um lado, manifesta-se uma tendncia muito ntida para a elasticidade da noo de patrimnio. Por outro lado, evidenciase uma clara transformao da relao temporal que marca os processos de patrimonializao. Por fim, e como causa e consequncia das duas dimenses anteriores, torna-se clara a emergncia de uma lgica de gesto do patrimnio, que ganha terreno face a uma lgica de conservao. Qualquer uma destas trs dimenses revela o carcter aparentemente paradoxal dos processos de patrimonializao. Estes, mais do que resultarem de uma presumvel predisposio passadista, surgem como estratgias que visam actuar sobre o presente e sobre o futuro. Ao contrrio de explicaes que tendem a tornar-se dominantes, a patrimonializao no apenas nem sobretudo uma espcie de seguro contra o esquecimento, funcionando antes como instrumento de afirmao e de legitimao de determinados grupos sociais (Davallon et
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
al., 1997; Colardelle, 1998) e como estratgia de captao de recursos e de transformao identitria de lugares que procuram tornar-se competitivos (Ashworth, 1994; Fortuna, 1997; Peixoto, 1997). Abordemos, primeiro, este carcter aparentemente paradoxal dos processos de patrimonializao para, depois, analisarmos cada uma das trs dimenses mencionadas. A histeria do patrimnio, promovendo a exumao intensiva do passado que a patrimonializao leva a cabo, revela que o patrimnio um reflexo do nosso futuro mais do que do nosso passado. Por um lado, verificamos que a conscincia patrimonial se manifesta a partir de um traumatismo de ruptura. Ela uma reaco contra o desaparecimento que tem por objectivo promover a regenerao. O luto, no sentido metafrico, e transposto para o domnio grupal, funda as relaes sociais sobre uma memria colectiva: a dos antepassados comuns. Num processo profundamente identitrio no , contudo, a identidade o factor mais interessante, mas a assimilao colectiva da mudana. No mbito de mutaes brutais e com frequncia dolorosas, como as que se tm manifestado com particular incidncia nalguns meios rurais, a identidade serve de conscincia subjacente aco. Na verdade, s um rito colectivo de passagem que inclua o luto e a magnificao do defunto, permite aos indivduos suportar ou admitir a mudana, dando incio regenerao (Colardelle, 1998). Por outro lado, o patrimnio responde s necessidades da sociedade futura. No contexto da histeria do patrimnio, as verdadeiras razes de multiplicao sem fim das estratgias de patrimonializao ficam frequentemente escondidas. O patrimnio presta-se a aces pedaggicas, tursticas, polticas, econmicas e de experincias tcnicas de ponta (Guillaume, 1990; Ashworth, 1994). A dimenso dos processos de patrimonializao que mais contribui para legitimar o argumento da histeria do patrimnio , sem dvida, a tendncia para a elasticidade da prpria noo de patrimnio. Nos meios rurais, a patrimonializao de elementos geogrficos e paisagsticos, bem como de produtos agrcolas locais e de valores e costumes tpicos temse vindo a tornar to importante quanto a patrimonializao das construes rurais e dos saberes agrcolas artesanais que remetem para a noo mais comum de patrimnio rural (Davallon et al., 1997; Chiva, 1997).3 O fascnio suscitado pelos lugares (quase) abandonados e pelos espaos despovoados, que rapidamente so associados a uma ideia de natureza, devese ao facto de eles se constiturem como um campo de investimento patrimonial, tanto em termos culturais, quanto ambientais e ecolgicos. No limite, a elasticidade da noo de patrimnio revela que estamos perante um processo de patrimonializao de um territrio. Este, tornando-se smbolo identitrio de um grupo ou de uma configurao social em vias de
3 Tradicionalmente, o patrimnio rural diz respeito, por um lado, s construes que emergem da esttica involuntria de uma arquitectura sem arquitectos e, por outro lado, s tcnicas e utenslios que materializam o saber-fazer do mundo rural. 8
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
extino, converte-se, ele prprio, em objecto de representao e de transmisso patrimonial, revelando que os processos de patrimonializao se tendem a confundir com processos de territorializao.4 O Programa das Aldeias Histricas da Serra da Estrela e os seus sucedneos emergentes (as Aldeias do Douro Vinhateiro, as Aldeias Alentejanas, as Aldeias do Algarve, as Aldeias de Montanha na Serra da Estrela, as Aldeias do Ca, e as Aldeias de gua no Alqueva) resultam de uma preocupao em criar smbolos da ruralidade profunda, num pas que se urbanizou rpida e drasticamente. Reabilitadas e, no raras vezes, exacerbadas enquanto representaes territoriais e patrimoniais, estas configuraes espaciais mostram que o patrimnio se tornou uma ideologia territorial (Di Mo, 1996), real ou imaginada, de uma sociedade que, parecendo perplexa perante uma transformao sbita, sente a necessidade de se pensar e de se idealizar a si prpria enquanto outra.5 Noutro plano, nas zonas rurais devoradas pelo crescimento urbano, a preocupao patrimonialista no parece ter tanto a ver com a necessidade em salvaguardar a actividade agrcola (o que, em si, j no parece fcil), mas, e sobretudo, conservar uma paisagem agrcola. Esta paisagem agrcola representa, frequentemente, para a prpria populao urbana um elemento definidor da sua prpria identidade. Por isso, a insolvncia das formas de agricultura peri-urbanas se so um problema de natureza econmica, no deixam de traduzir uma importncia simblica e emblemtica que, por vezes, ainda mais importante para cidades onde as mudanas recentes colocam srios problemas identitrios. As cidades capitais
4 Como nota Gui Di Mo (1996), a imbricao entre os conceitos de patrimnio e de territrio marca os processos de patrimonializao ao longo do sculo XX. Essa imbricao comea a revelar-se com as medidas e polticas de proteco dos monumentos em que o prprio espao que circunda os monumentos se torna um objecto patrimonial, pondo em marcha um processo de territorializao do patrimnio. Mas essa imbricao traduz-se tambm numa patrimonializao do territrio, que, paradoxalmente, por intermdio do militantismo ecolgico e neo-ruralista de finais do sculo XX, leva a que o territrio se cristalize e se torne mais tangvel do que quando era ocupado e valorizado por sociedades mais fechadas sobre si prprias e mais dependentes desse espao. 5 Na sequncia do lanamento do Programa das Aldeias Histricas de Portugal, no mbito do ProCentro (1994-1999), tm vindo a ser idealizados e executados, sob a gide do Ministrio do Planeamento e das Comisses de Coordenao Regionais, vrios programas de criao de aldeias tpicas que se pretendem temticas. Se os objectivos iniciais destes programas visavam recuperar o patrimnio construdo e salvaguardar os valores paisagsticos das aldeias seleccionadas, com a consolidao e multiplicao dos programas foram fixados novos objectivos voltados para a dinamizao socioeconmica das aldeias, a fixao e atraco de populao e a criao de uma imagem e de um programa de animao para cada uma delas. Os novos objectivos e as estratgias que visam concretiz-los fomentam a elasticidade da noo de patrimnio. A tnica em programas de animao especficos e na difuso de imagens positivas revela que o patrimnio corresponde, de facto, a uma segunda vida das coisas num contexto de promoo de novos usos e funcionalidades. As Aldeias de gua, no Alqueva, so um exemplo paradigmtico de uma tentativa de funcionalizar, com base num elemento paisagstico que ainda nem sequer existe (o maior lago artificial da Europa que a barragem do Alqueva vir pr em cena), conjuntos de construes e objectos que tinham vindo a ser colocados, por via da desertificao, fora do seu campo utilitrio inicial. 9
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
de distrito situadas fora das reas metropolitanas conservam, nas paisagens rurais que as circundam, smbolos importantes da sua prpria identificao que tendem a funcionar, com frequncia, como recursos estratgicos das novas imagens urbanas que as polticas locais procuram promover e como emblemas de uma sustentabilidade no ameaada pelas presses urbanas das grandes cidades. Num pas onde a trama urbana se caracteriza por uma rede significativa de pequenas e mdias cidades, a manuteno da paisagem agrcola peri-urbana representa um dos maiores desafios que muitas cidades portuguesas enfrentam presentemente. A ttulo exemplificativo, como constatmos em Frias e Peixoto (2002), analisando concretamente o caso de Coimbra, os smbolos da ruralidade envolvente so, frequentemente, instrumentalizados no contexto da animao e da estetizao dos centros histricos das cidades. As tradies e os produtos tpicos so recursos centrais das estratgias de desenvolvimento urbano apostadas em fomentar o mercado do lazer e do turismo histrico e patrimonial e em promover a difuso de novas imagens. Acresce que, no contexto do turismo histrico e patrimonial, as cidades receptoras destes fluxos adoptam crescentemente estratgias de diversificao dos produtos tursticos. Estas estratgias, visando contrariar a massificao de produtos tursticos, orientam-se predominantemente para circuitos alternativos onde as ideias de natureza e de ruralidade ganham uma centralidade inusitada. No que respeita segunda dimenso dos processos de patrimonializao, a transformao da relao temporal que caracteriza esses processos, a histeria do patrimnio revela que a dimenso patrimonial de um qualquer objecto , com frequncia, uma construo social temporalmente deslocada do momento da sua construo fsica. , alis, a evidncia deste deslocamento, caracterizada por episdios de inveno de tradies (Hobsbawm e Ranger, 1983) e de idealizao e imaginao do passado (Lowenthal, 1989 e 1996), que acentua a prpria histeria patrimonial. Quando uma sociedade ou um grupo social cria novos objectos e novos ambientes, que traduzem uma evoluo das suas formas de organizao, das suas necessidades, das suas concepes intelectuais, morais, religiosas ou estticas, a conscincia de evoluo progressiva no est necessariamente presente nem predominantemente um acto intencional.6 A noo patrimonial est geralmente ausente nas aces concretas de transformao social que ocorrem nos domnios da cadeia de produo, mesmo quando essas aces so motivadas pela procura da perfeio tcnica ou at esttica. Os valores dominantes no seio dessas aces remetem, sobretudo, para questes relacionadas com a eficincia e o mercado (Colardelle, 1998).
6 Daniel Fabre (2000) exclui deste padro de emergncia da conscincia patrimonial os monumentos histricos e o patrimnio monumental em geral. Frequentemente, enquanto instrumentos de reproduo simblica, muitos monumentos e variados objectos que se tornam alvo de polticas de musealizao revelam, no momento da sua fundao, uma preocupao estetizante e de simbolizao. 10
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
Porm, uma das caractersticas mais reveladoras da histeria do patrimnio a reduo drstica do tempo necessrio para fazer emergir uma conscincia patrimonial. A ocorrncia de aceleraes repentinas da histria, como as que se manifestaram a partir do sculo XVIII com a Revoluo Industrial, a difuso instantnea e em larga escala da informao, ou o prprio aumento da esperana de vida, despertaram nos indivduos e nos grupos sociais uma sensibilidade relativa ao valor patrimonial das suas obras e produes. As aceleraes bruscas e as catstrofes ocorridas no sculo XX (das guerras mundiais aos atentados em larga escala, dos riscos ambientais e biolgicos s epidemias emergentes, das mudanas tecnolgicas e econmicas ao adensamento do fosso entre a riqueza e a misria) fazem com que o tempo de uma nica gerao seja suficiente para se desenvolver uma conscincia patrimonial, tal a sensao de evoluo progressiva e a experincia do risco de se perder algo de fundamental. Como nota Michel Colardelle (1998), qualquer mudana conduz fatalmente ao desaparecimento de elementos que fazem parte do dia-a-dia das prticas: pessoas, comportamentos, saberes, objectos, ambientes construdos ou paisagens. nestes momentos que se produz, frequentemente de uma maneira violenta, a tomada de conscincia patrimonial, sob a forma de um recusa do desaparecimento que, para ser socialmente aceite, deve ser justificada a partir de uma noo de valores. A velha quinta ou o imvel urbano considerados insalubres adquirem um valor afectivo ou esttico (uma distino que nem sempre evidente), as mquinas obsoletas de uma fbrica que acaba de ser fechada, mesmo que tenham sido fonte de sofrimento ou de alienao para os seus utilizadores, tornam-se testemunhos de uma tecnologia e de um tempo considerados perfeitos (um tempo imaginado e idealizado); tecnologia volta da qual, afinal, parecem ter-se formado comunidades solidrias. Sem ironia, quem pode afirmar peremptria e honestamente que h vinte ou trinta anos atrs era to sensvel quanto o hoje ao patrimnio industrial ou rural?
A histeria do patrimnio , finalmente, justificada pelo aparecimento de um activo e numeroso grupo de profissionais,7 que remete para uma terceira dimenso importante dos
7 O termo profissionais, relativizado pelas aspas, utilizado em sentido lato. Na verdade, no se trata de profissionais com uma correspondncia formal na classificao das profisses, mas de um conjunto diversificado de amadores, polticos e tcnicos que investem forte e voluntariosamente nas aces de patrimonializao. Contudo, no sentido mais estrito do termo, o sector do patrimnio tem, na verdade, vindo a revelar em anos recentes um grande dinamismo no domnio da profissionalizao. Em Portugal, tal como noutros aspectos da realidade nacional, o processo de formatao e de definio das novas profisses ligadas ao patrimnio realizouse em perodos de tempo muito curtos. O campo do patrimnio no apresenta, neste aspecto, muitas diferenas relativamente a outras reas que se desenvolveram no mbito da aplicao dos princpios do Estado-providncia. A profissionalizao rpida, como, por exemplo, a institucionalmente enquadrada pela criao de Gabinetes Tcnicos Locais a partir de finais dos anos oitenta, concretizou-se, em boa medida, sem qualquer referncia a um marco conceptual prvio, sem que fosse definido o perfil profissional mais aconselhvel e quase sem quaisquer exigncias de formao especficas. 11
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
processos de patrimonializao: a emergncia de uma lgica de gesto do patrimnio. Qualquer que seja a natureza das causas de afirmao de uma lgica de gesto do patrimnio (a celebrao do passado ou os desafios do futuro) e qualquer que seja o nvel de profissionalizao, os profissionais parecem frequentemente estar contagiados por uma espcie de excitao febril que explica, quer a elasticidade da noo de patrimnio, quer a reduo temporal que marca os processos de patrimonializao. Nesse contexto, eles so, recorrentemente, representados como verdadeiros profetas de uma nova religio: a patrimonializao. A f inabalvel que parece mover amadores e polticos, a sua capacidade de sensibilizao, o seu sentido de militncia, a que podemos acrescentar o hermetismo da linguagem dos tcnicos, o carcter absoluto e definitivo que conferem doutrina que apregoam, o monoplio e a rigidez dos seus ritos, um certo proselitismo, mas tambm uma forte abnegao e um elevado esprito de misso (Colardelle, 1998) do forma histeria que marca os processos de patrimonializao. Por outro lado, a histeria do patrimnio que decorre da lgica de gesto no pode deixar de ser analisada e explicada luz do paradoxo que inicia este texto. De facto, se o patrimnio revela o sacrifcio que perder algo de importante, a sua conservao evidencia, desde logo, um conjunto de sacrifcios que s uma lgica de gesto pode enfrentar e suportar a longo prazo. Desde os custos financeiros das operaes de patrimonializao, s aces de promoo e rentabilizao do patrimnio recuperado, passando pelos procedimentos (cada vez mais complexos e morosos) de candidatura e reconhecimento formal dos bens patrimoniais, ou pela necessidade de dispor de certos conhecimentos tcnicos especficos, h um conjunto diversificado de exigncias a que s uma estrutura suficientemente profissionalizada parece poder responder com eficcia. A consolidao de um corpo de profissionais e a sua institucionalizao origina, consequentemente, lgicas de reproduo grupais e de procura de um estatuto e de um reconhecimento pblico que acabam por fomentar a acelerao dos processos de patrimonializao e a histeria patrimonial que os caracteriza. A interveno destes profissionais permite postular que, mais que uma lgica de transmisso e at de gesto, estamos perante uma lgica de produo de patrimnio, o que possibilita a comparao da patrimonializao a uma indstria que depende dos seus empresrios, promotores, operrios e consumidores. O esprito de lugar Alm da transformao recente do mundo rural e da histeria patrimonial, a procura de um esprito de lugar um terceiro processo fundamental para testar a hiptese da descoberta do patrimnio pelos meios rurais. Desde logo, h que notar que a noo de lugar no remete exclusivamente para as coordenadas do local. Ela veicula a ideia e o ideal de razes e de
12
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
um enraizamento contido na noo de gnio, que significa ao mesmo tempo singularidade e continuidade (Frias e Peixoto, 2002). O patrimnio, independentemente dos artefactos que o constituem, , acima de tudo, uma representao desses ideais de singularidade e de continuidade. Enquanto construo, essa representao procura destacar o carcter nico de algo, que no s remete, frequentemente, para um mito das origens de um dado grupo social, ou para um momento dramtico ou glorioso da sua existncia colectiva, como se apresenta enquanto instrumento incontornvel do seu futuro. O interesse em dissociar o processo de histeria patrimonial do processo de procura de um esprito de lugar prende-se, devemos salient-lo, com o facto deste ltimo nos permitir dar conta de objectivos concretos ligados s trs dimenses da patrimonializao que traduzem a histeria patrimonial.8 A intensificao da patrimonializao que essas trs dimenses traduzem , assim, uma resposta a desafios urgentes que se colocam concretamente, embora no em exclusivo, aos meios rurais. A dissociao destes dois processos permite ainda reforar o argumento que o patrimnio, na sua funo de simbolizao e de estratgia representacional, adquire uma centralidade inusitada nos processos de identificao e de promoo locais, o que o liga pelo menos tanto ao futuro dos lugares quanto ao seu passado. As transformaes recentes dos meios rurais, a crise que os atravessa, a perda de centralidade das actividades agrcolas e os desafios que enfrentam configuram um cenrio de mudana identitria desses lugares. Parece bvio que a regenerao dos lugares em crise passa pela captao de novos residentes, visitantes, actividades econmicas e mercados externos que absorvam os produtos da economia local. Mas passa tambm, uma vez que da depende, precisamente, o sucesso desses objectivos, pela transformao da identidade simblica desses lugares. neste contexto que a instrumentalizao e a criao de smbolos, caractersticas dos processos de patrimonializao, pem em marcha uma descoberta do patrimnio pelos meios rurais. O processo de procura de um esprito de lugar revela que nenhum espao est protegido por qualquer valor simblico permanente que lhe confira um estatuto patrimonial perene. Qualquer artefacto patrimonial necessita, para subsistir e perdurar, de ser alvo de uma reinveno ou de uma reactivao por indivduos que o introduzem no seu quotidiano. Por isso, numa poca de grande transformao, a descoberta do patrimnio pelos meios rurais traduz-se na constatao que necessrio repensar certos espaos e objectos em funo de novos usos, atribuindo-lhes outras finalidades e integr-los, mesmo que tenham sido
8 Reconhecemos que, na prtica, os dois processos se confundem, uma vez que a busca de um esprito de lugar se caracteriza por uma histeria patrimonial (uma busca minuciosa e activa do detalhe) e que esta , por sua vez, geradora de factores de diferenciao local e de fenmenos de inveno de particularismos e de lugares. 13
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
marginalizados durante muito tempo, nas dinmicas do novo desenvolvimento local. A nsia manifestada por inmeros lugares em promover smbolos de singularidade que se perdem na bruma dos tempos, sejam atraces naturais, paisagsticas, arquitectnicas, gastronmicas ou certas caractersticas dos seus residentes (como a hospitalidade ou um carcter sui generis, por exemplo), mostra que, nalguns casos, o patrimnio se tem vindo a afastar progressivamente de uma dimenso retrica e folclrica, elevando-se posio de varivel estratgica do ordenamento e da promoo local. Uma questo que o processo de procura de um esprito de lugar pode levantar a de saber em que situao fica uma dada identidade local que reinterpretada e posta em causa atravs da criao de novos valores simblicos e dos novos usos do patrimnio. Outra questo pertinente est em saber em que medida as singularidades garantidas por um patrimnio herdado e fabricado funcionam como smbolos de identificao para eventuais novos residentes. Sem entrarmos nas vrias dimenses que estas questes suscitam, diramos que, a um nvel geral, a situao se caracteriza por um paradoxo. O processo de transformao recente do mundo rural, a histeria patrimonial e a procura de um esprito de lugar que o acompanham, tanto configuram situaes em que a mobilidade scio-espacial desemboca em formas de territorializao diversas e superficiais, como traduzem formas de ligao ao lugar baseadas em territorializaes sedentrias e implicadas. A criao de segundas habitaes (de fim-de-semana) em meios rurais, o desenvolvimento de novas formas de lazer e de turismo (como, por exemplo, os chamados turismo verde e turismo em espao rural), a procura de zonas rurais e peri-urbanas como lugares de residncia fixa e o regresso dos emigrantes aos meios rurais que abandonaram h dcadas, constituem factores que merecem uma ateno acrescida para analisarmos uma eventual regenerao do mundo rural. O esprito de lugar que pode potenciar esta regenerao , no fundo, um territrio patrimonializado, simbolicamente reinventado e reactivado, que pode funcionar como vector de novas identidades e de novas sociabilidades e, nesse sentido, ajudar emergncia de novas dinmicas locais. Concluso Os meios rurais vivem, presentemente, uma efervescncia patrimonial que no pode deixar de ser vista como uma reaco atomizao social e ao desenraizamento causados pela acelerao da vida moderna, pela desertificao dos campos e pelo ritmo de desaparecimento dos modos de vida tradicionais. O patrimnio funciona, neste contexto, como uma inveno cultural, uma forma de reanimar o presente atravs da atribuio de uma segunda vida a um passado inerte e supostamente longnquo. A refuncionalizao desse passado, oscilando entre a reactivao, a reinveno e a idealizao, adquire formas diversas de caso para caso. No
14
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
limite, ela balana entre uma dimenso retrico-folclrica e uma dimenso que remete para projectos concretos de ordenamento e de promoo local. Nesse sentido, a descoberta do patrimnio pelos meios rurais tanto pode consistir em descobrir algo que j existia, mas que tendo deixado de estar integrado nas prticas quotidianas redescoberto para novas funes (uma segunda vida), como manifestar-se atravs de operaes de inveno e de encenao de uma singularidade e de uma continuidade. Esta descoberta traduz-se, sobretudo, em operaes de valorizao simblica, cujo objectivo ltimo responder a uma situao de crise acentuada. O que acaba por a distinguir so as caractersticas dos processos de patrimonializao que a efectivam: o alargamento infinitamente elstico da noo de patrimnio, a reduo drstica do tempo necessrio para fazer eclodir uma conscincia patrimonial e a emergncia e consolidao de um numeroso e activo grupo de profissionais.
15
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
Referncias bibliogrficas Abdelmalek, Ali At (2000), Lexploitation familiale agricole: entre permanence et volution, Economie rurale, 255/256, 40-52. Almeida, Joo Ferreira de (1986), Classes sociais nos campos. Camponeses parciais numa regio do noroeste. Lisboa: Instituto de Cincias Sociais. Ashworth, G. J. (1994), From History to Heritage From Heritage to Identity. In Search of Concepts and Models, in Greg Ashworth e P. Larkham [orgs.], Building a New Heritage. Tourism, Culture and Identity in the New Europe. Londres e Nova Iorque: Routledge, 13-30. Barthelemy, Tiphaine e Weber, Florence [orgs.] (1989), Les campagnes livre ouvert. Regards sur la France rurale des annes trente. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Babelon, Jean-Pierre e Chastel, Andr (1994), La notion de patrimoine. Paris: Liana Levi. Bourdin, Alain (1984), Le patrimoine rinvent. Paris: PUF. Bourgeois, Lucien e Demotes-Mainard, Magali (2000), Les cinquante ans qui ont chang lagriculture franaise, Economie rurale, 255/256, 14-20. Caleiras, Jorge (1999), Globalizao, nova ordem regulatria agrcola e mal-estar social. Estudo dos conflitos rurais em Portugal entre 1986 e 1996. Tese de mestrado em sociologia: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Chiva, Isac (1997), Le patrimoine rural in Actes des entretiens du patrimoine [Science et conscience du patrimoine]. Paris: Fayard, 227-231. Choay, Franoise (1992), Lallgorie du patrimoine. Paris: Seuil. Colardelle, Michel (1998), Les acteurs de la constituition du patrimoine: travailleurs, amateurs, professionnels in Actes des entretiens du patrimoine [Patrimoine et passions identitaires]. Paris: Fayard, 123-135. Costa, Paula Reis (1999), Agricultores e risco ambiental: atitudes, valores e prticas num contexto de revalorizao social dos espaos rurais. Tese de mestrado em sociologia: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
16
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
Davallon, Jean; Micoud, Andr e Tardy, Ccile (1997), Vers une volution de la notion de patrimoine? Rflexions propos du patrimoine rural in Daniel J. Grange e Dominique Poulot [orgs.], Lesprit des lieux. Le patrimoine et la cit. Grenoble: Presses Universitaires de Greboble, 195-205. Delfosse, Pascal (1988), Cest beaucoup chang dedans le temps. Ruralit en transition. Bruxelas: Editions De Boeck. Desvalles, Andr (1995), Emergence et cheminement du mot patrimoine, Muses et collections publiques de France, 208, 6-29. Di Mo, Guy (1996), Production des identits et attachement au lieu in Yvon Lamy [org.], Lalchimie du patrimoine - discours et politiques. Talence: Editions de la Maison des Sciences de lHomme dAquitaine, 247-276. Fabre, Daniel (2000), Lethnologie devant le monument historique in Daniel Fabre [org.], Domestiquer lhistoire - Ethnologies des monuments historiques. Paris: ditions de la Maison des Sciences de lHomme, 1-29. Fortuna, Carlos (1997), Destradicionalizao e imagem da cidade o caso de vora in Carlos Fortuna [org.], Cidade, Cultura e Globalizao. Oeiras: Celta, 231-257. Frias, Anbal e Peixoto, Paulo (2002), O reencantamento da cidade? Modos e efeitos da estetizao do patrimnio urbano de Coimbra. Contextos (edio especial) - Actas do encontro temtico intercongressos da APS [Cidade e culturas: novas polticas/novas urbanidades], Associao Portuguesa de Sociologia. Grange, Daniel J. e Poulot, Dominique [orgs.] (1997), Lesprit des lieux. Le patrimoine et la cit. Grenoble: Presses Universitaires de Greboble. Guillaume, Marc (1980), La politique du patrimoine. Paris: Editions Galile. Guillaume, Marc (1990), Invention et stratgies du patrimoine, in Henry-Pierre Jeudy [org.], Patrimoines en folie. Paris: Editions de la Maison des Sciences de lHomme. Hespanha, Pedro (1994), Com os ps na terra - Prticas fundirias da populao rural portuguesa. Porto: Afrontamento. Hobsbawm, Eric e Ranger, Terence [orgs.] (1983), The Invention of Tradition. Oxford: Blackwell.
17
Os meios rurais e a descoberta do patrimnio
Jeudy, Henry-Pierre (1990), Introduction, in Henry-Pierre Jeudy [org.], Patrimoines en folie. Paris: Editions de la Maison des Sciences de lHomme. Lamy, Yvon [org.] (1996), Lalchimie du patrimoine - discours et politiques. Talence, Editions de la Maison des Sciences de lHomme dAquitaine. Lockie, Stewart e Lyons, Kristen (2001), Renegotiating Gender and the Symbolic Transformation of Australian Rural Environments, International Journal of Sociology of Agriculture and Food, vol. 9, 1, 43-58. Lowenthal, David (1989), Nostalgia Tells it Like it Wasnt, in Christopher Shaw e Malcom Chase [orgs.], The Imagined Past - History and Nostalgia. Manchester e Nova Iorque: Manchester University Press, 18-32. Lowenthal, David (1996), Possessed by the Past - The Heritage Crusade and the Spoils of History. Nova Iorque: The Free Press. Martin-Granel, Nicolas (1999), Malaise dans le patrimoine. Cahiers dEtudes Africaines. [Prlever, exhiber. La mise en muses], XXXIX (3-4), 155/156 , 487-510. Monteiro, Paulo (1985), Terra que j foi terra. Anlise sociolgica de nove lugares agropastoris da Serra da Lous. Lisboa: Salamandra. Pascual, Francisco Garca e Larrul, Antonio (1998), Los cambios recientes en la evolucin demogrfica de las reas rurales catalanas: de la crisis al crescimiento, Agricultura y Sociedad, 86, 33-63. Peixoto, Paulo (1997), Imagens e usos do patrimnio urbano no contexto da globalizao. Tese de mestrado em sociologia: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Reis, Jos (2001), Observar a mudana: o papel dos estudos rurais. Oficina do CES, 165. Sanz, Benjamn Garca (1998), La sociedad rural de Castilla y Len ante el prximo siglo. Madrid: Junta de Castilla y Len.
18
Você também pode gostar
- Artigo Singa 2011 Hidrelétricas Reginaldo Castela & Nazira Camely Versão FinalDocumento20 páginasArtigo Singa 2011 Hidrelétricas Reginaldo Castela & Nazira Camely Versão FinalreginaldocastelaAinda não há avaliações
- Artigo de RedesDocumento20 páginasArtigo de RedesGuido D AngeloAinda não há avaliações
- O Capital Do Homem Cordial Uma Reflexão Sobre Costumes Fonte Mediata Do Direito e Escolhas Políticas - Por Mayra Matuck Sarak - Empório Do DireitoDocumento3 páginasO Capital Do Homem Cordial Uma Reflexão Sobre Costumes Fonte Mediata Do Direito e Escolhas Políticas - Por Mayra Matuck Sarak - Empório Do DireitoMayra MatuckAinda não há avaliações
- A Crise Orgnica Estimulada Na Segurana Pblica BrasileiraDocumento23 páginasA Crise Orgnica Estimulada Na Segurana Pblica BrasileiraFake fulanoAinda não há avaliações
- Maria João Cabrita - Manuel Da Silva Mendes - Socialismo Libertário Ou Anarchismo PDFDocumento5 páginasMaria João Cabrita - Manuel Da Silva Mendes - Socialismo Libertário Ou Anarchismo PDFMephistophelisAinda não há avaliações
- Cinema de Poesia - Pasolini e o Conceito de Realidade X Representação (Imagem) PDFDocumento110 páginasCinema de Poesia - Pasolini e o Conceito de Realidade X Representação (Imagem) PDFIgor Capelatto IacAinda não há avaliações
- Capitalismo Tardio e Sociabilidade ModernaDocumento20 páginasCapitalismo Tardio e Sociabilidade ModernaAlexandra Pollo100% (1)
- As Microcervejarias No Brasil Atual - Eduardo MarcussoDocumento171 páginasAs Microcervejarias No Brasil Atual - Eduardo MarcussoodairnettoAinda não há avaliações
- Sabado De6a12 11 14 PDFDocumento176 páginasSabado De6a12 11 14 PDFnjmartinsAinda não há avaliações
- Morte e Vida de Grandes CidadesDocumento11 páginasMorte e Vida de Grandes CidadesHeitor Vianna MouraAinda não há avaliações
- Ebook - Diversidade e Antidiscriminação 2022 - TJMADocumento271 páginasEbook - Diversidade e Antidiscriminação 2022 - TJMAMARCO ADRIANO RAMOS FONSECAAinda não há avaliações
- RABARDELDocumento11 páginasRABARDELTatiana KleiAinda não há avaliações
- Dissertação - Girlene Chagas Bulhões - 2017Documento193 páginasDissertação - Girlene Chagas Bulhões - 2017zumbidomalAinda não há avaliações
- LAPERRIÈRE, Anne, 2008. Teorização Enraizada (Grounded Theory)Documento36 páginasLAPERRIÈRE, Anne, 2008. Teorização Enraizada (Grounded Theory)Oni-san0% (1)
- Web Ca 1Documento272 páginasWeb Ca 1Renata Camila DuarteAinda não há avaliações
- Alienação e A Influência Da Mídia No Consumismo Dos Futuros AdultosDocumento6 páginasAlienação e A Influência Da Mídia No Consumismo Dos Futuros AdultosdudtibryAinda não há avaliações
- Esportivização Do Taekwondo Tese de MestradoDocumento114 páginasEsportivização Do Taekwondo Tese de MestradoSindiplam Sindicato dos Profissionais em Lutas, Artes Marciais e Defesa PessoalAinda não há avaliações
- Distrito de MogovolasDocumento32 páginasDistrito de MogovolasAdérito Varela100% (1)
- O BRASIL REPUBLICANO E A EXPANSÃO DA ESCOLA PÚBLICA - ValadaresDocumento24 páginasO BRASIL REPUBLICANO E A EXPANSÃO DA ESCOLA PÚBLICA - ValadaresleticiaftdsnAinda não há avaliações
- Ministério Da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás Câmpus AnápolisDocumento22 páginasMinistério Da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás Câmpus AnápolisGustavo MatiasAinda não há avaliações
- BICS e CALP-Susan-PortuguesDocumento16 páginasBICS e CALP-Susan-PortuguesVALESKA RENATA LEIVASAinda não há avaliações
- Projeto de Oficina PedagogicaDocumento6 páginasProjeto de Oficina Pedagogicathomas100% (1)
- Habilidades Essenciais de Língua Inglesa 2021Documento7 páginasHabilidades Essenciais de Língua Inglesa 2021Genilza Batista SouzaAinda não há avaliações
- Programa Pais Atentos... Pais Presentes PDFDocumento144 páginasPrograma Pais Atentos... Pais Presentes PDFDébora RodriguesAinda não há avaliações
- Peter DuckerDocumento9 páginasPeter DuckerBeto SlepickaAinda não há avaliações
- Slide GriotsDocumento16 páginasSlide GriotsZina PinheiroAinda não há avaliações
- Mulheres e Espaços de Poder - Um Estudo de Caso Sobre As Relações de Poder No Sinttel-Rio - Luanda LimaDocumento141 páginasMulheres e Espaços de Poder - Um Estudo de Caso Sobre As Relações de Poder No Sinttel-Rio - Luanda LimaMariana LimaAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO DE SOCIOLOGIA 2 AnoDocumento1 páginaAVALIAÇÃO DE SOCIOLOGIA 2 Anorosana100% (1)
- Teoria Do Desenvolvimento EconômicoDocumento10 páginasTeoria Do Desenvolvimento EconômicoAnonymous 6SbCKxAinda não há avaliações
- A Questão Fundamental de Tudo Que É Ética RelacionaDocumento2 páginasA Questão Fundamental de Tudo Que É Ética RelacionaDércio Humberto EvaristoAinda não há avaliações