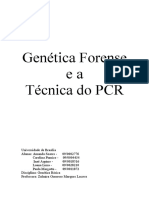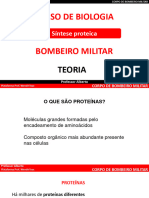Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Bio Celular 2
Bio Celular 2
Enviado por
anacamps0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações66 páginasDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações66 páginasBio Celular 2
Bio Celular 2
Enviado por
anacampsDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 66
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CINCIAS NATURAIS E EXATAS
CURSO DE CINCIAS BIOLGICAS
Caderno Didtico de
Biologia Celular (BLG 138)
lgion Loreto
Departamento de Biologia -2005
Sumrio:
Pgina
Introduo 3
Primeira Parte
Uma breve reviso de Biologia Celular 4
A lgica da composio molecular dos seres vivos 4
Estruturas supra-moleculares e a emergncia de novas propriedades 12
A organizao celular: o conceito de clula mnima 16
Da clula procaritica para a clula eucaritica 24
Segunda Parte
Recomendaes de ordem geral a serem observadas no uso do Laboratrio. 27
O uso do microscpio ptico (mo) 29
Observando clulas de epitlio de escamas de cebola 40
Propriedades fsico-qumicas dos componentes da membrana plasmtica. 41
Comparando clulas procariotas e eucariotas. 42
Um pouco de fsico-qumica: pH 44
Estudando a passagem de solutos e solventes pela membrana plasmtica. 47
Fracionamento celular :
centrifugao. 49
cromatografia 51
eletroforese 53
Observao de ciclose e cloroplastos em clulas de Elodea 54
Observando clios e sistema de endomembranas 57
Preparao de lminas permanentes 59
Observao de complexo de Golgi em lminas permanentes de epiddimo 60
Observao de clulas musculares estriadas 61
Observao de mitose em ponta de raiz de cebola 62
Atividades de prticas de biologia como componente
de formao pedaggica.
atividade 1 Biologia na cozinha. 65
atividade 2 - O uso de modelos didticos e simulaes 65
2
INTRODUO
Biologia Celular (BLG 138) uma disciplina do primeiro semestre, e ministrada com duas
horas/aula (h/a) tericas e duas h/a prticas semanais.
Os principais objetivos da disciplina so o dar ao aluno:
- uma viso atual da organizao e funcionamento celular, assim como o domnio dos
conceitos bsicos dessa rea do conhecimento;
- uma viso histrica sobre as principais descobertas que levaram aos paradigmas atuais
dessas cincias;
- instrumentalizao para busca de informao e atualizao, de forma autnoma nessa
rea do conhecimento;
- instrumentalizao para o desenvolvimento de atividades didticas de Biologia Celular,
para todos os nveis de ensino, incluindo as atividades prticas.
O presente Caderno Didtico foi escrito para auxiliar a atingir os objetivos descritos acima.
Para tal, ele consta de duas parte:
1
a
) Uma breve reviso terica atualizada, porm escrita em nvel de ensino mdio. Este
texto servir de base para as primeiras semanas de aula terica que consistir de uma reviso
geral de Biologia Celular.
2
a
) Protocolos das aulas prticas. Estas atividades sero executadas durante as aulas
prticas e cabe ao aluno fazer o registro solicitado nos protocolos. Pensamos ser este material
uma posterior fonte de consulta para a execuo de atividades didticas.
O aprofundamento terico, que se seguir reviso apresentada na primeira parte deste
Caderno Didtico ser feito a partir da seguinte bibliografia:
CARVALHO, H.F. e RECCO-PIMENTEL, S.M. A clula 2001. Barueri,SP, Ed. Manole, 2001.
JUNQUEIRA , L.C. e CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 7
a
Ed. Rio de Janeiro,
Guanabara-Koogan, 2000.
DeROBERTIS, E.D.P. e DeROBERTIS, E.M.F. Bases da Biologia Celular e Molecular. 14 ed, Rio
de Janeiro, Guanabara-Koogan, 2003.
COOPER, G.M. A clula, uma abordagem molecular. 2 ed P. Alegre, Artes Mdicas, 2001.
ALBERTS, B. e colaboradores. Fundamentos da Biologia Celular. P. Alegre, Artes Mdicas,
1999.
ALBERTS, B. e colaboradores. Biologia Molecular da Clula. 4 ed. P. Alegre, Artes Mdicas,
2004.
3
Uma breve reviso de Biologia Celular
Unidade I
A lgica da composio molecular
dos seres vivos:
DE QUE SO FEITAS AS CLULAS?
Os conceitos primordiais para o
entendimento dos seres vivos so aqueles
relacionados aos tipos de molculas que os
compem. Os seres vivos so formados por
clulas e todas as clulas so constitudas
pelos mesmos componentes qumicos,
organizados em uma lgica muito simples:
tomos se agrupam para formar molculas,
estas, nos seres vivos so as vezes muito
grandes, e por isto chamadas de
macromolculas, que se associam para
formar as organelas e demais partes da
clula. (Figura 1).
Figura 1. Organizao das estruturas
celulares a partir dos tomos.
1. A gua e suas propriedades especiais
A gua a molcula mais abundante
nos sistemas vivos e perfaz 70%, ou mais, do
peso da maioria das formas de vida. Sempre
admitimos a gua como um lquido inerte,
suave, conveniente para muitos propsitos
prticos. Embora seja quimicamente estvel,
ela uma substncia com propriedades
incomuns. Na verdade, a gua e seus
produtos de ionizao, os ons H+ e OH-,
influenciam profundamente nas propriedades
de muitos componentes importantes das
clulas, como as enzimas, as protenas, os
cidos nuclicos e os lipdios.
A molcula da gua eletricamente
neutra, mas o arranjo dos tomos de
hidrognio e oxignio em forma de V torna
essa molcula um dipolo eltrico. Pela
presena dos dois plos (+ e -) a gua dita
um solvente polar.
A gua melhor solvente do que a
maioria dos lquidos comuns. Quase todos os
sais minerais, podem ser dissolvidos na gua
sob forma de ons, como por exemplo, os
ons de Na
+
, Cl
-
, K
+
, Mg
++
. Estes ons, em
especial, so de fundamental importncia no
controle da quantidade de gua nas clulas
(presso osmtica), e atuam tambm no
funcionamento de muitas enzimas e na
excitabilidade das clulas.
As molculas orgnicas, que so as
molculas mais importantes na constituio e
4
funcionamento dos seres vivos, podem
apresentar trs diferentes comportamentos
com relao a gua: a) so solveis (se
solubilizam totalmente na gua, como a
maioria dos glicdios); b) so insolveis (por
exemplo, as gorduras neutras), ou c) so
anfipticos, isto , possuem uma parte da
molcula que se dissolve na gua e outra
que insolvel. Temos,como exemplo desse
ltimo tipo, os lipdios e protenas que
compem as membranas.
A forma e propriedades funcionais
que as macromolculas vo apresentar so
profundamente influenciadas pelo modo com
que elas interagem com a gua. Sendo
assim, esse lquido inodoro, incolor e sem
gosto desempenha, no funcionamento
celular, um papel muito importante.
2. As molculas orgnicas
Em uma primeira observao,
podemos constatar que os seres vivos so
quimicamente muito complexos. Suas
molculas orgnicas so gigantescas
quando comparadas as molculas dos seres
brutos e, alm disso, so extremamente
variveis. Por exemplo, um organismo bem
simples como uma bactria, pode ter mais de
2.000 protenas diferentes. Um ser humano
deve ter em torno de 100.000 tipos de
protenas.
Como poderemos estudar
quimicamente estes seres, se, considerando
somente as protenas, temos uma
diversidade to grande ?
Esta tarefa, que aparentemente
impossvel, torna-se facilitada pelo fato de
que as molculas biolgicas podem ser
organizadas em apenas 4 classes. Alm
disso, deve-se levar em conta que as
molculas orgnicas so formadas por,
aproximadamente, 30 componentes bsicos.
Entender esta classificao fundamental
para a compreenso da qumica da vida.
As quatro classes de molculas
orgnicas que esto presentes nas clulas
so as seguintes:
A) Glicdios (tambm chamados de
acares ou carboidratos)
B) cidos nuclicos
C) Protenas
D) Lipdios (gorduras)
As trs primeiras classes formam
MOLCULAS POLIMRICAS, isto , so
molculas compostas por unidades que se
repetem, denominadas MONMEROS.
Figura 2. Formao de polmeros
Podemos resumir a composio das
macromolculas orgnicas dos seres vivos
na Figura 3, em que encontramos os tomos
que compem cada classe de
macromolcula, os monmeros de cada
classe e o polmero formado.
5
Devemos lembrar que na Figura 3 as
molculas polimricas aparecem formadas
por poucos monmeros, mas na realidade,
geralmente, elas so formadas por milhares
deles.
Figura 3. Classes de molculas presentes
nas clulas
Como podemos ver na Figura 3, seis
principais tipos de tomos vo formar todas
as molculas orgnicas dos seres vivos.
Estes seis elementos se organizam em
aproximadamente 30 40 tipos de molculas
(os monmeros) que podem ser classificados
por sua estrutura qumica em 4 grupos.
No grupo dos glicdios, o principal
monmero a glicose. Nas protenas, os
monmeros so 20 diferentes aminocidos
e, nos cidos nuclicos, so basicamente
8 nucleotdeos. Somando-se a estes alguns
tipos predominantes de lipdeos, teremos
ento, aproximadamente os 30- 40
componentes qumicos bsicos, e suas
variaes, que so predominantes nos
seres vivos.
2.1 PROTENAS
As protenas so as molculas
responsveis pelo funcionamento da
clula.
Praticamente todas as atividades da
clula e, portanto, de um organismo so
executadas por protenas.
O transporte de substncias
realizado por protenas, como por exemplo, a
HEMOGLOBINA que transporta oxignio. O
movimento das organelas no interior da
clula, e mesmo o movimento proporcionado
pelos msculos, como um todo, resultado
da interao de protenas como a TUBULINA
e DINEIRA; a ACTINA e a MIOSINA. A
proteo do nosso corpo contra os
microrganismos que causam doenas dada
pela ao de ANTICORPOS, que so
protenas. Todas as reaes qumicas que,
constantemente, esto ocorrendo em nosso
organismo, so realizadas por protenas
especiais chamadas de ENZIMAS. Enfim,
todo o funcionamento do nosso organismo se
d graas atividade das PROTENAS.
Cada uma dessas funes
realizada por uma protena diferente. Existe,
6
no corpo humano, cerca de 100.000 tipos
diferentes de protenas, cada uma sendo
especialista em uma funo.
As protenas so construdas a partir
de 20 tipos de aminocidos, que diferem
entre si atravs de uma parte da molcula,
chamada de radical.
Figura 4 - Os 20 aminocidos que compe
as protenas
As protenas so formadas pela
unio de 100 ou mais aminocidos. O que vai
diferenciar uma protena de outra a
seqncia dos aminocidos que a compem.
Como existem 20 diferentes tipos desses
aminocidos e as vrias protenas podem ter
comprimentos diferentes, temos uma
diversidade muito grande nessa classe de
macromolculas (figura 4). Por exemplo, a
enzima ribonuclease bovina formada por
124 aminocidos, j a albumina do soro
humano formada por 528 aminocidos.
A seqncia de aminocidos que
compe uma protena, recebe o nome de
estrutura primria . A substituio de um
nico aminocido em uma cadeia protica,
provoca uma alterao na estrutura primria
dessa protena. A conseqncia da
modificao pode ser grave, resultando em
uma nova protena que no funcione
corretamente dentro da clula.
Chamamos de estrutura secundria a
interao entre os aminocidos vizinhos um
uma cadeia polipeptdica. A interao entre
radicais + e ou hidrofbicos e hidroflicos
fazem com que parte da cadeia se organize
em hlice ou pregas (folhas) .
Na Figura 5, est representada a
estrutura primria da ribonuclease bovina, que
uma enzima que degrada o RNA. Na
estrutura primria, est explcito apenas qual
a ordem dos aminocidos que compem uma
protena, ou seja, qual o primeiro, o segundo,
o terceiro... at o ltimo aminocido.
Figura 5. Estrutura primria da ribonuclease bovina
A estrutura terciria de uma
protena, por sua vez, aquela que
representa como a sua forma
tridimensional. O formato da mioglobina, ou
seja, sua estrutura terciria representada
na da Figura 6. A estrutura terciria das
7
protenas depende da seqncia de
aminocidos (estrutura primria).
Figura 6. Estrutura secundria e
terciria da mioglobina.
Forma e Funo das Protenas
Para todo o lado que olhamos,
podemos observar que a forma dos objetos
que ditam a sua funo. Na Figura 7, temos a
representao de uma tesoura e de uma
colher. muito difcil cortar um pano com
uma colher, ou comer sopa com uma
tesoura. A forma desses objetos que
permite sua funo.
Figura 7- Relao entre forma e funo
O modo como uma protena ir
desempenhar a sua atividade depender de
sua forma tridimensional, ou seja, depende
de sua estrutura terciria, que em ltima
anlise depende da seqncia de
aminocidos que compe a protena
(estrutura primria).
A troca, acrscimo ou retirada de um
aminocido PODE ocasionar alteraes na
estrutura dessa protena, alterando sua forma
e, portanto, sua funo. A troca de um
aminocido na protena ribonuclease, por
exemplo, a substituio do terceiro
aminocido (treonina) por uma glicina
resultar em uma protena com outra forma
tridimensional e incapaz de executar sua
funo.
Somos formados por aproximadamente 100
trilhes de clulas. As clulas so estruturas
muito organizadas cujo funcionamento ,
essencialmente, realizado por uma classe de
molculas, as protenas. So as protenas
que iro dar forma as estruturas celulares,
transportar substncias, realizar as reaes
qumicas necessrias a sobrevivncia e
crescimento da clula, enfim so elas que
iro pr as clulas a funcionar. Existem
milhares de protenas diferentes em cada
clula. Cada protena est envolvida em uma
funo ou atividade especfica. Diferentes
clulas apresentam protenas diferentes, o
que explica as variaes nas formas e
funes observadas em cada tipo celular
Portanto, para entender o
funcionamento celular temos que olhar com
ateno para as protenas. As protenas so
cadeias de aminocidos. Imagine uma
8
protena como um colar de prolas, cada
aminocido sendo uma prola. Existem 20
diferentes tipos de aminocidos, o que
poderia ser representado em nosso colar por
prolas de 20 cores diferentes. O nmero de
prolas e a seqncia nas cores das prolas
(aminocidos) variam de protena para
protena, como nos dois "colares" vistos na
Figura 8.
Figura 8: Diferentes protenas
podem possuir diferentes nmeros de
aminocidos (como no exemplo aqui temos
um "colar" com 11 e outro com 9 contas). As
protenas diferem tambm com relao a
seqncia de cores das contas do colar
(seqncia de aminocidos).
O nmero de aminocidos varia
de uma protena para outra, as menores
tem em torno de 50 aminocidos e as
maiores perto de 20.000. As protenas se
dobram formando uma estrutura
tridimensional tpica, ou seja cada
protena tem uma forma definida que
depende da seqncia de aminocidos
que possui. essa forma que vai ser
responsvel pela funo da protena.
Observe a sua volta diferentes
objetos e veja como a funo de cada
um deles est relacionada sua forma.
a estrutura tridimensional que permitir
a uma enzima (protena que ativa
reaes qumicas) encaixar-se
perfeitamente ao seu substrato e alter-
lo. Vamos a um exemplo: o fator VIII
uma protena de 2.531 aminocidos e
est envolvida na coagulao sangunea.
A ausncia ou a reduo da atividade
dessa protena no sangue causa a
hemofilia clssica (hemofilia A), condio
em que a pessoa pode morrer devido
hemorragia intensa e de longa durao,
desencadeada por qualquer pequeno
ferimento.
H casos em que os hemoflicos
tm o fator VIII no sangue, porm, essa
protena apresenta alguns dos seus
aminocidos trocados ou faltando, e isso
causa uma alterao no formato
tridimensional dessa protena, impedindo
que ela se ligue com as outras protenas
envolvidas na coagulao sangunea, ou
dificultando essa ligao.
Sabe-se tambm que algumas
substituies de aminocidos na protena
podem ter efeitos menos drsticos,
provocando apenas uma pequena
alterao de forma do fator VIII, sem
comprometer o funcionamento de modo
muito intenso. Neste caso, a pessoa
pode ter um tempo de coagulao um
pouco maior do que a maioria dos
9
indivduos, sendo, no entanto, normal e
no hemoflica.
Enzimas
As enzimas formam uma classe
especial de protenas que tem como funo
catalisar (acelerar) as reaes qumicas.
Cada enzima especializada em
acelerar uma reao especfica. Por
exemplo, a enzima amilase age sobre o
amido e o degrada at glicose. O amido, que
a substncia que vai ser alterada durante a
reao qumica, recebe o nome de
SUBSTRATO.
Na enzima, existe uma regio que se
liga especificamente ao substrato e a esta
regio chamamos de STIO ATIVO. Assim,
aps a interao do substrato com o stio
ativo, ocorre a reao qumica, sendo
liberado o PRODUTO da reao, que no
caso da amilase, a glicose.
As enzimas no se alteram com a
reao qumica que promovem, saindo
intactas do processo, podendo ir localizar
mais substrato para catalisar nova reao
(Ver Figura 9).
Figura 9 Esquema de uma reao enzimtica
As Protenas na Nossa Dieta
As protenas, enquanto
macromolculas, no so essenciais na dieta
humana. Alguns monmeros que formam as
protenas que so considerados essenciais
para nutrio humana.
Os aminocidos chamados de essenciais so
aqueles que nossas clulas no conseguem
produzir.
As protenas presentes nos alimentos
so degradadas no aparelho digestivo. Essa
degradao corresponde separao da
cadeia polipeptdica em monmeros. Os
aminocidos liberados so, ento, levados
atravs do sangue para todas as clulas do
nosso corpo. Uma vez no interior de nossas
clulas, esses aminocidos sero utilizados
para compor as nossas protenas e fazer
funcionar o nosso organismo.
As protenas de um bife eram
importantes no msculo da vaca. As
protenas do ovo seriam importantes para o
pintinho que iria se desenvolver naquele ovo.
Se essas protenas entrassem intactas em
nossa circulao, de nada adiantaria, pois
no estariam aptas a desempenhar as
funes que as nossas clulas devem
executar. Alm do mais, como sabemos, toda
protena estranha serve como antgeno, e
provavelmente, a absoro de uma protena
de vaca ou de galinha provocaria uma reao
alrgica. Nosso sistema imune reconheceria
essas protenas como estranhas ao
organismo e criaria anticorpos contra elas.
As protenas so molculas muito
grandes. Por exemplo, o colgeno
composto por aproximadamente 3.000
10
aminocidos. Essa protena fibrosa o
principal componente da matriz extracelular e
do tecido conjuntivo. Se considerarmos que a
molcula da gua (que bem menor que a
de um aminocido) tem dificuldade de
atravessar a pele, como poderia ser
absorvida uma molcula de 3.000
aminocidos? Mas muitos cremes vendem
a idia de que podemos repor o colgeno
que est faltando em nossa derme, usando
colgeno de galinha. Na verdade essa
protena no consegue atravessar a pele e
chegar na derme, onde normalmente est
depositada. Caso isso acontecesse,
provocaria uma reao alrgica (seria um
antgeno).
Os aminocidos so divididos em
essenciais, isto , aqueles que precisam
fazer parte de nossa dieta, pois no temos a
capacidade de sintetiz-los e no essenciais
(aqueles que podemos sintetizar).
A quantidade de protenas
necessrias na dieta varia conforme a idade
e o estado fisiolgico. Crianas, gestantes e
lactantes necessitam mais protenas do que
adultos. Um adulto jovem, com intensa
atividade fsica, deve consumir em torno de
56g diria de protenas. Os alimentos de
origem animal, como carne, leite e ovos so
ricos em protenas. Os vegetais tambm tm
protenas porm em quantidades menores.
Por exemplo, uma fatia de po de trigo
integral possui 2 gramas de protena, mas
como essa uma protena de baixa
qualidade, um adulto jovem precisaria comer
72 fatias dirias para obter as 56 g de
protenas.
Resumindo o que foi apresentado
sobre protenas, podemos dizer que:
O funcionamento de um organismo
depende de suas protenas.
O funcionamento de cada protena
depende de sua forma.
A forma de uma protena depende da
seqncia dos aminocidos que a compem.
A questo agora explicar:
Como o organismo estabelece seqncia
de aminocidos que deve estar presente
em cada protena?
A seqncia de aminocidos das
protenas est escrita (codificada) nos
genes. Os genes so compostos de outro
tipo de molcula orgnica, os cidos
nuclicos.
2.2.CIDOS NUCLICOS
Os cidos nuclicos tambm so
macromolculas polimricas, formadas por
monmeros chamados de nucleotdeos.
Cada nucleotdeo formado por uma base
nitrogenada, um acar (ribose ou
desoxirribose) e fosfato (Figura 10):
Figura 10. Nucleotdeo
11
Estes monmeros se unem para
formar dois tipos de polmeros, o DNA (cido
desoxirribonuclico) e o RNA (cido
ribuclico).
Os cidos nuclicos so formados
pela unio de nucleotdeos (Figura 11).
Figura 11- Molcula de cido nuclico
Na molcula de DNA encontramos as
seguintes bases: adenina (A); citosina (C);
guanina (G) e timina (T) e so chamados de
desoxiribonucleotdeos, porque o aucar a
desoxiribose. A molcula de DNA formada
por uma cadeia dupla, tendo algumas
caractersticas importantes. Sempre que
existir uma adenina em um lado da cadeia,
teremos uma timina no outro e sempre que
ocorrer uma citosina em um lado da cadeia,
teremos uma guanina no outro. Chamamos
isto de complementariedade das bases, ou
seja, as timinas sempre fazem par com as
adeninas e as citosinas sempre pareiam com
as guaninas.
Figura 12. Estrutura da molcula de DNA
mostrando a complementariedade das bases A=T;
C=G.
Duas propriedades importantes
resultam da estrutura do DNA:
1) Capacidade de replicao. Com o auxlio
de enzimas, a dupla hlice de DNA se abre,
formando fita simples e pode ser duplicada,
originando cpias exatamente iguais a
molcula original.
2) Capacidade de conter a informao da
seqncia de aminocidos que compe as
protenas. As seqncias de nucleotdeos do
DNA determinam a estrutura primria das
protenas.
Figura 13- Replicao da molcula de DNA
O RNA uma molcula formada por uma
nica cadeia, ou seja, fita simples. Os
nucleotdeos do RNA so chamados de
Ribonucleotdeos porque o acar a ribose.
No RNA a base uracila (U) substitui a Timina
do DNA. Os diferentes tipos de RNAs so
extremamente importantes para fazer com
que a informao gentica contida no DNA
seja traduzida em uma seqncia de
aminocidos, originando as protenas (ser
visto adiante).
2.3. GLICDIOS
Os glicdios, tambm chamados de
carboidratos ou acares so poliis de
aldedos ou cetonas, divididos em:
12
a) Monossacardeos - como por exemplo a
glicose e a frutose. Os monossacardeos
podem unir-se formando dissacardeos. Por
exemplo, a sacarose (acar de cana) a
unio de uma frutose e uma glicose. A
maltose formada pela unio de duas
molculas de glicose e a lactose (acar do
leite) formada pela unio de galactose e
glicose.
Figura 14 -Exemplo de alguns
monossacardeos
b) Polissacardeos - so formados pela
unio de vrios monossacardeos (so
POLMEROS DE GLICOSE) Os trs
polissacardeos mais importantes so o
AMIDO (reserva de energia dos vegetais), o
GLICOGNIO (reserva de energia dos
animais) e a CELULOSE (constituinte da
parede das clulas vegetais). A diferena
entre esses polissacardeos est na ligao
qumica que une as glicoses.
As principais funes
desempenhadas pelos glicdios so:
-ENERGTICA: so fonte de energia
para a clula (ou reserva de energia)
- ESTRUTURAL: formam as paredes
das clulas vegetais
-RECONHECIMENTO: esto
envolvidos no processo de reconhecimento
clula-clula nos tecidos dos animais
pluricelulares, atravs do glicocalix.
2.4. LIPDIOS
Os lipdios ou gorduras
desempenham importante papel na estrutura
e funo celular. H vrias classes de
lipdios e cada uma possui funes biolgicas
especficas.
Os cidos graxos so a unidade
fundamental da maioria dos lipdios e junto
com os triglicerdios constituem as principais
gorduras neutras que funcionam como
reservas energticas.
Fig 15 - Exemplos de cidos graxos.
J os fosfolipdios e os
esfingolipdios so lipdios derivados dos
triglicerdios. Nesses lipdios, uma das
cadeias de cido graxo substituda por uma
estrutura qumica POLAR. Desta forma,
13
estas molculas tero uma parte polar
(hidroflica) e uma parte apolar (hidrofbica)
Os fosfolipdios e esfingolipdios so
componentes fundamentais das membranas
biolgicas (ser visto adiante).
Outra classe de lipdio a dos
esterides que podem ter funo estrutural,
como o colesterol que um componente da
membrana plasmtica. Outra funo
desempenhada pelos esteris a hormonal,
como por exemplo a testosterona,
progesterona.
ESTRUTURAS SUPRA-MOLECULA-
RES E A EMERGNCIA DE NOVAS
PROPRIEDADES
Um conceito importante para o
entendimento dos seres vivos o de
propriedades emergentes. Vejamos um
exemplo bem simples: um professor
demonstra a ao enzimtica da amilase
salivar, atravs de um experimento muito
comum, que pode (e deve) ser realizado em
sala de aula. Nesse experimento, uma
soluo de Maizena fervida e distribuda
em dois frascos. Em apenas um dos frascos
adiciona-se um pouco de saliva e ,depois,
uma gota de lugol (ou soluo de iodo)
acrescentada em ambos os frascos.
Neste caso, a alterao de cor que
se observa no frasco explicada pelo fato da
enzima presente na saliva ter a
PROPRIEDADE de degradar o amido da
Maizena. Essa uma propriedade cataltica
muito especfica, a amilase desdobra o
amido em glicose.
Se ao invs de acrescentar saliva na
mistura, acrescentssemos os aminocidos
que compem a amilase, iria ocorrer a
reao de degradao do amido? claro que
no. Uma pilha de tijolos no o mesmo que
uma casa. Uma mistura de aminocidos
isolados, no possui as propriedades da
protena que poderia ser formada pela unio
desses aminocidos.
Para que uma protena desempenhe
uma funo definida, necessrio que ela
tenha uma forma especfica. A estrutura
tridimensional de uma protena resultado
da unio de aminocidos em uma seqncia
tambm especfica. Portanto, a ligao
sucessiva de um aminocido ao outro que ir
determinar a forma final de uma protena e
sua capacidade funcional.
As macromolculas apresentam
propriedades novas que no esto presentes
nos seus componentes isolados. A amilase,
por exemplo, tem a capacidade de degradar
o amido, porm esta propriedade no est
presente em nenhum dos aminocidos que
compem a amilase. Quando, pela unio de
aminocidos em uma seqncia especfica, a
macromolcula amilase se forma, EMERGE
uma nova propriedade (capacidade de
degradar a amido) que no est presente nos
seus componentes.
As propriedades emergentes so um
atributo da forma esterioqumica da
macromolcula. Do mesmo modo que a
forma da tesoura confere a esse instrumento
uma propriedade nova (capacidade de
14
cortar), a forma da protena amilase lhe
permite catalisar a reao amidoglicose.
Muito do funcionamento celular
depende das propriedade emergentes de
suas macromolculas. Mas as clulas no
so formadas apenas de macromolculas,
elas possuem tambm ESTRUTURAS
SUPRAMOLECULARES.
Estruturas supramoleculares so
estruturas formadas por vrias
macromolculas. Um exemplo de estrutura
supramolecular o ribossomo (Figura 16).
Cada sub-unidade do ribossomo formada
por vrias macromolculas. A sub-unidade
maior formada por 3 diferentes RNAs
ribossmicos: um com 120 nucleotdeos
(nts), outro com 160 nts e o terceiro com
4700 nts. Alm dos RNAs a sub-unidade
maior apresenta 49 diferentes protenas
(denominadas L1, L2, L3, ... at L49). Na
sub-unidade menor temos apenas um rRNA
de 1900 nts associado a 33 protenas
(denominadas S1, S2, ..at S33).
Figura 16 .Ribossomo dos eucariontes
Os ribossomos so estruturas
capazes de auto-montagem, isto , basta
colocarmos todos os componentes juntos e,
em condies fsico-qumicas apropriadas,
automaticamente as sub-unidades do
ribossomo montam-se. possvel, portanto,
desmontar e remontar os ribossomos em
tubos de ensaio. E sempre, aps a auto-
montagem, uma PROPRIEDADE nova
EMERGE : os ribossomos so capazes de
fazer sntese de protenas.
Todas as organelas intracelulares
so estruturas supramoleculares. A
mitocndria, por exemplo, formada por um
grande nmero de protenas, lipdios, DNA,
RNA... que formam suas membranas, os
seus ribossomos, corpsculos elementares,
etc... Estas macromolculas, ao se
associarem, formam a mitocndria que
possui propriedades novas que no esto
presentes nos componentes isolados. Por
exemplo, a sntese quimiosmtica do ATP s
possvel graas estrutura da mitocndria
que dada pela totalidade de seus
componentes associados, e no pode ser
realizada apenas por um ou outro
componente da mitocndria. Este outro
exemplo de uma propriedade emergente, que
s se manifesta a partir do surgimento de
uma estrutura com organizao
supramolecular.
15
UNIDADE II
A ORGANIZAO CELULAR
O tema de estudo da Biologia, a
VIDA uma propriedade emergente de uma
supraestrutura: a clula. A Vida originou-se
na Terra a +/- 3.5 bilhes de anos atrs
quando montaram-se as primeiras clulas.
O CONCEITO DE CLULA MNIMA
A definio mais comum para clula
: unidade morfo-fisiolgica dos seres
vivos. Mas o que caracteriza uma clula?
Quais so os componentes MNIMOS para
que uma estrutura possa ser considerada
uma clula?
De uma forma geral, quando
perguntamos como constituda e como
funciona uma clula, a resposta mais comum
:
...formada por membrana, citoplasma e
ncleo. A membrana reveste a clula,
fazendo as trocas com o meio, o
citoplasma contm as organelas
responsveis pelo funcionamento da
clula e o ncleo controla este
funcionamento.
Devemos considerar, entretanto, dois
aspectos importantes:
1) As bactrias e demais procariontes so
organismos celulares e no possuem ncleo;
2) Quando dizemos que o ncleo controla o
funcionamento celular, no fornecemos
nenhuma idia de como isto ocorre.
Esta viso da constituio e
funcionamento celular originria do fim do
sculo passado e, nessa poca, o estudo da
estrutura e do funcionamento celular
dependia exclusivamente do microscpio
ptico e de alguns corantes. Neste perodo, o
que mais chamava a ateno, quando se
observava uma clula, era a presena do
ncleo. Posteriormente, verificou-se que, no
ncleo, estavam os cromossomos e inferiu-
se que estes eram depositrios dos genes.
Assim, a idia de que, no ncleo,
estava o controle do funcionamento celular
relativamente antiga, porm por muito tempo
no foi possvel saber exatamente como
esse controle era exercido.
Figura 17. Aspecto geral da organizao
celular de um procarionte.
CARACTERSTICAS BSICAS DE UMA
CLULA (uma concepo atual)
Se a descrio de uma clula como
um conjunto de membrana, citoplasma e
ncleo uma viso originria do fim do
sculo passado, quais seriam as
caractersticas da organizao celular em
uma viso contempornea?
Para responder essa questo temos
que pensar em caractersticas que sejam
comuns a todas as clulas, sejam elas
procariticas e eucariticas.
So quatro as partes essenciais que
podemos encontrar em toda clula:
16
Membrana - delimita a clula, separando
os demais elementos celulares do meio
ambiente e regulando as trocas da
clula com o meio;
Maquinaria metablica conjunto de
enzimas e protenas capazes de utilizar
a matria e energia do meio ambiente
para realizar as funes celulares;
Informao gentica - informao de
como, quando e onde montar as
protenas da mquina metablica e
demais protenas estruturais da clula
Maquinaria de sntese protica
constituda por ribossomos, mRNAs e
tRNAs capazes de transformar a
informao gentica em maquinaria
metablica.
Estes componentes celulares podem
ser facilmente reconhecidos nos
Mycoplasma, um tipo de bactria, que so os
seres celulares estruturalmente mais simples
que conhecemos (Ver Figura 17).
Vamos, a seguir, tratar de cada uma
dessas partes que compem o que podemos
chamar de uma clula mnima.
MEMBRANA CELULAR
O que delimita a clula do resto do
universo uma fina membrana LIPO-
PROTICA chamada membrana plasmtica
ou membrana celular.
A clula no pode se isolar do meio
em que se encontra, precisando manter uma
constante troca de matria e energia com o
ambiente. Estas trocas so controladas pela
membrana plasmtica. Por isto a principal
caracterstica da membrana a
PERMEABILIDADE SELETIVA.
Assim, a membrana permevel
porque deixa passar substncias atravs
dela, porm, faz isso seletivamente, ou seja,
escolhendo o que deve entrar e sair da
clula.
Para se entender como a membrana
realiza esta funo de permeabilidade
seletiva, temos que estudar como a
membrana constituda quimicamente e
como estes componentes atuam.
Os lipdios da membrana so
diferentes dos lipdios que so usados como
reserva de energia (cidos graxos e
triglicerdios). Enquanto os lipdios
energticos so insolveis em gua, os
lipdios que compe a membrana (chamados
de fosfolipdios, esfingolipdios e outros) so
ANFIPTICOS, ou seja, tm uma parte da
molcula que eletricamente carregada e
hidroflica (solvel em gua), e outra parte
que hidrofbica (insolvel em gua) -
Figura 18.
Figura 18- .Estrutura de um
Fosfolipdio
Tendo esta caracterstica anfiptica,
os fosfolipdios, quando colocados em gua,
vo ter uma organizao tpica, formando
17
finas membranas em BICAMADAS, conforme
representado na Figura 19.
Figura 19 Formao de bicamadas lipdicas
quando os fosfolipdios so colocados em gua.
Desta forma, sempre que colocarmos
lipdios anfipticos em gua, formar-se-o
bolhas e a gua estar tanto do lado de
dentro da bolha, quanto do lado de fora
(Figura 19).
A gua e todas as substncias
hidrossolveis, como os acares,
aminocidos, nucleotdeos, por no serem
solveis em lipdios, no podem passar pela
camada hidrofbica da membrana.
Como, ento, a membrana realiza a sua
funo de permeabilidade seletiva?
S existe permeabilidade seletiva
graas ao do outro componente das
membranas: as PROTENAS. Como
sempre, as atividades de funcionamento dos
organismos esto relacionadas s protenas.
As protenas das membranas
tambm so ANFIPTICAS, ou seja, elas
tm uma parte formada por aminocidos
polares (com carga eltrica) e outra parte
constituda preponderantemente com
aminocidos apolares. Desta forma, as
protenas da membrana tambm tero uma
parte hidroflica e uma parte hidrofbica.
Figura 20. Estrutura das protenas
da membrana
Por terem tanto regies hidrofbicas como
regies hidroflicas, as protenas anfipticas
vo se intercalar entre os fosfolipdios. (figura
20 e 21)
O Modelo do MOSAICO
FLUDO das membranas biolgicas explica
como se organizam e funcionam essas
membranas. Segundo este modelo, temos
uma bicamada de lipdios com protenas
intercaladas nesta bicamada.
As partes hidroflicas dos
fosfolipdios e das protenas ficam voltadas
para as superfcies interna e externa da
membrana em contato com a gua. As partes
hidrofbicas dos fosfolipdios e das
protenas ficam na regio interior da
membrana (figura 21)
18
Figura 21- Modelo do MOSAICO
FLUIDO da membrana biolgica
Este modelo chamado de
MOSAICO, porque os componentes da
membrana se organizam como um mosaico
(associao de pequenas peas que se
encaixam ou sobrepe para formar uma
estrutura). A denominao de Mosaico
FLUDO justificada pelo fato de seus
componentes (fosfolipdios e protenas) no
serem fixos na membrana, podendo
apresentar movimentos laterais.
Podemos resumir a atuao dos
componentes da membrana da seguinte
forma:
a) OS FOSFOLIPDIOS atuam como uma
barreira, impedindo que as substncias que
esto dentro da clula saiam e evitando que
as substncias que esto fora da clula
entrem.
b) AS PROTENAS funcionam como
portes (tecnicamente chamados de
CARREADORES ou POROS), por onde
passam as molculas; so as elas que
reconhecem as substncias que devem
entrar ou sair da clula.
TRANSPORTE DE SUBSTNCIAS PELA
MEMBRANA
As substncias passam pela
membrana de trs formas diferentes:
1) Difuso simples: Algumas substncias
como o O
2
, CO
2
, lcool e ter, por serem
solveis tanto em gua como em gorduras,
podem passar diretamente pelos
fosfolipdios. Para estas substncias, a
membrana no constitui uma barreira, e suas
molculas vo difundir de onde elas esto
mais concentradas para aonde esto menos
concentradas (1 na Figura 22).
Figura 22 Passagem de substncias
atravs da membrana
A maioria das substncias no pode
atravessar livremente pela membrana e
precisam passar pelas protenas. Essa
passagem pode ocorrer de duas maneiras:
2) Transporte passivo ou difuso
facilitada. O transporte passivo ocorre,
quando uma substncia est mais
concentrada de um lado da membrana do
que do outro, e h interesse da clula que
esta substncia passe pela membrana.
Protenas especficas, chamadas de
CARREADORES, permitem que essas
19
substncias atravessem (geralmente atravs
de aberturas ou canais nas prprias
protenas).
No caso do transporte passivo, no
h gasto de energia, porque a favor do
gradiente de concentrao ( 2 na Figura 22).
3) Transporte Ativo: Quando do interesse
da clula transportar substncias contra um
gradiente de concentrao, (ou seja, de onde
tem pouco de uma substncia para aonde j
existe bastante dessas mesmas molculas) a
clula precisa gastar energia para fazer esse
transporte (3 na Figura 22).
Como podemos ver, somente
molculas no muito grandes podem entrar e
sair da clula pelos carreadores. Molculas
grandes como as protenas, cidos nuclicos
ou polissacardeos, somente em condies
muito especiais podem passar pela
membrana.
Molculas grandes
(macromolculas), assim como estruturas
ainda maiores como vrus ou clulas no
passam diretamente pela membrana celular,
e s entram na clula atravs de
mecanismos de TRANSPORTE DE MASSA,
chamado endocitose (fagocitose e
pinocitose). Mas vale ressaltar que atravs
da fagocitose e pinocitose as substncias ou
estruturas entram na clula, mas no
passam a membrana pois entram
envolvidas em membrana.
NA INTERNET:
Entenda melhor a membrana celular comparando-
a com bolhas de sabo:
www.sbbq.org.br/revista/artigo.php?artigoid=41
BRINCAR COM BOLHAS DE SABO PODE
AJUDAR A ENTEDER A
MEMBRANA SEGUNDO O MODELO
MOSAICO-FLUIDO
20
MAQUINARIA METABLICA
O que permite que uma lacto-
bactria (bactria do iogurte) se desenvolva
to bem no leite, transformando-o em iogurte
e uma aceto-bactria se procrie
maravilhosamente no vinho, transformando-o
em vinagre? Se colocarmos a bactria do
vinho no leite, ela no vai se desenvolver, o
mesmo acontecendo com a bactria do
iogurte, quando colocada no vinho. Por que
isto acontece?
Cada clula, mesmo simples como
uma bactria, possui enzimas e outras
protenas que a capacita a desempenhar as
funes para as quais est adaptada. A
lacto-bactria possui enzimas para quebrar a
lactose e as protenas do leite. J a aceto-
bactria possui enzimas para transformar o
lcool em cido actico e usar outros
nutrientes encontrados no vinho. Estas duas
bactrias possuem diferentes maquinarias
metablicas que as tornam adaptadas para
explorar recursos diversos.
As diferenas que ocorrem no
funcionamento entre clulas so explicadas
pela variao nas protenas existentes nelas.
Chamamos de maquinaria
metablica o conjunto de enzimas e
protenas que vo ser responsveis pelo
funcionamento da clula (ou seja, pelo
metabolismo celular). Por exemplo, as
protenas da membrana que captam
nutrientes do meio externo e os transportam
para o interior da clula; as enzimas que vo
transformar estes nutrientes, atravs de
complexas rotas bioqumicas, transformando-
os em energia ou em outras molculas
estruturais da clula; as protenas motoras
que produzem movimento dos componentes
celulares, etc...
No caso especfico do exemplo que
estamos trabalhando, a aceto-bactria ter
as protenas de membrana para retirar do
vinho os nutrientes apropriados. No interior
da clula, enzimas transformaro estes
nutrientes em mais macromolculas de
aceto-bactria. Enfim, possibilitam o sonho
primordial de toda aceto-bactria: tornar-se
duas aceto-bactrias...
INFORMAO GENTICA
Porque uma aceto-bactria colocada
no leite no produz as enzimas necessrias
para usar o acar e as protenas do leite
como nutrientes? Ou, colocando a mesma
questo em um outro exemplo: sabemos que
a celulose um polissacardeo formado de
molculas de glicose. No entanto, se por um
motivo qualquer s tivssemos papel
(celulose) para comer, acabaramos
morrendo de inanio por falta de energia,
embora estivssemos ingerindo um polmero
construdo com glicose. Outros organismos,
como cavalos, vacas ou baratas so capazes
de aproveitar a glicose presente na celulose
do papel. Nos dois exemplos, o que falta a
informao gentica de como fazer as
enzimas necessrias para aproveitar uma
determinada molcula como fonte de
nutriente.
A informao gentica est
armazenada nas clulas sob forma de cidos
21
nuclicos. Para todas as clulas
(procariticas ou eucariticas), a
macromolcula informacional o DNA.
Somente alguns vrus apresentam suas
informaes armazenadas sob forma de
RNA.
A informao gentica total,
carregada por um organismo ou clula,
denominada de GENOMA. Por exemplo, na
nossa espcie, o genoma das clulas
somticas constitudo por 46 molculas de
DNA. Cada uma dessas molculas se
organiza sob forma de um cromossomo, ou
seja, cada cromossomo contm uma nica
molcula de DNA que contnua,
comeando em uma extremidade do
cromossomo e prolongando-se sem
interrupo at a outra extremidade. Temos
tambm uma 47
a
molcula de DNA que o
cromossomo mitocondrial.
O genoma de clulas mais simples,
como as bactrias, est organizado em um
nico cromossomo circular. Em torno de
2000 genes esto presentes no genoma de
uma bactria, como a Escherichia coli.
O cromossomo bacteriano como de
E. coli possui aproximadamente 4,2x 10
6
pares de bases. Ou seja, se contssemos o
nmero de diferentes nucleotdeos
ATCCGGTAACC... em uma das fitas do
DNA, este nmero seria de,
aproximadamente, 4.200.000 nucleotdeos.
na seqncia de bases desta imensa
molcula de DNA que est escrito a
informao gentica, nos genes dessa
bactria.
Estudos moleculares recentes tem
ampliado o conceito de gene: uma
seqncia de DNA que essencial para uma
funo especfica. Trs tipos de genes so
reconhecidos:
1) genes que codificam para
protenas. So transcritos para RNA
mensageiro (mRNA) e subseqentemente
traduzidos, nos ribossomos, para protenas.
2) genes que especificam RNAs
funcionais, como os RNAs ribossmicos
(rRNA); RNAs transportadores (tRNA) e
RNAs que desempenham funes
regulatrias na clula como os snoRNA e
miRNA.
3) genes no transcritos. So
seqncias de DNA que, embora no sejam
transcritas, desempenham alguma funo.
Por exemplo, os genes de replicao,
envolvidos na duplicao do DNA; genes de
recombinao, que so seqncias
envolvidas no processo de crossing-over;
seqncias telomricas, envolvidas na
proteo das extremidades dos
cromossomos...
Assim, o genoma contm um grande
nmero de genes que, quando necessrios,
so ativados, ou seja, so copiados em RNA
(ver Figura 23).
22
Figura 23) Exemplo hipottico do
genoma de um procarionte O genoma
contm muitos genes. Alguns so genes
para tRNA, outros para rRNA e outros ainda
codificam para polipeptdios (mRNA).
A transcrio de um gene depende
da regio regulatria desse gene. Um dos
principais elementos da regio regulatria do
gene o stio ou regio promotora que
corresponde ao local de entrada da RNA
polimerase. Essa enzima, responsvel pela
transcrio de DNA em RNA, reconhece a
regio promotora do gene, se associa a esse
conjunto de bases e passa a se deslocar pela
fita molde de DNA, fazendo a ligao entre
os ribonucleotdios complementares fita de
DNA. No fim do processo de transcrio
temos uma fita de RNA que,aps passar por
algumas modificaes (processamento do
RNA), torna-se funcional e poder executar
as diferentes funes necessrias sntese
de protenas.
Figura 24) Processo de transcrio dos genes
ribossmicos (rRNA); dos RNAs transportadores
tRNA e dos RNAs mensageiros mRNAs.
mostrado tambm, a unio de todos estes
componentes no processo de TRADUO, que
a sntese de protenas.
Figura 25 Fluxo da informao gentica
dentro da clula.
O DNA se duplica pelo processo chamado
de transcrio. A informao nele contida
copia em molculas de RNA em um
processo chamado de transcrio. Os
RNAs participam do processo de sntese
de protenas (traduo)
23
MAQUINARIA DA SNTESE PROTICA
No citoplasma existem todos os
elementos necessrios sntese de
polipeptdios, que chamamos de
MAQUINARIA DE SNTESE PROTICA:
> ribossomos
>RNAs transportadores
> RNA mensageiro
A seqncia de eventos que resulta
na sntese de uma protena pode ser
resumida da seguinte forma :
C Transcrio do DNA em RNA (n
os
1, 2 e 3 na Figura 21).
C Processamento do RNA para que
se torne funcional (ocorre em eucariontes).
C Montagem do ribossomo - a
subunidade menor do ribossomo reconhece
o incio da fita de mRNA e se liga ao mRNA .
Essa ligao permite que a subunidade maior
se associe subunidade menor, formando-se
assim um ribossomo capaz de realizar a
sntese de protenas.
C Primeira ligao Peptdica - o
ribossomo se desloca sobre a fita de mRNA
e quando encontra nessa fita a seqncia de
base AUG, cria no seu interior, dois stios,
um destinado a receber os tRNAs que trazem
os aminocidos para serem ligados cadeia
polipeptdica (stio A) e outro que ser
ocupado pelo transportador que mantm a
cadeia polipeptdica nascente (stio P).
Qualquer tRNA pode entrar no ribossomo e
ocupar o stio A, porm para que o tRNA
permanea nesse stio necessrio que ele
tenha uma trinca de bases que seja
complementar as trs bases do mRNA que
esto naquele momento no stio A. A regio
do tRNA que entra em contado com as bases
do mRNA dentro do ribossomo
denominada de anticdon. De um modo
simplificado, as molculas de tRNAs so
representadas como tendo em uma
extremidade a regio do cdon e na outra a
regio de ligao com o aminocido. Os
tRNAs que possuem o mesmo anticdon
transportam o mesmo aminocido. Por
exemplo, se o anticdon for AAA, esse tRNA
estar transportando para dentro do
ribossomo o aminocido fenilalanina. Alguns
aminocidos so transportados por mais de
um tipo de tRNAs. Por exemplo, os tRNAs
que possuem anticdons GCA, GCG, GCU
ou GCC transportam (ver tabela do cdigo
gentico) para o ribossomo arginina. Desse
modo, as trs bases do mRNA (cdon) que
ocupam o stio A, ao selecionar qual o tRNA
que permanecer dentro do ribossomo,
determinam qual o aminocido que ser
adicionado cadeia polipeptdica. O primeiro
tRNA a ocupar o stio A, deve ter anticdon
complementar trinca AUG. Esses tRNAs
sempre transportam uma metionina, portanto
esse o primeiro aminocido de toda a
sntese de protenas. A metionina inicial pode
ser removida depois, o que significa que nem
todas as protenas funcionais tero esse
aminocido presente no incio da cadeia.
C Crescimento da cadeia
polipeptdica - quando os stios A e P esto
ocupados por tRNAs, que tenham anticodons
complementares ao mRNA, na parte superior
24
da subunidade maior do ribossomo, ocorre a
ligao entre os aminocidos que esses
tRNAs transportam. Quando essa ligao
ocorre, o ribossomo se desloca sobre a fita
de mRNA e esse deslocamento corresponde
exatamente a trs nucleotdios. Assim, a
cada ligao entre dois aminocidos, um
novo cdon ocupa o stio A e determina a
entrada de um novo tRNA que trar o
prximo aminocido a ser ligado. Com o
deslocamento do ribossomo, o tRNA que
trouxe o ltimo aminocido adicionado passa
a ocupar o stio P e o tRNA, que antes estava
nesse stio, liberado pelo ribossomo,
podendo voltar a participar da sntese de
protenas quando estiver de novo ligado a um
aminocido especfico. Por exemplo, na
Figura 26, no incio da traduo, o stio P
est ocupado pelo cdon AUG e pelo tRNA
da metionina, e o stio A est ocupado com o
cdon UUU e o tRNA da fenilalanina. Aps a
ligao entre os dois primeiros aminocidos
(metionina e fenilalanina), com o
deslocamento do ribossomo, o tRNA da
metionina perde sua ligao com esse
aminocido e sai do ribossomo. O tRNA da
fenilalanina passa, ento, a ocupar o stio P
e se mantm ligado fenilalanina, que por
sua vez est ligada metiona. medida que
o ribossomo se desloca, a cadeia
polipeptdica vai crescendo, sempre ligada ao
tRNA que acabou de fornecer o ltimo
aminocido.
Deve-se ressaltar que, logo aps o
primeiro deslocamento do ribossomo, o
cdon de iniciao AUG fica liberado e outro
ribossomo pode se associar ao mRNA e
iniciar a sntese de uma segunda cadeia
polipeptdica. comum encontrar, no
citoplasma, vrios ribossomos realizando
traduo a partir da mesma fita de mRNA.
Desse modo, a clula pode originar vrias
molculas da mesma protena com um nico
RNA mensageiro.
Final da sntese - os ribossomos
seguem se deslocando na fita de mRNA e
quando o stio A ocupado por uma trinca
UAA, ou UAG ou UGA o crescimento da
cadeia polipeptdica interrompido. Nenhum
tRNA possui anticodons complementares a
essas trincas e por isso esses codon so
chamados sem sentido e sinalizam o fim da
traduo. Depois que o ribossomo atinge um
desses codon, as subunidades se separam.
A subunidade menor pode, ento, se
associar novamente com a parte inicial de
um mRNA, iniciando novamente um
processo de traduo.
Atravs dos mecanismos de
transcrio e traduo, a informao gentica
se transforma em maquinaria metablica.
Assim, em uma clula simples como uma
lacto-bactria, a informao contida no
genoma traduzida, isto , esta informao
capaz de conduzir a sntese de um bom
nmero de protena que estaro aptas a
utilizar os nutrientes presentes no leite, para
manter a estrutura celular e ainda criar mais
macromolculas e permitir o crescimento
desta bactria e posterior reproduo.
25
Figura 26) Processo de traduo de
uma protena. A) montagem do ribossomo B)
iniciao do processo de traduo C e D)
elongao da cadeia de aminocidos. Cada
tRNA que se liga ao ribossomo, deixa um
aminocido.
A TABELA DO CDIGO GENTICO
Diga que protena resulta do seguinte mRNA:
UUAUGGUUAGUCGUAGAUAUUGA
Unidade III
DA CLULA PROCARITICA PARA
A CLULA EUCARITICA.
Podemos dizer que uma bactria
um bom exemplo de uma clula mnima.
Vimos anteriormente como atuam a
membrana, a maquinaria metablica, a
informao gentica e a maquinaria da
sntese protica, para fazer uma bactria
funcionar.
Mas se as bactrias so ditas
clulas mnimas, porque existem clulas
muito mais complexas, as eucariticas.
O que elas possuem que no est
presente nas clulas bacterianas?
+C Um sistema de membranas que
compartimentaliza as diversas funes da
clula, chamado de SISTEMA DE
ENDOMEMBRANAS;
+C Uma rede de protenas
filamentosas que do forma e mobilidade
para a clula, chamada de
CITOESQUELETO.
A INFORMAO GENTICA NOS EUCARIONTES
A informao gentica dos
eucariontes apresenta algumas
peculiaridades. Nas clulas eucariontes o
DNA est sempre complexado com
protenas. As protenas que se associam ao
DNA so de dois tipos: as histonas ou
protenas bsicas e as protenas cidas.
Quando a clula no est em diviso
(durante a interfase), a molcula de DNA
26
apresenta seu grau mnimo de enrolamento,
constituindo a Cromatina. Conforme
podemos ver na Figura 27, a cromatina
apresenta vrios graus de compactao: em
(A) temos a molcula de DNA com seu
dimetro de 2 nammetros (nm = 10
9
m)
no associado a nenhum tipo de protena. A
dupla hlice sem protenas associadas no
encontrada no ncleo das clulas, pois em
seu estado funcional o DNA eucaritico
sempre est ligado a protenas. Em (B) a
molcula de DNA apresenta-se enrolada nas
histonas, formando as fibras dos
nucleossomos com 11 nm. Quando a clula
inicia o processo de diviso, pode-se notar
uma mudana no aspecto do ncleo. A
medida que a clula avana na fase de
prfase, possvel visualizar, no ncleo, uma
condensao progressiva da cromatina.
Em (C) a fibra de nucleossomos se
enrola sobre si mesma, originando a fibra em
solenide, em um formato de fio de
telefone; nesse formato de solenide que
a cromatina se encontra no ncleo na
interfase.
Algumas protenas cidas unem as
fibras da cromatina formando s alas de
cromatina (letra D na figura). As alas vo
sendo unidas em grupos cada vez mais
condensados, no centro da cromtide. No fim
desse processo, o cromossomo atinge seu
grau mximo de dobramento, que
corresponde ao cromossomo metafsico, ou
seja, ele observvel na fase de metfase
da diviso celular. (letras E e F na figura
abaixo).
Para dar uma idia de como longo
os fios de cromatina, apresentamos, na
Figura 28, a cromtide de um cromossomo
mittico que teve as protenas cidas
removidas. Esse tratamento permitiu que as
alas constitudas pela fibra de cromatina se
desprendessem do centro da cromtide.
A informao gentica est escrita
na seqncia de bases que o DNA
apresenta. O genoma nuclear de uma clula
humana contm, aproximadamente,
6.000.000.000 pares de bases, compondo as
46 molculas de DNA dos cromossomos. O
menor cromossomo humano, o de nmero
21, possui 50.000.000 pares de bases. Voc
pode imaginar isso?
Figura 27- ver texto
27
Ter genomas grandes uma
caracterstica dos eucariotes. Esses
organismos apresentam grandes
quantidades de DNA em suas clulas, mas
boa parte desse DNA no considerado
gene, pois no transcrito, e no apresenta
funo para a clula.
SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS
As clulas eucariticas so
compartimentalizadas, isto , possuem o
citoplasma todo dividido em estruturas
membranosas. Cada compartimento tem a
sua funo especfica.
As membranas que delimitam estas
organelas so do tipo mosaico fludo. Assim,
os lipdios destas membranas isolam os
contedos destes compartimentos e as
protenas controlam o que deve entrar ou sair
de cada compartimento. Alm disso,
enzimas especificas proporcionam as
reaes qumicas caractersticas do
funcionamento de cada organela.
As principais vantagens da
compartimentalizao celular so:
C Permitir a separao e a associao dos
sistemas enzimticos;
C Aumentar a superfcie interna da clula,
aumentando o campo de ao enzimtica e
facilitando as reaes qumicas,
principalmente as que ocorrem em cadeia;
C Permitir diferentes valores do pH
intracelular.
Componentes do sistema de
endomembranas
+ Retculo endoplasmtico:
O retculo endoplasmtico
constitudo por endomembranas que limitam
tbulos (pequenos tubos) e cisternas
(cavidades em forma de sacos achatados).
O retculo endoplasmtico dividido em:
CReticulo endoplasmtico liso- tem a
forma de tbulos, est envolvido em
transporte e armazenamento de substncias,
sntese de lipdios e desintoxicao celular;
Figura 28 visualizao de uma cromtide em um
cromossomo
CRetculo endoplasmtico rugoso-
possui ribossomos aderidos a sua superfcie
citoplasmtica; como os ribossomos fazem a
sntese protica, o retculo endoplasmtico
rugoso est envolvido na sntese protica,
alm de transporte e armazenamento de
substncias (principalmente protenas).
+ Complexo de Golgi:
formado por vrias vesculas ou cisternas
achatadas em forma de discos. Nestas
vesculas ocorre a maturao (modificaes
qumicas) de substncias (principalmente
protenas que foram sintetizadas pelos
ribossomos do retculo endoplasmtico
rugoso). Aps esta maturao, essas
28
protenas tero dois destinos: C podem ser
enviadas para fora da clula (secreo);C
podem ser enviadas para outra organela
(lisossomo) para participar da digesto
intracelular.
A Figura 29 apresenta o esquema de uma
clula eucaritica:
mp=memb. plasmtica; ri= ribossomos; mi=
mitocndrias; REG= retculo endoplasmtico
granular (rugoso); REA= ret. end. agranular
(liso); c= centrolo; G= golgi; Li= lisossomos;
Pe= peroxissomos; vs= vescula secretora;
ve= vescula endoctica; mv=
microvilosidade.
Secreo celular:
Muitas clulas produzem substncias
de exportao, isto , so substncias que
vo atuar fora da clula. Como exemplo,
temos as clulas glandulares. As clulas do
pncreas produzem insulina, que uma
protena importante para todas as clulas do
organismo. A esta exportao de substncia
chamamos SECREO CELULAR.
A secreo celular tem vrias
FASES. Vamos ver o exemplo da secreo
da insulina para entendermos estas fases. A
insulina uma protena, portanto, tem uma
seqncia especfica de aminocidos. Esta
seqncia est codificada no gene da
insulina que est no ncleo da clula. O A
primeira fase da secreo celular ocorre
ento, no ncleo da clula, onde o gene
transcrito em RNA mensageiro (mRNA). O
Este mRNA ento processado e sai do
ncleo. No citoplasma, ele ir se ligar aos
ribossomos no retculo endoplasmtico
rugoso (RER) e, l, ocorre a sntese da
protena (insulina) que entra no RER.O A
insulina transportada do RER at o
Complexo de Golgi, onde sofrer algumas
modificaes (amadurecimento) e ser
empacotada em vesculas.O As vesculas
produzidas pelo Complexo de Golgi,
chamadas vesculas secretoras, sero
levedas para fora da clula. Neste caso, a
insulina cair na corrente sangunea e ser
levada para todas as clulas do organismo.
Figura 29- -Sistema endomem-
branas da clula eucaritica
+ Lisossomos:
So vesculas que contm hidrolases
cidas (enzimas digestivas que atuam em pH
cido) e esto envolvidas no processo de
digesto intracelular.
29
Digesto intracelular:
Chamamos de digesto intracelular a quebra
de macromolculas como protenas, cidos
nuclicos e polissacardeos em seus
respectivos monmeros, ocorrendo no
interior da clula. Para fazer estas quebras,
so necessrias enzimas (PROTEASES,
DNAses, etc...). Estas enzimas no podem
ficar soltas no interior da clula, pois
quebrariam as protenas, DNA.... da prpria
clula. Por isso elas so isoladas no interior
de um compartimento, os lisossomos aonde
ocorre a digesto intracelular.
A digesto intracelular tambm
ocorre em FASES: OOO as trs primeiras
fases da digesto so idnticas a secreo
celular, uma vez que para fazer digesto,
precisamos enzimas que quebrem
macromolculas, e enzimas so protenas, e
a mensagem de como fazer as protenas
esto nos genes; O na quarta fase, ocorre a
internalizao do que vai ser digerido atravs
da vescula endoctica, ou seja, por
fagocitose ou pinocitose, a clula vai
internalizar o alimento dentro de uma
vescula (vescula endoctica) e O ocorre a
unio da vesicula endoctica com o lisossoma
primrio (produzido no complexo de golgi,
contendo as enzimas j prontas para atuar
na digesto). Da unio da vescula endoctica
com o lisossomo primrio formar-se- o
lisossoma secundrio, onde ocorrer a
digesto. Aps a digesto, os monmeros
sero lanados para o hialoplasma (lquido
que envolve todos os compartimento do
sistema de endomembrana), onde serviro
para a clula montar novos polmeros.
s vezes o lisossomo primrio
envolve partes da prpria clula, que por
algum motivo no esto mais funcionais,
formando o AUTOFAGOSSOMO, que um
lisossomo que digere uma parte da clula
(AUTOFAGIA - auto= por si prprio / fagos=
comer ).
Como podemos notar, tanto na digesto
celular como na secreo celular, nenhuma
parte do sistema de endomembranas atua
sozinha, ao contrrio, so processos em que
vrias partes do sistema de endomembranas
atuam em conjunto.
+ Peroxissomas:
Os peroxissomas ou microssomas so
pequenas vesculas de forma esfrica,
semelhantes aos lisossomos, porm as
enzimas que carregam so muito diferentes.
Os peroxissomas carregam OXIDASES
(peroxidases, catalases e superoxido
dismutase) que so enzimas que quebram as
formas ativas do oxignio (RADICAIS
LIVRES). Como exemplo de radicais livres
podemos citar a gua oxigenada (H
2
O
2
). A
gua oxigenada, chamada tambm de
perxido de hidrognio uma molcula muito
reativa, podendo reagir com as protenas e
outras macromolculas quebrando-as. Por
isso muitas pessoas usam gua oxigenada
para branquear os cabelos, pois a molcula
de H
2
O
2
quebra a melanina que uma
protena que d a cor ao cabelo.
No interior de nossas clulas,
milhares de reaes qumicas esto
continuamente sendo realizadas, a estas
30
reaes chamamos METABOLISMO. Muitas
reaes metablicas produzem,
normalmente, muitas formas reativas de
oxignio do tipo da gua oxigenada, ou
mesmo alguns mais reativos, como o
superoxido (O
2
-
). Para impedir que estes
radicais livres degradem as nossas prpria
protenas e DNAs, as nossas clulas
produzem algumas enzimas (oxidases) que
degradam estes radicais livres. Estas
enzimas so armazenadas nos
PEROXISSOMAS.
Crianas que nascem com um
defeito gentico em que estas enzimas no
so produzidas, morrem nos primeiros dois
anos de vida (Sndrome de Zellsweger).
+ Mitocndria:
Um compartimento (organela)
citoplasmtico muito importante a
mitocndria, uma vez que este
compartimento est envolvido no processo
de transduo de energia (transferncia de
energia provinda dos alimentos,
principalmente de molculas de glicdios e
lipdios para a molcula de ATP - Adenosina
Tri-Fosfato.
+ Ncleo:
Este que o maior compartimento do
sistema de endomembranas contm a
informao gentica, conforme j descrito
anteriormente.
Figura 30- Esquema trimensional do sistema
de endomembranas. Podemos ver o REG na
forma de cisternas (sacos achatados) e o
REL na forma de tbulos. O golgi tambm
apresenta a forma de cisternas, porm so
menores e no possui ribossomos aderidos.
CITOESQUELETO
A habilidade da clula eucaritica em
adotar variedades de formas, assim como
promover movimentos coordenados dos
componentes de seu interior, depende de
uma complexa rede de protenas
filamentosas chamadas de
CITOESQUELETO (Figura 31).
Citoesqueleto: rede de
protenas filamentosas que do
forma e movimento clula
Diferente de um esqueleto feito de
ossos, a rede de protenas do citoesqueleto
muito dinmica, reorganizando-se
continuamente. De fato, o citoesqueleto
poderia bem ser chamado de
citomusculatura, j que responsvel
pelas mudanas de forma das clulas, pelos
31
movimentos das clulas sobre um substrato
(movimento amebide), atua na contrao
muscular, assim como em todos os
movimentos intracelulares, tais como
transporte de organelas, segregao dos
cromossomos, etc...
Figura 31. Clula vista ao microscpio,
evidenciando a rede de protenas do
citoesqueleto
+DIVISES DO CITOESQUELETO:
O citoesqueleto pode ser dividido em
trs classes de componentes: os
microtbulos, os microfilamentos e os
filamentos intermedirios. Essas classes
diferem em relao ao tipo de protena que
as compe, ao padro de distribuio no
interior da clula e quanto s funes
desempenhadas na clula.
+MICROTBULOS
So tubos ocos, de 25 nm, formados
por uma protena globular, a TUBULINA.
Milhares destas protenas iro se unir
(polimerizar) formando os microtbulos.
Figura 32- Microtbulos
Os microtbulos se distribuem pelo interior
da clula, a partir de uma regio central
chamado centro celular, aonde nas clulas
animais encontra-se o centrolo.
Estes microtbulos citoplasmticos
so importantes em estabelecer a forma da
clula, pois, ao se irradiarem a partir do
centro da clula, atuam como se fossem
estacas ou colunas.
Os microtbulos citoplasmticos
tambm esto envolvidos em movimento dos
componentes internos das clulas. Existem
protenas enzimticas, como a dinena e a
cinesina que quebram ATP e usam a
energia liberada para promover movimento.
Estas protenas ligam-se s organelas que
precisam ser transportadas no interior da
clula, e usam os microtbulos como se
fossem trilhos, transportando as organelas
at seu destino.
Alm de constituir uma rede
citoplasmtica, os microtbulos podem
formar ORGANELAS MICROTUBULARES.
Neste caso, muitos microtbulos e protenas
motoras se unem para formar uma estrutura
com uma finalidade especfica. Por exemplo,
32
durante a diviso celular, um feixe de
microtbulos se estende de um plo da
clula at o outro, estes microtbulos
serviro como trilhos por onde as protenas
motoras levaro os cromossomos para os
plos da clula.
Clios e flagelos (ex.: flagelo da
cauda do espermatozide), so formados
por muitos microtbulos e protenas motoras.
As protenas motoras fazem com que os
microtbulos apresentem movimentos
rtmicos, dando capacidade de deslocamento
para a clula. Clios e flagelos tm uma
organizao peculiar: nove pares de
microtbulos formaro um feixe em volta de
um par central.
+MICROFILAMENTOS
Os microfilamentos so formados,
principalmente por uma protena chamada
ACTINA. Esta, uma protena globular, mas
ao polimerizar-se formar longos filamentos
de 5 a 9 nm. Estes filamentos formam uma
rede logo abaixo da membrana plasmtica,
servindo de sustentao para essa estrutura
que muito fina e frgil.
Figura 33 Microfilamentos
Alm de serem importantes para dar
forma clula, os microfilamentos tambm
so responsveis por movimentos
intracelulares (ex.: ciclose e movimentos
amebides). Essa funo executada
principalmente por uma protena motora, a
MIOSINA, que tambm usa o ATP como
fonte de energia e produz movimentos ao se
ligar e puxar as fibras de actina.
+FILAMENTOS INTERMEDIRIOS
Os filamentos intermedirios so
filamentos com um dimetro em torno de 10
nm, formado por vrios tipos de protenas,
sendo a mais importante delas a
QUERATINA.
Os filamentos intermedirios
filamentos associam-se a protenas da
membrana plasmtica e formam ligaes
entre clulas vizinhas, mantendo-as unidas.
Nas clulas epiteliais, por exemplo, os
filamentos intermedirios so mais
abundantes pois a unio entre as clulas
deve ser mais forte.
DO UNICELULAR AO PLURICELULAR
Durante o processo evolutivo, alguns
organismos tomaram o caminho de formar
colnias de muitas clulas. Posteriormente,
cada clula foi se especializando em uma
determinada funo. Este caminho levou ao
surgimento de seres pluricelulares.
A rigor, todas as clulas dos
pluricelulares contm a MESMA
INFORMAO GENTICA. Como ento a
maquinaria metablica de uma clula
33
muscular to diferente daquele de um
neurnio?
A medida que ocorre o
desenvolvimento dos organismos
pluricelulares, diferentes genes sero
ativados. ( VER FIGURA 34) As clulas vo
sofrer um processo chamado de
diferenciao, tomando as suas vrias
funes. Embora todos os genes estejam
presentes em todas as clulas, nas clulas
musculares apenas alguns genes so ativos
(so transcritos) e ento s as protenas
codificadas pelos genes transcritos esto
presente nessas clulas. J em uma clula
nervosa, embora possua os mesmos genes
da clula muscular, outros genes esto
ativos, resultando a traduo de outras
protenas.
FIGURA 34 Diferenciao celular que
corre no desenvolvimento de organismos
pluricelulares.
34
PRTICAS DE BIOLOGIA CELULAR*
Rec o mend a es d e o r d em ger al a ser em
o bser vad as no uso d o Labo r at r io **
A manuteno do material colocado
a sua disposio depende de sua boa
vontade e do seu senso de responsabilidade
pessoal. O microscpio que voc usa custou
elevado preo, cuida dele como se fosse seu.
Dedique 3 minutos finais de cada aula
para limpar as objetivas com leno de
papel (se foi usado leo de imerso),
assim como a sua bancada.
Freqentemente voc dever fazer
desenhos ilustrativos das preparaes
observadas. Para tal, traga folhas de papel
ofcio, ou um caderno de desenho. Exatido
nos detalhes, limpeza e capricho sero
levados em conta mais do que habilidade
para a arte de desenhar. Nunca desenhe
algo incgnito que veja sob o microscpio.
Compare aquilo que visto sob o
microscpio com ilustraes de livros,
quadros ou outras fontes. No se limite
apenas a copiar figuras, examine o material
colocado a sua disposio.
Os roteiros de aulas prticas que
esto includos neste caderno devem ser
lidos CUIDADOSAMENTE antes que
qualquer trabalho seja iniciado. Discuta suas
dvidas com o professor. Procure estar
sempre em dia com os trabalhos das aulas
prticas.
PONTOS A SEREM OBSERVADOS AO
DESENHAR:
Porque se exige um bom desenho:
1) para obrigar a observar.
2) para que a observao possa ser corrigida
por outra pessoa.
1
3) para que fique um registro da observao
efetuada que possa ser consultada
posteriormente.
**Copia parcial da introduo de MANARA,
N.T.F.(mimeografado, sem data).
FORMA CORRETA DE REALIZAR OS
DESENHOS EXIGIDOS
NAS AULAS PRTICAS.
1) Todos os desenhos e as anotaes
devero ser feitos com lpis HB, ou similar,
com a ponta fina. Tenha a mo uma borracha
macia.
2) No esquea a data e o aumento
usado.
3) Guarde as folhas arquivadas, junto ao
caderno didtico.
4) Escreva sempre com letras de
imprensa.
5) No encha o campo de desenhos. Os
espaos em branco facilitam a compreenso
e posterior estudo do tema.
6) Os desenhos devem ser proporcionais
ao observado. No faa desenhos muito
pequenos.
7) As setas indicadoras dos elementos
desenhados devero ser linhas suaves, feitas
com rgua e paralelas ao borde inferior da
folha.
8) A utilizao de formas geomtricas
(Figura 2.1) artifcio para facilitar a
representao do objeto. Sobre esta base se
1
Mais detalhes de algumas das prticas aqui
descritas podem ser encontradas no livro:
LORETO, E.L.S. & SEPEL, L. M.N. Atividades
experimentais e didticas de Biologia Molecular
e Celular. Ribeiro Preto, SBG. 2003. 2a ed.
www.sbg.org.br
35
trabalhar, at obter a maior semelhana
possvel com o observado.
9) Na Figura 2.2, encontrar um exemplo
de proporo, formas, espaos, distncias e
grossuras dos traos.
10) Antes de comear a desenhar o
contorno dos objetos:
a) observe bem o preparado. Estude-o
e interprete-o;
b) determine exatamente o espao que
vai ocupar o desenho, marcando com linha
suave;
c) observe a relao que guardam
entre si os elemento a desenhar, isto , sua
proporo, tamanho e forma, fixe-os com
linhas auxiliares dentro do contorno geral
(Figura 2.2).
Figura 2.1 Observao da linha e forma na hora de desenhar
Figura 2.2 Cuidados no fazer o desenho quanto proporo, forma, e espao.
36
1
a
Aula
O USO DO MICROSCPIO PTICO (MO)
O mundo microscpico fascinante. O microscpio foi um aparelho que muito contribuiu
para o desenvolvimento da Biologia Celular. Por esse motivo iniciamos as atividades prticas
dessa disciplina descrevendo um microscpio ptico e dando algumas dicas para o seu uso
adequado.
Uma clula animal tpica tem 10 a 20 m de dimetro, ou ao redor de 5 vezes menos do
que a menor partcula visvel ao olho nu. Portanto, a descoberta de que os animais e vegetais
eram compostos por agregados de clulas individuais, ou a existncia de pequenos seres
unicelulares, no foi possvel at que bons microscpios fossem fabricados, no incio do sculo
XIX.
As clulas animais no so apenas pequenas, mas so descoloridas e translcidas;
conseqentemente, a descoberta de sua organizao interna dependeu, tambm, do
desenvolvimento, na ltima metade do sculo XIX, de uma variedade de corantes que tornaram
vrias partes da clula visveis.
O microscpio tem por objetivo produzir imagens aumentadas de objetos to pequenos
que, ao exame da vista desarmada, no poderiam ser vistos. Tem ainda como escopo, revelar
detalhes texturais imperceptveis a olho nu.
Devemos lembrar que os objetos so vistos por duas razes fundamentais: 1) porque
absorvem a luz; 2) por causa da diferena entre o seu ndice de refrao e o do meio que os
envolve. Quanto maior a diferena, mais facilmente o objeto ser visto. Assim, as clulas e seus
componentes, para serem observados ao microscpio devem ser tratados por reagentes especiais,
do que resulta sua colorao, isto , os componentes celulares passam a absorver luz
diferentemente, tornando-se bem visveis.
Chamamos de limite de resoluo (LR) a capacidade mxima de ver dois objetos como
distintos. O LR depende do comprimento de luz usado e da abertura numrica do sistema de
lentes. Dentro da faixa de luz visvel o LR de 0,4 m para o violeta e 0,7 m para o vermelho. Em
termos prticos, bactrias e mitocndrias (+/- 0,5 m) so geralmente os menores objetos vistos ao
M.O.
Na Figura 2.3 temos um microscpio, em que so indicadas as suas principais partes. Um
microscpio compe-se de um sistema ptico (condensador, objetivas e oculares), corpo do
microscpio (mesa, tubo, platina...) e fonte de iluminao (que nos microscpios mais antigos no
fazem parte do microscpio).
O condensador tem por objetivo prover uma iluminao uniforme. Geralmente dotado de
um diafragma que permite controlar a quantidade de luz que incidir sobre a preparao a ser
37
observada. Em muitos aparelhos, a intensidade e qualidade da luz tambm pode ser controlada
atravs de um parafuso que permite subir ou baixar o condensador.
Duas lentes ou conjuntos de lentes permitem o aumento da imagem da preparao, so as
lentes oculares e as objetivas. As oculares, como o prprio nome diz, ficam prximas ao olho do
observador. J as objetivas ficam prximas ao objeto a ser observado. As objetivas so afixadas
em um sistema rotativo, o revlver, que permite que sejam trocadas com facilidade. Quanto maior
o tamanho da objetiva, maior o aumento que ele proporciona. As objetivas e oculares, trazem
escrito no seu corpo, vrias informaes e entre elas o seu valor de aumento. O aumento final
dado por um conjunto de lentes obtido multiplicando o aumento da objetiva pelo aumento da
ocular. Assim, se o aumento da objetiva de 10X e a ocular tambm de 10X o aumento final
de 100 vezes.
Como proceder para focalizar no microscpio:
1) Mova o revolver de modo a deixar a objetiva panormica (menor aumento) na posio
de observao, e abaixe totalmente a mesa.
2) Coloque a lmina na mesa (platina), fixando-as com as garras do charriot (obs: a
lamnula deve estar voltada para cima).
3) Ligue o sistema de iluminao e ajuste o charriot de modo a centrar o material a ser
observado na regio iluminada do orifcio da platina.
4) Olhe pela ocular ao mesmo tempo em que a mesa lentamente elevada, girando o
parafuso macromtrico, at que a preparao esteja focalizada. Use o micromtrico para fazer o
ajuste fino do foco.
5) Mova a lmina usando o charriot de forma a encontrar campos interessantes a serem
observados. Interprete o que estas vendo, registre e se necessrio desenhe.
6) Quando mais detalhes de uma regio da lmina so necessrios, utilize as objetivas de
maior aumento (10X; 40X). Para tal, basta girar o revlver e fazer um ajuste fino do foco com o
micromtrico.
PARA USAR A OBJETIVA DE 100X, se faz necessrio colocar uma gota de leo de
imerso entre a lamnula e a lente. Focalize mexendo somente o micromtrico.
Aps o uso da lente de imerso no esquea de retirar o leo da objetiva e tambm da
preparao.
Outros lembretes importantes:
Cada pessoa tem uma distncia entre os seus olhos. Para que possamos olhar em
microscpios binoculares (com duas oculares), estes possuem um sistema de regulagem da
distncia interorbital, ou seja, um mecanismo que permite movimentar os dois canhes para a
medida exata da distncia entre os olhos de cada usurio. Alm disso, ao menos uma das
oculares tem uma regulagem de foco independente. Assim, ao comear a observao em um
microscpio binocular, primeiro focalize olhando somente a ocular que no tem regulagem,
posteriormente, focalize com a outra ocular, girando o controle de foco da ocular.
A iluminao, de fundamental importncia na visualizao ao microscpio ptico. Aps a
focalizao, movimente o condensador e o diafragma deste, at encontrar a iluminao ideal.
38
Ao encerrar as observaes ao microscpio no esquea de deixa-lo com a platina
abaixada, com a objetiva panormica, e desligado.
Procedimento:
1) Corte um pedao de jornal que contenha algumas letras, coloque sobre uma lmina e
leve ao microscpio.
2) Focalize algumas letras. O que acontece? Desenhe.
3) Mude as objetivas. O que acontece? Desenhe.
4) Pegue um fio de cabelo, coloque entre lmina e lamnula. Leve ao microscpio, observe
e desenhe.
Questes a serem respondidas:
1) Como se calcula a aumento final que estamos vendo em um microscpio?
2) Porque a imagem vista em um microscpio invertida?
3) O que microscopia de fluorescncia? Para que serve?
4) O que microscopia de contraste-de-fase? Para que serve?
5) Descreva o processo de focalizao de Khler
6) O que um estereomicroscpio?
7) O que microscopia eletrnica? Descreva o funcionamento de um microscpio eletrnico e
compare o seu funcionamento com o do microscpio ptico.
Figura 2.3 Partes do microscpio
39
2a aula
observando clulas de epitlio
de escamas de cebola
Um dos materiais mais apropriados para um primeiro contato com as clulas uma
preparao a fresco de epitlio de escamas de cebola. uma prtica extremamente simples e as
clulas desse material so grandes de tal forma que com qualquer microscpio mesmo rudimentar
permite a visualizao dessas clulas. Com um microscpio de uma boa ptica possvel observar
o ncleo, nuclolo, plasmlise, parede celular, e plasmodesmos.
OBSERVANDO OSMOSE EM CLULAS VEGETAIS
1) Retire a epiderme de uma escama de cebola e coloque sobre uma lmina com uma gota
de azul de metileno (0,3%). Preste ateno para retirar o epitlio exterior da escama, pois este tem
uma nica camada de clulas enquanto o da camada inferior tem vrias camadas o que dificultar
a observao. Espere 1 minuto para corar e depois retire o excesso de corante com uma gota de
gua.
2) Cubra com uma lamnula. Cuide para no ficar bolhas de ar e que fique lquido entre a
lmina e a lamnula. Seque a lmina principalmente a face de baixo (sem a lamnula) pois se esta
ficar mida, vai grudar na mesa do microscpio dificultando o movimento do charriot.
2) Observe e desenhe as clulas de epiderme de cebola, indicando a parede celular, o
ncleo e o nuclolo.
3) Coloque em um dos lados da lamnula uma gota de uma soluo saturada de NaCl ou
sacarose (ou glicerina). Observe, descreva e desenhe o que aconteceu.
4) Identifique os plasmodesmos, e a parede celular.
Responda as seguintes questes:
1) Faa um desenho com todas as partes observadas.No esquea as legendas,
aumentos e a data.
2) Qual o formato das clulas observadas?
3) Para que serve o azul de metileno?
4) O que aconteceu quando colocamos as clulas em uma soluo hipertnica? Por que?
5) O que plasmlise?
6) O que so plasmodesmos?
7) O que a parede celular? No que ela difere da membrana plasmtica?
40
PARA FAZER EM CASA (As questes e desenhos dessa atividade deve ser entregue junto com as
questes e desenhos da segunda aula)
PROPRIEDADES FSICO-QUMICAS DOS COMPONENTES DA
MEMBRANA PLASMTICA.
Material necessrio: 3 recipientes (copo, vidro de remdio...); 1 colher; azeite; gua;
detergente colorido (azul, verde ou vermelho); solvente orgnico (acetona, gasolina, ter ou gua-
raz); acar e sal.
As macromolculas que compe os seres vivos podem ser classificadas em 2 tipos:
polares, sendo solveis em gua (hidrossolveis) e as apolares que so insolveis em gua, mas
solveis em solventes orgnicos como ter, clorofrmio, cetonas... (lipossolveis).
Procedimento:
1) Em um recipiente com um pouco de azeite de cozinha (que um lipdio- portanto
apolar), coloque uma pitada de acar (que um glicdio). Mexa bem. O que aconteceu? Por que?
- Repita com sal de cozinha, o que aconteceu? Por que?
2) Em um recipiente, coloque um pouco de acetona ou ter ou gua-raz ou gasolina (todos
estes so solventes apolares). Coloque uma colher de acar. Agite. O que aconteceu? Por que?
- Repita com uma gota de azeite. O que aconteceu? Por que?
3) Em 3 recipientes, coloque:
no 1
o
: 1/2 de gua, 1/2 de azeite
no 2
o
: 1/2 de azeite, metade de detergente colorido (azul ou vermelho)
no 3
o
: 1/3 de gua, 1/3 de azeite e 1/3 de detergente colorido.
Agite os lquidos com uma colher e observe por 5 minutos ou mais. Descreva o
que aconteceu?
As membranas biolgicas so formadas, principalmente, por lipdios e protenas
anfipticas, ou seja, molculas com uma parte apolar (lipossolveis) e uma parte polar
(hidrossolvel) como os detergentes. Portanto so, hidrossolveis e lipossolveis ao mesmo
tempo.
41
Responda:
a) Faa um desenho de como so organizadas as molculas anfipticas de detergentes
em uma bolha de sabo.
b) Faa um desenho de como so organizadas as molculas de lipdios e protenas nas
membranas plasmticas (Consulte os modelos nos livros de Biologia Celular).
c) Que propriedades podemos esperar da Membrana Biolgica segundo o modelo do
Mosaico Fludo ?
d) Qual a funo dos lipdios (fosfolipdios) nas membranas biolgicas segundo o modelo
do M-F ?
e) Qual a funo das protenas nas membranas biolgicas segundo o modelo M-F?
3
a
Aula:
COMPARANDO CLULAS PROCARIOTAS E EUCARIOTAS.
Os seres vivos podem ser classificados em dois grandes grupos: os procariontes e os
eucariontes, conforme a organizao da clula que os compe. O objetivo desta prtica de
comparar clulas procariotas e eucariotas, suas semelhanas e diferenas. Ao microscpio ptico,
o que mais chama a ateno, a grande diferena de tamanho que existe entre as clulas
procariontes e eucariotes tpicas. claro que podemos encontrar clulas procariontes, como
algumas algas cianofcias, que possuem tamanho prximo ou mesmo maior que algumas clulas
eucariontes. Entretanto, a regra que os procariontes geralmente tm clulas bem menores que
os eucariontes.
Outra diferena bem marcante a presena do ncleo nos eucariontes e a sua ausncia
nos procariontes. Internamente, no s a presena do ncleo difere os procariontes dos
eucariontes, mas sim uma intensa compartimentalizao das diversas funes celulares em
organelas envoltas por membranas, o sistema de endomembranas que caracteriza as clulas
eucariontes. Porm, via de regra, o sistema de endomembranas de difcil visualizao ao
microscpio ptico, sendo mais bem observado ao microscpio eletrnico.
Nesta atividade, vamos colocar lado-a-lado clulas bacterianas (uma tpica clula
procarionte) e clulas da mucosa da bochecha (representando uma tpica clula eucarionte).
42
Material necessrio:
Lmina, lamnula, palito de fsforo, placa com bactrias, ala de platina, lamparina, lcool
70%, corante azul de metileno 0,05%, papel filtro, copo Becker 250 ml (ou vidro de Nescaf),
microscpio.
Procedimento:
1) Com uma ala de platina, encoste levemente em uma colnia de bactrias na placa de
Petri.
2) Esfregue a ala na lmina at espalhar bem as bactrias.
3) Fixe as bactrias pelo calor, passando a lmina na chama de uma lamparina, com as
bactrias voltadas para cima, tomando o cuidado para a lmina no aquecer demais (controle nas
costas da mo).
4) Com um palito de fsforo, raspe a bochecha, posteriormente,esfregue o palito em cima
da regio da lmina em que previamente foram colocadas as bactrias.
5) Fixe as clulas em lcool 70% por 1 minuto.
6) Coloque uma gota de corante (azul de metileno 0,3%) e espere 1 minutos.
7) Tire o corante, deixando passar um pequeno fluxo de gua, sob a torneira.
9) Cubra com lamnula, seque os lados da lmina e observe ao microscpio.
Questes a serem respondidas:
1) Compare as clulas procariotas e eucariotas (observe e desenhe):
a) Quanto ao tamanho - Faa um desenho com as relaes de tamanho, no esquecendo
de anotar o aumento usado.
b) Quanto forma.
c) Quanto presena de ncleo.
d) Porque fixamos as bactrias na chama ?
e) Qual a funo da fixao em lcool ?
f) Qual a funo de cada um dos componentes do corante?
2) Quais seres vivos chamamos de procariontes? Quais os que representam os
eucariontes?
3) Que outras diferenas existem entre as clulas procariotas e as eucariotas, mas que no
puderam ser vistas ao microscpio ptico? O que precisamos fazer para poder detectar estas
diferenas?
43
Para fazer na cozinha (2)
UM POUCO DE FSICO-QUMICA:
(as questes dessa atividade devem ser respondidas e entregues junto com as da 3a aula)
O que pH ?
INFORMAES TERICAS:
Muitas molculas esto continuamente formando ons. A gua, por exemplo, forma os ons
H+ e OH-, que permanecem por algum tempo nesta forma inica e voltam a se associar para
formar nova molcula de gua. A molcula de gua ao se dissociar, forma quantidades iguais de
ons H+ e OH- .
Algumas molculas formam quantidades desiguais de ons H+ ou OH-. Por exemplo:
a) HCl (cido clordrico) forma os ons H+ e Cl - . Sempre que a dissociao de uma molcula em
seus ons forma prtons H+, ela um CIDO.
b) NaOH (hidrxido de sdio) forma os ons Na+ e OH-. Sempre que a dissociao de uma
molcula em seus ons forma hidroxilas OH-, ela uma BASE.
O pH (potencial de Hidrognio) uma medida da quantidade de prtons H+ presentes em
uma soluo. Quanto mais prtons H+, mais cida a soluo. Quanto mais hidroxilas (OH-)
mais bsica, ou alcalina a soluo. A gua, como tem igual quantidade de H+ e OH- dita
NEUTRA.
Chamamos de ESCALA DE pH as variaes na quantidades de prtons H+, que varia de 1
a 14. As solues com pH abaixo de 7 so ditas cidas e as acima de 7 so as bsicas (alcalinas).
A gua tem pH 7,0.
cido Neutro Base
pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Quando, em uma soluo cida, vamos gradativamente acrescentando uma base,
forma-se Sal e gua e o pH da soluo vai subindo at ficar neutro e posteriormente continua
subindo tornando-se bsica.
44
Agora, se comearmos a adicionar um cido em uma soluo bsica, o pH vai diminuindo,
torna-se neutro e passa a cido.
EXPERIMENTOS PARA DEMONSTRAR ALTERAO DE pH
Algumas substncias podem mudar de colorao dependendo do pH da soluo.
Podemos usar esta propriedade para demonstrar alteraes de pH.
45
I . Preparando a atividade:
Material Necessrio para Execuo do Experimento:
- Folhas de Repolho Roxo,
- cido actico (3%) ou vinagre
- Hidrxido de sdio (0,1 M), ou uma soluo feita com umas escamas de soda custica (2 ou 3)
em 10 ml de gua (+/- 3 colheres); em ltimo caso pode se usar leite de magnsia.
- Frascos incolores / transparentes para a visualizar as alteraes de colorao
- Conta-gotas ou pipetas (no mnimo um para cada soluo)
Preparo das Solues-
A) Infuso de repolho roxo:
Picar bem 2 a 3 folhas de repolho roxo (correspondente a uma xcara), colocar em gua
fervente e esperar alguns minutos, para que a gua torne-se colorida.
PROCEDIMENTO:
1. Colocar, em quatro frascos transparentes um pouco da soluo de repolho roxo
2. Acrescentar algumas gotas de vinagre. Observe o que acontece.
3. Acrescente agora algumas gotas de soluo de NaOH (ou soluo de soda custica).
Acrescente tanta gotas at que no mude mais de cor.
4. Volte a adicionar gotas de vinagre.
5. Volte a adicionar NaOH.
6. Comparar e registrar as coloraes obtidas.
OBS.: O fenmeno de alterao de cores reversvel portanto, ocorrendo toda vez que o pH
ultrapassa o ponto de viragem do indicador.
Responda as questes:
1) Quais so os pHs que encontramos no sangue, na urina e no estomago humano?
2) O pH do sangue sofre variaes? Existe algum mecanismo de controle do pH no sangue?
3) E dentro da clula, as diferentes organelas tm o mesmo pH? D exemplos.
4) O que acontece com as protenas quando temos pequenas alteraes de pH ? E quanto as
protenas so submetidas a grandes alteraes de pHs, como quando colocadas em um meio com
pH muito cido ou muito alcalino?
5) Localize 5 propriedades biolgicas associadas com pH?
46
4
a
Aula
ESTUDANDO A PASSAGEM DE SOLUTOS E SOLVENTES
PELA MEMBRANA PLASMTICA.
As clulas de qualquer organismo esto cobertas pela membrana celular. A constituio
dessa membrana promove a passagem controlada de substncias e o conseqente equilbrio
dinmico dentro do organismo.
A gua e outros ons pequenos podem passar sem gasto de energia (transporte passivo)
pelas membranas biolgicas (M.B).
Uma das formas de transporte passivo a osmose, que vem a ser a passagem do solvente
de uma soluo menos concentrada para a soluo mais concentrada, atravs de uma membrana
semi-permevel.
Observao importante:
O uso de sangue em aulas prticas, deve ser feito com muita cautela, principalmente
depois do aparecimento da AIDS. Mas pensamos que isto, ao invs de ser um obstculo, deve ser
um componente a mais para a formao dos alunos. Devemos fazer uso de agulhas estreis, o
chamar a ateno para que todos evitem, de toda maneira, usar a lmina dos colegas, ficando
restrito a manipulao do seu prprio sangue. O professor, e todos os que vo manipular sangue,
devem, sem exceo, usar luvas descartveis. Aps a atividade, todo o material deve ser
desinfectado com lcool.
Material necessrio:
Lmina, lamnula, agulha hipodrmica descartvel, lmina de barbear, conta gotas, gua
destilada, soro fisiolgico (NaCl 0,9%), soluo hipertnica (soluo saturada de NaCl e/ou
acar); papel filtro, MO, luvas descartveis, gua sanitria, algodo, glicerina.
Procedimento:
1) Coloque uma gota de soro fisiolgico em duas lminas limpas (o uso de soro fisiolgico
e opcional, se a gota de sangue for de um volume razovel -uma gota grande- no se faz
necessrio o uso de soro fisiolgico).
2) Fazer um pequeno furo na ponta de um dedo, com uma agulha descartvel estril e
colocar uma gota de sangue sobre cada lmina (todas as agulhas devem ser dispensadas em um
frasco com uma soluo 20% de gua sanitria).
3) Cubra com lamnula e observe ao MO. Descreva e desenhe as hemcias.
47
4) Em uma das lminas, com um conta-gotas coloque uma gota de uma soluo
hipertnica em um dos lados da lamnula e encoste um papel filtro do outro lado para substituir o
soro da lmina. Dessa forma, o papel filtro puxar um pouco do sangue da lmina e no outro lado,
um pouco da soluo hipertnica entrar em contato com as clulas sanguneas.
5) Observe ao MO, principalmente na regio da lmina onde as hemcias mais entraram
em contato com a soluo hipertnica que as hemcias murcharam, ficando crenadas.
6) Na outra lmina, repita o mesmo procedimento anterior, s que em vez de soluo
saturada, use gua destilada. Observe na regio da lmina onde as hemcias mais entraram em
contato com a soluo hipotnica que as clulas esto trgidas, quase estourando (e as vezes
realmente estouram).
Terminada esta parte da prtica, as lminas devem ser mergulhadas em uma soluo de
gua sanitria 20% (ou lcool 96 GL) por no mnimo 1/2 hora, para depois ser limpo e
reaproveitadas. Cada aluno deve passar um algodo com lcool, na mesa e demais partes
manuseadas do microscpio.
1) O que osmose? quando ocorre?
2) Porque ocorre hemlise (as hemcias estouram) quando as colocamos em gua destilada?
3) Porque as hemcias ficam crenadas na presena de uma soluo hipertnica?
48
5a aula
FRACIONAMENTO CELULAR
O emprego do microscpio, seja o microscpio ptico ou eletrnico, geralmente fica restrito
descrio das estruturas celulares. Para o estudo da composio qumica dos componentes
celulares e interpretao das interaes entre estes componentes para explicar o funcionamento
celular, se faz necessrio o emprego de outras metodologias que no o uso do microscpio. O
estudo bioqumico dos componentes celulares requer a separao e o isolamento cuidadoso das
vrias organelas e macromolculas celulares. As 3 principais tcnicas usadas para isto so a
centrifugao, cromatografia e eletroforese.
1) ORGANELAS E MACROMOLECULAS PODEM SEM SEPARADAS POR
CENTRIFUGAO.
As clulas podem ser rompidas de vrias maneiras, como por choque osmtico, vibraes
ultrasnicas, foradas a passar por um pequeno orifcio ou homogeneizadas por fora mecnica.
Quando cuidadosamente aplicadas, estes procedimentos deixam as organelas como ncleo,
mitocndrias, complexo de Golgi, peroxissomos... intactos. Assim como muitas vesculas derivadas
do retculo endoplasmtico, chamadas microssomos, mantm muito de suas propriedades
bioqumicas originais.
Como todos estes componentes tem grandes diferenas de tamanho, eles podem ser
separadas por centrifugao.
Postos em um tubo a girar em altas rotaes, os vrios componentes vo sofrer a ao da
fora centrfuga. Os componentes maiores como clulas intactas e ncleos vo sedimentar
primeiro no fundo do tubo (p/ ex: 1000 rpm por 5'); rotaes medianas em maior tempo faro
sedimentar componentes um pouco menores como mitocndrias, lisossomas e peroxissomas
(20.000 rpm por 10'). Altas rotaes em tempos ainda maiores (80.000 rpm por 3 horas)
sedimentam ribossomos e grandes macromolculas.
Ver esquema de fracionamento por centrifugao em Junqueira e Carneiro (2000).
Material Necessrio:
Folhas de Tradescantia; gral e pistilo; tubos de centrfuga; pipetas Pasteur; centrfuga;
soro fisiolgico; SDS 10% (sdio-duodecil-sulfato) ou detergente, gua destilada. lmina, lamnula
e microscpio.
49
Procedimento:
Primeira parte: Observao de um corte transversal de folha de Tradescantia
1) com uma gilete afiada, corte transversalmente uma folha de Tradescantia, o mais fino
possvel.
2) Coloque o corte em uma lmina com uma gota de gua, cubra com lamnula e leve ao
microscpio.
3) Observe: a) que clulas tem pigmento roxo. Desenhe
b) Que clulas tem cloroplastos. Identifique os cloroplastos e desenhe.
Segunda Parte: Fracionamento por centrifugao.
1) Coloque 3 ml de soro fisiolgico em um gral;
2) Esmague nesta soluo 3 a 4 folhas de Tradescantia com um pistilo;
3) Coloque o lquido em um tubo de centrfuga e centrifugue rapidamente (15 seg) para retirar
fibras de celulose e restos de tecidos;
4) Transfira o sobrenadante para um novo tubo, e centrifugue por 5 minutos a 7.000 rpm.
6) Desenhe e descreva o que encontramos no tubo aps a centrifugao.
7) Passe o sobrenadante para um novo tubo.
8) Ressuspenda o precipitado com dois ml de soro fisiolgico.
9) Faa uma lmina com o sobrenadante e com o precipitado, observe ao microscpio e
desenhe.
10) Acrescente uma gota de SDS 1% ou detergente no tubo com lquido verde, agite por um
minuto.
11) Centrifigue os tubos, sobrenadante e o precipitado (agora ressuspenso) por 5 mim a 7.000.
12) Observe e desenhe o que encontramos nos tubos
13) Faa uma lmina com o precipitado do tubo verde.
Responda as questes:
1) Que mtodo usamos para romper as clulas, nesta prtica?
2) Porque usamos soro fisiolgico e no gua?
3) O que encontramos no sobrenadante aps a primeira centrifugao? E no precipitado?
4) Por que usamos o SDS?
5) Por que o sobrenadante agora verde e o precipitado incolor?
6) o que uma ultracentrfuga?
7) Faa um esquema de fracionamento celular, que voc poderia fazer se tivesse uma
ultracentrfuga, e desejasse fracionar hepatcitos nos seus vrios componentes.
6a aula
50
FRACIONAMENTO MOLECULAR POR CROMATOGRAFIA
Como podemos isolar uma protena ou uma outra molcula da clula?
Para o desenvolvimento da Biologia Celular, foi crucial obter as molculas que compe a
clula, como as protenas, em seu estado puro, isto , isolado das outras molculas da clula. Mas
mesmo uma bactria bem simples possui mais de 2000 tipos de protenas, como podemos isolar
s uma enzima que nos interesse?
Um dos mtodos mais utilizados para este fim a cromatografia de coluna, na qual uma
mistura de molculas em soluo aplicada na parte superior de uma coluna, que contm uma
matriz slida, porosa. Posteriormente, um grande volume do solvente passa pela coluna e
coletado em tubos separados, medida que emerge na parte inferior da coluna. As diferentes
molculas so retardadas diferencialmente, pela sua interao com a matriz, molculas diversas
atravessam a coluna com velocidades diferentes e so ento fracionados em uma srie de tubos.
Depois de passar em algumas dessas colunas, a enzima de nosso interesse estar
isolada de todas as outras molculas, em um dos diferentes tubos que foram coletados.
Atividade experimental:
1- Coloque um pequeno pedao de esponja na ponta de uma pipeta Pasteur.
51
2- Faa uma soluo de Slica gel em um copo volumtrico ou becker, usando gua de torneira
levemente acidulada com 1 gota de vinagre para cada 10 ml. Com um conta-gotas, coloque a
resina (slica gel) na coluna. A este procedimento chamamos empacotamento da coluna.
3- Em um gral, coloque uma folha de manto-de-viuva (Tradescantia), com umas gotas de gua-
acidulada e esmague com o pistilo.
4- Colocar aproximadamente um ml desse lquido na coluna
5- Com uma pipeta de Pasteur coloque gua na ponta superior da coluna e observe que um lquido
roxo comea a descer, enquanto uma camada verde se deposita na ponta superior da coluna.
Aps algum tempo comea a pingar uma soluo roxa (antocianina). Colete amostra desta fase.
6- Substitua o lquido que passa pela coluna, coloque etanol na parte superior da coluna e observe
que o pigmento verde comea a descer
7- Quando comear a pingar o pigmento verde, colete uma amostra deste.
Responda:
1) Faa um desenho esquemtico representando o experimento e explique-o.
2) Porque o pigmento roxo diludo primeiro na coluna?
3) Por que o pigmento verde fica retido no coluna enquanto estava passando gua pela coluna?
4) Por que ele desceu na presena de lcool?
5) Qual a localizao intracelular das antocianinas?
6) Qual a localizao intracelular das clorofilas?
7) Qual a solubilidade desses pigmentos?
ISOLAMENTO DE DNA NA COZINHA
Em um laboratrio de Biologia Molecular, o primeiro passo para se estudar um gene o
isolamento do DNA. Voc tambm pode fazer isto na sala de aula ou em sua cozinha.
Procedimento:
1) Pique uma cebola grande (250g) em pequenos pedaos (ou rale com um ralador). Faa uma
soluo misturando 10 ml de detergente de loua, 1/2 colher de sopa de sal e complete com gua
at 100 ml. Aquea a soluo at +/- 60
o
C e adicione esta mistura ao picadinho de cebola,
deixando 10 minutos em banho-maria a 60
o
C.
52
2) Resfrie rapidamente a mistura colocando o recipiente em uma bacia contendo gua e gelo. Coe
a mistura em um filtro de papel para caf, aparando o filtrado em um vidro.
3) Adicione delicadamente lcool (gelado) no filtrado de cebola, deixando o etanol escorrer pela
parede do vidro. Observe a formao de fios esbranquiados que sobem para onde est o lcool.
Estes fios correspondem aos cidos nuclicos - DNA e RNA.
4) Voc pode retirar o DNA da soluo enrolando em um basto.
5) Deixe o basto secar ao ar e coloque o basto em um tubo com gua para re-dissolver o DNA.
Aplique este DNA no processo de eletroforese explicado a seguir.
Atividades Propostas e Perguntas
1) Faa um desenho esquemtico com todas as fases do experimento. - Em detalhe, mostre o que
vai acontecendo com as clulas e com as macromolculas.
2) Porque usamos detergente?
3) Qual a funo do sal e da gua quente?
4) Por que baixamos a temperatura, aplicando gelo?
5) Por que coamos em um filtro de caf?
6) Qual a finalidade de acrescentarmos o lcool?
7a aula
ELETROFORESE
Molculas que possuem carga eltrica, como as protenas e os cidos nuclicos, podem
ser separadas por eletroforese. Eletroforese o movimento de molculas eletricamente carregadas
em um campo eltrico.
Geralmente, em um processo eletrofortico, as protenas ou cidos nuclicos so
colocadas a migrar sob um campo eltrico, no interior de um suporte gelatinoso (um gel) de
poliacrilamida, agarose ou amido.
A seguir ser apresentado o processo de eletroforese vertical para separao de protenas. O que voc
vir em aula ser eletroforese horizontal de cidos nuclicos, preste ateno na aula e faa as devidas
observaes das diferenas entre a tcnica descrita para protenas e a feita em aula para DNA.
53
As amostras contendo uma mistura de protenas so aplicadas em um gel. Posteriormente uma
corrente eltrica aplicada neste gel por algumas horas, as protenas mais negativas e menores
migraro mais rapidamente que as positivas e maiores.
Posterior a migrao, o gel colocado em uma soluo contendo corantes especficos
para protenas (A). Aps a colorao, podemos visualizar diferentes bandas que correspondem a
protenas que possuem cargas ou tamanhos diferentes (B).
Alguns processos de eletroforese podem revelar mais de 1000 diferentes protenas em um
nico gel. Esta grande sensibilidade torna esta tcnica muito til para identificar quais as protenas
so responsveis por diferenas genticas ou fisiolgicas em qualquer organismo.
Atividade experimental:
1) Montar um gel de agarose 0,8% da seguinte forma:
Ferver em microondas 0,8 gramas de agarose, em 100 ml de uma soluo tampo (TAE) e
aps fundir a agarose, acrescentar 25 microlitros de Brometo de etdio. (usar luvas sempre que
usar esta droga, pois ela cancergena).
Colocar a agarose ainda quente em uma placa com um pente
54
Esperar esfriar e colocar o gel na cuba eletrofortica de gel horizontal
2) Misturar 5l de uma soluo de DNA com 5l de uma soluo de tampo de amostra
(Glicerina e azul de bromofenol) . Aplicar com uma micropipeta em um dos pocinhos do gel.
3) Ligar a fonte de eletroforese a 100 volts e deixar o azul de bromofenol migrar
aproximadamente 3 cm
4) Observar o gel no transluminador ultravioleta (UV).
RESPONDA e Faa os desenhos do que foi visto em aula.
1) Quantas diferentes bandas foi possvel ver em cada aplicao?
2) Quem migrou mais rpido o DNA ou o RNA? Porqu?
3) Por que os cidos nuclicos migram em direo ao plo positivo?
4) Qual a funo do azul de bromofenol?
5) O que uma soluo tampo?
6) Por que colocamos brometo de etdio no gel?
7) Quais as semelhanas e diferenas dos processos de eletroforese horizontal de cidos
nuclicos e o sistema de eletroforese vertical de protenas descrito?
8
a
Aula
OBSERVAO DE CICLOSE E CLOROPLASTOS EM
CLULAS DE Elodea
Elodea uma planta usada como ornamental em aqurios, facilmente adquirida em lojas
que vendem produtos para aquariofilia. uma monocotilednea pertencente famlia
Hydrocharitaceae. As folhas dessa planta so timas para observao de ciclose que o
movimento contnuo do citoplasma no interior da clula, assim como de cloroplastos.
Geralmente, os componentes das clulas so incolores. Por isso, ao se observar direto ao
microscpio, pouco se pode observar de seus constituintes. Para se superar este problema,
geralmente fazemos uso de corantes que vo evidenciar alguma parte da clula.
Os cloroplastos, organela presente somente nas clulas vegetais e responsveis pela
fotossntese, so naturalmente corados. Em virtude disto, e tambm por serem organelas bastante
grandes, os cloroplastos podem ser facilmente visualizados ao microscpio.
As folhas de Elodea apresentam apenas duas camadas de clulas, em que se pode
observar com facilidade os cloroplastos.
As clulas eucariontes possuem um citoesqueleto que promove o movimento dos
componentes no interior da clula. s vezes estes movimentos so correntes citoplasmticas que
chamamos CICLOSE. Se todos os componentes do interior da clula so incolores, muito difcil
se observar os movimentos citoplasmticos. A presena dos cloroplastos que so naturalmente
55
corados torna possvel a visualizao da ciclose. Devemos lembrar que a ciclose o movimento do
citoplasma causado pela ao do citoesqueleto. Os cloroplastos so levados por essa corrente do
citoplasma.
Procedimento
1) Com o auxlio de uma pina ou gilete, retire uma folha de Elodea.
2) Em uma lmina para microscopia com uma gota de gua, coloque a folha de Elodea, por
sobre a gota.
3) Cubra com lamnula, e leve ao microscpio para observao.
4) Observe o tamanho e forma dos cloroplastos. Geralmente aps alguns minutos de
observao, podemos ver a ciclose. Descreva como a ciclose.
Observao de ciclose em clulas do plo estaminal de Tradescantia (manto-
de-viuva).
As clulas do plo estaminal de manto-de-viva (trapoeraba) tambm apresentam ciclose
bastante ativa. Vale salientar que nessas clulas existe a presena de um grande vacolo. O
citoplasma da clula fica restrito a alguns canais internos da clula, o restante ocupado pelo
vacolo.
Procedimento:
1) Com uma pina, retire um plo do estame de uma flor de manto-de-viva.
2) Coloque sobre a lmina com uma gota de gua e cubra com uma lamnula.
3) Observe ao microscpio, desenhe e descreva a ciclose.
56
Responda as questes:
1) Por que podemos ver facilmente os cloroplastos, mas no outros componentes do
sistema de endomembranas como o complexo de Golgi, retculo endoplasmtico ou
mitocndrias?
2) Que parte do citoesqueleto est envolvida na ciclose? De que forma?
3) Por que a ciclose nas clulas da Elodea ocorrem no interior de toda a clula enquanto
na clula da Tradeschantia ocorre apenas dentro de estruturas que lembram canais?
9
a
Aula
OBSERVANDO CLIOS E SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS
Podemos observar com facilidade a atuao do citoesqueleto, atravs dos clios e dos
pseudpodes em protozorios de vida livre. Nos Paramecium podemos ver os clios e em Amoeba
os pseudpodes. Alm disso, vrios componentes do sistema de endomembranas, como vacolos
digestivos (e pulstil em Paramecium) so tambm facilmente observveis.
Paramecium o nome genrico de um protozorio ciliado muito comum em mananciais de
gua como os audes e riachos. Estes protozorios so de fcil cultivo, se alimentando
principalmente de bactrias, pequenas algas e outros protozorios menores. Podem ser mantidos
em recipientes com um pouco de gua e uma pequena pitada de leite em p (+/- 60mg para cada
100 ml de gua). Como a qualidade da gua importante para este protozorio, devemos trocar
um pouco da cultura velha (mais ou menos a metade) por gua nova com leite, a cada semana.
Assim, podemos manter infinitamente o Paramecium. Outro meio de cultivar este ciliado colocar
um pouco de grmen de trigo na gua a cada semana, e sempre trocando a metade do volume da
cultura por gua nova a cada semana.
Por ser de fcil cultivo e apresentar clios e o sistema de endomembranas facilmente
observvel, alm de ter uma taxa de reproduo assexual bem alta, este protozorio um
excelente recurso para atividades prticas de Biologia Celular. Antes, porm, de descrever estas
57
prticas, vamos mencionar alguns aspectos importantes sobre a biologia e estrutura dos
Paramecium.
As espcies mais comuns de Paramecium possuem em torno de 0,5 mm de comprimento.
Os ciliados so excepcionais entre os eucariontes, uma vez que possuem no mnimo dois ncleos
com funes distintas. O macroncleo participa das atividades do dia a dia como crescimento,
metabolismo e reproduo. O microncleo permanece relativamente dormente at que a clula
entre em reproduo sexuada. Os Paramecium possuem dois tipos de reproduo; a) diviso
binria: em condies favorveis a clula se divide em duas. As duas novas clulas,
geneticamente idnticas, crescem rapidamente e voltam a se dividir. Mantendo as condies
favorveis estes organismos podem se dividir duas a trs vezes em um dia; b) conjugao: em
condies ambientais desfavorveis, dois indivduos de sexos diferentes entram em contato e
formam uma ponte citoplasmtica temporria, por meio da qual trocam microncleos.
Observando os clios e o sistema de endomembranas:
Nos Paramecium podemos observar com facilidade a atuao do citoesqueleto, atravs
dos clios, assim como o movimento intracelular dos vacolos digestivos e contrtil. Alm disso,
vrios componentes do sistema de endomembranas, como vacolos digestivos e pulstil so
tambm facilmente observveis.
Material necessrio:
Cultura de Paramecium; microscpio, lmina lamnula; infuso de cigarro.
Procedimento:
1) Encher um tubo de centrfuga com uma cultura de Paramecium. Centrifugar por 60
segundos.
2) Retirar o sobrenadante, deixando apenas uma pequena gota de meio lquido.
3) Acrescentar, na gota que restou no tubo em que os Paramecium foram centrifugados,
uma gota de uma soluo de narctico feito da seguinte maneira: ( deixar um cigarro em infuso
em 30 ml de gua por 12 horas). A finalidade desta infuso de cigarro e diminuir a atividade dos
Paramecium , uma vez que estes protozorios so muito rpidos e sem este narctico muito
difcil segui-los ao microscpio.
Outra opo colocar alguns fios de algodo entre a lmina e a lamnula. Os Paramecium
no podem nadar to livremente entre os fios de algodo, facilitando a sua observao.
4) Faa um desenho com as principais partes de um Paramecium.
5) Observe o batimento dos clios e desenhe (observe e descreva os tricocistos)
6) Identifique e observe a contrao dos vacolos contrteis.
7) Identifique os vacolo digestivo.
58
8) Identifique e desenhe o citostoma e a citofaringe. (O que so fagossomas e onde estes
se formam nos Paramecium ?
9) Faa um desenho comparando a ultra-estrutura de um clio e de um centrolo.
10
a
Aula
PREPARAO DE LMINAS PERMANENTES (aula demonstrativa).
Estruturas biolgicas grandes no podem ser vistas diretamente ao microscpio, por que a
luz no pode atravess-las. Precisamos, ento, fazer cortes o mais fino possvel, para que a luz
possa passar pelas estruturas, e assim ser visto ao microscpio. Para sofrer tais cortes, o material
deve ser fixado, emblocado em parafina ou outra resina e, imerso neste suporte, cortado em
pequenas "fatias", atravs de um aparelho chamado micrtomo. Posteriormente este material
corado e a lmina montada.
Nesta prtica, vamos visitar os laboratrios de anatomia vegetal do Dep. de Biologia, em
que lminas permanentes de vegetais so preparadas.
Preste ateno as explicaes (e faa as perguntas que achar necessrio) e
posteriormente responda as seguintes questes:
1) O que a fixao do material? Qual a funo da fixao?
2) lcool etlico, clorofrmio, formol, cido actico, cido pcrico, e cido smico so as
principais substncias usadas como fixadores. Quais so as principais caractersticas de cada um
destas quanto a sua capacidade de fixao?
59
3) As substncias citadas na pergunta anterior, geralmente no so usadas em conjunto,
constituindo fludos fixadores. Alguns destes fludos so muito usados, como o Fluido de Carnoy; o
F.A.A; o Bouin. Diga qual a composio destes fixadores e suas caractersticas.
4) Porque desidratamos o material em uma srie alcolica antes de emblocar em parafina?
5) Para que emblocar em parafina?
6) Que outros suportes ou estratgias podem sem usadas no lugar do emblocamento em
parafina?
7) O que orientao do corte?
8) Para que re-hidratar o material antes de cora-lo?
9) Qual a importncia do uso de corantes na preparao de lminas?
10) O que significam: colorao vital; corante acidfilo; corante basfilo?
11) Entre os principais corantes podemos citar: Carmim; hematoxilina; azul de metileno;
Cristal violeta (violeta genciana); Eosina; Fast Green; Fucsina cida, safranina; Sudan black; diga
quais as caractersticas principais destes corantes (que estruturas eles coram, solubilidade,
concentraes usadas...)
11
a
Aula
OBSERVAO DE COMPLEXO DE GOLGI EM LMINAS
PERMANENTES DE EPIDDIMO.
Material fornecido: lminas permanentes de epiddimo de rato.
Procedimento:
1) Localize e desenhe as clulas nos tbulos de epiddimo.
2) Observe e desenhe a posio do ncleo.
3) Observe e desenhe a posio e a forma do complexo de Golgi.
Responda as questes:
1) Por que foi escolhido o epiddimo para observar o complexo de Golgi? Que outro tipo de
clula poderia ser usada?
2) Que mtodo de colorao foi usada e por que?
3) Como se forma o Complexo de Golgi?
60
Observao de neurnios em cerebelo de camundongo.
Material fornecido: lminas permanentes de cerebelo de camundongo.
Procedimento:
Observe ao microscpio a regio entre as substncias branca e cinzenta, nela existem
alguns neurnios gigantes em que podemos ver perfeitamente o corpo celular (com ncleo), o
axnio e dendritos.
Responda:
1)Observe e desenhe estas clulas, suas partes, e descubra como so chamadas estas
clulas.
2)Qual a relao existente entre forma e funo nestas clulas?
12
a
Aula
OBSERVAO DE CLULAS MUSCULARES ESTRIADAS
O desenho esquemticos de clulas presente nos livros so muito comuns e teis. Porm,
muitas vezes os alunos tem dificuldade de reconhecer que em um ser pluricelular, a diferenciao
celular a regra. Muitas clulas acabam com formatos muito diferentes. As clulas musculares
estriadas esquelticas so um exemplo.
Clulas musculares estriadas so clulas muito longas, polinucleadas apresentando os
ncleos na periferia da clula. O citoesqueleto hipertrofiado, sendo que os microfilamentos de
actina e miosina, vo ocupar a maior parte da fibra muscular, constituindo estruturas especficas
das clulas musculares estriadas, que so os sarcmeros. Essas estruturas que do uma
aparncia estriada a essas clulas quando vistas ao microscpio.
Material necessrio:
Lmina, lamnula, agulha histolgica e lmina de barbear, abelhas (ou outro inseto grande),
soluo de verde Janus (0,7% em etanol 70%).
61
Procedimento:
1) Com uma gilete, abra o trax de uma abelha, vespa ou outro inseto voador grande
(previamente morta em vapores de ter).
2) Com uma agulha histolgica retire algumas fibras musculares e transfira para uma
lmina com uma gota de corante.
3) Cubra com lamnula, deixe corar por 3 minutos, e observe ao microscpio.
Alguns questionamentos :
a) Como esto organizados os sarcmeros e como estes funcionam? (faa um desenho).
b) Quais as fases da contrao muscular?
c) Como est organizado o citoesqueleto em uma clula muscular lisa?
d) Relacione as regies estriadas que podemos ver nas fibras musculares com o sarcmero.
e) Qual a funo do Verde Janus?
13
a
aula
OBSERVAO DE MITOSE EM PONTA DE RAIZ DE CEBOLA,
Allium cepa (2n = 16).
COLETA E FIXAO DAS PONTAS DE RAZES DE CEBOLA
O procedimento mais fcil encher um frasco com gua colocar a cebola com a parte das
razes imersa na gua (figura abaixo) e esperar at que as razes comecem a crescer.
Dependendo da poca isso pode ocorrer em 24 horas ou em alguns dias.
62
Quando as razes tiverem atingido pelo menos cinco milmetros podero ser facilmente
destacadas do bulbo, com auxlio de uma lmina de barbear, estilete ou mesmo agulha. No
necessrio deixar as razes crescerem mais do que os cinco milmetros, pois o material que nos
interessa est na ponta.
As pontas de raiz devem ser imediatamente fixadas em soluo de lcool e cido actico
(3:1). Essa soluo no dever ser estocada, recomenda-se que seja preparada no momento em
que vai ser usada.
O tempo mnimo que as pontas de raiz devem ficar no fixador duas horas, as vezes, se o
material fica muito tempo no fixador ocorre um amolecimento excessivo do tecido dificultando a
preparao da lmina.
Aps o tempo de imerso no fixador as pontas de raiz podem ser estocadas em lcool 70%
(de preferncia em refrigerador) ou ento preparadas para a observao das mitoses.
2. HIDRLISE DO MATERIAL FIXADO
Transferir as pontas de raiz de cebola para uma soluo de cido clordrico 1N e deixar em
imerso por 15 minutos. Depois disso lavar em gua (imerso por um ou dois minutos); remover o
excesso de gua com um papel absorvente e transferir para uma lmina de microscopia.
3. COLORAO
Antes de adicionar o corante sobre a ponta de raiz, pode-se remover (ou simplesmente
romper com uma agulha) a parte mais extrema do material (correspondente regio da coifa), pois
isso facilitar a colorao e a observao ao microscpio.
Para colorao um dos corantes mais usados a orcena actica 2% (outros corantes
produzem o mesmo efeito e podem substituir a orcena). Uma gota desse corante suficiente para
63
uma boa colorao, desde que se espere no mnimo vinte minutos, antes de bater ou esmagar
o tecido.
Ao colocar a lamnula deve-se cuidar para deixar o menor nmero possvel de bolhas de ar
para que a observao do material no seja prejudicada.
Depois que o corante atuou sobre o tecido pode-se envolver a lmina com um papel filtro e
pressionar com o dedo polegar a regio onde est a lamnula. Esse movimento far com que o
tecido se espalhe pela lmina e seja possvel observar camadas de clulas isoladas. Nesses
grupos de clulas que ser possvel observa as mitoses. No se deve colocar uma quantidade
muito grande de tecido na lmina pois isso ira dificultar o espalhamento. Dois milmetros de ponta
de raiz produz material suficiente para observao.
Outra forma de realizar o espalhamento segurar a regio da lamnula com um papel
absorvente e bater com um lpis borracha ou com a ponta da tampa de uma caneta.
Aps o esmagamento do material, a lmina deve ser observada inicialmente em menor
aumento (x10), para que se localize rapidamente onde esto as clulas em diviso.
5. LAMINAS SEMI-PERMANENTES
As lminas que estiverem boas podem ser temporariamente conservadas (uma semana)
se forem vedadas com esmalte para unhas ou cola para cmera de pneu de bicicleta.
6. LMINAS PERMANENTES
As lminas semi permanentes podem ser transformadas em permanentes, para isso basta
remover o vedante (esmalte ou cola) e colocar as lminas no freezer at que seja possvel soltar a
lamnula.
Aps a remoo da lamnula, mergulhar rapidamente as lminas em alcool absoluto e
deixar secar. Colocar uma gota de Resina para microscopia (Permonte; Entelan ou Balsamo do
Canad) na regio onde est o material. Fechar com uma lamnula e deixar secar.
Procedimento:
1) Pegue uma raiz j fixada
2) Hidrlise: coloque as pontas de raiz em uma soluo 1N de HCl por 5 min.
3) Lavagem: deixe as razes em gua por 5 min.
4)Corte com uma gilete +/- 3mm da ponta da raiz, logo aps os 2 primeiros mm (coifa).
5) Coloque este material em uma lmina com uma gota de orceina actica, deixe corar por
5 minutos.
6) Cubra com uma lamnula, colocando a lmina entre papel higinico e aperte fortemente
para espalhar o material ( com o polegar).
7) Vede as bordas da lamnula com luto (ou esmalte de unha).
8) Observe ao microscpio.
64
Questes:
a) Descreva e desenhe o que ocorre na: interfase; prfase; metfase; anfase; telfase.
b) O que uma clula 2n=16?
c) O que centrmero e qual sua funo?
d) O que so cromtides? o que representam?
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Atividades de Prticas de Biologia como componente de formao
pedaggica.
Atividade 1
Biologia na cozinha.
A cozinha de nossa casa pode ser um excelente laboratrio. As experincias feitas nas 2a e 3a
aula so exemplos disso. Em grupos, a turma elaborar um experimento relacionado ao programa
de biologia celular e apresentar em aula em data a ser marcada.
Atividade 2:
O USO DE MODELOS DIDTICOS E SIMULAES.
(com marcao da data para apresentao dos modelos)
Simulaes e modelos didticos so excelentes recursos didticos, principalmente se
conseguimos colocar os alunos a construir os modelos ou montar as simulaes.
Os modelos didticos, por representarem bidimensionalmente ou tridimensionalmente de
modo macroscpico estruturas e/ou funes, permitem um entendimento mais fcil de fenmenos
microscpicos que de outra forma so apresentados e entendidos apenas de forma abstrata. Os
modelos permitem uma visualizao das estruturas, tornando o assunto mais concreto. Desta
forma os modelos facilitam o aprendizado e a discusso sobre o tema em estudo.
As simulaes correspondem representao dinmica de processos, com ajuda de materiais e
dos alunos. Nas simulaes, podemos, por exemplo imprimir uma longa seqncia de DNA em
65
papel e com a participao dos alunos pedir que eles encontrem uma seqncia correspondente
ao stio de clivagem de uma enzima de restrio. Podemos pedir que os alunos cortem com
tesoura este stio e posteriormente o mesmo stio de um plasmdeo. Posteriormente podemos
simular como seria uma reao de ligao de todos esses fragmentos, e uma transformao
bacteriana com os plasmdeos gerados. Por fim podemos discutir conceitos como clonagem de
genes e bancos genmicos.
Apresentamos exemplos de alguns dos modelos que podem ser construdo na pgina
www.ufsm.br/auladebio
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR PARA A PARTE PRTICA:
LORETO, E.L.S. & SEPEL, L. M.N. Atividades experimentais e didticas de Biologia Molecular e
Celular. Ribeiro Preto, ed. Da Sociedade Brasileira de Gentica. 2003. 2a ed.
www.sbg.org.br
DEPARTAMENTO DE BIOQUMICA, UFPR. Bioqumica: aulas prticas. 5 ed.Curitiba, Ed. da
UFPR, 1997.
JORDO, B.Q e colaboradores. Prticas de Biologia Celular. Londrina, Editora UEL, 1998.
JUNQUEIRA, L.C.U e JUNQUEIRA, L.M.M.S. Tcnicas Bsicas de Citologia e Histologia. So
Paulo, Ed. Santos, 1983.
MANARA, N.T.F. Roteiro de aulas prticas de citologia vegetal. Santa Maria, Faculdade de
Agronomia-UFSM, (mimeografado-sem data).
MELLO, M.L.S. e VIDAL, B.C.; Prticas de Biologia Celular. So Paulo, Edgar Blcher, 1980.
POLIZELI, M.L.T.M., Manual Prtico de Biologia Celular. Ribeiro Preto, Holos editora, 1999.
QUESADO, H.L.C. e colaboradores. Biologia: Prticas. Fortaleza, Edies UFC, 1996.
SLATER, J. Experiments in molecular biology. Clifton, N.J., The Humana Press, 1986.
VALLE, F.C., Prticas de citologia e gentica. Rio de Janeiro, MEDSI, 2001.
66
Você também pode gostar
- Ligação GênicaDocumento4 páginasLigação GênicaRodrigo Yamakami Camilo0% (1)
- Sebenta Biologia 11.º Ano - Unidade 5 - Crescimento e Renovação CelularDocumento8 páginasSebenta Biologia 11.º Ano - Unidade 5 - Crescimento e Renovação CelularDaniel Lopez GomesAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1 - Bioenergética e MetabolismoDocumento2 páginasEstudo Dirigido 1 - Bioenergética e MetabolismoRodrigo Yamakami CamiloAinda não há avaliações
- Aula 1 - Desenvolvimento Do Pensamento EvolutivoDocumento88 páginasAula 1 - Desenvolvimento Do Pensamento EvolutivoRodrigo Yamakami CamiloAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1 - Água, PH e Sistema Tampão.Documento1 páginaEstudo Dirigido 1 - Água, PH e Sistema Tampão.Rodrigo Yamakami CamiloAinda não há avaliações
- Genética Forense Trabalho EscritoDocumento14 páginasGenética Forense Trabalho EscritoRodrigo Yamakami CamiloAinda não há avaliações
- Zoologia Questões de VestibularDocumento52 páginasZoologia Questões de VestibularVinícius Maia100% (1)
- Lista de Exercícios - Histologia VegetalDocumento2 páginasLista de Exercícios - Histologia VegetalRodrigo Yamakami CamiloAinda não há avaliações
- Zoologia CDocumento52 páginasZoologia CaltairzooAinda não há avaliações
- 003-EXERCICIOS Glicogen - Pentoses - 001 PDFDocumento2 páginas003-EXERCICIOS Glicogen - Pentoses - 001 PDFRodrigo Yamakami CamiloAinda não há avaliações
- Seres VivosDocumento72 páginasSeres VivosThiago SoaresAinda não há avaliações
- Célula Eucariótica AnimalDocumento8 páginasCélula Eucariótica AnimalLeticia SamaraAinda não há avaliações
- Exercicios de Biologia CelularDocumento4 páginasExercicios de Biologia CelularcadastroobrigatorioAinda não há avaliações
- Citoplasma SlidesDocumento23 páginasCitoplasma SlidesNatalia CristoAinda não há avaliações
- OrganelasDocumento1 páginaOrganelasLuciana Dantas SoaresAinda não há avaliações
- BG11 - Ficha Formativa 3 - Síntese ProteicaDocumento11 páginasBG11 - Ficha Formativa 3 - Síntese ProteicaacampossampaioAinda não há avaliações
- 2 Aula - Transcrição e Tradução - AulaDocumento12 páginas2 Aula - Transcrição e Tradução - AulaKeila DemetrioAinda não há avaliações
- Plugin VistaPanoramicasobreaEstrutura, FuncoeseEvolucaodaDocumento24 páginasPlugin VistaPanoramicasobreaEstrutura, FuncoeseEvolucaodaHerivelto OliveiraAinda não há avaliações
- Expressão Da Informação GenéticaDocumento12 páginasExpressão Da Informação GenéticaMariana DiasAinda não há avaliações
- 14-Aula de MicologiaDocumento58 páginas14-Aula de MicologiaEvs Santa Terezinha100% (3)
- Transcrição e Expressão GênicaDocumento9 páginasTranscrição e Expressão GênicaInara NogueiraAinda não há avaliações
- Perguntas e Respostas PDFDocumento14 páginasPerguntas e Respostas PDFAnaCristinaCorreiaAinda não há avaliações
- Biologia FT 4 - Síntese Proteica e Mitose - Exerc Cicios de ExameDocumento7 páginasBiologia FT 4 - Síntese Proteica e Mitose - Exerc Cicios de ExamemalcinacmatiasAinda não há avaliações
- MODULO 5 BiologiaDocumento314 páginasMODULO 5 BiologiaDaniel Tembe92% (26)
- Documento 5Documento25 páginasDocumento 5Helder FirmoAinda não há avaliações
- QUESTÕES Sobre Organelas Celulares - Revisão Bio 1º AnoDocumento6 páginasQUESTÕES Sobre Organelas Celulares - Revisão Bio 1º AnoDaiane da SilveiraAinda não há avaliações
- Morfologia e Citologia Dos FungosDocumento34 páginasMorfologia e Citologia Dos FungosYasmin100% (1)
- Trabalho para Obtenção de Nota Parcial ComentadoDocumento3 páginasTrabalho para Obtenção de Nota Parcial ComentadoCleuton Braga LandreAinda não há avaliações
- APOSTILA de Célula VegetalDocumento12 páginasAPOSTILA de Célula VegetalKaliene Da Silva Carvalho Martins100% (1)
- Síntese Proteica - Com Anotações e GabaritoDocumento23 páginasSíntese Proteica - Com Anotações e Gabaritomarfil0899Ainda não há avaliações
- Celula EucarionteDocumento29 páginasCelula EucarionteÉrica FariasAinda não há avaliações
- Dogma Central Da Biologia MolecularDocumento4 páginasDogma Central Da Biologia Molecularmayalencar100% (1)
- Tutoria Do P1Documento20 páginasTutoria Do P1Alice AlgayerAinda não há avaliações
- Analise de Dados Omicos Multidimensionais-1Documento94 páginasAnalise de Dados Omicos Multidimensionais-1Vinicius Guimarães100% (1)
- Resumos Biologia 11ºano - Àcidos Nucleicos e Síntese ProteicaDocumento32 páginasResumos Biologia 11ºano - Àcidos Nucleicos e Síntese ProteicaEunice SilvaAinda não há avaliações
- 927 PDFDocumento20 páginas927 PDFAnderson FernandesAinda não há avaliações
- 02 - Módulo I - Biologia Molecular - EnbDocumento9 páginas02 - Módulo I - Biologia Molecular - EnbLUANAAinda não há avaliações
- Apostila Tipos de Celulas PDFDocumento48 páginasApostila Tipos de Celulas PDFMarciel N. CorreaAinda não há avaliações
- ProteínasDocumento23 páginasProteínasJeferson Rodrigues100% (1)
- EXERCICIOS REVISAO 3a SERIE 01 (ACIDOS NUCLEICOS & SINTESE PROTEICA) PDFDocumento8 páginasEXERCICIOS REVISAO 3a SERIE 01 (ACIDOS NUCLEICOS & SINTESE PROTEICA) PDFThiago de Paula e SilvaAinda não há avaliações