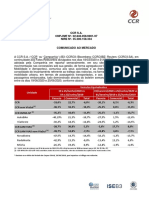Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cotidiano Versão Professor Da Uff
Cotidiano Versão Professor Da Uff
Enviado por
Fernanda Malha0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações15 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações15 páginasCotidiano Versão Professor Da Uff
Cotidiano Versão Professor Da Uff
Enviado por
Fernanda MalhaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 15
Marx e o Marxismo 2013: Marx hoje, 130 anos depois
Universidade Federal Fluminense Niteri RJ de 30/09/2013 a 04/10/2013
TTULO DO TRABALHO
A reificao da vida cotidiana: notas para uma introduo crtica
AUTOR INSTITUIO (POR EXTENSO) Sigla Vnculo
Petrus Alves Freitas Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri
Grupo de Estudos de Crtica da Economia
Poltica
UFVJM
GECEP
Estudante
RESUMO (AT 20 LINHAS)
Este trabalho configura-se numa pesquisa sobre a reificao da vida cotidiana, utilizando da crtica da
economia poltica de Karl Marx com o intuito de avanar na discusso deste tema. Sustentamos que de todas
as esferas da realidade, a vida cotidiana a que mais est face da alienao. Deve-se lembrar, entretanto,
que esta alienao se trata de alienao sempre perante algo, no em consequncia das determinaes
fundamentais da estrutura cotidiana, mas sim em determinadas condies sociais. Deste modo, a alienao
est presente em todas as sociedades nas quais existe a propriedade privada dos meios de produo,
enquanto a reificao torna-se a forma especfica de manifestao da alienao na sociedade capitalista, a
qual aparece quando o fetichismo se universaliza, e as relaes sociais so mediadas por coisas, sendo,
portanto, reificadas. Elaboramos uma anlise sntese das concepes de alguns autores que teorizaram sobre
o cotidiano, tais como Gyrgy Lukcs, Agnes Heller e Henri Lefebvre. A partir destes desenvolvimentos
debatemos a categoria reificao e seus desdobramentos na vida cotidiana. Busca-se demostrar as
consequncias que a dinmica da sociedade capitalista exerce sobre a vida cotidiana contempornea,
submetendo as relaes sociais produo e reproduo capitalista, tornado o cotidiano cada vez mais em
um cenrio reificado que contribui para a alienao.
PALAVRAS-CHAVE (AT TRS)
Alienao; Reificao; Vida Cotidiana
ABSTRACT
This paper consists of a research about the reification of our everyday life, through the scopo of Karl Marx's
criticism of the economical politics, aiming to improve the discussion of the theme. We claim that in all layers
of reality, everyday life is what is closest to alienation. It must be remembered, however, that this alienation
is always towards something, not in consequence of fundamental determinations of the everyday structure,
but in determined social conditions. By being so, alienation is present in all socities in which private property
of means of production exists, while reification becomes the some specific means of manifestation of this
alienation of the capitalist society, what appears when fetichism becomes universal, and social relations are
mediated by things, being, therefore, reificated. We elaborated a synthetical analysis of the conceptions of
some authors who have theorized over everyday life, such as Gyrgy Lukcs, Agnes Heller and Henri Lefebvre.
From these upbringings we debate the category of reification and its results in everyday life. We aim to
demonstrate the consequence that the dynamics of the capitalist society over everyday life, submiting social
relations to capitalist production and reproduction, turning our everyday life into a reificated scenario which
contributes to alienation.
KEYWORDS
Alienation, Reification, Everyday life
EIXO TEMTICO
Construo da teoria social de Marx
A REIFICAO DA VIDA COTIDIANA: NOTAS PARA UMA
INTRODUO CRTICA
1. Nota introdutria
O entendimento da vida cotidiana se faz necessrio para a cincia social, sobretudo para o
entendimento e para a crtica das relaes sociais no capitalismo contemporneo. Primeiramente,
elaboraremos neste trabalho uma sntese das concepes de alguns autores que se dedicaram ao
estudo da vida cotidiana, entretanto, propomos apresent-las no como uma descrio da estrutura e
funcionamento da vida cotidiana embora isso seja necessrio , mas traremos elementos
fundamentais que sero adiante imprescindveis para, num segundo momento, problematizarmos o
cotidiano como um cenrio propcio para o desenvolvimento da alienao e da reificao.
A respeito disto, Agnes Heller admitiu que a vida cotidiana, de todas as esferas da
realidade, aquela que mais se presta alienao. Entretanto, adverte antes de mais nada, que a
alienao sempre alienao em face de alguma coisa, e mais precisamente, em face das
possibilidades concretas de desenvolvimento genrico da humanidade. (HELLER, 1985, p. 37).
Isso significa que, embora a estrutura da vida cotidiana contribua para a alienao, no a faz
necessariamente alienada.
A alienao originada de uma sociedade em um dado momento histrico ser maior ou
menor e irradiar-se- para as demais esferas da vida segundo a estrutura socioeconmica desta
sociedade. Afirmamos que a sociedade capitalista constitui-se como uma sociedade na qual o
avano da alienao alcanou o extremo e na qual se estabelece um tipo especfico de alienao que
cristaliza as relaes sociais, isto , as relaes sociais so mediadas pelas mercadorias.
Neste sentido, recorremos a autores cujos desenvolvimentos versam a respeito da
especificidade do modo capitalista de produo, no qual as mercadorias dominam o seu prprio
criador e h uma submisso do carter ontolgico do trabalho de produtor de valores de uso
valorizao do capital. . Na sociedade capitalista o trabalho assume a forma de produo de
mercadorias e os produtos da atividade humana assumem a forma de mercadorias. Desta forma, o
trabalho da vida cotidiana prov os meios de sobrevivncia da classe trabalhadora: as
mercadorias, que so adquiridas pelo ato da troca de dinheiro. Nossa preocupao, portanto,
demostrar que, embora naturalizado, este processo em sua essncia um desenvolvimento histrico
e socialmente construdo.
Na aparncia a vida das sociedades nas quais reinam as condies modernas de produo
se anuncia como uma imensa acumulao de espetculos, mas este espetculo no um conjunto
3
de imagens, mas uma relao social entre pessoas, mediatizada por imagens. (DEBORD, 2000, p.
9).
2. Notas sobre da vida cotidiana.
A sociedade em que vivemos desenvolveu-se em alto nvel as foras produtivas, e isto
representa um recuo s barreiras naturais para produo de produtos necessrios satisfao das
necessidades humanas. Tornou-se natural o fato de que quando sentimos forme, por exemplo, basta-
nos ir ao mercado e comprar o que comer. A ida ao mercado, seja para comprar alimentos ou
qualquer outro tipo de mercadoria, faz parte da nossa vida cotidiana. Parece-nos, por esta
perspectiva, que somente as trivialidades e coisas corriqueiras fazem parte do nosso cotidiano.
Heller descreveu e qualificou a vida cotidiana como a vida de todo homem. Isto , todos
ns a vivemos, sem nenhuma exceo, independentemente da nossa posio na diviso social do
trabalho. Segundo Heller (1985), no h como fugir do cotidiano, nem viver to somente dentro
dele. Tambm no h sociedade que no tenha vida cotidiana
1
. Suas categorias fundamentais so:
a heterogeneidade, que corresponde interao do conjunto das atividades do ser social, na qual se
movem simultaneamente os mais diversos fenmenos e processos (partes orgnicas da vida
cotidiana; linguagem, trabalho, vida poltica, vida privada etc.). A imediaticidade, que consiste nas
aes imediatas, em dar respostas cotidianas, na qual predomina uma relao direta entre
pensamento e ao, constituindo-se em automatismo e espontaneidade.
Imaginemos que um indivduo sinta fome e, por exemplo, este v quele supermercado
perto de casa, do outro lado da rua, comprar uma mercadoria que satisfaa essa necessidade.
Imaginemos ainda que este indivduo seja um professor de fsica. Se ao atravessar a rua, ele for
considerar toda a teoria fsica que explica cada movimento necessrio, este corre o risco evidente de
sofrer um acidente ou nem mesmo sair do lugar. A superficialidade extensiva evidencia-se quando o
homem se depara com fenmenos dados pela heterogeneidade, aos quais a imediaticidade exigem
repostas, que o levem a considerar o somatrio dos fenmenos sem levar em conta as relaes que
os vinculam. (NETTO, 1989)
E como foi dito, na vida cotidiana se desenvolvem, em grande medida, atividades
heterogneas, mas isto no exclui a existncia de esferas homogneas. Quanto mais genrica uma
objetivao for, mais ela ser homognea, por exemplo, a produo de uma obra de arte.
O processo de homogeneizao, como nos esclarece Lukcs (1966), o processo de sada
de cotidianidade. Neste processo o homem tem acesso conscincia humano-genrica,
1
Certamente no conhecemos todas as formas da vida cotidiana em todos os pases do mundo, entretanto, vivemos
numa sociedade capitalista, que tende a padronizar o modo de vida.
4
suspendendo a heterogeneidade da vida cotidiana, homogeneizando todas as suas faculdades, suas
capacidades de realizar uma s tarefa incorporada na esfera homognea. Nesta suspenso dialtica o
indivduo atua como inteiramente homem. Entretanto, essa suspenso no rompe totalmente com a
cotidianidade, pois nenhuma existncia individual cancela a cotidianidade.
A homogeneizao, que indica a sada da cotidianidade, no consiste em algo subjetivo,
consiste em um processo de reproduo de objetivaes homogneas. O processo de
homogeneizao , por conseguinte segundo a objetivao e segundo a medida da
homogeneizao , realmente um processo. Deveria permanecer claro ademais que os tipos de
atividades no podem ser catalogados mais sob o ttulo de cotidiano ou no cotidiano. No
obstante, a presena de tipos intermdios no anula a validade do critrio de "homogeneizao".
(HELLER, 1994, p. 118). importante alertar, como os autores fizeram: no existe muralha
chinesa separando as atividades cotidianas das no cotidianas.
Podemos dizer que a homogeneizao do indivduo o aproxima do desenvolvimento
humano-genrico, e h objetivaes homogneas que auxiliam nesse processo, como a arte, a
cincia, e o trabalho criador (NETTO, 1989). Um escritor, por exemplo, que se dedica a um
romance, destina toda a sua ateno e criatividade para realizar tal tarefa. Em um dado momento,
nosso escritor no est preocupado com suas tarefas corriqueiras. Ele se desprende da cotidianidade
e eleva-se num estado de reflexo consciente, permanecendo prximo conscincia humano-
genrica, mas, mais tarde, retorna a sua cotidianidade.
No entanto, nenhum de ns conseguiria desligar-se inteiramente da cotidianidade exercendo
atividades do gnero humano (como por exemplo, a arte), muito menos ser to superficial ao ponto
de viver somente na cotidianidade, embora sejamos absorvidos prevalentemente por ela.
Heller
ainda descreve e define:
A vida cotidiana a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida
cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade.
Nela, colocam-se em funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas
capacidades intelectuais, suas habilidade manipulativas, seus sentimentos, paixes,
ideais, ideologias. O fato que todas as suas capacidades se coloquem em
funcionamento determina tambm, naturalmente, que nenhuma delas possa
realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade. (HELLER, 1985, p. 17).
Chamamos a ateno ao fato de que a vida cotidiana no se afasta da histria, pelo
contrrio, ela est no interior do acontecimento histrico. No por acaso que Henri Lefebvre, no
incio de seu livro A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, apresenta de forma inusitada esta
concepo supondo que se escolhemos, diante de uma coleo de calendrios a partir de 1900, uma
data aleatoriamente, no final de pesquisarmos sobre esta data, descobriramos alm das
banalidades, as pequenas informaes marginais que do ideia do que emergiu no centro da vida
5
cotidiana durante essas horas, tambm que neste dia um certo Einstein, completamente
desconhecido, no local onde examinava as patentes de inveno, e, solitrio, oscilava entre delrio e
a razo, vislumbrou a relatividade (LEFEBRE, 1991, p. 5-6 ). Isto nos esclarece que as decises;
polticas, artsticas, cientficas etc., por exemplo, as decises mais complexas, so concretamente
realizadas na vida cotidiana, e no somente as objetivaes individuais mais triviais, como trataram
alguns autores.
Devemos entender o cotidiano, portanto, em sua dupla dimenso (simples e complexa, ou
particular e genrica), evidenciando que os indivduos tm objetivaes particulares, e objetivaes
gerais, comuns a todo o gnero humano.
2
Desta forma:
O individuo sempre, simultaneamente, ser particular e ser genrico. Considerado
em sentido naturalista, isso no distingue de nenhum outro ser vivo. Mas, no caso
do homem, a particularidade expressa no apenas seu ser isolado, mas tambm
seu ser individual. Basta uma folha de rvore para lermos nela as propriedades
essenciais de todas as folhas pertencentes ao mesmo gnero; mas num homem no
pode jamais representar ou expressar a essncia da humanidade. (HELLER, 1985,
p. 20)
Acontece que a vida cotidiana exige que cada indivduo d respostas imediatas, no que
predomina uma relao direta entre pensamento e ao. Este fato ultra-generaliza o entendimento
das categorias e, desta forma, a conscincia cotidiana sobre o trabalho reduzida e o seu sentido
estritamente fenomnico. Em poucas palavras: no cotidiano, a categoria trabalho igualada ao mero
emprego.
3
Existem ainda outras categorias fundamentais da vida cotidiana que a organizam e, em
grande medida, de forma heterognea e hierrquica. Contudo, Heller nos esclarece que
diferentemente da circunstncia da heterogeneidade, a forma concreta da hierarquia no eterna e
imutvel, mas se modifica de modo especfico em funo das diferentes estruturas econmico-
sociais. Sobre a organizao do cotidiano, por exemplo, podemos dizer que parte dos senhores
feudais na idade mdia gozava de algumas atividades que certamente ocupavam o topo de suas
prioridades como o esporte da caa , j os servos encontravam-se inteiramente impossibilitados
de priorizar tal atividade. Assim, a organizao do trabalho e da vida privada, os lazeres e o
descanso, que so partes orgnicas da vida cotidiana, tendem a se modificar de acordo com a classe
social a que o indivduo pertena.
4
2
importante alertar, como Lukcs e Heller fizeram: no existe muralha chinesa separando as atividades cotidianas
das no cotidianas.
3
Adiante daremos o tratamento da crtica da economia poltica ao trabalho, tratamento fundamental para o
entendimento da sociedade capitalista em sua essncia.
4
A heterogeneidade e a ordem hierrquica (que condio de organicidade) da vida cotidiana coincidem no sentido de
possibilitar uma explicitao normal da produo e da reproduo, no apenas no campo da produo em sentido
estrito, mas tambm no que se refere s formas de intercmbio. (HELLER, 1985. p. 18)
6
Embora haja esta mobilidade na organicidade da vida cotidiana o homem, de modo geral,
j nasce introduzido em sua cotidianidade, e este deve desenvolver e reproduzir todas as habilidades
essenciais para viver em sociedade.
A reproduo deste homem particular sempre a reproduo de um homem histrico, de
um particular em uma realidade concreta. Marx extraiu todas as consequncias deste
desenvolvimento histrico, para ele, os homens fazem sua prpria histria, mas no a fazem como
querem; no a fazem sob circunstncias de sua escolha e sim sob aquelas com que defrontam
diferentemente, legadas e transmitidas pelo passado. (MARX, 1974, p. 335). Isto significa que,
cotidianamente, almejamos certos fins, e para isso, planejamos, calculamos, fazemos o que
consideramos ser o mais correto para que tudo saia como planejado. Entretanto, na maioria das
vezes, aquilo que almejamos no aconteceu, ou se aconteceu, no ocorreu do modo como foi
devidamente planejado, surge, assim, a importncia do acaso. Todos os resultados sero produzidos
a partir de uma srie de acontecimentos causais independentes, circunstncias alheias s vontades
individuais e controle das coisas. Quanto mais dinmica a sociedade (especialmente a sociedade
capitalista), mais se contrape a intencionalidade e a casualidade. No h, portanto, teleologia sem
uma causalidade que a realize.
Segundo Heller, no h vida cotidiana sem imitao. No h vida cotidiana sem
espontaneidade, pragmatismo, economicismo, andologia, precedentes, juzos provisrios,
ultrageneralizao, mimese e entonao. Entretanto, estas formas necessrias da estrutura e do
pensamento da vida cotidiana no devem se cristalizar em absolutos [...]. Se essas formas se
absolutizam, deixando de possibilitar uma margem de movimento, encontramo-nos diante da
alienao da vida cotidiana. (HELLER, 1985, p. 37).
No entanto, esta alienao se trata de alienao sempre perante algo, no em consequncia
das determinaes fundamentais da estrutura cotidiana, mas sim em determinadas condies
sociais.
A vida cotidiana, de todas as esferas da realidade, aquela que mais se presta
alienao. [...] Mas a estrutura da vida cotidiana, embora constitua
indubitavelmente um terreno propcio alienao, no de nenhum modo
necessariamente alienada. Quanto maior for a alienao produzida pela estrutura
econmica de uma sociedade dada, tanto mais a vida cotidiana irradiar sua prpria
alienao para as demais esferas. (HELLER, 1985, p. 37)
Como dissemos, Na sociedade capitalista a alienao exacerba-se ao extremo. Desta
maneira, a estrutura da cotidianidade alienada com o desenvolvimento capitalista se desdobrou e
manifesta-se em esferas que no possuam o pressuposto da alienao.
7
3. Notas acerca do trabalho e o processo de trabalho
pelo trabalho que homem cria suas condies de sobrevivncia, de sua reproduo
particular e possibilita sua reproduo enquanto ser genrico. Ao mesmo tempo o trabalho uma
ocupao fenomnica cotidiana, mas tambm atividade genrica, por sua especificidade
ontolgica.
Antes de tudo, o trabalho um processo entre e a natureza, um processo em que o
homem, por sua prpria ao, media, regula e controla seu metabolismo com a
natureza. Ele mesmo se defronta com a matria natural como uma fora natural.
Ele pe em movimento as foras naturais pertencentes sua corporalidade, braos
e pernas, cabea e mo, a fim de apropriar-se da matria natural numa forma til
para sua prpria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza
externa a ele e ao modific-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua prpria natureza.
Ele desenvolve as potncias nela adormecidas e sujeita o jogo de suas foras a seu
prprio domnio. No se trata aqui das primeiras formas instintivas, animais de
trabalho. [...] Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente
ao homem. Uma aranha executa operaes semelhantes s do tecelo, e a abelha
envergonha mais de um arquiteto humano com a construo dos favos de suas
colmeias. Mas o que distingue, de antemo, o pior arquiteto da melhor abelha que
ele constitui o favo em sua cabea, antes de constru-lo em cera. No fim do
processo de trabalho obtm-se um resultado que j no incio deste existiu na
imaginao do trabalhador, e, portanto idealmente. (MARX, 1985, p. 149-50).
Neste sentido, o ser social aquele que carrega consigo uma distino fundamental do ser
inorgnico, o qual apenas existe e no se reproduz, e do ser orgnico, que se reproduz de forma
inconsciente, adaptando-se ao ambiente. Este ser se desenvolve por um processo dialtico que
comea com um salto ontolgico, com a posio teleolgica do trabalho. O trabalho constitui-se o
momento de ruptura, de uma adaptao passiva para uma adaptao ativa e com seu
desenvolvimento, com o desenvolvimento da sociabilidade, as determinaes puramente naturais
iro cedendo lugar s determinaes do ser social, mas sem que seja possvel eliminar sua base
biolgica
5
. O ser social portador e sujeito das suas condies de reproduo, modifica ativa e
conscientemente o seu ambiente. Ele visto como um processo histrico, e deve ser entendido no
como algo que ou que se torna, mas sim como formas moventes e movidas da prpria matria:
formas do existir, determinaes da existncia.
Marx chama a ateno para o papel da conscincia na constituio deste novo ser. Segundo
ele, a conscincia um reflexo da realidade, produto tardio do desenvolvimento do ser material. a
produo das ideias, de representaes, da conscincia, est de incio, diretamente entrelaada com
a atividade material e com o intercmbio material dos homens, como a linguagem da vida real.
(MARX, 1991, p. 36). A questo do surgimento do ser social aparece nas palavras de Lukcs:
5
Lukcs, G. Ontologia do ser social: princpios ontolgicos fundamentais em Marx. So Paulo: Cincias Humanas,
1979.
8
O ser social s pode surgir e se desenvolver sobre a base de um ser orgnico e que
esse ltimo pode fazer o mesmo apenas sabre a base do ser inorgnico. [...] o
nascimento real de uma forma, mais complexa, verifica-se sempre um salto; essa
forma mais complexa algo qualitativamente novo, cuja gnese no pode jamais
ser simplesmente "deduzida" da forma mais simples
6
.
Assim, as formas de objetividade do ser social se desenvolvem, medida que surge e se
explicita a prxis social, a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais claramente sociais.
(LUKCS, 1979, p. 17). O trabalho , necessariamente, a categoria fundamental do ser social. A
ativa adaptao do ambiente consiste na transformao, pela ao consciente, da realidade natural
existente em si em um novo ser que no existe na natureza.
O processo de trabalho, independente da forma social, a interao entre o homem e a
natureza, com a finalidade de transform-la e produzir objetos teis para sua sobrevivncia.
No processo de trabalho a atividade do homem efetua, portanto, mediante o meio
de trabalho, uma transformao do objeto de trabalho, pretendida desde o princpio.
O processo extingue-se no produto. O produto um valor de uso uma matria
natural adaptada s necessidades humanas mediante transformao da forma. O
trabalho se uniu ao seu objetivo. O trabalho est objetivado e o objeto trabalhado.
(MARX, 1985, p. 151).
No modo capitalista de produo o trabalhador est desligado totalmente dos meios
essenciais de produo, sendo obrigado a vender a sua fora de trabalho ao capitalista. O capitalista
emprega seu capital e a fora de trabalho que comprou do trabalhador com o objetivo de produzir
mercadorias e auferir lucro, isto , para a valorizao. A fora de trabalho configura-se em uma
mercadoria especial (criadora de valor), e a relao de compra e venda da fora de trabalho,
mediada pelo dinheiro, expressa uma relao reificada. O processo de trabalho no capitalismo
torna-se apenas um meio para o processo de valorizao do capital, e o trabalhador convertido em
trabalhador assalariado.
H no desenvolvimento histrico do processo de trabalho profundas transformaes na
organizao do trabalho, a diviso mais especializada e fragmentada diminuiu o tempo necessrio
para a produo das mercadorias, o que possibilitou um aumento significativo na produo.
Com a introduo da cincia no processo produtivo, com o desenvolvimento do sistema de
mquina os trabalhadores so limitados apenas como partes deste sistema. Por meio da automao
da produo, o trabalhador tem sua vida totalmente esvaziada.
Desta forma, o capital subjuga o trabalho ao processo de valorizao. O capitalismo produz
um alto desenvolvimento das foras produtivas, entretanto, contraditoriamente produz a
desumanizao do trabalhador. Nos Manuscritos econmico-filosficos de 1844, Marx sinalizou,
6
Gyrgy Lukcs: As Bases Ontolgicas do Pensamento e da Atividade do Homem. Traduo de Carlos Nelson
Coutinho.
9
dentro do processo histrico, que a venda da mercadoria fora de trabalho se torna to mais barata
medida que se produz mais mercadorias.
Com a valorizao do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporo direta
a desvalorizao do mundo dos homens (Meschenwelt). O trabalhador no produz
somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma
mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral.
(MARX, 2004, p. 80).
O produto do trabalho apresenta-se para o seu produtor, como um ser estranho. A
efetivao do trabalho aparece como desefetivao do trabalhador, a objetivao como perda do
objeto e servido ao objeto, a apropriao como estranhamento (Enfremdung), como alienao
(Entusserung) (MARX, 2004, p. 80). A riqueza produzida pelo trabalhador no lhe pertence, e
sim, a outrem. Desta maneira, o trabalhador somente pode se manter sujeito fsico, e enquanto
sujeito fsico ele se configura como mero trabalhador. Em consequncia, o trabalho alienado faz:
[...] do ser genrico do homem, tanto da natureza quando da faculdade genrica
espiritual dele, um ser estranho a ele, um meio da sua existncia individual.
Estranha do homem o seu prprio corpo, assim como a natureza fora dele, tal como
a sua essncia espiritual, a sua essncia humana. (MARX, 2004, p. 85).
4. Notas sobre a mercadoria e o dinheiro
Em nossa vida cotidiana prevalece a superficialidade extensiva, o que evidencia quando o
homem se depara com fenmenos dados pela heterogeneidade, aos quais a imediaticidade exigem
repostas, levando-o a considerar o somatrio dos fenmenos sem levar em conta as relaes que os
vinculam e sua processualidade. Desta forma, as relaes sociais capitalista tendem a serem
naturalizadas e eternizadas, como por exemplo, as relaes monetrias. Sabemos que o dinheiro no
faz parte da natureza humana, ao contrrio do trabalho, que eterna condio para existncia do
homem.
Marx apresentou o desenvolvimento lgico-histrico do dinheiro
7
. Neste item
retomaremos brevemente este desenvolvimento com o intudo de demostrar o carter social do
dinheiro e como ele se manifesta na vida cotidiana. Para isso necessrio, obviamente, decorrer
sobre a mercadoria: valor de uso e valor.
As mercadorias so antes de tudo um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas
propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espcie (MARX, 1985 p. 45), isto , so
valores de uso. Os valores de uso constituem o contedo material da riqueza, independente da
7
Acerca da gnese e do desenvolvimento do dinheiro em Marx, ver o debate publicado pela Revista da Sociedade
Brasileira de Economia Poltica (SEP), no perodo entre 1997 a 2002.
10
forma social vigente. Na sociedade capitalista, eles so, ao mesmo tempo, os portadores materiais
do valor de troca.
O valor de troca aparece, de incio, como relao quantitativa, a proporo na qual
valores de uso de uma espcie se trocam contra valores de uso de outra espcie,
uma relao que muda com o tempo e com o espao. (MARX, 1985, p. 46)
Duas mercadorias podem ser trocadas quando elas se diferem qualitativamente uma
da outra, o que as igualam aparece de incio, como algo derivado das propriedades naturais da
mercadoria. Entretanto, Marx, ao analis-las pormenorizadamente descobre o que est por trs desta
aparncia, algo comum a elas no pode ser uma propriedade fsica da mercadoria, mas algo social.
Determinada mercadoria, 1 quarter de trigo, por exemplo, troca-se por x de graxa
de sapato, ou por y de seda, ou por z de ouro etc., resumindo, por outras
mercadorias nas mais diferentes propores [...] tm de ser valores de troca
permutveis uns pelos outros ou iguais entre si. Por conseguinte: primeiro, os
valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Segundo,
porm: o valor de troca s pode ser o modo de expresso, a forma de
manifestao de um contedo de distinguvel. (MARX, 1985, p. 46)
As mercadorias tm de ser iguais a uma terceira coisa, que em si e para si no nem uma
nem outra, ou seja, algo em comum, no pode ser uma propriedade natural da mercadoria, deixando
de lado o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a estas apenas uma propriedade, que ser
fruto do trabalho humano. O resduo dos produtos do trabalho Marx denominou de valor.
A quantidade de trabalho nas mercadorias medida por meio do tempo de durao, tempo
de trabalho mdio, ou tempo de trabalho socialmente necessrio. Este muda, porm, com a mudana
na fora produtiva do trabalho. O valor de troca e s poderia ser a expresso deste valor comum a
todas s mercadorias.
Ao desaparecer o carter til dos produtos do trabalho, desaparece o carter til dos
trabalhos neles representados, e desaparecem tambm, portanto, as diferentes
formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para
reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho abstrato[...] Como
cristalizaes dessa substancia social comum a todas elas, so elas valores
valores mercantis. (MARX, 1985, p. 47)
Podemos igualar, portanto, diferentes mercadorias pelo seu valor. Por exemplo: 10 varas
de linho e um casaco. Suponhamos que as 10 varas de linho sejam o dobro do valor do casaco. 10
varas de linha =2 w, e o casaco =w. O que tonar o valor do linho maior que o do casaco que o
tempo de trabalho medido para a produzi-lo 02 vezes maior que este ltimo. Imaginemos agora
que se diminua o tempo de trabalho para a produo do linho (caia pela metade). Assim, esta
mercadoria ter um tempo de trabalho socialmente necessrio para produzi-lo menor, caindo seu
valor tambm pela metade.
11
Com o desenvolvimento da sociedade capitalista diversas mercadorias so trocadas.
Desenvolve-se a diviso social do trabalho, cada vez mais produtores privados tm de trocar suas
mercadorias entre si. As mercadorias so levadas ao mercado por seus proprietrios e eles mediante
um ato de vontade se apropriam da mercadoria alheia, enquanto alienam a sua. Para o vendedor a
mercadoria tem diretamente apenas valor de uso de ser portadora de valor de troca, portanto, meio
de troca.
Todas as mercadorias so no-valores de uso para seus possuidores e valores de
uso para no-possuidores. Elas precisam, portanto, universalmente mudar de mos.
Mas essa mudana de mos constitui sua troca e essa troca as refere coo valores
entre si, antes de poderem realizar-se como valores de uso. (MARX, 1985, p. 80)
Por um lado, como a diferena das grandezas de valor puramente quantitativa,
necessrio que a mercadoria monetria seja capaz de expressar variaes
meramente quantitativas, portanto, possa ser dividida vontade e novamente
recomposta a partir de suas partes. Ouro e prata possuem, porm, essas
propriedades por natureza. (MARX, 1985, p. 83)
Ao longo da histria da sociedade mercantil, vrias mercadorias funcionaram para facilitar
a troca, como o gado, o sal etc. A mercadoria que desempenha o papel de equivalente geral das
outras mercadorias tem de ser necessariamente divisvel e recompor-se, ajustando as necessidades
das trocas. Os metais historicamente desempenharam este papel por suas propriedades naturais. O
ouro, portanto, cumprindo o papel social reconhecido e aceitvel pelos membros da sociedade
desempenha a funo do dinheiro. Dinheiro para Marx uma mercadoria que exercesse a funo de
equivalente geral. O valor de uso da mercadoria monetria, como o ouro ou prata, duplo, isto ,
alm de ter o valor de uso como mercadoria, o ouro serve para fazer objetos de luxo, por exemplo,
ainda adquire o valor de uso formal decorrente de suas funes sociais, serve como dinheiro. O
dinheiro um cristal gerado necessariamente do processo de troca equipara diferentes produtos do
trabalho humano.
Gostaramos de ressaltar que para Marx, o dinheiro uma mercadoria especial. Ela pode,
sobretudo, comandar e apropriar-se de trabalho alheio. No modo capitalista de produo o dinheiro
surge como uma necessidade inerente troca e se transforma em capital. No processo de produo
transforma-se em mais valor, em lucro. Capital dinheiro que se torna mais dinheiro, ou valor que
se valoriza
8
.
A vida cotidiana est repleta de fenmenos monetrios. Objetivamente necessitamos do
dinheiro para transacionar e adquirir o fundamental nossa vida. Independente de nossas vontades,
necessitamos dormir, alimentarmos, vestirmos etc., a no ser que sejamos proprietrios de todos os
meios fundamentais para produzir nosso prprio alimento, por exemplo, vendemos nossa fora de
8
Nossas consideraes sobre o dinheiro limita-se ao livro I dO Capital por se tratar de notas introdutrias ao assunto,
entretanto, no Livro III Marx desenvolver os desdobramentos do dinheiro e a autonomizao das formas funcionais do
capital.
12
trabalho em troca de dinheiro (salrio). Como dissemos, a condio da venda da fora de trabalho
foi imposta pelo desenvolvimento da sociedade capitalista.
O consumismo assume o centro da crtica sociedade burguesa
9
. Devemos advertir que a
anlise crtica da vida cotidiana no a do consumismo. A produo capitalista no apenas a
produo de bens de consumo. Marx destinou as categorias econmicas o centro da sua ontologia
do ser social (LUKCS, 1979, p. 15). A produo e reproduo como categorias centrais no se
resumem a produo de mercadorias, mas a produo e reproduo da vida humana,
compreendendo assim, relaes sociais de produo o modo de organizao da sociedade. Diferente
da forma como trata Lefebvre, no se deve dizer que o Estado impe e gere o cotidiano, mas a
prpria fora imperativa do capital. Se culparmos o Estado, perdemos a noo da categoria
totalidade que tanto o marxismo luta para dar conta. O Estado a sntese dos interesses da classe
dominante, e, portanto, serve ao capital: , essencialmente, uma expresso e um instrumento de
reproduo dos interesses das classes dominantes, portanto, um instrumento de opresso de classe,
nos diz Tonet
10
. Tambm, no se critica o cotidiano pela quantidade de outdoors nas ruas, pela
metralhadora de propagandas, shopping centers, unhas, esmaltes, maquiagens, Subways, roupa
xadrez, vestidos e sapatos, novelas, carros, motos, bons, tnis, Lacoste, Coca-cola mesmo que se
possa fazer mas a aparncia o nosso ponto de chegada, resultado, e no nosso ponto de partida,
ainda que partamos dela
11
. Sabemos que o capitalismo se apropria do tempo livre dos trabalhadores
e o converte em atividades de consumo, idas ao shopping, happy hour etc
12
.
Embora explicitado por Marx o carter social da mercadoria/dinheiro, no cotidiano essa
relaes so mistificadas, naturalizadas eternizadas. Acontece que a naturalizao destas relaes
favorece profundamente a alienao, a no conscincia dos processos sociais e histricos, ou seja,
perde-se a noo tanto da totalidade quanto a perspectiva de transformao social.
9
Gostaramos de ressaltar que a crtica de Marx mercadoria no , de forma alguma, uma crtica moral, uma crtica
objetiva das relaes de produo na sociedade capitalista.
10
Ivo Tonet, A propsito de Glosas crticas, p. 22.
11
Ao criticarmos a vida cotidiana (do ponto de vista da Economia Poltica), atacarmos o consumo exagerado, as
mercadorias como diferenciao social, a reproduo de um padro de consumo da burguesia, os preos das
mercadorias etc. Parece que o correto comear pelo real concreto, que so a pressuposio prvia e efetiva; assim,
em Economia, por exemplo, comear-se-ia pela produo, que a base e o sujeito do ato social de produo como um
todo. No entanto, graas a uma observao mais atenta, tomamos conhecimento de que isso falso. (MARX 1982, p.
14) Se analisarmos o consumo, por exemplo, desprezando o processo de expropriao da classe trabalhadora dos seus
meios de subsistncia, ele no passa de uma necessidade da sociedade que tem por especificidade a produo
mercadorias. Por outro lado, a classe trabalhadora se configura em algo vazio se no considerarmos seus elementos
fundamentais como: o trabalho assalariado, o capital etc.
12
Sobre o tempo livre ver o trabalho da autora Valquria Padilha, Tempo livre e capitalismo: um par imperfeito (2000).
13
5. Nota acerca da alienao, fetichismo e reificao.
A alienao tem recebido o tratamento vulgarizado pelo qual: por um lado, o seu sentido
subjetivo, ou melhor, totalmente psicolgico (surge da cabea do homem), como se a condio de
alienao passasse por uma questo de saber se est ou no alienado; por outro lado, a alienao
est relacionada s decises e escolhas tomadas na vida cotidiana, como por exemplo, assistir a um
jornal com informaes enviesadas ou procurar uma fonte alternativa de informao.
Podemos dizer que conhecer a existncia da alienao no torna o indivduo menos
alienado do que aquele que no a conhece, isto , a alienao no uma condio mental do sujeito,
acima de tudo, ela tem a ver com a forma social vigente. Deste modo, a alienao est presente em
todas as sociedades nas quais existe a propriedade privada dos meios de produo. No feudalismo a
apropriao do excedente era realizada atravs da coero ou da tradio (meios extra-econmicos),
pois no havia o desligamento total dos servos de seus meios de produo, apesar disto, nesta forma
social a alienao estava presente. No capitalismo, como dissemos, h o desligamento total do
trabalhador dos meios de produo, obrigando-lhes venda da sua fora de trabalho. A propriedade
privada o pressuposto para o trabalho alienado.
Marx nO Capital, aps demonstrar o duplo carter do trabalho, isto , o trabalho concreto
criador de valores de uso e o trabalho abstrato criador do valor, questiona a aparente mstica que
abrange os produtos do trabalho humano que torna um empecilho para o reconhecimento o fruto do
seu trabalho e a essncia da sociedade. Nas palavras de Netto:
Mais precisamente indaga-se por que a produo mercantil dominante,
instaurando-se sobre fundamentos puramente sociais obscurece e escamoteia
estes mesmo fundamentos. Numa palavra: em que e por que o produto do trabalho
toma sob a forma de mercadoria forma que na sociedade capitalista, a mais
geral e mais geral da produo -, uma aparncia misteriosa. A questo a seguinte
a produo mercantil dominante no mesmo processo que revela o carter social do
trabalho, reveste com um envoltrio a-social o seu produto. (NETTO, 1981, p. 40.
Negrito PAF).
A resposta dada por Marx nos surpreende por ser evidentemente, dessa forma mesmo
(MARX, 1985, p.71). O fetichismo est contido a por que a atividade do trabalho humano se iguala
e se manifesta sob a forma do valor da atividade de trabalho, medida pelo tempo.
A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material de igual objetividade
de valor dos produtos de trabalho, a medida do dispndio de fora de trabalho do
homem, por meio da sua durao, assume a forma da grandeza de valor dos
produtos do trabalho, finalmente as relaes entre os produtores, em que aquelas
caractersticas sociais de seus trabalhos so ativadas, assumem a forma de uma
relao social entre os produtos do trabalho. O misterioso da forma mercadoria
consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as
caractersticas sociais do seu prprio trabalho como caractersticas objetivas dos
14
prprios produtos do trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas, e,
por isso tambm reflete a relao social dos produtos. (NETTO, 1981, p. 40)
O fetichismo prprio da sociedade capitalista, e este se universaliza emergindo como um
fenmeno em que uma relao social aparece objetivada, como uma relao entre coisas.
Necessitamos de uma teoria da alienao para entendemos o fetichismo, pois ele uma modalidade
da alienao, nos esclarece Netto,
O fetichismo pe, necessariamente, a alienao mas fetichismo e alienao no
so idnticos. A alienao, complexo simultaneamente de causalidade e resultantes
histricos-sociais, desenvolve-se quando os agente sociais particulares no
conseguem discernir e reconhecer nas formas sociais o contedo e o efeito da sua
ao e interveno; assim, aquelas formas e, no limite, a sua prpria motivao
ao aparecem-lhes como alheias e estranhas. (NETTO, 1981, p. 74).
, portanto, instaurado uma nova forma jamais existente que a alienao assume no modo
especificamente capitalista de produo. Acontece que toda forma reificada uma forma
alienada, mas o contrrio no verdadeiro, nem toda forma alienada uma forma reificada
(NETTO, 1981, p.75), expressando uma relao coisificada.
Esta temtica de extrema importncia para o entendimento da vida cotidiana na
contemporaneidade, uma vez que com o surgimento da sociedade burguesa, a margem para nossas
decises e escolhas aumentou significativamente. Sabemos que essa possibilidade sempre existiu
em outras sociedades, acontece que quando a relao de um homem com sua classe passou
causalidade, a possibilidade de construir conscientemente uma hierarquia da organicidade do
cotidiano aumentou, isso nos permite, por exemplo, participar ativamente da poltica, dos interesses
pblicos etc. No entanto, as condies sociais que permitiram o aumento das possibilidades, ao
mesmo tempo, as limitam, sobretudo, pela prpria alienao.
6. Consideraes finais
A reificao, ao contrrio da forma como tratada pela superficialidade do cotidiano, um
fenmeno objetivo, expressa a alienao no modo de produo especificamente capitalista.
Destarte, se manifesta de diversas maneiras, submetendo s relaes humanas ao intermdio das
mercadorias, mistificando e naturalizando os processos histricos e as categorias sociais.
A reflexo sobre as formas de vida humana, e, portanto, tambm sua anlise
cientfica, segue sobretudo um caminho oposto ao desenvolvimento real. Comea
post festum e, por isso, com os resultados definitivos do processo de
desenvolvimento. As formas que certificam aos produtos do trabalho como
mercadorias e, portanto, so pressupostos da circulao de mercadorias, j possuem
estabilidade de formas naturais da vida social, antes que os homens procurem dar-
se conta no sobre o carter histrico dessas formas, que eles antes j consideram
imutveis, mas sobre seu contedo. (MARX, 1985, p. 73).
15
A temtica tratada por ns tem o intuito de apresentar as categorias necessrias para o
entendimento da reificao, algo to presente em nossa realidade neste incio de sculo. A teoria
social crtica de Marx, configura-se em um arsenal terico-metodolgico, assim, a crtica da vida
cotidiana tem por fundamento a crtica da economia poltica. O que se prope com esta crtica
alm evidenciar e retirar o carter misterioso das relaes no modo capitalista de produo a
profunda transformao social. nosso dever, portanto, trazer a luta de classes (da perspectiva da
classe trabalhadora) para o centro da vida cotidiana.
Referncias Bibliogrficas
DEBORD, G. A sociedade do espetculo. Rio de J aneiro: Editora Contraponto, 2000.
HELLER, A. O cotidiano e a histria. 2. Ed. So Paulo: Paz e Terra, 1985.
LUKCS, G. Estetica. Volume I. Barcelona / Mxico: Grijalbo, 1966.
______. Ontologia do ser social: os princpios ontolgicos fundamentais de Marx. So Paulo:
Cincias Humanas, 1979.
MARX, K. O 18 Brumrio de Luiz Bonaparte. In: ______. Os Pesadores. So Paulo: Abril
Cultural, 1974.
______. Para a crtica da economia poltica: salrio, preo e lucro. O rendimento e suas fontes.
So Paulo: Abril Cultural, 1982.
______. O Capital: crtica da economia poltica. Livro Primeiro. Tomo I. So Paulo: Abril
Cultural, 1985.
______. O Capital: crtica da economia poltica. Livro Primeiro. Tomo II. So Paulo: Abril
Cultural, 1985a.
______. Manuscritos econmico-filosficos. So Paulo: Boitempo, 2004.
______. Glosas crticas marginais ao artigo O rei da Prssia e a reforma social. De um
prussiano. 1. Ed. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
NETTO, J . P. Capitalismo e reificao. So Paulo: Livraria Editora Cincias Humanas, 1981.
______. Para a crtica da vida cotidiana. In: NETTO, J .P.; FALCO, M. C. Cotidiano:
conhecimento e crtica. 2. Ed. So Paulo: Cortez Editora, 1989.
Você também pode gostar
- Reserva de Viagem 21 Dezembro para CHRISLEY ELAINE COSTADocumento2 páginasReserva de Viagem 21 Dezembro para CHRISLEY ELAINE COSTAERNANDO COSTAAinda não há avaliações
- Resenha A Questão AmbientalDocumento3 páginasResenha A Questão Ambientalthaleslelo100% (1)
- GORZ, André - Misérias Do PresenteDocumento84 páginasGORZ, André - Misérias Do PresenteGu To100% (3)
- A Crise Do Serviço Social Tradicional Jose PauloDocumento10 páginasA Crise Do Serviço Social Tradicional Jose PauloRenata RodriguesAinda não há avaliações
- Educação Superior No BrasilDocumento48 páginasEducação Superior No BrasilEmerson SilvaAinda não há avaliações
- Testes de Macroeconomia - VarianteDocumento2 páginasTestes de Macroeconomia - VarianteegasdanielAinda não há avaliações
- Projeto SEPSAPDocumento23 páginasProjeto SEPSAPeduardrjAinda não há avaliações
- Boleto BBDocumento1 páginaBoleto BBRodrigo LelisAinda não há avaliações
- A Carne É FracaDocumento4 páginasA Carne É FracaKelly VianaAinda não há avaliações
- Palestra 1 Incentivos Fiscais Da ZFM Alc e Amoc Rafael GouveiaDocumento57 páginasPalestra 1 Incentivos Fiscais Da ZFM Alc e Amoc Rafael GouveiaMarcella FerreiraAinda não há avaliações
- ABNT Exemplo de ProjetoDocumento16 páginasABNT Exemplo de ProjetoLeonardo Silvio SarmentoAinda não há avaliações
- Mozambique Cdigo de Processo PenalDocumento63 páginasMozambique Cdigo de Processo PenalJuvêncio ChigonaAinda não há avaliações
- Dodf 026 06-02-2024 IntegraDocumento79 páginasDodf 026 06-02-2024 IntegraLuciano RorizAinda não há avaliações
- Aula Inaugural - Empreendedorismo e InovaçãoDocumento56 páginasAula Inaugural - Empreendedorismo e InovaçãoWilliam PariseAinda não há avaliações
- Catalogo Interno 2019 v2Documento18 páginasCatalogo Interno 2019 v2VIPA PAUNNAinda não há avaliações
- Comprovante de Entrega (Retornar para A Empresa) : Instituto Nacional de Educação E TecnologiaDocumento1 páginaComprovante de Entrega (Retornar para A Empresa) : Instituto Nacional de Educação E Tecnologiaivoneabreu059Ainda não há avaliações
- Cartão CNPJ - EKOBIODocumento3 páginasCartão CNPJ - EKOBIOItalo MeloAinda não há avaliações
- CCR S.A. CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97 NIRE Nº. 35.300.158.334Documento3 páginasCCR S.A. CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97 NIRE Nº. 35.300.158.334Renan Dantas SantosAinda não há avaliações
- Portaria Sar 60-2016 - Ident e Rastr de BovinosDocumento2 páginasPortaria Sar 60-2016 - Ident e Rastr de BovinosSIDINEIAinda não há avaliações
- Lei Ordinaria 7815 2009 Sao Jose Dos Campos SP Consolidada (30!05!2012)Documento21 páginasLei Ordinaria 7815 2009 Sao Jose Dos Campos SP Consolidada (30!05!2012)Alessandro BarrosAinda não há avaliações
- Racismo Na Obra de FHC - ArtigoDocumento22 páginasRacismo Na Obra de FHC - ArtigoRodrigo SantaellaAinda não há avaliações
- Resumo MacroeconomiaDocumento18 páginasResumo MacroeconomiaCarol BighiAinda não há avaliações
- Digital Stage Ltda: DanfeDocumento1 páginaDigital Stage Ltda: Danferibeiromurilo119Ainda não há avaliações
- E-Book - Melhores Investimentos para 2023Documento40 páginasE-Book - Melhores Investimentos para 2023jose de ribamar ribeiro cardosoAinda não há avaliações
- Livro Digital HeipDocumento248 páginasLivro Digital HeipLucas Frota de AquinoAinda não há avaliações
- Prova IV Unidade - 6º AnoDocumento3 páginasProva IV Unidade - 6º AnoGlauci OliveiraAinda não há avaliações
- Laudo 00788Documento14 páginasLaudo 00788pessoalhugoAinda não há avaliações
- Projeto de PesquisaDocumento9 páginasProjeto de PesquisaAlcimar Souza da Silva100% (1)
- O Sistema de Saúde Brasileiro - Power PointDocumento25 páginasO Sistema de Saúde Brasileiro - Power PointFelipe Bezerra MarquesAinda não há avaliações
- Artigo Singa 2011 Hidrelétricas Reginaldo Castela & Nazira Camely Versão FinalDocumento20 páginasArtigo Singa 2011 Hidrelétricas Reginaldo Castela & Nazira Camely Versão FinalreginaldocastelaAinda não há avaliações