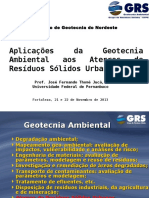Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cap 21 Tony Jarbas
Cap 21 Tony Jarbas
Enviado por
Diego VieiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cap 21 Tony Jarbas
Cap 21 Tony Jarbas
Enviado por
Diego VieiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Carbono Pirognico
Tony J arbas Ferreira Cunha
Etelvino Henrique Novotny
Beta Emke Madari
Vinicius de Melo Benites
Ladislau Martin-Neto
Gabriel de Arajo Santos
O domnio do fogo foi um dos mais importantes eventos que possibilitaram a hegemonia humana
sobre a Terra, sendo a primeira evidncia do seu uso, ainda pelos homindeos, datada de 1 a 1,5 milho
de anos (Crutzen & Andreae, 1990). Com o surgimento do Homo sapiens, as queimadas foram
expandidas em todos os continentes (Malingreau et al., 1985) e datao de carvo em sedimentos
mostra uma correlao entre as taxas de queima (incidncia de fogo) e os assentamentos humanos
(Crutzen & Andreae, 1990). Ainda hoje grandes queimadas so utilizadas em todo o mundo tendo
como objetivo a abertura de novas reas para uso agropecurio. No Brasil, praticamente uma rea do
tamanho do Estado de Alagoas queimada anualmente na Floresta Amaznica.
Entretanto, desde o aparecimento das gimnospermas, h cerca de 360 milhes de anos, queimadas
naturais sempre ocorreram (J ones & Rowe, 1999). Altas concentraes de carbono pirognico em
sedimentos do cretceo/tercirio sugerem que o final da idade dos rpteis na terra, h cerca de 65
milhes de anos, foi associado a grandes incndios globais que emitiram para a atmosfera grandes
quantidades de carbono pirognico (Wolbach et al., 1985).
O papel do fogo foi e ainda de grande importncia no desenvolvimento da humanidade. Povos
antigos valiam-se do fogo no somente no preparo dos alimentos, como tambm em rituais religiosos,
prticas de defesa, fertilizao dos solos e atividades beligerantes. Segundo Spurr & Barnes (1973) o
fogo o fator dominante na histria de ecossistemas florestais, e a grande maioria das florestas do
mundo, com exceo das florestas permanentemente midas e de cintures mais midos nos trpicos,
foi queimada em intervalos freqentes de mais ou menos mil anos, concordando com as informaes
de Crutzen & Andreae (1990).
Nos incndios naturais e provocados, na queima de combustveis fsseis, madeira e carvo, bem
como na incinerao de detritos, geralmente, ocorre a combusto incompleta do material orgnico, o
que leva formao de uma srie de compostos genericamente denominados carbono pirognico.
Esses compostos, pela sua recalcitrncia, representam um importante reservatrio de carbono estvel,
podendo mitigar o aumento da concentrao atmosfrica de CO2, e tambm desempenham importante
papel na fertilidade dos solos, especialmente quando qumica e biologicamente alterados.
Definies
Carbono pirognico
Smernik et al. (2000) utilizam o termo carbono pirognico para descrever o mais inerte componente
da matria orgnica (o componente graftico), e o termo carvo usado para descrever uma grande
variedade de materiais orgnicos de colorao preta e altamente aromticos formados durante a
combusto, mas que no precisam ter a estrutura graftica. Por sua vez, e Cope & Chaloner (1980)
consideram que a combusto de materiais derivados de plantas leva formao de duas amplas
categorias, carvo e carbono pirognico, este formado a temperaturas superiores a 600 C, aquele a
temperaturas inferiores a 600 C.
Novakov (1984) definiu o termo carbono pirognico como material produzido por combusto e
que apresenta microestrutura graftica. Termos como carvo (chacoal), fuligem (soot) e carbono
elementar so encontrados na literatura como sinnimos de carbono pirognico apesar de no existir
uma terminologia geralmente aceita (Gonzlez-Prez et al., 2004).
Entretanto, Simpson & Hatcher (2004a) utilizam o termo carbono pirognico para descrever
diferentes produtos da combusto incompleta, tais como: fuligem, carvo e grafite. Alm disso,
Schmidt & Noack (2000) afirmam que no existe um consenso geral no que diz respeito a um ponto
divisrio entre as diferentes propriedades fsicas e qumicas do carbono pirognico, ou seja, um limite
entre os diversos subprodutos da combusto que tm sido considerados como carbono pirognico.
Gonzlez-prez et al. (2004) propuseram Uma melhor descrio para carbono pirognico, na qual
este pode ser entendido como um contnuo entre materiais de plantas parcialmente carbonizadas, tais
como carvo e material graftico e partculas de fuligens condensadas na fase gasosa. Nessa definio
importante acrescentar, como precursores do carbono pirognico, todos os materiais orgnicos,
sintticos ou naturais. por conseguinte, tanto carvo, grafite e fuligem de materiais carbonceos so
considerados como carbono pirognico, sendo essa uma forma altamente recalcitrante de carbono
orgnico e, assim, embora sofra alguma degradao nos solos (Bird et al., 1999) e no ambiente, sua
incorporao neste de suma importncia para o seqestro de carbono (Schmidt & Noack, 2000;
Sombroek et al., 2003).
Substncias hmicas
A frao orgnica do solo representa um sistema complexo, composto de diversas substncias,
sendo sua dinmica determinada pela incorporao de material orgnico (quer seja carbonizado ou
no) e pela transformao deste pela ao de diferentes grupos de microrganismos, enzimas e da fauna
do solo, alm de fatores abiticos tais como: temperatura, irradiao solar e reaes qumicas.
A matria orgnica do solo, excetuando os organismos vivos, constitui-se de uma mistura de
compostos vegetais e animais em vrios estgios de decomposio, alm de substncias orgnicas
sintetizadas qumica e biologicamente. Esse material complexo pode ser dividido em substncias
hmicas (cidos hmicos, cidos flvicos e huminas) e no hmicas (protenas, aminocidos,
polissacardeos, cidos orgnicos de baixa massa molar, ceras e outros). Esses compostos so
fortemente associados e no totalmente separados um dos outros.
As substncias no hmicas pertencem a grupos bem conhecidos da qumica orgnica e suas
caractersticas fsicas e qumicas so assaz difundidas. Tais substncias, Geralmente, correspondem
aos compostos facilmente degradados por microorganismos, tendo, normalmente, tempo curto de vida
nos solos e sedimentos. Por sua vez, as substncias hmicas so os maiores constituintes da frao
orgnica dos solos, sedimentos e guas, ocorrendo praticamente em todos os ambientes terrestres e
aquticos. Surgem da degradao de resduos de plantas e animais e da atividade sinttica de
microorganismos (Kononova, 1982). As substncias hmicas so compostos orgnicos
macromoleculares (Schulten & Schnitzer, 1993) ou estruturas supramoleculares (Piccolo et al., 1996),
com massa molar aparente variando de poucas centenas a diversos milhares de unidades de massa
atmica. Elas diferem de biopolmeros tanto por sua estrutura, quanto por sua longa persistncia no
solo (Sposito, 1989; Stout et al., 1995). Elas so amorfas, de cor escura, parcialmente aromticas,
principalmente hidroflicas e quimicamente complexas. Comportam-se como materiais polieletrlitos
(Schnitzer e Khan, 1978), ou seja, quando dissociadas em soluo, no apresentam uma distribuio
uniforme de cargas positivas e negativas na soluo, mas sim com ons de carga oposta
macromolcula ligados a ela e ons de mesma carga difundidos na soluo.
As substncias hmicas podem ser fracionadas por critrios de solubilidade a diferentes valores de
pH, sendo os cidos flvicos solveis a qualquer pH, os cidos hmicos solveis apenas em meio
alcalino e as huminas insolveis a qualquer valor de pH, essas ltimas so o resduo orgnico do solo
aps a extrao da matria orgnica por NaOH (Stevenson, 1994).
Tony J arbas Ferreira Cunha et al. 264
Efeitos do Fogo
No solo
As queimadas, em sistemas florestais, freqentemente exercem importantes efeitos sobre a
fertilidade dos solos (Wardle et al., 1998; Kleinman et al., 1995), incluindo o aumento da
decomposio da matria orgnica mais lbil com o conseqente aumento da disponibilidade de
ctions e do pH (Tamm, 1991).
Depois das queimadas, a liberao de nutrientes da biomassa pode torn-los disponveis para as
culturas, favorecer as perdas deles por volatilizao e lixiviao ou mant-los ligados a complexos
altamente recalcitrantes (Ramakrishnan, 1992). Esses resultados so altamente dependentes da
intensidade da queima, que pode ser o mais importante fator a influenciar a fertilidade do solo
(Andriesse, 1987).
A importncia das cinzas, como fonte de fsforo, potssio, clcio e magnsio em solo, tem sido
reportada na literatura. Seu efeito no aumento do pH do solo e no suprimento de nutrientes foi
mencionado por Sanchez et al. (1983). Entretanto, esse efeito sobre a fertilidade curto, haja vista que,
aps alguns cultivos, a disponibilidade de nutrientes diminui, advindo da a necessidade do uso de
fertilizantes para a manuteno da fertilidade do solo.
Flster (1986) estimou que a serrapilheira e cinzas contribuem com 50-80% da fertilidade dos solos
sob florestas tropicais. Essa percentagem diminui no cerrado e em pastagens (Nye & Greenland,
1960).
A queima tambm favorece o aumento do pH e a diminuio da saturao de alumnio, o que um
benefcio agronmico em solos cidos (Kleinman et al., 1995). Nem todos os nutrientes so
imediatamente liberados aps a queima, porque muitos deles permanecem ligados s cinzas e matria
orgnica do solo, e s so disponibilizados aps a decomposio desses materiais.
Apesar desses benefcios, a queimada pode promover a degradao dos solos. Por exemplo, quanto
maior a temperatura da queima maior a volatilizao do nitrognio e sua perda para a atmosfera
(Andriesse, 1987). Enxofre e carbono so tambm volatilizados durante a queima (Christanty, 1986). E
assim altas temperaturas levam perda da matria orgnica das camadas mais superficiais dos solos
(Andriesse & Koopmans, 1984).
Em solos de baixa fertilidade natural, a perda da matria orgnica queimada e daquela
posteriormente transportada por eroso leva diminuio da capacidade de troca catinica (CTC)
(Driessen et al., 1976), o que se torna um grande problema para a explorao agrcola em reas
tropicais, onde a maior parte da CTC dos solos devida matria orgnica. Nessa situao, h
necessidade de aporte de insumos para a obteno de rendimentos satisfatrios.
Outrossim as queimadas removem a cobertura do solo, expondo-o aos efeitos das chuvas,a eroso
elica e ao impacto direto da radiao solar. Essa exposio pode resultar no encrostamento e
selamento superficiais dos solos, na volatilizao de nutrientes, e por fim em eroso hdrica e elica
(Van Wambeke, 1992). Mudanas fsicas so tambm iniciadas, incluindo a dessecao do solo via
evaporao (Uhl et al., 1981), alterao da textura (Ahn, 1974), e a deteriorao da estrutura do solo
(Christanty, 1986). Finalmente, a queima influencia a natureza da sucesso ecolgica, por prejudicar e
destruir sementes e sistemas de propagao vegetativa, alm de criar condies favorveis
regenerao de espcies invasoras (Seibert, 1990).
Na matria orgnica do solo
O efeito do fogo sobre a matria orgnica do solo altamente dependente, entre outros fatores, do
tipo de fogo e da intensidade deste, do tipo de solo e umidade deste e da natureza do material
carbonizado (Gonzlez-Prez et al., 2004). Knicker et al. (1996) postularam que, para se executar um
265 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
estudo sistemtico sobre o efeito do fogo na matria orgnica do solo, deveria ser considerado que os
resultados finais dependem, no mnimo, de trs fatores: a) a entrada de plantas carbonizadas [mais
genericamente: material carbonceo]; b) as mudanas estruturais in situ dos compostos hmicos
nativos durante a queimada e c) entradas e sadas, aps a queimada, de espcies colonizadoras e dos
processos erosivos favorecidos pela remoo da vegetao.
Almendros & Leal (1990) propuseram um modelo genrico para a dinmica da matria orgnica
aps intensa carbonizao (Fig. 1).
FRAESORGNICASLIVREDOSOLO FRAOCOLOIDAL
DOSOLO
FRAOCOLOIDALTIPO
HUMINAFORMADAPOR
DIAGENESETERMICA Entrada de materias
organicos
Volatilizao
Mudana no padro
de distribuio
Formao de composto
diagentico
Aumento dos residuos
de plantas
biodegradaveis
DESTILAO
SECA
Fixao
frao pesada
do solo
Matria orgnica
fortemente
sequestrada
Aumento da aromaticidade
Rearranjamento Estrutural
Aumento da resistncia
do ataque mineral
Disponibilidade de nutrientes
minerais para o solo
Formao de formas
estaveis de nitrognio
Aumento da densidade
optica
Demetoxcilao
FRAO
LIPIDIOS
CIDO
FLVICO
QUEIMAPARCIAL
DANECROMASSA
MATERIAORGNICALIVRE
(Particulas, frao no
descomposta)
CIDO
HMICO
FRAO
HUMINA
INSOLVELEMCIDO
(Tipico cido hmico)
INSOLVELEMCIDO
EBASE
(Tipo humina)
MATERIA
CARBONIZADA
(Carbono pirognico)
O
D
S
C
M
O
D
C
C
O
D
S
P
O
D
S
P
M
O
D
P
S
C
Formao de melanoidinas por aquecimento das serrapilheira
Acumulao de N- heterociclico neoformado
Carcarboxilao e desidratao sobre severas condies
Acumulao de estruturas aromticas neo-formadas.
Acumulao de estruturas alquilicas recalcitrantes
Condesao termica e encapsulao molecular dentro
de resduos tipo carbono pirognico.
Fig. 1. Esquema mostrando a dinmica da matria orgnica dos solos quando afetada por queimadas severas.
Adaptado de Almendros &Leal (1990).
Baseado no esquema proposto por Almendros & Leal (1990), pode-se inferir que os grupos
funcionais oxigenados das molculas hmicas so especialmente lbeis quando submetidos ao
aquecimento.
Em queimadas naturais, parte da frao cido hmico pode ser transformada em humina.
Simultaneamente, parte da frao cido flvico pode transformar-se em cidos hmicos. Entradas
adicionais de materiais de lignina alcalino-solvel, herdados da combusto incompleta da biomassa
em adio a compostos neoformados atravs da condensao de aminoacares, contribuir para a
insolubilidade dos cidos hmicos formados a partir dos cidos flvicos (Gonzlez-Prez et al., 2004).
O fogo exerce impacto direto sobre o solo e um desses impactos a queima da biomassa, fonte
primria da matria orgnica do solo (Zech & Guggenberger, 1996). alta temperatura (200 a 450 C),
parte dos materiais orgnicos, vivos ou mortos, sofre a combusto completa resultando em CO2, gua e
cinzas; e parte carbonizada, levando formao de fumaa, fuligem, carvo e cinzas. Devido ao fato
do solo, quando seco, no ser um bom condutor de calor (Skjemstad & Graetz, 2003) e, em condies
ambientais, a disponibilidade de oxignio ser limitada, a combusto incompleta, o que favorece uma
produo mais eficiente de carbono pirognico em detrimento da combusto completa.
266 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Fumaa e partculas de fuligem podem deslocar-se por longas distncias atravs da atmosfera
(Crutzen & Andreae, 1990). J o carvo e as cinzas normalmente permanecem onde foram formados
devido ao grande tamanho das suas partculas;contudo, podem ser transportados posteriormente por
processos erosivos.
O efeito do fogo sobre a evoluo da matria orgnica do solo tem sido comparado a processos
naturais de evoluo, tais como: humificao e polimerizao (Almendros et al., 2003). Entretanto,
existem diferenas qualitativas importantes entre a estrutura molecular de substncias hmicas
afetadas pelo fogo ou irradiao solar e aquelas formadas por processos de humificao, onde as
atividades enzimtica e microbiana predominam. Processos bioqumicos levam formao de
constituintes moleculares contendo grupos oxigenados enquanto que, na presena do fogo, grupos
oxigenados externos so removidos, favorecendo o surgimento de materiais de reduzida solubilidade e
propriedades coloidais (Almendros et al., 1992).
Estudos realizados em ecossistemas naturais, bem como em laboratrio, simulando o efeito do fogo
sobre o solo, tm demonstrado que o material piromrfico proveniente das queimadas consiste de
substncias macromoleculares relativamente inertes, principalmente derivadas da biomassa vegetal, e
de natureza altamente aromtica (Almendros et al., 1984, 1992; Knicker et al., 1996; Baldock &
Smernik, 2002).
Golchin et al. (1997), estudando o efeito da vegetao e da queima na composio qumica da
matria orgnica em solos derivados de cinzas vulcnicas, observaram que, em pastagens onde ocorre
queima anual, a matria orgnica do solo e os cidos hmicos continham grandes propores de
carbono aromtico e carboxilas, enquanto o carbono aliftico contribuiu com apenas 19% na
composio da matria orgnica do solo, dados que corroboram os obtidos por diversos outros autores
(Zech et al., 1990; Glaser et al., 2001; Gonzlez-Prez et al., 2004; Kramer et al., 2004; Cunha, 2005;
Novotny et al., 2006a,b). Quando as pastagens foram tomadas pela floresta, a natureza qumica da
matria orgnica do solo e dos cidos hmicos mudou. As maiores mudanas constatadas pelos autores
ocorreram dos primeiros 20 a 30 anos. Essas mudanas consistiram na diminuio do carbono
aromtico e aumento do carbono aliftico. Em solos sob floresta nativa, a matria orgnica do solo
apresentou natureza altamente aliftica, onde o C-aliftico contribuiu com 35% do carbono total
desses solos.
De modo geral, mudanas na matria orgnica do solo causadas pelo fogo ou calor levam
definio de hmus piromrfico (Gonzlez-Prez et al., 2004): material composto de substncias
macromoleculares reorganizadas, apresentando fraca propriedade coloidal e alta resistncia
degradao microbiana, conforme demonstrado em experimentos de laboratrio, com amostras
aquecidas tanto natural quanto artificialmente (Almendros et al., 1984). Dessa forma, durante a queima
da biomassa, uma considervel reorganizao das formas de carbono ocorre, e formas de carbono
orgnico resistente oxidao e refratrio, com longos tempos de residncia, incluindo o carbono
pirognico, so formadas (Schulze et al., 2000).
Considerando que a formao do carbono pirognico depende da volatilizao do carbono exposto
ao fogo (carbono volatilizado/carbono exposto CV/CE), Kuhlbusch et al. (1996) investigaram a
formao deste material refratrio em queima de pastagem em condies de campo e de laboratrio em
contineres (Fig. 2).
Na Figura 2 pode-se observar o aumento da razo black carbon (carbono pirognico)/carbono
exposto com o aumento do carbono volatilizado (CV) pelo fogo. Esta converso diminui at o ponto
onde todo carbono volatilizado. Os autores observaram que a mxima converso determinada, tanto
em estudo de campo quanto no de laboratrio, foi de 1,3 e 1,8 respectivamente.
Baseados nesses fatores de converso e em dados reportados por Fearnside et al. (1993), Kuhlbusch
& Crutzen (1995) estimaram a taxa anual de formao de carbono pirognico, Tabela 1.
Na Tabela 1, adaptada de Kuhlbusch & Crutzen (1995), observa-se que a maior taxa de carbono
pirognico no resduo, aps exposio do carbono volatilizao, foi obtida com a mudana no uso da
terra, seguida pela retirada permanente da floresta.
267 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
0.5
0.0
1.0
1.5
2.0
70 75 80 85 90 95 100
Carbono Volatilizado [ % do Carbono Exposto (CE) ]
Fogo Natural (Campo)
Fogo Experimental
Fig. 2. Formao de black carbon (carbono pirognico) em funo da volatilizao do carbono. Adaptado de
Kuhlbusch et al. (1996).
Tabela 1. Estimativa global de formao de carbono pirognico no resduo.
BC/CE: black carbon (carbono pirognico)/carbono exposto.
Fonte: adaptado de Kuhlbusch & Crutzen (1995)
Fonte
Carbono exposto (CE) Fator de converso Carbono pirognico
no resduo
-1
Tg C ano
-1
Tg C ano
BC/CE (%)
Mudana no uso da terra
Desflorestamento permanente
Queimadas em savanas
Combusto da madeira
Resduos agrcolas
Total
1000 2000
500 1400
400 2000
300 600
500 800
2700 - 6800
1,5 3,0
1,5 3,0
1,0 2,0
2,5 3,5
1,0 2,0
-
15 60
8 42
4 40
8 21
5 16
40 - 179
268 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Segundo Seiler & Crutzen (1980), a queima da biomassa leva a uma significativa produo de
materiais vegetais carbonizados, e o aquecimento da matria orgnica do solo resulta em considervel
aumento na aromaticidade da matria orgnica remanescente, em detrimento de grupos carboxlicos e
estruturas alifticas (Almendros et al., 1992).
Almendros & Leal (1990) modelaram e estudaram em detalhes as possveis transformaes
exercidas pelo fogo sobre as fraes cido hmico e cido flvico do solo e observaram severas
modificaes, principalmente nas propriedades de solubilidade. Nos estgios iniciais, metade dos
cidos hmicos foi rapidamente transformada em material molecular insolvel em meio alcalino,
insolubilidade que se tornou maior medida que aumentou o estgio de aquecimento. Similar
comportamento foi observado para a frao cido flvico, que primeiro foi transformada em molculas
insolveis em meio cido (como cidos hmicos) e em seguida em substncias moleculares insolveis
em meio alcalino (como a humina), conforme Figura 3.
100
50
0
0 60 90 120 150 0 60 90 120
CIDO HMICO CIDO FLVICO
Tipo cido Flvico
Tipo Humina
Tipo cido Hmico
Carbono Pirognico
Tempo de Oxidao a 350C
Fig 3. Transformao progressiva de cidos hmicos e cidos flvicos em funo do aumento da temperatura
em condies controladas de laboratrio. Os dados so expressos como percentagem do peso final. Adaptado
de Almendros & Leal (1990).
Os autores tambm observaram, aps oxidao alcalina da frao cido hmico e flvico com
permanganato, que uma quantidade varivel de resduos negros no oxidados permaneceu. Esses
resduos foram caracterizados como carbono pirognico aps caracterizao qumica e
espectroscpica.
As principais modificaes observadas por Almendros & Leal (1990) foram na solubilidade dos
materiais, estando esta relacionada s mudanas na composio elementar das fraes hmicas. O
aquecimento diminuiu a razo H/C, sugerindo um aumento na aromaticidade das fraes hmicas, e
uma diminuio da razo O/C, indicando uma substancial perda de grupos funcionais contendo
oxignio. Desidratao e descarboxilao foram observadas aps a queima, o que pode explicar as
alteraes progressivas nas propriedades coloidais dos solos afetados por queimadas (Gonzles-Prez
et al., 2004).
269 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Em funo do aquecimento progressivo de cidos hmicos, Gonzles-Prez et al. (2004)
observaram, por anlise de ressonncia magntica nuclear de 13C (13C RMN), uma queda substancial
de grupos alifticos e O-alifticos e grupos carboxlicos. Entretanto, grupamentos aromticos
aumentaram com o tempo de aquecimento (Fig. 4).
*
*
*
*
+
+
+
+
*
+
+
+
*
*
+
*
10
40
30
20
0
0 60 120 180 0 60 120
Aromtico
Alquil
O - Alquil
Carbonila
Aromtico
O - Alquil
Carbonila
Alquil
Tempo de Aquecimento ( seg ) Tempo de Aquecimento ( seg )
HA FA
Fig. 4. Mudana nos diferentes tipos de carbono detectado por 13C RMN de cidos hmicos como resultado
do aquecimento. As percentagens dos diferentes tipos de carbono foram calculadas em termos de perdas de
carbono sob condies de laboratrio. Adaptado de Gonzles-Prez et al. (2004).
Durante a queima de materiais orgnicos, aumento na aromaticidade das fraes hmicas tambm
foi observado por Almendros et al. (1988, 1992). Constatou-se que esse aumento no causado
somente por um enriquecimento seletivo de componentes aromticos resistentes ao aquecimento, mas
principalmente por reaes de neoformao endotrmica envolvendo prvia desidratao de
carboidratos, aminocidos e cadeias alqulicas no saturadas (Golchin et al., 1997).
Do acima exposto, fica claro que o aumento da aromaticidade das substncias hmicas devido
queima deve-se no apenas ao enriquecimento seletivo de componentes aromticos, por conta da
oxidao de materiais mais lbeis, mas tambm por neoformao de componentes aromticos a partir
de alteraes dos componentes menos recalcitrantes.
Estudando as substncias hmicas de solos da Amaznia, observou-se (Cunha, 2005; Novotny et
al., 2006), por anlise de 13C RMN, que os cidos hmicos originados dos solos antrpicos, com
elevado teor de carbono pirognico, contiveram maior proporo de estruturas aromticas que os
cidos hmicos extrados de solos que no foram submetidos a queimas intensivas ou que no
receberam material carbonizado em grandes quantidades no passado (solos no antrpicos).
Observou-se tambm que, entre os diferentes grupos, os cidos hmicos em solos no antrpicos
so mais ricos em grupamentos alifticos, metoxlicos e em estruturas de polissacardeos. As maiores
concentraes de carbono aromtico, incluindo tambm carbono fenlico, foram observadas nos
cidos hmicos provenientes dos solos antrpicos ricos em carbono pirognico.
A natureza dos cidos hmicos estudados foi mais aliftica que a observada em cidos hmicos de
regies temperadas (Chen & Pawluk, 1995). A maior alifaticidade dos cidos hmicos em solos de
regies tropicais e subtropicais, provavelmente, est relacionada maior estabilizao de estruturas
alifticas em solos com predomnio de minerais de carga varivel, devido forte interao com a
matriz mineral, alm da ciclagem mais rpida da MOS (Oades et al., 1989; Parfitt et al., 1997). Esses
resultados so compatveis com as variaes observadas por Ussiri & J ohnson (2003) para cidos
hmicos de solos florestais.
270 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Um importante parmetro que pode ser obtido de anlise por 13C RMN o grau de aromaticidade,
que a proporo, em porcentagem, de grupos aromticos (arila e O-arila) na composio dos cidos
hmicos (Barancikov et al., 1997; Hatcher et al., 1981; Prez et al., 2004). Os resultados dessa anlise
indicaram que os cidos hmicos extrados dos solos antrpicos ricos em carbono pirognico tm grau
de aromaticidade mais elevado (36%) em relao aos dos solos no antrpicos (25%). Estes esto de
acordo com valores mdios observados para a maioria das substncias hmicas, que de
aproximadamente 35% (Malcolm, 1989). A menor concentrao do carbono aromtico nos cidos
hmicos originados dos solos no antrpicos foi acompanhada de uma maior percentagem do carbono
aliftico em comparao aos solos antrpicos.
No que diz respeito ao efeito das queimadas sobre a estrutura orgnica de materiais vegetais
(madeira pesada e madeira leve) submetidos queima, Czimczik et al. (2002) informaram que a
carbonizao a 340 C resultou em perda de estruturas O-alifticas e di-O-alifticas, e um grande
aumento do carbono aromtico. Foi observado pequeno aumento na intensidade de grupos fenlicos e
largo sinal na regio aliftica, incluindo metil e pequenas cadeias alifticas ligadas ao carbono
aromtico.
Com o aumento da temperatura, a caracterstica aromtica dos materiais carbonizados aumentou
(Czimczik et al., 2002), enquanto carbonos fenlicos e estruturas alifticas diminuram. Do exposto
acima, percebe-se que a temperatura o fator de controle na determinao da composio qualitativa
dos materiais carbonizados.
Gonzles-Vila et al. (2002) reportaram a formao de carbono orgnico refratrio em solos naturais
afetados por fogo, utilizando estudos de pirlise e 13C RMN. Os produtos da pirlise liberados pelo
solo, que no sofreram efeito de queimada (controle), incluram uma ampla variedade de molculas
provenientes de carboidratos, lignina, lipdeos e protenas. No solo afetado pelo fogo, a maioria das
molculas encontradas no solo controle estava ausente e a dominncia de material aromtico altamente
refratrio (no pirolisvel) foi observada.
Em resumo, o fogo afeta grupos funcionais contendo oxignio nas substncias hmicas. Parte do
cido hmico formado pode ser transformada em humina. Simultaneamente, parte dos cidos flvicos
pode transformar-se em cidos hmicos. A entrada adicional de materiais lignnicos alcalino-solveis
provenientes da combusto incompleta da biomassa, juntamente com produtos formados a partir da
condensao de acares redutores e grupos aminados provenientes de aminocidos e peptdeos com
posterior formao de melanoidinas (reao de Maillard), podem contribuir para que os cidos
hmicos formados passem para uma forma insolvel (humina).
Formao do Carbono Pirognico - O Modelo Contnuo de Combusto
Nesse modelo, o carbono pirognico um contnuo de produtos da combusto incompleta,
abrangendo desde material orgnico levemente carbonizado at fuligem e carbono pirognico
graftico altamente condensado e recalcitrante. Todos os componentes desse contnuo tm um alto
contedo de carbono, so quimicamente heterogneos e predominantemente aromticos (Masiello,
2004).
A aromaticidade do carbono pirognico aumenta conforme o aumento da temperatura ou tempo de
carbonizao. A espectroscopia de ressonncia magntica nuclear de 13C na regio do infravermelho
tem mostrado que a carbonizao da madeira leva perda de sinais atribudos celulose (carboidratos)
e lignina, e ao ganho de sinais nas regies aromticas e O-aromticas (Baldock & Smernik, 2002).
No outro extremo do contnuo encontra-se a fuligem, cuja formao fundamentalmente diferente
do carvo. O carbono pirognico, na forma de fuligem, forma-se durante a queima, pela condensao
de pequenas partculas volteis na fase gasosa, que so recombinadas por reaes de radicais livres,
formando estruturas aromticas condensadas com diferentes nmeros de anis. O resultado dessas
reaes uma variedade de compostos, incluindo hidrocarbonetos policclicos aromticos (PAH) e
materiais altamente grafitizados (Schmidt & Noack, 2000).
271 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
272 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Smith et al. (1995) utilizaram pela primeira vez a espectroscopia de infravermelho no estudo do
carbono pirognico. Mais recentemente os estudos com carbono pirognico iniciam-se com o
isolamento desse componente material dos materiais de solos e sedimentos, por processos de oxidao
que objetivam eliminar toda a matria orgnica deixando apenas o carbono pirognico. As amostras
so usualmente desmineralizadas por tratamentos com HF/HCl antes da oxidao (Derenne &
Largeau, 2001).
No que diz respeito aos reagentes utilizados para a oxidao, tem sido utilizado mais
freqentemente o cido ntrico concentrado a quente, cido sulfrico/dicromato de potssio, perxido
de hidrognio (Bird & Grcke, 1997; Verado, 1997) e o hipoclorito de sdio (Simpson & Hatcher,
2004a,b). Oxidaes trmicas so executadas a 340C por 2h ou 375C por 24h em atmosfera de
nitrognio (Kuhlbusch & Crutzen 1995), e foto-oxidao envolvendo irradiao UV de alta energia
(Skjemstad et al., 1996). Aps a oxidao, os resduos so caracterizados por anlise elementar,
ressonncia magntica nuclear e colorimetria. Para a quantificao do carbono pirognico, o uso de
balano de massa e a combusto em CO2 catalisada pelo Cr2O3 tm sido tambm utilizados (Verardo,
1997). Utilizando a oxidao parcial do carbono pirognico com cido ntrico Glaser et al. (1998)
quantificaram os produtos resultantes (cidos benzenocarboxlicos) por cromatografia gasosa.
Trabalhando com comparao de mtodos, Schmidt et al. (2001) testaram diversas formas de
oxidao trmica, oxidao qumica por foto-oxidao e oxidao qumica com marcador molecular
em solos da Austrlia. Eles mostraram que a eliminao de partculas minerais antes da oxidao
trmica ou qumica reduz em muito a quantidade de resduos depois da oxidao, tornando o
tratamento mais eficiente. Os autores observaram que os valores obtidos para o carbono pirognico
foram bastante diferentes entre os diversos mtodos estudados. Isso mostra a dificuldade em se
averiguar os contedos de carbono pirognico em solos.
A natureza heterognea da matria orgnica e a ampla variedade de compostos que esto
envolvidos na definio de carbono pirognico (carvo, fuligem e outros produtos provenientes da
combusto incompleta da biomassa) so tambm a principal razo para a ampla variao nos valores
de carbono pirognico reportados na literatura. A complexidade e heterogeneidade qumica do carbono
pirognico torna difcil um mtodo que abranja todos os compostos do contnuo de combusto sem
sobrestimar ou subestimar algum desses compostos. As principais fontes de erros so: a transformao
de compostos no derivados da combusto em pirognicos, principalmente pelos mtodos oxidativos e
trmicos; inabilidade na deteco de carbono pirognico e a deteco de material no pirognico como
se o fosse (Masiello, 2004).
Segundo Schmidt et al. (2001) e Simpson & Hatcher (2004a,b), apesar de se utilizar diferentes
tcnicas para a avaliao do carbono pirognico, tem sido especulado que muitos dos valores
publicados so superestimados devido ao fato de que os prprios processos de oxidao envolvidos nas
anlises podem levar formao de carbono pirognico.
Quando a quantidade de carbono pirognico foi determinada atravs da quantidade de cido
benzenocarboxlico ou aps foto-oxidao, os valores observados foram muito maiores que os obtidos
atravs da oxidao qumica e trmica, levando dessa forma a uma superestimao do carbono
pirognico por esses mtodos.
Entretanto, os baixos valores obtidos atravs da oxidao qumica e trmica podem refletir uma
parcial destruio de partculas de carbono pirognico, e, destarte, levar a uma subestimao das
quantidades dessa forma de carbono (Derenne & Largeau, 2001). Visando a testar essa hiptese,
Gustafsson et al. (2002) conduziram um estudo via oxidao trmica, utilizando compostos modelos
com contedo conhecido de carbono pirognico, mas encontraram problemas no mtodo devido
determinao de valores elevados de carbono pirognico em amostras sabidamente livres desses
compostos.
A presena de outros compostos nos materiais submetidos anlise de carbono pirognico tem sido
o principal desafio para o isolamento dessa forma de carbono. Muitos dos mtodos de oxidao por via
mida e mtodos por oxidao trmica so baseados no fato de que a matria orgnica natural
273 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
completamente removida enquanto que o carbono pirognico no afetado pelos diferentes processos
de oxidao. Vale ressaltar, conforme descrito anteriormente, que existe a possibilidade de alguma
outra forma de carbono resistir a esses tratamentos (Schmidt et al., 2001), ou ocorrer a carbonizao de
estruturas originalmente no pirognicas (Simpson & Hatcher, 2004a,b).
Outra tcnica que tem sido utilizada a foto-oxidao da amostra com luz ultravioleta com
posterior anlise do material por ressonncia magntica nuclear (Schmidt et al., 1999; Skjemstad et al.,
1999). Uma das principais desvantagens desse mtodo que a oxidao da matria orgnica natural
no completa, e algumas correes so necessrias para se determinar o contedo de carbono
pirognico, alm de ser uma tcnica demorada e cara.
Como exemplo do acima exposto, em materiais de solos, sinais de lignina e compostos aromticos
sobrepem-se aos sinais de carbono pirognico em anlise por ressonncia magntica nuclear de 13C.
Essas interferncias tm sido superadas atravs de correes espectrais, como o ajustamento das reas
dos picos baseado nas caractersticas dos sinais para lignina ou por uso de outros experimentos de
ressonncia magntica nuclear (Simpson et al., 2004).
Simpson et al. (2004) propuseram um mtodo utilizando a ressonncia magntica nuclear, que pode
ser utilizado para obteno de estimativas de carbono pirognico sem a necessidade de ajustamento
dos espectros. Tal mtodo envolve oxidao qumica com hipoclorito de sdio para remover lignina e
outras estruturas aromticas. A remoo dos componentes que no so carbono pirognico facilita a
medida do carbono pirognico no resduo por ressonncia magntica com polarizao cruzada.
O uso da tcnica de ressonncia magntica nuclear ainda tem sido bastante discutido na cincia do
solo, principalmente, no que diz respeito ao estudo do carbono pirognico. A utilizao da ressonncia
magntica nuclear de alto campo leva a complicaes devido ocorrncia de bandas laterais quando a
amostra girada a baixa velocidade ou perda seletiva de intensidade do sinal quando a amostra
girada a alta velocidade (Alemany et al., 1983).
Por sua vez, estruturas aromticas altamente condensadas e desprovidas de prtons podem ser
subestimadas com o uso da polarizao cruzada. Nesse caso, experimentos como polarizao direta e
polarizao cruzada com amplitude varivel so necessrios (Skjemstad et al., 1996; Novotny et al.,
2006a,b).
A necessidade de utilizao da amplitude varivel nos experimentos de polarizao cruzada com
altas taxas de rotao decorre do fato de que as interaes dipolares variam entre os diferentes grupos
qumicos que se pretende quantificar, devido s diferenas no acoplamento 13C-1H e mobilidade
molecular. Como o efeito da rotao acaba sendo seletivo para os grupos com menor interao dipolar,
tais como aqueles com maior mobilidade ou no protonados, torna-se necessria essa correo
(Novotny, 2002).
Do exposto acima, pode-se concluir que, apesar das diversas tcnicas disponveis para anlise do
carbono pirognico, muito ainda necessita ser estudado para a definio de uma tcnica de uso
universal, o que facilitaria a comparao e preciso dos resultados. Nesse caso, o uso de padres para
carbono pirognico seria de grande importncia para aferimento dos resultados.
Aspectos Morfolgicos, Estruturais e Reatividade do Carbono Pirognico
no Ambiente
Morfologia
Morfologicamente, o carbono pirognico constitudo por um empilhamento em camadas de
unidades estruturais poliaromticas e grafticas, que exibem grandes diferenas em extenso e nvel de
organizao. Entretanto, o carbono pirognico no necessariamente graftico, e esse material, mesmo
quando completamente amorfo, contm grandes quantidades de cadeias alifticas alm de um
considervel contedo de oxignio (Poirier et al., 2002).
274 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Pequenas partculas aproximadamente esfricas (cerca de 50-100 nm de dimetro), com uma tpica
estrutura concntrica que lembra a cebola, originam-se da combusto de materiais pobremente
oxigenados, como ceras de plantas superiores ou combustveis fsseis. Por sua vez, partculas menos
organizadas seriam derivadas da carbonizao parcial de materiais ligno-celulsicos (Oberlin et al.,
1980) (Fig.5).
275 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
3,6-3,7?
2,9?
a
b
c
d
3,6-3,7? 3,6-3,7?
2,9? 2,9?
a
b
c
d
Fig. 5. Unidades estruturais bsicas e as duas estruturas principais do carbono pirognico: a) carbono pirognico
formado em laboratrio, b) unidades estruturais bsicas de trs ou quatro camadas, c) unidades estruturais
bsicas consistindo de algumas camadas grafticas, e d) partculas do tipo cebola e camadas condensadas.
Fonte: adaptado de Schmidt & Noack (2000).
Estudando aspectos morfolgicos do carbono pirognico por microscopia eletrnica, Skjemstad et
al. (1996) concluram que as feies observadas nos materiais estudados em solos dos Estados Unidos
eram bastante semelhantes queles estudados em solos da Austrlia por Skjemstad et al. (1999). As
micrografias exibiram partculas macias angulares com caractersticas semelhantes a materiais
celulares de plantas. Os autores no puderam determinar a origem do carvo estudado devido ao fato de
que o carvo formado por queimas em sistemas agrcolas no pde ser diferenciado, pela tcnica
empregada, do carvo j existente e persistente no solo por centenas ou talvez milhares de anos (Fig. 6).
Nessas micrografias, os autores observaram muitas partculas grandes exibindo morfologia
caracterstica de estrutura do xilema de madeiras. Os aspectos de corroso (rugosidade) observados
nas partculas de carvo foram atribudos ao da foto-oxidao. Essas partculas de carvo podem
variar consideravelmente em morfologia e tamanho (Fig. 5 e 6). A variao pode ser do tamanho de
fragmentos de plantas (5 a 40 m) a partculas de tamanho submicron, podendo, na microscopia
eletrnica de varredura, dificultar a sua distino morfolgica em relao a da argila (Skjemstad et al.,
1996).
Como j mencionado, o carbono pirognico parece representar um contnuo de propriedades fsicas
e qumicas de materiais carbonizados. Os diferentes mtodos utilizados para anlise do carbono
pirognico medem diferentes partes desse contnuo e podem produzir resultados discrepantes
(Schmidt et al., 2001). Dessa forma, o carbono pirognico pode exibir uma gama extensa de tamanhos
de partculas e vrias feies morfolgicas que esto relacionadas ao material do qual se originou
(Griffin & Goldberg, 1979) e ao processo de carbonizao.
Partculas de carbono pirognico depositadas na superfcie dos solos so bastante sensveis
eroso, e as partculas mais finas so facilmente transportadas pelo vento. Como resultado, somente
partculas de tamanhos maiores (50m) so mais resistentes ao transporte (Ohta et al., 1986). Masiello
& Druffel (1998). Schmidt & Noack (2000) detectaram partculas de carbono pirognico em oceanos,
transportadas dos continentes, e em sedimentos marinhos de vrios perodos geolgicos,
respectivamente.
A persistncia do carbono pirognico, especialmente em solos, tem sido questionada devido ao fato
de que processos de combusto podem produzir carbono pirognico de baixa massa molar, que pode
ser mobilizado e exportado dos solos para sistemas aquticos (Czimczik et al., 2003).
Estrutura
A contribuio do carbono pirognico fertilidade do solo e sustentabilidade dessa fertilidade
atribuda, principalmente, sua composio e estrutura molecular. A gnese dessa matria orgnica de
alta estabilidade e reatividade atribuda s transformaes qumicas e bioqumicas de resduos
carbonizados, resultantes de queima, natural ou induzida, da biomassa vegetal (Benites et al., 2005;
Cunha., 2005; Novotny et al., 2006a).
276 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Fig. 6. Microscopia eletrnica de varredura de fragmentos de carbono pirognico de: a) na frao argila e frao
silte do solo; b-d) no solo. Todas as fraes foram tratadas com cido fluordrico (HF) e foto-oxidadas por 4 h. As
barras representam (a) 4 m e (b-d) 20 m. Fonte: Skjemstad et al. (1996).
a
c
b
d
Devido oxidao parcial, as unidades aromticas perifricas do carbono pirognico contm
substituintes cidos, principalmente carboxlicos (Glaser et al., 2002; Kramer et al., 2004; Novotny et
al., 2006a,b), que explicariam os altos valores da CTC desses solos. Os componentes hmicos
derivados do carbono pirognico tambm apresentam altas aromaticidade e densidade de cargas (Zech
et al., 1990; Cunha, 2005) e so caracterizados por apresentarem estruturas aromticas condensadas,
muitos grupos carboxlicos e pouco hidrognio (Fig. 7) (Kramer et al., 2004; Novotny et al., 2006a).
Exemplos de espectros de ressonncia magntica nuclear de 13C so dados na Figura 8. Nas
amostras de cidos hmicos provenientes de solos ricos em carbono pirognico, na regio aromtica
(109-143ppm), os sinais so alargados e livres de detalhes, e so mais intensos, tanto total (Fig. 8,
esquerda) como arila substituda, ou seja, no protonada (Fig. 8, direita).
A persistncia dos sinais a 21 e 30ppm nos espectros com defasagem dipolar (Fig. 8, espectros da
direita), que mantm apenas os sinais de grupos no protonados e mveis, indica a presena de grupos
CH3 e CH2 mveis de cadeia longa, respectivamente. O sinal do carbono metoxila, principalmente da
lignina, esperado a 56ppm, ele se sobrepe com ressonncias de carbono N-alquila com
deslocamento qumico na regio de 46 - 60ppm. Esses sinais foram mais intensos nos cidos hmicos
provenientes de solos pobres em carbono pirognico, indicando uma maior incorporao de resduos
de lignina e peptdeos em tais solos. Os experimentos de defasagem dipolar confirmaram a
contribuio de grupos metoxila na regio de 46-60ppm (Fig. 8, direita). Assim sendo, nessas
O sinal proeminente dos grupos carboxlicos (156-186ppm) indica o elevado grau de oxidao das
amostras, sendo que, no caso das amostras pobres em carbono pirognico, h uma maior contribuio
dos grupos amida dos peptdeos. De forma semelhante, h uma maior contribuio de grupos metoxila
da lignina no sinal O-arila dessas amostras. Portanto,,alm do contedo de grupos O-arila e
carboxila/amida ter sido maior nas amostras provenientes de solos ricos em carbono pirognico, o
amostras, os carbonos aromticos da lignina contriburam para os sinais e ombros na regio do carbono
arila e O-arila (Fig. 8, esquerda). Adicionalmente, a regio aliftica (alquila, metoxila, N-alquila e
carboidratos) foi mais proeminente nas amostras provenientes de solos pobres em carbono pirognico
(Novotny et al., 2006a).
277 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Razo atmicaO/C
R
a
z
o
a
t
m
i
c
a
H
/
C
Fig. 7. Grficos de Van Krevelen de cidos hmicos extrados de solos da Amaznia. Fonte: adaptado de Novotny
et al. (2006a).
contedo de grupos efetivamente ionizveis (acidez fenlica e carboxlica) ainda maior nessas
amostras, assim como os contedos de grupos arila e arila substituda. Adicionalmente, parte do sinal
do carbono carboxlico era associada ao grupo arila, indicando a presena de estruturas aromticas
carboxiladas, provavelmente originadas da oxidao perifrica do carbono pirognico. Essas
estruturas, alm de recalcitrantes, so reativas, o que as torna importantes no somente para o seqestro
de carbono atmosfrico, como tambm para a manuteno da elevada fertilidade das Terras Pretas de
ndio (Novotny, et al., 2006a).
Assim sendo, os cidos hmicos extrados de solos ricos em carbono pirognico, alm de
apresentarem uma maior recalcitrncia, pelo maior contedo de grupos arila e arila substituda,
provavelmente anis aromticos condensados, apresentaram um elevado contedo de grupos
funcionais oxigenados ionizveis e recalcitrantes (carboxila e fenila), enquanto grupos funcionais
oxigenados dos solos adjacentes, pobres em carbono pirognico, so principalmente lbeis e no
ionizveis (carboidratos, protenas e lignina). Isso pode explicar a maior fertilidade e sustentabilidade
dos solos ricos em carbono pirognico (Novotny et al., 2006a).,
Reatividade
O carbono pirognico altamente resistente foto-oxidao e oxidao trmica (Cunha, 2005
Fig. 9) e qumica (Skjemstad et al., 1996; Wolbach & Anders, 1989; Benites et al., 2005).
Apesar dessa resistncia, com o tempo, o carbono pirognico pode ser parcialmente oxidado, e
grupos carboxlicos so produzidos na periferia da estrutura aromtica condensada, aumentando a
capacidade de troca (CTC) e a reatividade desse material nos solos (Glaser et al., 2001; Benites et al.,
2005; Cunha, 2005; Novotny et al., 2006a,b). Haumaier & Zech (1995) evidenciaram que o carbono
pirognico gerado pela queima da biomassa pode ser convertido em cidos hmicos e em carbono
solvel em gua aps oxidao. Esse tema ser abordado em detalhes na prxima seo.
278 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Fig. 8. Espectros de ressonncia magntica nuclear de 13C de cidos hmicos extrados de solos da Amaznia.
Os espectros da direita apresentam os sinais de carbono no protonados (carbono aromtico condensado) ou de
alta mobilidade (CH3 e CH2 de cadeia longa). Em linha mais espessa so aqueles de carbono hibridizado sp3,
indicando a sobreposio do sinal do carbono anomrico de carboidratos (sp3) regio dos carbonos aromticos
(sp2). Fonte: adaptado de Novotny et al. (2006a).
Segundo Goldberg (1985), se no existissem mecanismos para a decomposio do carbono
pirognico, todo carbono na superfcie da terra seria convertido a essa forma dentro de um perodo de
100.000 anos. Esses mecanismos, provavelmente, so uma combinao de processos onde esto
envolvidas reaes de oxidao qumica e microbiana (Skjemstad et al., 2003).
A grande persistncia da matria orgnica do solo, atingindo sculos ou at milnios, pode ser
devido presena de carbono pirognico (Skjemstad et al., 1999). A ocorrncia de carvo em solos tem
sido relatada na literatura cientfica (Sombroek, 1966; Glaser et al., 2000; Skjemstad et al., 1999),
indicando que resduos da queima de materiais orgnicos provavelmente contribuam para a
estabilidade da matria orgnica nesses solos (Zech et al., 1990; Glaser et al., 2000). Altos contedos
de material orgnico recalcitrante encontrado em solos antrpicos (Zech et al., 1990) podem ser
atribudos utilizao de resduos de combusto e at mesmo ao uso de cinzas (fuligem) como
fertilizantes.
Entretanto, a estabilidade do carbono pirognico nos solos motivo de grandes debates. Esses
materiais so considerados altamente resistentes porque: a) podem resistir forte oxidao e foto-
oxidao (Skjemstad et al., 1996); b) foram sistematicamente detectados em perfis de solos
mediterrneos com idade mdia determinada pelo 14C de 2000 anos (Thinon, 1978) e; c) ocorrem em
um grande nmero de solos, sedimentos recentes e tambm em sedimentos antigos relacionados ao
perodo Devoniano (Glaser et al., 1998; Schmidt & Noack, 2000).
Tem sido relatado na literatura que somente uma degradao limitada do carbono pirognico pode
ocorrer por degradao qumica e microbiana (Seiler & Crutzen, 1980). Dessa forma, a formao de
carvo pode contribuir para o compartimento de carbono aromtico quimicamente mais estvel nos
solos (Haumaier & Zech, 1995; Skjemstad et al., 1996).
A formao de carvo durante a queima da vegetao pode converter o compartimento de carbono
potencialmente ativo em um compartimento mais inerte e representa a maneira pela qual a matria
orgnica do solo pode ser protegida por longos tempos. Estudos mais recentes tm mostrado a
importncia da ao do carbono pirognico como um sumidouro no ciclo global do carbono
(Kuhlbusch & Crutzen, 1995), no obstante a estabilidade biolgica do carvo em solos e sedimentos
bem como sua contribuio para a distribuio e contedo de carbono permanecerem ainda
desconhecidas (Skjemstad et al., 1996).
279 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
100 200 300 400 500 600
-4,0
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
Solos antrpicos sob floresta,
ricos em carbono pirognico
Solos no antrpicos sob floresta,
pobres em carbono pirognico
d
P
/
d
T
Temperatura (C)
100 200 300 400 500 600
-4,0
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
Solos antrpicos sob floresta,
ricos em carbono pirognico
Solos no antrpicos sob floresta,
pobres em carbono pirognico
d
P
/
d
T
Temperatura (C)
Fig. 9. Primeira derivada dos termogramas de cidos hmicos extrados de solos da Amaznia. Fonte: adaptado
de Cunha (2005).
Todavia, Hedges & Oades (1997) afirmam que ambientes deposicionais e microbianos so muito
diferentes nos solos e nos sedimentos e que alguns compostos orgnicos que podem persistir nos
sedimentos so, no mnimo, parcialmente degradados no solo. A meia vida do carbono pirognico,
isolado por oxidao, foi recentemente estimada como menos de 100 anos em solo tropical coberto por
savanas (Bird et al., 1999). O tempo de vida relativamente curto, observado pelos autores, foi atribudo
natureza arenosa da matriz mineral (teor de argila <10%). Glaser et al. (2000) mostraram uma
associao preferencial do carbono pirognico com silte e minerais de argila quando comparado
areia. Essa associao pode exercer uma eficiente proteo do carbono pirognico em solos de textura
mdia e argilosa.
A reatividade do carbono pirognico no ambiente e a sua contribuio para a sustentabilidade deste
atribuda principalmente sua composio e estrutura molecular. Ele formado pela oxidao
incompleta de materiais orgnicos; destarte, composto de unidades bsicas poliaromticas de
diferentes tamanhos e nveis de organizao. A gnese desta alta estabilidade e reatividade atribuda
s transformaes qumicas e bioqumicas de resduos carbonizados. Devido oxidao parcial, as
unidades aromticas perifricas contm grupos substituintes cidos (carboxlicos e fenlicos),
aumentando assim a sua CTC. As substncias hmicas derivadas do carbono pirognico
apresentam altas aromaticidade e densidade de cargas, e so caracterizadas por serem estruturas
aromticas condensadas, deficientes em H e altamente carboxiladas (Novotny et al., 2005).
Estudando a acidez total (principalmente grupos carboxlicos e fenlicos), de substncias hmicas
de solos da Amaznia, Cunha (2005) verificou que os cidos hmicos provenientes de solos antrpicos
ricos em carbono pirognico no foram mais reativos que os cidos hmicos de solos no antrpicos
(Tabela 2).
280 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Tabela 2. Anlise de grupos funcionais contendo oxignio (cmol kg-1) em cidos hmicos de solos antrpicos
ricos em carbono pirognico e em solos no antrpicos e pobres em carbono pirognico.
Grupos SAF SNAF
Acidez Total (AT)
Acidez Carboxlica (AC)
AC em % da AT
Acidez Fenlica (AF)
AF em % da AT
COOHOH
612a
435a
71,07
177a
28,93
2,76
575a
320a
55,65
256a
44,34
1,44
SAF: solo antrpico sob floresta; SNAF: solo no antrpico sob floresta. Letras diferentes na
mesma coluna diferem significativamente a 5%.
Fonte: adaptado de Cunha (2005).
SAF: solo antrpico sob floresta; SNAF: solo no antrpico sob floresta. Letras diferentes na
mesma coluna diferem significativamente a 5%. Fonte: adaptado de Cunha (2005).
Entretanto, entre os grupamentos funcionais estudados, observou-se uma maior contribuio dos
grupamentos carboxlicos nos cidos hmicos dos solos antrpicos (Tabela 2). No houve diferena,
estatisticamente significativa, entre a concentrao de grupamentos fenlicos dos dois grupos de solos.
Os dados obtidos para os grupamentos carboxlicos (Tabela 2) sugerem uma maior disponibilidade
de hidrognio ionizvel a valores de pH mais baixos nos cidos hmicos dos solos antrpicos ricos em
C pirognico, em comparao aos solos no antrpicos.
Em resumo, os cidos hmicos dos solos antrpicos, ricos em carbono pirognico, apresentaram
um elevado contedo de grupos funcionais oxigenados ionizveis e recalcitrantes, principalmente
carboxlicos, que so potencialmente mais reativos. Isso favorece as reaes: de troca inica; com os
minerais do solo; de complexao com ctions metlicos; entre outras; participando assim de todas as
reaes importantes dos ciclos biogeoqumicos, o que pode explicar a maior sustentabilidade dos solos
ricos em carbono pirognico (Cunha, 2005; Novotny et al., 2005).
Carbono pirognico e formao de substncias hmicas
Existem controvrsias no que diz respeito formao de substncias hmicas a partir do carbono
pirognico. Para alguns autores, ele inerte e no pode ser atacado por microrganismos (Kuhlbusch et
al., 1996); para outros existe a possibilidade da formao de substncias hmicas reativas (Simpson &
Hatcher, 2004a; Novotny et al., 2006).
Materiais carbonizados, especialmente o carbono pirognico, so recalcitrantes contra a
degradao qumica e biolgica (Kuhlbusch, 1998), o que dificultaria a formao de novas substncias
a partir desses materiais. Entretanto, Kumada (1983) e Haumaier & Zech (1995) no concordam com
essa afirmativa e reportaram a possvel formao de substncias hmicas a partir de materiais
carbonizados. Kumada (1983) reportou que resduos de plantas queimadas favorecem a formao de
cidos hmicos por oxidao qumica.
Segundo Zech & Guggenberger (1996), a lenta oxidao de materiais orgnicos nos solos, muito
provavelmente, leva formao de materiais hmicos. Glaser et al. (2000) afirmaram que a lenta
oxidao de cadeias laterais do carbono pirognico cria grupos carboxlicos que aumentam a CTC e
mantm a estabilidade da matria orgnica do solo, alm de formar complexos organo-minerais. Esse
comportamento pode ser a razo para a alta CTC observada em solos antrpicos da Amaznia (Cunha,
2005).
O aumento da CTC em substncias hmicas a partir da formao de grupos carboxlicos
extremamente desejvel em solos tropicais, onde predominam, na grande maioria, argilo-minerais do
tipo 1:1 e oxi-hidrxidos de ferro e alumnio.
Outros autores tambm relataram a formao de substncias hmicas a partir de materiais
pirogenticos. Shindo et al. (1986a,b) reportaram a formao de cidos hmicos em solos vulcnicos
(Andossolos) a partir de resduos de plantas carbonizados. Materiais carbonizados produzidos durante
a queima da vegetao podem ser os principais precursores das substncias hmicas aromticas
presentes em solos onde os contedos de compostos fenlicos provenientes da lignina so baixos (Tate
et al., 1990). Apesar de apresentarem origens geoqumicas diferentes, estruturas derivadas de lignina
assemelham-se quela do carbono pirognico (Poirier et al., 2000).
Significativas quantidades de grupos C=O, provavelmente de grupos carboxlicos, associados s
partculas de carvo separadas de solos foram encontrados por Skjemstad et al. (1996).
Smernik et al. (2000) mostraram, utilizando a tcnica da ressonncia magntica nuclear, que o
carvo em solos continha considervel quantidade de grupos funcionais carboxlicos, como possvel
resultado de alterao in situ. Da mesma maneira, Skjemstad et al. (2002) observaram, em fraes <
53 m que foram submetidas foto-oxidao, apreciveis quantidades de C-carboxlico, com sinal
prximo de 168ppm, o que caracterstico de carbono aromtico substitudo com grupos carboxlicos.
Distribuio do Carbono Pirognico
Distribuio no solo
A incorporao de carbono pirognico em solos e sedimentos um importante mecanismo para a
estabilizao do carbono nesses ambientes (Schmidt & Noack, 2000; Glaser et al., 2001; Glaser et al.,
2002), apesar da degradao natural de carbono pirognico ter sido reportada, principalmente em
ambientes bem aerados (Bird et al., 1999).
281 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
A distribuio do carbono pirognico nos solos, tanto lateral como verticalmente, altamente
varivel e, segundo Skjemstad et al. (1996), parece refletir a quantidade de biomassa susceptvel
oxidao, ao contedo de argila e aos efeitos de processos erosivos e aluviais, haja vista que materiais
carbonizados finamente divididos so mveis, comportando-se de maneira similar frao argila e
frao silte e, conseqentemente, migram para os mesmos locais onde essas fraes se acumulam
(Skjemstad et al., 1999).
Entretanto, a distribuio do carbono pirognico em diferentes fraes granulomtricas do solo no
uniforme. Em solos antrpicos da Amaznia (Terra Preta de ndio), as fraes leves continham as
maiores concentraes de carbono pirognico (Glaser et al., 2000). Foi observado tambm que uma
grande parte do carbono pirognico estava na frao pesada, embebido dentro das placas de xido de
ferro e alumnio na superfcie dos minerais. Concentraes elevadas de carbono pirognico tambm
foram observadas nos horizontes mais profundos de perfis de solo, podendo esse comportamento estar
ligado possvel eroso das partculas em superfcie ou ao enterro destas por bioturbao (Saldarriaga
& West, 1986; Glaser et al., 2000). Entretanto, segundo Boulet et al. (1995), dataes com 14C tm
revelado aumento da idade mdia do carbono pirognico proporcional profundidade. Em Latossolos
da Amaznia Brasileira, carvo coletado a 2m de profundidade, aps estudos de datao, apresentou
idade de cerca de 8.800 anos, indicando que o carbono pirognico das camadas mais profundas tem
uma origem diferente daquele encontrado em superfcie, cuja idade aproximada de 1000 a 1500 anos
(Glaser et al., 2000).
Ocorrncia de carbono pirognico em algumas regies do Brasil e do mundo
Aparentemente, o carbono pirognico encontrado em todos os ambientes, e isso tem importantes
implicaes para o ciclo global do carbono (Simpson & Hatcher, 2004b).
A presena de carvo em solos tem sido reportada em diversos estudos realizados em diferentes
partes do mundo. Em solos antrpicos, onde foram encontrados artefatos e covas, como os que
ocorrem nos solos antrpicos da Amaznia e na Regio da Bavria na Alemanha, datados do Perodo
Neoltico com idade entre 2.700 a 5.500 anos, o carbono aromtico detectado por vrias tcnicas
espectroscpicas derivado do carvo. Esse carvo originrio de queima da vegetao ou de outros
materiais carbonizados como resduos de queimas de outros locais no mesmo perodo (Schmidt et al.,
2001).
Skjemstad et al. (1999) identificaram carvo em solos australianos e atriburam a presena deste ao
manejo do fogo pelos povos aborgines por milhares de anos. Em solos da Alemanha Schmidt et al.
(1999) detectaram carvo finamente dividido, como o principal constituinte da matria orgnica de
Chernossolos.
Em solos brasileiros, quantidades significativas de carbono pirognico so encontradas em solos
com histrico de incndios naturais ou provocados, como nos casos do Cerrado (Roscoe et al., 2001) e
ambientes rupestres altimontanos (Benites et al., 2005). Outrossim de grande interesse so as
chamadas Terras Pretas de ndio, que so solos de origem antropognica existentes na Regio
Amaznica (Glaser et al., 2001; Madari et al., 2004; Cunha, 2005).
Contedo de carbono pirognico nos solos
Estimativas globais da contribuio do carbono pirognico para a composio da matria orgnica
do solo so menores do que 10% (Druffel, 2004). Na mdia, o carbono pirognico representa de 1 a 6%
do carbono total do solo (Gonzlez-Prez et al., 2004), porm ele pode atingir 18% (Glaser &
Amelung, 2003) e 35% (Skjemstad et al., 2002) nas pradarias e solos agrcolas dos Estados Unidos,
respectivamente; 30% em solos australianos (Skjemstad et al., 1999); at 45% em Chernossolos da
Alemanha (Schmidt et al., 1999); at 65% em Chernossolos Canadenses (Ponomarenko & Anderson,
2001); e, em alguns solos contaminados, carbono pirognico antrpico pode atingir 80% do carbono
282 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
orgnico total (Schmidt et al., 1996). Entretanto esses valores podem estar superestimados devido a
problemas nos mtodos de determinao (Derenne & Largeau, 2001; Masiello, 2004; Simpson &
Hatcher, 2004a,b).
Estudando o contedo de carbono pirognico na forma de carvo em solos dos Estados Unidos,
Skjemstad et al. (2002) observaram quantidades que variaram de 1,8 a 13,6g C kg-1 de solo,
constituindo cerca de 35% do carbono total do solo. Em solos australianos, Skjemstad et al. (1996)
observaram quantidades da ordem de 8g C kg-1 solo constituindo cerca de 30% do carbono total do
solo. Aparentemente, os contedos de carbono pirognico em solos australianos estariam dentro da
mdia dos contedos observados em solos dos Estados Unidos.
Glaser et al. (2000 e 2001) mostraram que, em solos antrpicos da Amaznia (Terra Preta de ndio),
a matria orgnica consiste em, aproximadamente, 35% de carbono pirognico ao longo do espesso
horizonte A antrpico. Nos solos vizinhos s manchas de Terra Preta, os Latossolos com outros tipos de
horizonte A, o carbono pirognico ocorre somente nos primeiros centmetros do perfil constituindo
cerca de 14% da matria orgnica do solo. O estoque de carbono pirognico dentro de 1m de
profundidade nas Terras Pretas foi estimado por Glaser et al. (2001) como sendo 4 a 11 vezes mais que
nos Latossolos sem horizonte A antrpico e aumentaram com o aumento do contedo de argila.
Taxas de produo de carbono pirognico
-1 12
A produo global de carbono pirognico da ordem de 50 a 270Tg ano (1 Tg =10 g). Dessa
produo mais de 80% permanece como resduo nos solos (Kuhlbusch, 1998). Alm disso, com o
aumento das atividades humanas nos ltimos tempos, a contribuio do carbono pirognico
proveniente da queima de combustveis fsseis provavelmente tender a aumentar.
6
Globalmente, estima-se que 49 x10 Mg C convertida forma de carvo anualmente por queima
da biomassa primria de florestas tropicais e limpezas de reas em floresta secundaria, incluindo a
derrubada para o cultivo (Fearnside, 2000). Isso reduz a emisso anual de gases na forma de CO2 em
cerca de 2%.
O fluxo de carbono pirognico para a atmosfera na forma de CO2 foi estimado por Griffin &
Golberg (1975) como sendo da ordem de 5kg ha-1 ano-1. Essa quantidade bem menor do que as
emisses decorrentes de mudana no uso da terra e agricultura, que juntas emitem cerca de 0,15 a
15
0,16Pg (1 Pg =10 g) de carbono. Essa baixa emisso est relacionada ao fato de que o carbono
pirognico pouco biodegradado por microrganismos (Seiler & Crutzen, 1980), pois a sua oxidao a
CO2 muito lenta (Shneour, 1966; Smernik et al., 2000).
Na Regio da Andaluzia, onde existe grande incidncia de incndios florestais, Gonzlez-Prez et
al. (2002) estimaram, em escala regional, que cerca de 31.222Mg de material refratrio pode ser
formada devido s queimadas anuais, numa taxa de 1,8Mg ha-1 queimado. Do total de carbono
pirognico formado, cerca de 767 a 920Mg ano-1 seria emitido na forma de aerossol (fuligem) para a
atmosfera e aps algum tempo depositados e incorporados em sedimentos em todo o mundo. A maior
parte do carbono pirognico, cerca de 30.300 Mg ano-1, incorporado aos solos, prximo ou distante
dos locais das queimadas (Gonzlez-Prez et al., 2004).
Kuhlbusch et al. (1996) estimaram que entre 0,7% e 2,0% do carbono orgnico convertido a CO2
durante a queimada foi retido como carvo (carbono pirognico) e que cerca de 10 a 26Tg ano-1 de
carbono pirognico foi formado em savanas devido queima da biomassa. Entretanto, Skjemstad &
Graetz (2003), usando a razo C/Si de materiais de plantas e depsitos de cinzas/carvo de incndios
recentes na Austrlia, sugerem que a taxa de converso pode ser muito mais elevada, podendo atingir a
ordem de 4,0%.
Apesar da importncia do carbono pirognico, existem poucas informaes sobre a taxa de
produo de carvo em eventos de queimas naturais. No Brasil, poucos estudos foram dedicados ao
283 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
assunto (Fearnside et al., 1993, 1999, 2001; Graa et al., 1999). Tambm estudos sobre a estrutura
molecular e propriedades isotpicas dos materiais formados pela ao das queimadas em florestas so
inexistentes.
Consideraes Finais
O carbono pirognico est presente em diversos ambientes e apresenta diversas propriedades de
extremo interesse ambiental e agronmico. Exemplos dessas propriedades so: (a) sua alta
estabilidade, devido presena de estruturas aromticas condensadas, o que desempenha importante
papel no seqestro de carbono; (b) sua elevada reatividade, decorrente da oxidao parcial de sua
estrutura aromtica, dando origem a grupos funcionais cidos e recalcitrantes, principalmente
carboxlicos, que contribuem significativamente para o aumento da capacidade de troca catinica,
especialmente nos solos altamente intemperizados, normalmente constitudos por minerais de baixa
atividade, tais como caulinitas, goetita e gibsita e (c) sua elevada porosidade e rea superficial, o que
serve de refgio para microorganismos, tais como micorrizas, que produzem mucopolissacardeos
importantes para a agregao dos solos e que, em associao com o sistema radicular das plantas,
podem aumentar a capacidade de absoro destas.
O melhor conhecimento dessas propriedades, assim como a tentativa de elucidar a tecnologia
ancestral empregada para a formao de certos solos antropognicos, em especial as Terras Pretas de
ndio, em muito contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias visando a resolver ou, ao
menos, mitigar problemas atuais, tais como a emisso de gases e a procura por prticas de agricultura
sustentvel.
284 Tony J arbas Ferreira Cunha et al.
Você também pode gostar
- Respostas Lista 2 CienciadosMateriais ProfaMCristinaMoreFariasDocumento10 páginasRespostas Lista 2 CienciadosMateriais ProfaMCristinaMoreFariasmicrovilosidades100% (1)
- Prova 2° Dia - 4° Simulado ENEM 2022Documento32 páginasProva 2° Dia - 4° Simulado ENEM 2022Maria Do Socorro Socoro Socorro100% (2)
- Ecologia AmbientalDocumento107 páginasEcologia AmbientalAmaralAinda não há avaliações
- Relatório DimensionalDocumento1 páginaRelatório DimensionalmicrovilosidadesAinda não há avaliações
- LIVRETO de CORINHO Cantados Na Igreja Pentecostal Deus e AmorDocumento4 páginasLIVRETO de CORINHO Cantados Na Igreja Pentecostal Deus e AmormicrovilosidadesAinda não há avaliações
- Ebook 28 Atalhos de Decisao1 PDFDocumento73 páginasEbook 28 Atalhos de Decisao1 PDFmicrovilosidadesAinda não há avaliações
- Fogo EstranhoDocumento4 páginasFogo EstranhoRosemberg De Moura Marinho86% (7)
- Fogo EstranhoDocumento4 páginasFogo EstranhoRosemberg De Moura Marinho86% (7)
- Metodologia para Otimização Do Processo de Rebitagem Aplicado A Materiais de FricçãoDocumento90 páginasMetodologia para Otimização Do Processo de Rebitagem Aplicado A Materiais de FricçãomicrovilosidadesAinda não há avaliações
- Apostila de Crystal Reports 4.6 e 8.0 (Págs.31) - EliseteDocumento31 páginasApostila de Crystal Reports 4.6 e 8.0 (Págs.31) - ElisetemicrovilosidadesAinda não há avaliações
- Coleta SeletivaDocumento9 páginasColeta Seletivaana cardosoAinda não há avaliações
- Teste Ciclo Do Cobre. 12CDocumento2 páginasTeste Ciclo Do Cobre. 12COlivia Gomes100% (1)
- Aula 10-Compactação Dos SolosDocumento29 páginasAula 10-Compactação Dos SolosAlissonAinda não há avaliações
- Cultivo de Alface HidropônicaDocumento37 páginasCultivo de Alface HidropônicaDiego PalmiereAinda não há avaliações
- LISTÃO DE FÍSICA 2º Ano - Prof. Cristiano PessoaDocumento3 páginasLISTÃO DE FÍSICA 2º Ano - Prof. Cristiano PessoaGenesis RyoAinda não há avaliações
- Folheto EnergieDocumento19 páginasFolheto EnergieHugo MartinsAinda não há avaliações
- Fios e Cabos de Extensao e CompensacaoDocumento4 páginasFios e Cabos de Extensao e CompensacaoFabiano GilAinda não há avaliações
- Relatório P. AmbientalDocumento16 páginasRelatório P. AmbientalTúlio Lancaster Achcar RomanoAinda não há avaliações
- Aula Leis de NewtonDocumento19 páginasAula Leis de NewtonCamila SilvaAinda não há avaliações
- FísicaDocumento2 páginasFísicaHauanny Soares MartinsAinda não há avaliações
- Principios LitoedtratigraficosDocumento2 páginasPrincipios LitoedtratigraficosSónia AlvesAinda não há avaliações
- Leitura e Interpretação Fazem Parte Da Prova. Respostas Usando Caneta Azul Ou PretaDocumento3 páginasLeitura e Interpretação Fazem Parte Da Prova. Respostas Usando Caneta Azul Ou PretaGraziele FerreiraAinda não há avaliações
- Plano de Recuperacao AmbientalDocumento20 páginasPlano de Recuperacao AmbientalDaniel Negrello BergamiAinda não há avaliações
- Memorial LoteamentoDocumento57 páginasMemorial LoteamentoCristiano SilvaAinda não há avaliações
- Fagor EsqDocumento6 páginasFagor EsqRicardo PimpãoAinda não há avaliações
- Abnt NBR Iso 6184-1-2007Documento12 páginasAbnt NBR Iso 6184-1-2007Adriana TomazAinda não há avaliações
- A Química Da Vida Como Nós Não ConhecemosDocumento9 páginasA Química Da Vida Como Nós Não ConhecemosJéssicaSimõesAinda não há avaliações
- Chave RespostaFisika2016Documento33 páginasChave RespostaFisika2016Juvinal dos Reis Soares0% (1)
- Atividades Da 22 Semana - 1º AnoDocumento9 páginasAtividades Da 22 Semana - 1º AnoINOXidavelli Artefatos de INOXAinda não há avaliações
- Relatório de Aula Prática - 2º EnsaioDocumento12 páginasRelatório de Aula Prática - 2º EnsaionivgalvniAinda não há avaliações
- Apostila - Elementos de GeologiaDocumento70 páginasApostila - Elementos de GeologiarzymskokatolickiAinda não há avaliações
- 19 - Guião de Exploração - Rochas e Ciclo Das RochasDocumento4 páginas19 - Guião de Exploração - Rochas e Ciclo Das RochasjoseAinda não há avaliações
- Slides Berco Ao Berco PDFDocumento21 páginasSlides Berco Ao Berco PDFPaulo assisAinda não há avaliações
- Ligação de Unidade Consumidora Com Cabo ConcêntricoDocumento8 páginasLigação de Unidade Consumidora Com Cabo ConcêntricoGilson Alves da SilvaAinda não há avaliações
- Calorimetria Ep FCMDocumento17 páginasCalorimetria Ep FCMtayalvssAinda não há avaliações
- Manual Estado Do CearáDocumento147 páginasManual Estado Do CearáDeivison RodriguesAinda não há avaliações
- Plim! Revisão de Conteúdos de Estudo Do Meio 4.º Ano - 3º TrimestreDocumento12 páginasPlim! Revisão de Conteúdos de Estudo Do Meio 4.º Ano - 3º Trimestremaria diasAinda não há avaliações
- Apresentacao GeoNE Jose Fernando Thome JucaDocumento90 páginasApresentacao GeoNE Jose Fernando Thome Jucaujosec6138Ainda não há avaliações