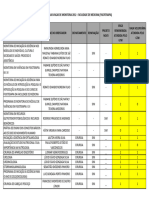Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada
Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada
Enviado por
Clebson SilvaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada
Superior de Enfermagem Enade 2007 - Comentada
Enviado por
Clebson SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ENADE COMENTADO 2007
Enfermagem
Chanceler
Dom Dadeus Grings
Reitor
Joaquim Clotet
Vice-Reitor
Evilzio Teixeira
Conselho Editorial
Ana Maria Lisboa de Mello
Elaine Turk Faria
rico Joo Hammes
Gilberto Keller de Andrade
Helenita Rosa Franco
Jane Rita Caetano da Silveira
Jernimo Carlos Santos Braga
Jorge Campos da Costa
Jorge Luis Nicolas Audy Presidente
Jos Antnio Poli de Figueiredo
Jurandir Malerba
Lauro Kopper Filho
Luciano Klckner
Maria Lcia Tiellet Nunes
Marlia Costa Morosini
Marlise Arajo dos Santos
Renato Tetelbom Stein
Ren Ernaini Gertz
Ruth Maria Chitt Gauer
EDIPUCRS
Jernimo Carlos Santos Braga Diretor
Jorge Campos da Costa Editor-chefe
Beatriz Sebben Ojeda
Andria da Silva Gustavo
Beatriz Regina Lara dos Santos
Marion Creutzberg
Valria Lamb Corbellini
(Organizadores)
ENADE COMENTADO 2007
Enfermagem
Porto Alegre
2010
EDIPUCRS, 2010
CAPA Vincius de Almeida Xavier
DIAGRAMAO Gabriela Viale Pereira
REVISO Rafael Saraiva
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Ficha Catalogrfca elaborada pelo Setor de Tratamento da Informao da BC-PUCRS.
EDIPUCRS Editora Universitria da PUCRS
Av. Ipiranga, 6681 Prdio 33
Caixa Postal 1429 CEP 90619-900
Porto Alegre RS Brasil
Fone/fax: (51) 3320 3711
e-mail: edipucrs@pucrs.br - www.pucrs.br/edipucrs
E56 ENADE comentado 2007 : enfermagem [recurso eletrnico] /
organizadores, Beatriz Sebben Ojeda ... [et al.]. Dados
eletrnicos. Porto Alegre : EDIPUCRS, 2010.
103 p.
Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader
Modo de Acesso:
<http://www.pucrs.br/edipucrs/enade/enfermagem2007.pdf>
ISBN 978-85-7430-984-2 (on-line)
1. Ensino Superior Brasil Avaliao. 2. Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes. 3. Enfermagem
Ensino Superior. I. Ojeda, Beatriz Sebben.
CDD 378.81
Questes retiradas da prova do ENADE 2007 da rea de Enfermagem
SUMRIO
APRESENTAO ......................................................................................................7
COMPONENTE ESPECFICO
QUESTO 11 ............................................................................................................ 10
Beatriz Sebben Ojeda e Olga Rosaria Eidt
QUESTO 12 ............................................................................................................ 14
Karin Viegas e Marion Creutzberg
QUESTO 13 ............................................................................................................ 17
Ftima Rejane Ayres Florentino e Simone Travi Canabarro
QUESTO 14 - ANULADA ........................................................................................ 20
QUESTO 15 ............................................................................................................ 21
Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Valria Lamb Corbellini
QUESTO 16 ............................................................................................................ 23
Janete de Souza Urbanetto e Karin Viegas
QUESTO 17 ............................................................................................................ 25
Karin Viegas e Karen Ruschel
QUESTO 18 ............................................................................................................ 28
Karen Ruschel e Isabel Cristina Kern Soares
QUESTO 19 ............................................................................................................ 30
Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro
QUESTO 20 ............................................................................................................ 32
Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro
QUESTO 21 ............................................................................................................ 36
Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro
QUESTO 22 ............................................................................................................ 40
Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi Canabarro
QUESTO 23 - ANULADA ........................................................................................ 44
QUESTO 24 ............................................................................................................ 46
Beatriz Regina Lara dos Santos e Olga Rosaria Eidt
QUESTO 25 ............................................................................................................ 49
Karen Ruschel e Ftima Rejane Ayres Florentino
QUESTO 26 ............................................................................................................ 54
Beatriz Sebben Ojeda e Vera Beatriz Delgado
QUESTO 27 ............................................................................................................ 56
Beatriz Regina Lara dos Santos e Vera Beatriz Delgado
QUESTO 28 ............................................................................................................ 59
Karen Ruschel e Beatriz Regina Lara dos Santos
QUESTO 29 - ANULADA ........................................................................................ 62
QUESTO 30 ............................................................................................................ 63
Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Ftima Rejane Ayres Florentino
QUESTO 31 ............................................................................................................ 67
Ftima Rejane Ayres Florentino e Isabel Cristina Kern Soares
QUESTO 32 ............................................................................................................ 69
Andria da Silva Gustavo e Valria Lamb Corbellini
QUESTO 33 ............................................................................................................ 73
Karin Viegas e Maria Cristina Lore Schilling
QUESTO 34 ............................................................................................................ 76
Beatriz Sebben Ojeda e Vera Beatriz Delgado
QUESTO 35 ............................................................................................................ 79
Andria da Silva Gustavo e Maria Cristina Lore Schilling
QUESTO 36 - ANULADA ........................................................................................ 83
QUESTO 37 - DISCURSIVA ................................................................................... 84
Maria Cristina Lore Schilling e Janete de Souza Urbanetto
QUESTO 38 - DISCURSIVA ................................................................................... 89
Olga Rosaria Eidt e Marion Creutzberg
QUESTO 39 - DISCURSIVA ................................................................................... 94
Heloisa Reckziegel Bello, Simone Travi Canabarro e Marisa Reginatto Vieira
QUESTO 40 - DISCURSIVA ................................................................................... 98
Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Isabel Cristina Kern Soares
LISTA DE CONTRIBUINTES .................................................................................. 102
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 7
APRESENTAO
A formao dos(as) profissionais da Sade, em nvel de Graduao, est
amparada pela Lei n 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases, que fundamenta a
Educao Superior no Brasil, e nas Polticas de Sade vigentes. Considerando os
desafios de formar profissionais/cidados com competncias e habilidades para
dar conta da complexa realidade da sade, nacional e mundial, a criao do
Sistema Nacional de Avaliao da Educao Superior SINAES, Lei n
10.861/2004 prope parmetros essenciais para a avaliao da Educao
Superior. O SINAES preconiza uma formao que atenda a princpios de
qualidade e relevncia voltados para as necessidades de desenvolvimento do
pas. Assim, a avaliao permanente de todos os processos formativos precisa
estar incorporada no cotidiano das instituies de ensino, aproximando-a da
realidade social de cada rea.
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE constitui-
se em uma das etapas de avaliao do SINAES. Seu propsito avaliar o
desempenho dos estudantes, identificando se as condies de ensino, o
conhecimento, as competncias e as habilidades pretendidas e a metodologia
utilizada esto em conformidade com os princpios e orientaes das Diretrizes
Curriculares do Curso em avaliao. As Diretrizes Curriculares da rea da Sade
orientam para a formao de um novo profissional/cidado, alinhando-a aos
princpios do Sistema nico de Sade SUS, para atender s demandas da
sade, na sociedade contempornea. Para isso, e tambm conforme as referidas
diretrizes, necessria a formao generalista com o desenvolvimento de
competncias comuns s profisses, bem como as especficas de cada uma
delas para que a sade seja atendida de maneira integral. Portanto, a premissa
da interdisciplinaridade como forma de ser, de fazer, de conhecer e de conviver,
precisa estar incorporada na concepo dos profissionais, a qual tambm est
subjacente na avaliao da qualidade dos cursos nessa rea.
O ENADE Comentado, do Curso de Graduao em Enfermagem, da
Faculdade de Enfermagem, Nutrio e Fisioterapia FAENFI tem como
propsito discutir, com a comunidade acadmica da Faculdade, as questes que
compuseram o ENADE 2007, promovendo e ampliando debates relativos s
8 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
prticas e ao cenrio da Sade no qual se insere a Enfermagem. Ao mesmo
tempo como instrumento de avaliao, oportuniza reflexes acerca do processo
pedaggico desenvolvido ao longo do Curso.
A prova do ENADE/2007 do Curso de Enfermagem composta por 40
questes assim constitudas: 10 questes de formao geral, 30 questes de
contedo especfico, sendo 26 com respostas objetivas e 4 questes discursivas.
Tambm integra a Prova do ENADE um questionrio no qual o estudante refere
sua percepo acerca do curso e estrutura do mesmo, no contexto da
Universidade.
Nesta publicao so apresentadas e discutidas as 30 questes
especficas da rea da Enfermagem do ENADE 2007. As discusses esto
fundamentadas em publicaes e nas polticas de sade vigentes, devidamente
referenciadas para que o leitor possa ampliar a reflexo acerca das temticas
abordadas pelas questes. As referncias foram inseridas conforme as
orientaes de Vancouver, comumente utilizadas na documentao em Sade.
Ressaltamos que a realizao deste e-book s foi possvel pelo
envolvimento do corpo docente do Curso de Enfermagem. Agradecemos de
maneira muito especial a toda equipe da FAENFI que assumiu com
responsabilidade e competncia a elaborao do presente e-book.
Nosso agradecimento Prof. Dr. Solange Medina Ketzer, Pr-Reitora de
Graduao/PUCRS, extensivo sua equipe pelo apoio e estmulos permanentes.
Esta publicao eletrnica ENADE Comentado 2007: Enfermagem
FAENFI insere-se na coleo da EDIPUCRS. Almejamos que o referido material
possa ser um instrumento de consulta para estudantes, docentes e profissionais
de sade, bem como de reviso e reformulao de metodologias de ensino e de
aprendizagem.
Beatriz Sebben Ojeda
Diretora da Faculdade de Enfermagem, Nutrio e Fisioterapia FAENFI
COMPONENTE ESPECFICO
10 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 11
Considere o grfico, a tabela e as afirmaes abaixo:
No perodo, o percentual da populao com acesso a rede geral de
abastecimento de gua
I. melhorou em todas as regies do pas. O acesso da populao a esse
servio, traduz-se na reduo da incidncia de doenas de transmisso
hdrica e, conseqentemente, em menor nmero de bitos no componente
tardio do CMI, que diminuiu de uma maneira geral em todo o pas.
II. aumentou 7% e 18%, respectivamente, nas regies Norte e Sudeste. Na
regio Sudeste, o CMI passou de 57,7 para 22,2. Os dados sugerem que o
acesso da populao a esse servio um dos fatores que pode ser
associado queda do Coeficiente de Mortalidade Infantil.
III. foi semelhante nas regies Centro-Oeste e Nordeste, porm a queda da
mortalidade infantil foi mais acentuada na regio Nordeste. Os dados
indicam que o acesso da populao a esse servio no interfere na
mortalidade infantil.
IV. foi menor na regio Sul e maior nas regies Norte e Nordeste, comparado
com as outras regies. Os dados revelam que o CMI est diretamente
relacionado com o acesso da populao a esse servio, porque o
Coeficiente decresceu nas trs regies.
Com relao aos dados apresentados, est correto APENAS o que se afirma em
(A) IV.
(B) III e IV.
(C) II.
(D) I e II.
(E) I.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 11
Gabarito: D
Autoras: Beatriz Sebben Ojeda e Olga Rosaria Eidt
Comentrio:
O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) um dos mais sensveis
indicadores de sade e, talvez o mais utilizado dentre os coeficientes de
mortalidade. A reduo da mortalidade infantil, apesar do seu declnio observado
ainda um grande desafio no Pas para os gestores, profissionais de sade e a
sociedade como um todo. A organizao da assistncia criana no primeiro ano
de vida requer uma rede de assistncia integral, qualificada e humanizada em
benefcio da criana e da famlia brasileira. A reduo mdia anual da Taxa de
Mortalidade Infantil (TMI) no Pas foi de 4,8% ao ano, entre 1990 e 2007
1:9
.
A questo 11- ENADE 2007 em pauta relaciona a populao com acesso
rede geral de abastecimento de gua por regio do Brasil, no perodo de 1980,
1991 e 2000, com o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) por mil nascidos
vivos por regio, nos mesmos perodos.
As afirmativas I e II esto corretas. Ambas afirmam, conforme apresenta o
grfico, que o acesso a rede geral de abastecimento de gua melhorou em todas
as regies do pas. A afirmativa I tambm aborda, que o acesso da populao a
esse servio se traduz na reduo da incidncia de doenas de transmisso
hdrica e, consequentemente, em menor nmero de bitos no componente tardio
do CMI, o qual diminuiu de uma maneira geral em todo o pas.
Segundo do Ministrio da Sade, o componente tardio do CMI, refere-se ao
perodo ps-neonatal que est relacionado aos bitos em crianas de 28 dias at
um ano de idade e est fortemente ligado a fatores ambientais causas externas,
cujas condies socioeconmicas desempenham importante papel. A Agenda de
Compromissos para a Sade Integral da Criana e Reduo da Mortalidade
Infantil e que orienta para atividades de todos os profissionais que cuidam da
criana, indica que o cuidado integral requer a responsabilidade de disponibilizar
a ateno necessria em todos os nveis: da promoo sade ao nvel mais
complexo de assistncia, do lcus prprio da ateno sade aos demais setores
que tm interface estreita e fundamental com a sade como moradia, gua
tratada [...].
2:43
12 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
Tambm na Afirmativa II, segundo dados da Tabela, a regio Sudeste
reduziu o CMI 57,7 para 22,2, sugerindo que o acesso da populao a rede geral
de abastecimento de gua um dos fatores que pode ser associado queda do
CMI. Em relao a esta afirmativa, conforme Pesquisa Nacional de Saneamento
Bsico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), o abastecimento
de gua uma questo essencial para as populaes. A ausncia de
abastecimento ou o fornecimento inadequado traz grandes riscos sade pblica,
e da a necessidade de universalizao destes servios. Embora se identifique a
ampliao do abastecimento de gua para a populao em nvel Nacional,
constata-se que ela se d de forma desigual, o que compromete a sade da
populao daquelas regies menos favorecidas
3
. Nesse sentido, o Ministrio da
Sade destaca que no perodo 1990 a 2007 projetos intersetoriais foram
estratgias importantes que contriburam para a reduo da TMI
1
.
As Afirmativas III e IV esto incorretas. A Afirmativa III refere que o
percentual da populao com acesso a rede geral de abastecimento de gua foi
semelhante nas regies Centro-Oeste (de 40% em 1980 para 73% em 2000 que
corresponde a um acrscimo de 33%) e Nordeste (de 32% em 1980 para 65% em
2000, correspondendo a um acrscimo de 33%) o que est correto. Tambm
afirma que a queda da mortalidade infantil foi mais acentuada na regio Nordeste
(de 97,1 em 1980 para 45,2 em 2000, correspondendo a 53,4% de reduo), do
que na Regio Centro-Oeste (de 47,9 em 1980 a 23,3 em 2000, correspondendo
a 51,3% de reduo), o que tambm est correto. Entretanto, a afirmativa que diz:
os dados indicam que o acesso da populao a esse servio no interfere na
mortalidade infantil no corresponde ao que informa a Pesquisa Nacional de
Saneamento Bsico, que o abastecimento de gua uma questo essencial para
as populaes. A ausncia de abastecimento ou o fornecimento inadequado traz
grandes riscos sade pblica
3
.
Em uma anlise mais detalhada observa-se que o CMI no Nordeste
permanece a mais elevada, entre as cinco grandes regies brasileiras, como j
ocorria anteriormente na dcada de 80 e 90. Porm, pode-se inferir que o acesso
rede geral de abastecimento de gua foi um fator contributivo ao decrscimo da
mortalidade infantil, pois o percentual de reduo desse coeficiente, numa leitura
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 13
retrospectiva, mostra que vem acontecendo gradativamente, como tambm nas
outras regies.
A Afirmativa IV aborda que o percentual da populao com acesso a rede
geral de abastecimento de gua foi menor na regio Sul e maior nas regies
Norte e Nordeste comparado com as outras regies. Tal afirmativa no est
correta, pois o menor acesso a rede geral de abastecimento de gua em nvel
Nacional foi a regio Norte (de 40% em 1980 a 47% em 2000, correspondendo a
um acrscimo de apenas 7%) e no da Regio Sul (de 49% em 1980 a 79% em
2000, correspondendo um acrscimo de 30%). Em relao segunda parte da
afirmativa IV: os dados revelam que o CMI est diretamente relacionado com o
acesso da populao a esse servio, porque o Coeficiente decresceu nas trs
regies tambm est incorreta, pois o acesso ao abastecimento de gua um
dos indicativos para a reduo da MI, mas no o nico. Salienta-se que o
abastecimento de gua nas trs regies foi desigual (o acrscimo de 30% na
Regio Sul; 33% na Regio Nordeste; e 7% na Regio Norte) e que o percentual
de reduo do CMI nas trs regies foi expressivo (55,4% na Regio Sul; 53,4%
na Regio Nordeste; e 49,3% na Regio Norte) o que indica a influncia de outros
fatores para a diminuio desse coeficiente, principalmente, considerando a
reduzida ampliao do abastecimento de gua ocorrida na Regio Norte.
Referncias
1. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia e Sade. Departamento
de Aes Programticas. Manual de Vigilncia do bito Infantil e Fetal.
Braslia: Ministrio da Sade; 2009.
2. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Aes Programticas Estratgicas. Agenda de Compromissos para a sade
integral da criana e reduo da mortalidade infantil. Braslia: Ministrio da
Sade; 2005.
3. Brasil. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto - Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatstica-IBGE. Departamento de Populao e Indicadores
Sociais. Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico 2000. Rio de Janeiro, 2002.
Disponvel em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/pnsb.pdf
14 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 12
O grfico apresenta a relao da variao do volume do parnquima pulmonar,
segundo a variao da presso transpulmonar, em dois grupos de pacientes,
conforme descrito na legenda.
Considerando o grfico e a atual Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa,
correto afirmar que a alterao funcional e a porta de entrada da ateno sade
do grupo de idosos so, respectivamente,
(A) elasticidade pulmonar diminuda e servios especializados de mdia
complexidade.
(B) fragilidade e servios especializados de alta complexidade.
(C) fibrose pulmonar e ateno bsica/Sade da Famlia.
(D) atelectasia pulmonar e servios especializados de alta complexidade.
(E) complacncia pulmonar aumentada e ateno bsica/Sade da Famlia.
Gabarito: E
Autoras: Karin Viegas e Marion Creutzberg
Comentrio:
Os pulmes so os principais rgos do sistema respiratrio e sofrem
mudanas significativas com o envelhecimento. Com a idade, as paredes dos
alvolos tornam-se mais finas, o nmero de capilares diminui, os ductos dos
alvolos tornam-se estocados, causando um alargamento e o rompimento dos
alvolos. Essas mudanas na estrutura alveolar diminuem a rea de superfcie de
troca gasosa, embora o nmero de alvolos permanea relativamente o mesmo.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 15
Outra alterao so as cartilagens costais, que ficam enrijecidas e diminuem a
complacncia, sendo necessria a utilizao da musculatura acessria (msculos
do maxilar e pescoo e intercostais). A musculatura intercostal tambm se torna
enfraquecida, aumentando o esforo respiratrio. O idoso expira de forma
incompleta e o volume residual aumenta. Esse aumento causa diminuio na
capacidade vital. Como apenas uma parte dos pulmes ventilada, a troca de
gases para a circulao mal feita, diminuindo a oxigenao do sangue
circulante. Com a idade os quimiorreceptores sofrem mudanas, no reagindo
adequadamente com os nveis de O
2
e pH. Desse modo, as pessoas idosas so
mais vulnerveis a doenas que afetam a respirao, como pneumonias e
enfisemas
1,2
.
Os elementos essenciais para determinar a capacidade pulmonar total
(CPT), so a fora muscular, a complacncia do parnquima pulmonar e a
complacncia da parede torcica. Quando existe fraqueza dos msculos, o
equilbrio entre a fora muscular e a distenso do sistema d-se abaixo do
volume, reduzindo a presso de retrao elstica mxima. Quando houver maior
resistncia elstica do parnquima pulmonar, isto , diminuio da complacncia,
o equilbrio ser atingido antes do volume pulmonar previsto, diminuindo a CPT,
mas com alta presso de retrao elstica mxima
2
.
Na resoluo desta questo o conhecimento acerca de alteraes
funcionais que ocorrem no envelhecimento, de antemo, auxiliaria o respondente
a descartar as alternativas B, C e D, pois estas se referem a doenas e/ou sinais
de patologias respiratrias. Assim, quanto alterao funcional, poderiam ser
consideradas corretas as alternativas A e E. , portanto, o conhecimento da
Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa, que, num segundo momento, levaria
definio da resposta correta.
A Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa
3
estabelece dois eixos
orientadores para as aes de sade em todos os nveis de ateno: a) a
promoo da sade e da integrao social; b) o enfrentamento de fragilidades.
A situao descrita na questo 12 refere-se, como dito, a alteraes do
envelhecimento que devem ser acompanhadas na Ateno Bsica, na
perspectiva da manuteno da independncia para a realizao das atividades da
vida diria e autonomia. O desafio , a despeito das alteraes e possveis
16 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
limitaes delas decorrentes, que se possa buscar a mxima independncia e
autonomia, com qualidade de vida. Esse o paradigma de sade proposto pela
Poltica Nacional de Sade da Pessoa Idosa.
A Ateno Bsica constitui acesso preferencial dos idosos ao sistema de
sade e a finalidade desta deve ser a de buscar a maior resolutividade possvel
nesse nvel de ateno. Aes dirigidas aos idosos individualmente, bem como
coletividade na comunidade e as atividades de grupo de idosos so recursos
bastante apropriados para atuao com esse grupo etrio.
A capacitao das equipes de sade da famlia e a implementao do uso
de instrumentos de avaliao para acompanhamento da sade da pessoa idosa e
a deteco de fragilidades fundamental. A criao da Caderneta de Sade da
Pessoa Idosa um instrumento valioso que pode auxiliar na identificao das
pessoas idosas frgeis ou em risco de fragilizao.
Referncias
1. Barreto SSM. Volumes pulmonares. J Pneumol. 2002; 28 Supl: 83-94.
2. Roach S. Introduo Enfermagem Gerontolgica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2003.
3. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Ateno Bsica. Envelhecimento e sade da pessoa idosa. Braslia:
Ministrio da Sade; 2006.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 17
QUESTO 13
Foi prescrita para uma criana 320 miligramas de Vancomicina
via intravenosa,
de 12/12 horas. Cada frasco-ampola contm 0,5 grama. Quais so os cuidados
de enfermagem que devem ser considerados para garantir a administrao
segura dessa droga?
(A) Reconstituir o medicamento em 5 mL de SF a 0,9%, aspirar 3,2 mL, redilu-lo
em 50 mL de SG a 5%, infundi-lo a 50 mL/h. No associ-lo com
aminoglicosdeo.
(B) Reconstituir o medicamento em 5 mL de gua destilada, aspirar 3,2 mL,
redilu-lo em 80 mL de SF a 0,9%, infundi-lo a 40 mL/h. Associ-lo com anti-
histamnico.
(C) Reconstituir o medicamento em 9 mL de SF a 0,9%, aspirar 6,4 mL, redilu-lo
em 50 mL de SF a 0,9%, infundi-lo a 25 mL/h. Associ-lo com penicilina.
(D) Reconstituir o medicamento em 10 mL de gua destilada, aspirar 6,4 mL,
redilu-lo em 100 ml de SG a 5%, infundi-lo a 100 mL/h. No associ-lo com
aminoglicosdeo.
(E) Reconstituir o medicamento em 10 mL de gua destilada, aspirar 3,2 mL,
redilu-lo em 100 mL de SG a 5%, infundi-lo a 150 mL/h. No associ-lo com
Anfotericina-B.
Gabarito: D
Autoras: Ftima Rejane Ayres Florentino e Simone Travi Canabarro
Comentrio:
A enfermagem tem a responsabilidade da administrao de medicamentos
prescritos pelo mdico, estar alerta, conhecer a ao das substncias, das
dosagens seguras e das possveis respostas do paciente peditrico
imprescindvel na prtica diria da (o) enfermeira (o).
Entende-se que a administrao de medicamentos em crianas um dos
aspectos mais desafiadores e crticos da enfermagem peditrica, uma vez que,
sua administrao necessita focalizar-se nas consideraes de desenvolvimento
relacionadas idade e peso, porque os efeitos farmacocinticos e
farmacodinmicos das drogas so menos previsveis nas crianas, e em particular
nos recm-nascidos pr-termos e lactentes
1
. Frente ao exposto considera-se de
suma importncia salientar os cuidados de enfermagem antes e aps a
administrao da Vancomicina
que engloba: o preparo da soluo e estabilidade
18 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
da mesma, a sua reconstituio, a sua concentrao em miligramas, a dosagem a
ser administrada compatibilidade com outras solues a sua ao nefrotxica e
sua administrao com outros frmacos aminoglicosdeos, bem como no que se
refere inspeo do medicamento antes de administrar e rigoroso controle do
gotejo da mesma.
Preparo da soluo e estabilidade: adicionar 10 ml de gua estril para
injeo no frasco-ampola. O frasco ampola assim reconstitudo fornece uma
soluo de 50 mg/ml. Aps reconstituio, se obtm a soluo de Vancomicina
500mg/10ml. Nesse caso, para obtermos 320 mg aplica-se a regra de 3, sendo
que em 10ml da soluo tem-se 500 mg , logo, em 6,4 ml ter-se- 320 mg. O
restante da soluo pode ser armazenada em geladeira por 14 dias sem perda
significante da potncia.
Compatibilidade com solues intravenosas: necessria a diluio
posterior dos 6,4 ml com pelo menos 100 ml de diluente (soro glicosado 5% ou
soro fisiolgico 0,9%)
2
. A dose desejada, diluda dessa maneira, administrada
por infuso intravenosa intermitente por um perodo de pelo menos 60 minutos,
ou seja, 100 ml/hora ou 100 microgotas por minutos.
Ao nefrotxica e sua administrao com outros aminoglicosdeos: a
administrao da Vancomicina
com aminoglicosdeos est contraindicada, pois a
mesma possui ao nefrotxica, podendo potenciar esse efeito, uma vez que, os
aminoglicosdeos apresentam propriedades nefrotxicas
2
. Exemplos de
aminoglicosdeos: amicacina (Amicilon
), anfotericina B (Anforicin
), entre outros.
Portanto, faz-se necessrio o controle de diurese rigoroso. O volume de diurese
esperado para crianas menores de 1 ano de idade de 2m/K/h e maiores de 1
ano de 1 ml/K/h
3
.
Inspeo do medicamento antes de administrar e controle do gotejo: a
soluo parenteral deve ser inspecionada visualmente para a existncia de
partculas e descolorao da soluo antes da administrao, quando o recipiente
permitir.
A administrao de Vancomicina
(glicopeptdeo tricclico) deve ser
exclusivamente endovenosa e lenta, uma vez que, se aplicada em gotejamento
rpido leva a hipotenso e choque. Por esse motivo, no deve ser infundida num
perodo inferior a 60 minutos
2
. Sua rediluio no deve ser inferior ao volume de
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 19
100ml. Com isso, conclui-se que cada dose deve ser administrada numa
velocidade de at10 mg/min ou num perodo de pelo menos 60 minutos.
contraindicada a via intramuscular por ser irritante para os tecidos, podendo
causar necrose.
2
Referncias
1. Bowden VR, Greenberg, CS. Procedimentos de enfermagem peditrica.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
2. Ministrio da Sade (Brasil), Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
(ANVISA). Bulrio Eletrnico da ANVISA; [lanado em 17 de maio de 2005;
acesso em 22 de set. de 2009] Disponvel em:
http://www.anvisa.gov.br/bularioeletronico/
3. Florentino FRA, Bergmann MA. Atendimento no trauma peditrico. In: Estran
NVB. Sala de emergncia: emergncias clnicas e traumticas. Porto Alegre:
UFRGS; 2003. p. 143 -165.
20 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 14
Mrio, 40 anos, compareceu ao Pronto Socorro com queixa de cefalia intensa e
fotofobia. Na avaliao inicial, o enfermeiro mediu a presso arterial utilizando um
manguito com largura que correspondia a 40% da circunferncia de seu brao e
bolsa inflvel de comprimento que envolvia 90% do brao. Durante a deflao do
manguito o enfermeiro auscultou o primeiro som (Fase I de Korotkoff) no valor de
138 mmHg na escala do manmetro, porm os sons persistiram at o zero, com
abafamento no valor de 88 mmHg. Considerando as circunstncias descritas e as
observaes realizadas, qual o registro correto relacionado com os valores da
presso arterial?
(A) PA = 135/85 mmHg.
(B) PA = 138/88 mmHg (manguito estreito em relao circunferncia do
brao).
(C) PA = 135/0 mmHg.
(D) PA = 135/85/0 mmHg (manguito estreito em relao circunferncia do
brao).
(E) PA = 138/88/0 mmHg.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 21
QUESTO 15
Ana, 55 anos, aps herniorrafia inguinal, ficou cerca de 12 horas sem urinar e
comeou a apresentar eliminao freqente de pequena quantidade de urina,
alm de bexiga palpvel e sensao de desconforto em abdome inferior.
Considerando esse quadro clnico, a enfermeira da unidade cirrgica prescreve:
I. Favorecer a mico, permitindo a paciente urinar sentada.
II. Estimular a mico por meio do barulho, viso da gua corrente e irrigao
do perneo com gua morna.
III. Realizar cateterizao vesical de alvio.
IV. Manter uso contnuo de fralda.
No caso de Ana, a prescrio contida no item
(A) I contraindicada no 1 ps-operatrio.
(B) II no se aplica a esse quadro clnico.
(C) III deve ser precedida das prescries contidas nos itens I e II.
(D) III deve ser realizada apenas por prescrio mdica.
(E) IV deve ser precedida da prescrio contida no item I.
Gabarito: C
Autoras: Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Valria Lamb Corbellini
Comentrio:
A questo aborda os cuidados no ps-operatrios de herniorrafia inguinal e
indicao de sondagem vesical de alvio.
As hrnias inguinais so devidas ao enfraquecimento da musculatura
abdominal por malformao congnita, leso traumtica, envelhecimento ou ainda
aumento da presso intra-abdominal. A escolha do tratamento depende do tipo de
hrnia. A herniorrafia o tratamento indicado para hrnia inguinal em pacientes
adultos, podendo ser realizada com anestesia geral ou raquidiana. Em casos
simples a cirurgia pode ser laparoscpica.
1
Em relao indicao de sondagem
de alvio a mesma dever ser realizada, pelo enfermeiro, aps as medidas de
estimulo mico, por meio de tcnicas no invasivas, no obterem resultados
efetivos.
1,2
As opes apresentadas na questo so:
22 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
I. Favorecer a mico, permitindo a paciente urinar sentada.
Esse item EST CORRETO. Aps a cirurgia, pode haver reteno urinria
por edema ou efeito anestsico. Caso seja necessrio favorecer a mico, o
paciente deve ser orientado a urinar sentado, para no pressionar o abdome.
1,2
II. Estimular a mico por meio do barulho, viso da gua corrente e
irrigao do perneo com gua morna.
Esse item EST CORRETO. Mesmo no ficando claro na questo o motivo
da reteno, normalmente, as intervenes de enfermagem preconizadas para
esta situao envolve o estimulo da diurese antes de proceder a cateterizao
vesical.
1,2
III. Realizar cateterizao vesical de alvio.
Esse item EST CORRETO. Se os procedimentos no invasivos, descritos
nos itens I e II, no tiverem resultados efetivos, a enfermeira dever realizar a
cateterizao vesical de alvio. Salienta-se que esse procedimento tcnico
somente dever ser realizado, com prescrio mdica ou por protocolos
assistenciais previamente definidos pela Instituio.
IV. Manter uso contnuo de fralda.
Esse item NO EST CORRETO, pois no indicado o uso de fraldas
nessa paciente, por se tratar de uma situao temporria, decorrente do ps-
-operatrio.
Portanto, a resposta C a correta, porque a realizao da cateterizao
vesical de alvio deve ser precedida da prescrio de medidas no invasivas que
estimulem a mico.
Referncias
1. Smeltzer SC. Tratado de enfermagem mdico-cirrgica. 10. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
2. Nettina SM. Prtica de enfermagem, 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 23
QUESTO 16
Considere os fragmentos do discurso de um paciente: "... a caminho do centro
cirrgico, a maca atravessa corredores gelados, porm o frio dentro de mim no
tem a ver com a temperatura do dia. Entre o apartamento e a mesa de operao
tenho um longo caminho... Luto contra cada instante, tenho que chegar intacto
mesa. Preciso vencer alguns metros de corredores. Conto a possibilidade de vida
por metros. No sinto dor, indisposio, nuseas, eu poderia ter caminhado, ir
batendo um papo...".
(Brando apud Jouclas et al, 1998, p. 46)
Essa narrativa revela a assistncia em grande parte dos hospitais no pas. Mas,
existem iniciativas no mbito da assistncia humanizada que preconizam:
I. Prticas mais flexveis que atendam s necessidades dos pacientes,
possibilitando, por exemplo, que caminhem at o centro cirrgico.
II. Valorizao da dimenso subjetiva da assistncia, como o conforto, o
acolhimento e a escuta emptica, possibilitando, por exemplo, vrias opes
de transporte.
III. Priorizao do cuidado interativo, da energia criativa, emocional e intuitiva,
envolvendo, por exemplo, a incluso da famlia no acompanhamento at a
sala cirrgica, desconsiderando aspectos tcnicos e cientficos.
IV. Articulao do cuidado tcnico e cientfico, constitudo pela enfermagem,
com o cuidado tico e relacional efetivo, explicando ao paciente os motivos
da obrigatoriedade desse tipo de transporte.
Considerando a assistncia humanizada, est correto APENAS o que se afirma
em
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.
Gabarito: A
Autoras: Janete de Souza Urbanetto e Karin Viegas
Comentrio:
A questo acima remete a refletir acerca de atuais temticas no mbito da
sade: a humanizao do atendimento, a segurana do paciente e a ao
unilateral das equipes de sade.
24 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
Com base em referenciais focados na tcnica e no procedimento, as
equipes de sade realizaram, por longa data, um cuidado que exclua totalmente
o paciente e sua famlia da tomada de deciso referente conduo do cuidado e
a teraputica.
O procedimento cirrgico um bom exemplo. O zelo pela assepsia e
segurana acabou por projetar protocolos de preparo pr-operatrio regrado por
horrios e tcnicas. O uso de medicamentos sedativos foi, talvez, o grande
motivador para a obrigatoriedade do transporte do paciente em macas/camas.
Contrapondo a isso, a Poltica Nacional de Humanizao
1
implica em
mudana na cultura de ateno aos usurios, estimulando a sua participao e de
sua famlia como protagonistas no sistema de sade.
Estudo realizado
2
ressalta a importncia de mudanas, por levantar
questionamentos a respeito da necessidade de inovao dos conceitos sobre
assistncia cirrgica e implantar uma assistncia cirrgica humanizada, deixando
de buscar as caractersticas relacionadas a problemas burocrticos, estruturais e
tcnicos, mas sim a uma questo que envolva atitudes, comportamentos, valores
e tica moral e profissional.
Dessa forma, considerando a realizao de uma avaliao criteriosa das
condies do paciente, que garantam sua segurana quanto exposio e queda
ao solo, principalmente, a opo A demonstra essa preocupao com a mudana
de cultura que valoriza a participao do paciente na adequao dos cuidados em
ambiente hospitalar.
Somente a integrao das necessidades tcnicas, sociais, interesses e
desejos de cada um dos componentes podero tornar real a humanizao da
ateno sade das pessoas, nesse caso, oportunizando uma ambientao e
chagada ao bloco cirrgico de forma mais natural possvel.
Referncias
1. Brasil. Ministrio da Sade. Poltica Nacional de Humanizao: documento
base para Gestores e trabalhadores do SUS. Braslia: Ministrio da Sade; 2008
Disponvel em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores
_sus_4ed.pdf.
2. Bedin E, Ribeiro LBM, Barreto RASS Humanizao da assistncia de
enfermagem em centro cirrgico. Revista Eletrnica de Enfermagem,
2007(1):11827. Disponvel em http://www.fen.ufg.br
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 25
QUESTO 17
Na reunio da Liga de Diabetes, a discusso deste ms foi sobre o caso de
Paulo, de 18 anos. Ele apresenta diabetes mellitus tipo 1 e faz tratamento com o
esquema insulina NPH insulina ultra-rpida pr-prandial. Foi orientado a realizar
automonitorizao da glicemia antes de cada refeio e ajustar a dose da insulina
ultra-rpida, conforme o valor da glicemia observado. Em consulta de retorno, os
resultados dos exames e as informaes de Paulo indicaram que os objetivos do
tratamento foram alcanados, porm ele se queixou que est "cansado da rigidez
no controle da glicemia e de tantas picadas dirias". Frente ao relato, os alunos
de graduao em enfermagem sugeriram as seguintes intervenes:
I. Confrontar o resultado da hemoglobina glicada com os resultados da
glicemia pr-prandial a fim de certificar-se da adeso de Paulo ao controle
orientado.
II. Substituir a automonitorizao da glicemia por testes de glicosria antes das
refeies.
III. Manter a automonitorizao domiciliar das glicemias como uma parte
fundamental no tratamento.
IV. Analisar, conjuntamente com Paulo, seu esquema de alimentao,
exerccios e medicao, visando a estabelecer uma forma alternativa de
automonitorizao domiciliar das glicemias.
Esto corretas APENAS as intervenes
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.
Gabarito: E
Autoras: Karin Viegas e Karen Ruschel
Comentrios:
O Diabetes mellitus (DM) uma sndrome metablica em que a
hiperglicemia um achado comum, causado por uma secreo inadequada de
26 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
insulina, por alteraes em sua ao ou por uma combinao de ambos os
mecanismos.
1,2
O DM1 resulta da destruio das clulas beta pancreticas,
correspondendo de 5% a 10% do total dos casos e, ocorre frequentemente em
crianas e adolescentes, podendo tambm ocorrer em adultos. Na maioria dos
casos a forma autoimune a causa da destruio das clulas beta pancreticas.
Os marcadores de autoimunidade so os autoanticorpos (anti-insulina, anti-
descarboxilase do cido glutmico e anti-tirosina-fosfatase). Esses anticorpos
podem estar presentes muito tempo antes do diagnstico e em at 90% dos
indivduos quando a hiperglicemia detectada. O DM1 idioptico caracteriza-se
pela ausncia de marcadores de autoimunidade contra clulas beta e no
associado com hapltipos do sistema antgeno leucocitrio humano (HLA). Os
indivduos com essa forma so a minoria, mas podem desenvolver a cetoacidose
e apresentam graus variados de deficincia de insulina.
2
O tratamento do diabetes inclui algumas estratgias modificveis, tais
como mudana do estilo de vida, controle do peso, aumento da atividade fsica e
reorganizao dos hbitos alimentares. Os pacientes diabticos mantidos em
condies de controle clnico e metablico apresentam retardo no aparecimento
e/ou na progresso de complicaes crnicas.
3,4
A monitorizao da glicemia considerada a base do tratamento da
diabetes. Os consensos recomendam a determinao da glicemia como mtodo
de escolha para avaliar o controle glicmico, sendo a determinao da glicosria
recomendada apenas se o outro mtodo no for possvel. A automonitorizao
facilita a vigilncia frequente da glicemia, que pode ser feita pelo prprio doente,
permitindo que o paciente e os profissionais de sade avaliem diretamente o
efeito da teraputica, da dieta e da atividade fsica, fazendo os ajustes
necessrios, inclusive da medicao, para alcanar o melhor controle glicmico
possvel.
3,5
A insulina a mais efetiva medicao hipoglicemiante conhecida e pode
reduzir a hemoglobina glicada (Hb) A1c aos nveis de controle desejveis a partir
de quaisquer nveis de HbA1c iniciais, e sempre necessria no tratamento do
DM1, devendo ser instituda assim que o diagnstico for feito. O objetivo do
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 27
tratamento manter uma glicemia plasmtica de jejum abaixo de 110 mg/dl e em
140 mg/dl duas horas ps-prandial.
1,4
As recomendaes nutricionais para os pacientes diabticos seguem com
o objetivo de atingir os ndices glicmicos recomendados e evitar a hipoglicemia.
H evidncias de que a quantidade de carboidratos ingeridos em uma refeio
mais importante do que o seu tipo ou fonte. A contagem dos carboidratos em
cada refeio, flexibilizando o tratamento, reduz os problemas habituais de
irregularidade alimentar, principalmente nos indivduos mais jovens.
1,5
A Hemoglobina Glicada tem importante papel na avaliao do controle do
diabetes, sendo capaz de identificar se o controle glicmico foi eficaz, ou no,
num perodo anterior h 60-90 dias. Dos tipos de hemoglobina glicada existentes,
o tipo A1c o mais facilmente medido e com a menor probabilidade de ser
influenciado pelo que o paciente ingeriu no dia anterior. Recomenda-se fazer o
controle duas vezes ao ano.
1,4
Referncias
1. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes
Mellitus. Report of Expert Committee on the Diagnosis and Classification of
Diabetes Mellitus. Follw-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes
Care. 2003;26(11):3.160-3.167.
2. Kuhl C. Insulin secretion and insulin resistance in pregnancy and GDM:
implications for diagnosis and management. Diabetes. 1991;40 Suppl 2:18-24.
3. Sociedade Brasileira de Diabetes. Tratamento e acompanhamento do
Diabetes Mellitus: diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Rio de Janeiro:
SBD; 2007.
4. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diabetes: consenso. Novo Guideline para
o Diabetes Tipo 2. 2007;14(2):22-23.
5. Sociedade Brasileira de Diabetes. Atualizao brasileira sobre diabetes.
Rio de Janeiro: Diagraphic; 2005. 140 p.
28 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 18
Sara, 42 anos, foi submetida craniotomia para clipagem de aneurisma cerebelar
esquerdo. Aps a cirurgia, os sinais vitais estavam estveis e ela se recuperava
bem da anestesia geral. No quarto dia, Sara apresentou um quadro de cefalia,
confuso e perda de fora em mo direita. Seu nvel de conscincia deteriorou de
forma acentuada e ela foi intubada e encaminhada unidade de cuidados
intensivos. No momento encontra-se em ventilao mecnica, em jejum, SNG
aberta, sonda vesical e cateter central. Dentre as intervenes de enfermagem,
qual a indicada para Sara?
(A) Promover aspirao endotraqueal em horrios fixos.
(B) Manter a cabeceira elevada a 30 e alinhamento mento-esternal.
(C) Fechar SNG, se apresentar desequilbrio hidroeletroltico.
(D) Manter decbito lateral com flexo de quadril superior a 90.
(E) Realizar limpeza da inciso cirrgica com clorexidina.
Gabarito: B
Autoras: Karen Ruschel e Isabel Cristina Kern Soares
Comentrio:
A etiologia dos aneurismas incerta, entretanto, provavelmente
resultante de uma combinao de fatores degenerativos e congnitos. O
aneurisma uma consequncia da debilidade da parede arterial, formando uma
dilatao de formato sacular e arredondada sobre a parede da artria.
1
A principal complicao decorrente do aneurisma o sangramento por
ruptura (hemorragia subaracnoide-HSA) ou crescimento suficiente para exercer
uma presso sobre as estruturas cerebrais. Dos indivduos que sobrevivem ao
sangramento inicial, 35-40% sangram novamente caso permaneam sem
tratamento, com uma taxa de mortalidade de aproximadamente 42%. Alguns
fatores contribuem para a ruptura do aneurisma, so eles: tabagismo, hipertenso
arterial, esforo fsico e sexo feminino. As chances tambm aumentam com a
idade.
2,3
A clipagem cirrgica considerada principalmente quando o aneurisma
est em uma rea acessvel e tem mais do que 4mm de dimetro. Depois do
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 29
clampeamento o paciente deve ser mantido em um ambiente de cuidados crticos.
A maior causa de morbimortalidade em pacientes com HSA o vasoespasmo que
diminui o fluxo sanguneo cerebral, privando o tecido de oxignio, em geral ocorre
3 a 12 dias depois de uma HSA. Devemos sempre suspeitar quando um paciente
apresentar queda do nvel de conscincia e/ou novo dficit focal nos primeiros 15
dias aps a HSA.
2,4
A terapia dos trs Hs o padro para preveno e tratamento do
vasoespasmo, associado ao uso da nimodipina (bloqueador do canal de clcio).
Ela objetiva a expanso hipervolmica, hemodiluio e hipertenso induzida nos
pacientes ps-operatrios.
1,2
O controle da Presso Intracraniana (PIC) deve ser intensificado. A
cabeceira deve ser mantida elevada sem flexo do pescoo ou flexo do quadril
maior que 90
0
e
sem rotao acentuada da cabea. Se o paciente estiver em
ventilao mecnica invasiva e a aspirao endotraqueal for necessria, dever
ser feita com a maior rapidez para que no ocorra dessaturao. O balano
hdrico deve ser equilibrado, evitando-se a desidratao, bem como a hiper-
hidratao, o controle da agitao psicomotora com sedativos quando necessrio
tambm indicado.
3-5
Referncias
1. Sutherland GR, Auer RN. Primary intracerebral haemorrhage. J Clin
Neurosci. 2006;13(5):511-517.
2. Xi G, Keep RF, Hoff JT. Mechanisms of brain injury after intracerebral
haemorrhage. Lancet Neurol 2006; 5(1):53-63.
3. Calil AM, Paranhos WY. O enfermeiro e as situaes de emergncia. So
Paulo: Atheneu; 2007.
4. Morton PG, Fontaine DK, Hudak CM, Gallo BM. Cuidados crticos de
enfermagemuma abordagem holstica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;
2007.
5. Cintra EA, Nishide VM, Nunes, WA. Assistncia de Enfermagem ao
Paciente Gravemente Enfermo. So Paulo: Atheneu; 2001.
30 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 19
A Poltica Nacional de Ateno Integral Sade da Mulher apresenta objetivos,
metas, aes e estratgias para atingir os princpios de humanizao e de
qualidade da ateno. Dentre outros, pode-se citar: "a capacitao tcnica dos
profissionais de sade e funcionrios dos servios envolvidos nas aes de sade
para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e prticas educativas
voltadas usuria e comunidade" (Brasil, 2004). relevante para essa
capacitao considerar que:
I. a reduo da morbi-mortalidade pelo cncer de mama requer do enfermeiro
domnio da tcnica do exame clnico e conhecimentos para incentivar a
realizao do auto-exame pelas mulheres; ao de eficcia cientificamente
comprovada na preveno primria da doena.
II. a vulnerabilidade para o cncer de colo de tero pode ser representada pela
falta de conhecimento, portanto, no basta ao enfermeiro incrementar a
oferta de colpocitologia onctica na rede bsica, preciso sensibilizar e
mobilizar a populao feminina para a prtica do autocuidado e do sexo
seguro.
III. a assistncia em planejamento familiar demanda fornecimento de
anticoncepcionais e acompanhamento das usurias, alm de promoo de
aes de educao em sade e aconselhamento sobre concepo e
anticoncepo, visando escolha livre e informada das opes disponveis
tanto para os homens quanto para as mulheres.
IV. a reduo da vulnerabilidade aos agravos sade sexual e reprodutiva das
adolescentes requer desenvolvimento de aes educativas que abordem a
sexualidade na perspectiva de gnero, classe e diferena social, de modo
que a informao resulte em comportamento adolescente socialmente
desejvel.
Est correto APENAS o que se afirma em
(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.
Gabarito: C
Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi
Canabarro
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 31
Comentrio:
As afirmativas II e III esto corretas tendo em vista situaes de
vulnerabilidade crescente que a mulher exposta ao longo do seu ciclo vital,
traduzindo a necessidade de abordagem humanizada e de incluso no processo
de educao para a sade. Dados epidemiolgicos demonstram a falta da
efetividade das estratgias de aes protetoras da Sade da Mulher. Na Poltica
Nacional de Ateno Integral Sade da Mulher so oferecidos subsdios
norteadores para o desenvolvimento de aes estratgicas, visando capacitar a
equipe tcnica (profissionais de sade) para contribuir na reduo da
morbimortalidade por cncer na populao feminina e incentivo ao planejamento
familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no mbito da ateno
integral sade
1
.
A afirmativa I est incorreta, pois o autoexame de mamas no tem eficcia
cientificamente comprovada na preveno do cncer de mamas.
1,2
A afirmativa IV est incorreta, pois h considerao discriminativa referente
a condio de classe e diferena social, influenciando nas prticas educativas
1
.
Portanto, a assertiva correta a C por no incluir as afirmativas I e IV.
Referncias
1. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Aes Programticas Estratgicas. Poltica nacional de ateno integral
sade da mulher: princpios e diretrizes / Ministrio da Sade, Secretaria de
Ateno Sade, Departamento de Aes Programticas Estratgicas. Braslia:
Ministrio da Sade; 2004.82 p.: il.
2. Junior R.F. et al. Conhecimento e prtica do autoexame da mama. Rev.
Assc. Md. Bras.,v.52, n.5; 2006, p. 337-141.
32 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 20
Paula, 16 anos, iniciou o atendimento pr-natal na Unidade Bsica de Sade
(UBS) aps teste de gravidez positivo. Depois de algum tempo, a agente
comunitria, responsvel pela rea em que se situa a residncia de Paula,
procurou a enfermeira da UBS dizendo que a adolescente "no havia realizado
nenhum dos exames solicitados; tinha tentado interromper a gestao e, apesar
de no estar passando bem, no procurou o hospital por medo de ser presa." A
enfermeira, ento, decidiu realizar visita domiciliar, encontrando a gestante
descorada, sem perdas vaginais, com epistaxe e sangramento gengival, ambos
de moderada intensidade. Para a assistncia adolescente, a enfermeira
corretamente suspeita de
(A) ameaa de abortamento, o que requer guia da UBS para o encaminhamento
de Paula a ambulatrio mdico especializado de referncia na rea da
sade da mulher.
(B) infeco polimicrobiana associada a abortamento infectado, o que requer
utilizao do sistema regional de urgncia e emergncia para o
encaminhamento de Paula a hospital de mdia complexidade.
(C) processo inflamatrio decorrente de abortamento completo, o que requer o
acompanhamento de Paula pela UBS e pelo servio de referncia para
educao em sade de adolescentes.
(D) processo infeccioso decorrente de abortamento incompleto e inevitvel, o
que requer guia da UBS para o encaminhamento de Paula a hospital de
referncia para procedimentos de baixa complexidade.
(E) distrbio de coagulao associado a abortamento retido, o que requer
utilizao do sistema regional de urgncia e emergncia para o
encaminhamento de Paula a hospital de mdia complexidade.
Gabarito: E
Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi
Canabarro
Comentrio:
A assertiva A est incorreta, pois mediante a sintomatologia apresentada
por Paula o quadro no de ameaa de abortamento. Se fosse o caso, no
necessitaria de internao hospitalar, mas sim de atendimento ambulatorial
especializado e repouso domiciliar.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 33
A assertiva B est incorreta, pois os sintomas manifestados por Paula no
condizem com abortamento infectado, pois, nesse caso, as manifestaes
clnicas mais frequentes seriam: elevao da temperatura, sangramento genital
com odor ftido acompanhado de dores abdominais ou eliminao de pus atravs
do colo uterino. Se fosse o caso, necessitaria encaminhamento para servio de
mdia complexidade.
A assertiva C est incorreta, pois os sintomas manifestados por Paula no
condizem com o quadro de abortamento completo, visto que Paula nega perdas
vaginais; se fosse o caso seria encaminhada para servio de mdia
complexidade.
A assertiva D est incorreta, pois Paula nega perdas vaginais o que
caracterizaria o abortamento em curso. No caso de abortamento
incompleto/inevitvel, Paula necessitaria de atendimento em servio de mdia
complexidade.
Comentrio referente a assertiva correta
Os sintomas observados pela enfermeira durante a visita domiciliar esto
descritos na literatura da rea da sade, como sugestivos de complicaes de
abortamento retido ou abortamento infectado/sptico (provocado). Os mesmos
devem ser atendidos em ambiente hospitalar em carter de emergncia.
ABORTAMENTO RETIDO
Em geral, o abortamento retido cursa com regresso dos sintomas e sinais
da gestao, o colo uterino encontra-se fechado e no h perda sangunea. O
exame de ultrassom revela ausncia de sinais de vitalidade ou a presena de
saco gestacional sem embrio (ovo anembrionado). Pode ocorrer o abortamento
retido sem os sinais de ameaa. Pode ser tratado utilizando-se o misoprostol ou,
quando o tamanho uterino corresponder gestao com menos de 12 semanas,
pode-se empregar a tcnica de aspirao manual intrauterina (AMIU).
1
ABORTAMENTO INFECTADO
Com muita frequncia, est associado a manipulaes da cavidade uterina
pelo uso de tcnicas inadequadas e inseguras. Essas infeces so
polimicrobianas e provocadas, geralmente, por bactrias da flora vaginal. So
34 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
casos graves e devem ser tratados, independentemente da vitalidade do feto. As
manifestaes clnicas mais frequentes so: elevao da temperatura,
sangramento genital com odor ftido acompanhado de dores abdominais ou
eliminao de pus atravs do colo uterino. Na manipulao dos rgos plvicos,
pelo toque vaginal, a mulher pode referir bastante dor, e deve-se sempre pensar
na possibilidade de perfurao uterina. Os seguintes exames podem ser
necessrios para melhor avaliao da mulher, bem como para seu seguimento:
hemograma com contagem de plaquetas; urina tipoI; coagulograma; hemocultura;
cultura da secreo vaginal e do material endometrial,tambm para anaerbios;
raios-x do abdome; ultrassonografia plvica ou de abdometotal; e tomografia,
principalmente para definir colees intracavitrias. No tratamento, fundamental
o restabelecimento das condies vitais com solues parenterais ou com
sangue, principalmente se a hemoglobina for inferior a 8g%. Iniciar
antibioticoterapia, junto com as medidas de suporte, dando preferncia aos
quimioterpicos de largo espectro. Pode ser utilizado um anaerobicida
(metronidazol 500mg-1g, IV, a cada 6 horas, por 7-10 dias, ou clindamicina 600-
900mg, IV, a cada 6-8 horas, por 7-10 dias), associado com um aminoglicosdeo
(gentamicina 1,5mg/Kg, dose IV ou IM, a cada 8 horas, por 7-10 dias, ou
amicacina 15mg/Kg/dia, IV ou IM, a cada 6-8 horas, por 7-10 dias). O
esvaziamento uterino, naqueles teros com tamanho compatvel com gestao de
at 12 semanas, deve ser realizado, preferencialmente, por aspirao manual
intrauterina (AMIU), por apresentar menores taxas de complicaes, reduzida
necessidade de dilatao cervical e promover a aspirao do material infectado.
Na realizao desse procedimento, atentar para o fato de que a perda do vcuo
pode significar perfurao uterina prvia. Na impossibilidade do uso da AMIU,
pode-se empregar a curetagem uterina; em ambas, o esvaziamento uterino deve
ser feito sob infuso de ocitocina. Nos casos mais graves, acompanhados de
peritonite e que demoram a dar resposta satisfatria, deve-se proceder a
laparotomia exploradora e, se necessrio, realizar retirada de rgos plvicos. A
persistncia de febre aps os cuidados iniciais pode traduzir abscessos plvicos
ou tromboflebite. Nesse caso, indica-se a utilizao da heparina.
1
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 35
ABORTAMENTO COMPLETO
Geralmente, ocorre em gestaes com menos de oito semanas. A perda
sangunea e as dores diminuem ou cessam aps a expulso do material ovular. O
colo uterino (orifcio interno) pode estar aberto e o tamanho uterino mostra-se
menor que o esperado para a idade gestacional. No exame de ultrassom,
encontra-se cavidade uterina vazia ou com imagens sugestivas de cogulos. A
conduta, nesse caso, de observao, com ateno ao sangramento e/ou
infeco uterina. Quando persiste o sangramento, ou a mulher deseja interromper
a perda sangunea, deve ser realizada aspirao manual intrauterina (AMIU) e, na
falta dessa, a curetagem uterina.
ABORTAMENTO INEVITVEL/INCOMPLETO
O sangramento maior que na ameaa de abortamento, que diminui com a
sada de cogulos ou de restos ovulares, as dores costumam ser de maior
intensidade que na ameaa e o orifcio cervical interno encontra-se aberto. O
exame de ultrassom confirma a hiptese diagnstica, embora no seja
imprescindvel.
Em gestaes com menos de 12 semanas, pelo tamanho uterino, indica-se
a AMIU, por ser mais segura e permitir o esvaziamento mais rpido. Quando no
for possvel empregar essa tcnica, realiza-se a curetagem uterina. Em teros
compatveis com gestao superior a 12 semanas, emprega-se o misoprostol na
dose de 200mcg de 12 em 12 horas, via vaginal, em ciclos de 48 horas de
tratamento, com trs a cinco dias de intervalo, podendo ser associado induo
com ocitocina. Aps a expulso, estando o tero compatvel com gestao com
menos de 12 semanas, faz-se a AMIU ou realiza-se a curetagem uterina.
Tambm importante avaliar a perda sangunea e, se extremamente necessrio,
far-se- transfuso sangunea.
Referncias
1. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Aes Programticas Estratgicas. rea Tcnica de Sade da Mulher.
Ateno Humanizada ao Abortamento: norma tcnica/Ministrio da Sade,
Secretaria de Ateno Sade, Departamento de Aes Programticas
Estratgicas Braslia: Ministrio da Sade; 2005.
36 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 21
Joana, terceira filha de me fumante crnica, nasceu de parto cesariana, com
idade gestacional de 36 semanas, pesando 1800 gramas e com insuficincia
respiratria moderada. Segundo a Norma de Ateno Humanizada do Recm-
Nascido (RN) de baixo peso: Mtodo Me-Canguru (Portaria 693/2002), qual a
conduta correta da enfermeira no seu plano de assistncia?
(A) Garantir a aplicao do mtodo, aps deciso consensual entre me,
familiares e profissionais de sade; e capacitar a famlia para reconhecer
situaes de risco do RN, nos primeiros 15 dias.
(B) Ensinar me e famlia os cuidados com o RN e assegurar purpera
visita irrestrita no berrio; iniciar a segunda etapa do programa, caso a
criana atinja ganho ponderal de 10 gramas/dia.
(C) Incentivar contato pele a pele entre a me e a criana, imediatamente aps o
parto, orientando a colocao do RN sobre o trax da me para incentivar o
aleitamento materno e estreitar o vnculo afetivo.
(D) Orientar a me e a famlia sobre as condies de sade do RN, estimular
livre e precoce acesso dos pais Unidade Neonatal e propiciar o contato ttil
sempre que possvel, acompanhado pela equipe nos primeiros cinco dias.
(E) Iniciar as medidas para estmulo amamentao, os cuidados com as
mamas, a ordenha manual e a armanezagem e administrao do leite ao
RN.
Gabarito: D
Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi
Canabarro
Comentrio:
A assertiva correta a letra D, pois nela constam de forma adequada
orientaes pertinentes que sero dadas famlia durante o perodo de
adapato a uma nova condio.
O "Mtodo Canguru" um tipo de assistncia neonatal que implica o
contato pele a pele precoce entre a me e o recm-nascido de baixo peso, de
forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente,
permitindo, dessa forma, uma maior participao dos pais no cuidado ao seu
recm-nascido. A posio canguru consiste em manter o recm-nascido de baixo
peso, ligeiramente vestido, em decbito prono, na posio vertical, contra o peito
do adulto. S sero considerados como "Mtodo Canguru" aquelas unidades que
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 37
permitam o contato precoce, realizado de maneira orientada, por livre escolha da
famlia, de forma crescente, segura e acompanhado de suporte assistencial por
uma equipe de sade adequadamente treinada.
1
Considerando a enfermeira como membro da equipe de sade que
participa da implementao do cuidado ao recm-nascido de baixo peso, em uma
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), no Mtodo Canguru seu plano de
assistncia deve atender etapas que esto descritas em:
http://dtr2001.saude.gov.br/PORTARIA.
Na primeira etapa do Mtodo Canguru, alm da assertiva correta
contextualizada na questo 21, so cuidados especiais a serem seguidos:
Nessa etapa, devero ser iniciadas as medidas para estmulo
amamentao. Dessa forma, devem ser ensinados os cuidados com as mamas, a
ordenha manual e a respectiva armazenagem do leite. Deve ser implantada a
coparticipao da me no estmulo suco e na administrao do leite
ordenhado, alm dos adequados cuidados de higienizao.
Nas situaes que as condies clnicas da criana permitirem, dever ser
iniciado o contato pele a pele direto, entre me e criana, progredindo at a
colocao do recm-nascido sobre o trax da me ou do pai.
Na equipe multiprofissional que assiste o recm-nascido observa-se a
recomendao de cobertura de assistncia do enfermeiro nas 24 horas.
Salienta-se que a e segunda etapa do Mtodo Canguru ser em enfermaria
conjunta e a terceira etapa prev o acompanhamento ambulatorial.
No Manual de Ateno humanizada ao recm-nascido de baixo peso:
Mtodo Canguru, revisado em 2009, destaca-se o compromisso das equipes de
sade na notificao de nascimento de bebs de baixo peso para a rede bsica
de sade e ESF, assim como promover encontros que permitam ampliar a rede
de apoio ao beb e sua famlia
2
o que representa um avano na humanizao da
assistncia.
A assertiva A est incorreta, pois conforme descrito na Portaria 693/00
so necessrios os primeiros cinco dias aps o parto para prestar todos esses
ensinamentos me e famlia. Portanto, deve ser assegurado purpera a
permanncia na unidade hospitalar, pelo menos durante esse perodo,
propiciando-a todo o suporte assistencial necessrio.
38 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
A assertiva B est incorreta quando relaciona o incio da segunda etapa
do mtodo ao ganho ponderal de 10g/dia; na Portaria, entre os critrios para a
implantao dessa etapa, a criana deve ter tido um ganho de peso mdio de
15g/dia.
A assertiva C est incorreta, pois a implantao do Mtodo deve ser de
forma crescente, respeitando as condies clnicas de um recm-nascido de
baixo peso; no caso do filho de Joana, alm do baixo peso e idade gestacional
precoce ainda apresenta insuficincia respiratria, necessitando, portanto, de
assistncia imediata (logo aps o parto). As etapas de implantao tero incio to
logo o quadro clnico seja estvel.
A assertiva E est incorreta, pois considerando o quadro clnico descrito
acima, a enfermeira corretamente deve priorizar no seu plano de assistncia:
orientar a me e a famlia sobre condies de sade do RN, estimular livre e
precoce acesso dos pais Unidade Neonatal e propiciar o contato ttil sempre
que possvel, acompanhado pela equipe nos primeiros cinco dias. No entanto, o
incio das medidas de estimulao, amamentao e demais cuidados, visando a
oferta de leite materno ao RN, representam igual importncia sendo inclusive
descritas na 1 Etapa do Mtodo
1
.
OBSERVAO:
NO TEXTO ORIGINAL DA PROVA, na alternativa E a palavra
armazenagem est ortograficamente incorreta: armanezagem.
Na Portaria n693 Artigo 1, refere-se ao Mtodo Canguru e no como
consta na questo 21 Me-Canguru.
A portaria encontrada que normatiza e orienta a implantao do Mtodo
Canguru a de n693 de 5 de julho de 2000, e no de 2002.
Referncias
1. Portaria n 693 de 5 de julho de 2000. Dispe sobre a norma para a
implantao do Mtodo Canguru, destinado a promover a ateno
humanizada ao recm-nascido de baixo peso. Dirio Oficial da Unio, 5 de
julho de 2000.
2. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. rea de Sade
da Criana. Ateno humanizada ao recm-nascido de baixo peso: Mtodo
Canguru/ Ministrio da Sade, Secretaria de Ateno Sade, rea Tcnica da
Sade da Criana. Braslia: Ministrio da Sade, 2009. 238 p. (Srie A. Normas e
Manuais Tcnicos; n. 145)
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 39
Instrues:
(A) as duas afirmaes so verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
As questes de nmeros 22 e 23 contm duas afirmaes.
Assinale, no Carto-Resposta, a alternativa correta de acordo
com a seguinte chave:
(B) as duas afirmaes so verdadeiras e a segunda no justifica a primeira.
(C) a primeira afirmao verdadeira e a segunda afirmao falsa.
(D) a primeira afirmao falsa e a segunda afirmao verdadeira.
(E) as duas afirmaes so falsas.
40 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 22
A enfermeira Tulipa orienta os auxiliares de enfermagem que prestam assistncia
s gestantes de alto risco a verificar a presso sangnea braquial em posio
sentada, considerando que a presso mais baixa quando a gestante est
deitada
PORQUE
na posio supina ocorre aumento do dbito cardaco, do fluxo sangneo tero-
placentrio, do fluxo sangneo renal e da excreo de gua e sdio pela urina.
Gabarito: C
Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Marisa Reginatto Vieira e Simone Travi
Canabarro
Comentrio:
A primeira afirmao est correta porque a tomada da presso arterial
(PA) deve ser sempre na mesma posio, sentada ou decbito lateral esquerdo
(DLE) e nunca em posio supina (deitada de costas).
Considera-se tambm que devido s alteraes na medida da presso
arterial em diferentes posies, atualmente recomenda-se que a medida da
presso arterial em gestantes seja feita na posio sentada. A determinao da
presso diastlica dever ser considerada na fase V de Korotkoff. Eventualmente,
quando os batimentos arteriais permanecerem audveis at o nvel zero, deve-se
utilizar a fase IV para registro da presso arterial diastlica.
1
Quando a PA verificada em gestantes, e torna-se necessria a medida na
posio deitada, deve-se utilizar o decbito lateral esquerdo, evitando a
compresso dos grandes vasos abdominais, o que pode levar a desconforto e
alteraes dos valores.
Os fisiologistas consideram que a PA de repouso equivale presso basal,
e deve ser obtida aps um perodo de suspenso de estmulos fsicos,
metablicos, mentais e emocionais .
Um repouso de cinco minutos na posio de medida recomendado, alm
de orientar para no fumar, comer, e at mesmo falar.
2
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 41
A segunda afirmativa est incorreta. Correto seria o oposto do afirmado,
ou seja, na posio supina acontece a diminuio do dbito cardaco, do fluxo
sanguneo tero-placentrio, do fluxo sanguneo renal e da excreo de gua e
sdio pela urina
Presso arterial = a presso que o sangue exerce dentro das artrias. H
cinco fatores principais que normalmente conservam a presso:
1. A fora de contrao do corao
2. A resistncia perifrica
3. Volume do sangue circulante
4. Viscosidade
5. Elasticidade da parede dos vasos
A presso de um indivduo varia de hora em hora e de dia para dia, sendo
geralmente mais baixa durante o sono. Sofre geralmente elevaes durante
exerccios e emoes.
A presso arterial mais baixa quando o indivduo est deitado e mais alta
quando o indivduo est sentado ou de p.
3
Dbito cardaco= quantidade de sangue que cada lado do corao
bombeia por minuto. O dbito cardaco se altera com a atividade
4
.
A medida da presso arterial durante a gravidez deve ser feita em
condies de repouso, com a paciente na posio sentada ou em decbito lateral
esquerdo, evitando assim, a compresso aortocava pelo tero aumentado
5
.
A compresso aortocava reduz o retorno venoso para o ventrculo direito,
reduzindo o dbito cardaco. Essa queda deve-se ao fato de estudos terem sido
realizados com gestantes em decbito dorsal horizontal. Os autores ainda relatam
que estudos realizados com grvidas em decbito lateral mostraram que tal
queda no ocorre.
O dbito cardaco expresso pela frmula DC= frequncia cardaca X
volume sistlico. O incremento do dbito cardaco na gestao ocorre, tanto pelo
aumento da frequncia cardaca como do volume sistlico. O volume sistlico
est aumentado pelo maior retorno venoso para o corao, que ocasionado
pela elevao da volemia na gravidez. A frequncia cardaca sofre um acrscimo
na ordem de 10-16 batimentos por minuto e pode estar relacionada ao incremento
42 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
da fora motriz condicionada pelo efeito inotrpico positivo dos estrgenos sobre
a fibra muscular cardaca
6
.
O sistema cardiovascular se caracteriza na gravidez pela sndrome
hipercintica, com alteraes expressivas, principalmente no dbito cardaco. Os
principais parmetros a serem avaliados so:
a) O dbito cardaco comea a aumentar no primeiro trimestre, atingindo
sua sobrecarga em torno da 30 a 32 semana. Seu aumento se destina a garantir
um incremento do fluxo uteroplacentrio. Pode estar relacionado com o aumento
do consumo de oxignio e tambm a queda da resistncia perifrica. O volume
eritrocitrio tambm aumenta. Como o aumento da volemia superior ao seu
incremento, ocorre a hemodiluio, com a queda de hemoglobina no hematcrito.
Portanto, a gravidez impe sobrecarga crescente e inexorvel para o sistema
cardiorrespiratrio materno cujo conhecimento essencial na assistncia
gestante.
b) A presso arterial sistmica produto do dbito cardaco pela
resistncia perifrica. Na gestante, embora ocorra o aumento do dbito cardaco,
determinado pelo incremento da volemia, a presso arterial apresenta queda
significativa, principalmente no segundo trimestre. Na gravidez normal, o sistema
renine-angiotensina-aldosterona est ativado e mesmo com o aumento do dbito
cardaco e da angiotensina II, h surpreendente queda da resistncia vascular
perifrica. Esse fato ocorre em funo, tanto da instalao do leito placentrio,
quanto da ao da progesterona e de prostaglandinas vasodilatadoras.
Decorrente desse fato frequente o encontro de nveis pressricos baixos em
gestantes. Essa situao se reverte com o simples decbito lateral
6
.
Modificaes do Sistema Urinrio no perodo gestacional
Anatmicas= desde o incio da gestao, o aumento do corpo uterino
antevertido determina compresso dos ureteres ao nvel do trgono vesical e
maior irritabilidade do detrussor, causando polaciria. Com o progresso da
gestao, o tero atinge a cavidade abdominal, passando a comprimir os ureteres
ao nvel da linha inominada, resultando em dilatao dos clices, bacinetes e
ureteres. O lado direito mais afetado devido dextro-rotao do tero gravdico.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 43
Funcionais = O aumento do fluxo plasmtico renal aumenta a taxa de
filtrao glomerular, determinando clearences maiores em relao a mulher no
gestante. Esse fato associado a hemodiluio, determina diminuio nas taxas de
ureia, cido rico e creatinina. Durante a gestao normal ocorre uma reteno de
sdio. Entre os fatores que auxiliam na reteno esto a aldosterona, o hormnio
placentrio, a prolactina, o cortisol e a postura ortosttica e dorsal. Os fatores
excretores do sdio so a progesterona, o aumento da filtrao glomerular, o
hormnio antidiurtico e o decbito lateral (principalmente o esquerdo). Essa
posio facilita o retorno venoso, aumenta o fluxo renal, revertendo quadros de
edema, alm de melhorar o fluxo tero-placentrio.
6
Portanto, considerando a reviso da literatura explanada acima, a
afirmativa correta seria: na posio supina acontece a diminuio do dbito
cardaco, do fluxo sanguneo tero-placentrio, do fluxo sanguneo renal e da
excreo de gua e sdio pela urina. E essa posio deve ser evitada durante o
perodo gestacional, inclusive para verificao da presso arterial.
Referncias
1. V Diretrizes Brasileiras de Hipertenso Arterial. Arq Bras Cardiol 2007; 89(3):
e24-e79.
2. Araujo T L de, Arcuri, EAM. Influncia de fatores antomo-fisiolgicos na
medida indireta da presso arterial: identificao do conhecimento dos
enfermeiros. Rev Latino Am Enfermagem, Ribeiro Preto, v. 6, n. 4, outubro 1998,
p. 21-29.
3. Veiga DA, Crossetti, MGO. Manual de tcnicas de enfermagem. Porto
Alegre: DC Luzzatto; 1991 p. 52.
4. Macey,R.I. Fisiologia Humana. So Paulo: Edgard Blucher; 1979.
5. Freitas,F. et al. Rotinas em Obstetrcia. Porto Alegre: Artes Mdicas; 1993.
p. 145-146.
6. Zugaib M e Sankovski M. O Pr-Natal. So Paulo: Atheneu; 1994. p. 55-59
e p. 563.
44 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 23
Lucas, quatro anos, foi admitido no Pronto Socorro Peditrico apresentando
freqncia respiratria de 55 incurses por minuto, temperatura de 38,8 C, tosse
intermitente e queixa de dor torcica direita agravada pela inspirao profunda e
que irradia para o abdome. Dentre os cuidados, a enfermeira colocou a criana
em decbito lateral direito e instalou uma tenda com oxignio fria
PORQUE
a imobilizao do trax afetado reduz o atrito pleural, minimizando o desconforto,
e a umidificao hidrata as vias areas, criando uma atmosfera que impede a
reduo de temperatura.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 45
Instrues:
Alice tem 28 anos e chegou ao Pronto Socorro com seu filho Mateus de um ano e
trs meses, com histria de duas internaes hospitalares por pneumonia. A
criana freqenta uma creche municipal e h dois dias apresenta diarria, febre
intermitente, bradipnia, vmito e perda de peso. Foi encaminhada pela Unidade
Bsica de Sade com tratamento do Plano C para desidratao, j tendo recebido
uma dose de antitrmico e recebendo soro de re-hidratao oral 15 mL/kg/hora
por sonda nasogstrica. Aps alguns exames clnicos e laboratoriais, Alice foi
informada de que Mateus est com tuberculose pulmonar. Ao ser esclarecida de
que o diagnstico havia sido confirmado pela identificao do Bacilo de Kock no
lavado gstrico, Alice mostrou-se convencida de que Mateus contraiu tuberculose
h uma semana, atravs do leite materno de uma conhecida que o amamentou
uma nica vez. Alice foi orientada sobre a fisiopatologia, o tratamento e a
preveno da doena de Mateus.
Considere o caso para responder s questes de nmeros 24 e
25.
46 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 24
Considerando o pensamento do educador Paulo Freire, essa ao educativa teve
qual abordagem e objetivo?
(A) Biologicista, com informaes a respeito do modo de transmisso da doena
para corrigir a convico de Alice em relao ao meio pelo qual Mateus foi
infectado.
(B) Dialgica, com a transformao dos saberes existentes, ajudando Alice a
compreender por si mesma o modo de transmisso da tuberculose.
(C) Higienista, com a instituio de medidas de precauo para interromper a
cadeia de transmisso da doena na famlia e na comunidade.
(D) Construtivista, com a demonstrao Alice de seu desconhecimento e a
este atribuindo como uma das causas do adoecimento de Mateus, visando
ao aprimoramento de sua conduta.
(E) Paternalista, com a incluso de Alice num programa de apoio econmico,
garantindo seus direitos e a construo de sua cidadania.
Gabarito: B
Autoras: Beatriz Regina Lara dos Santos e Olga Rosaria Eidt
Comentrio:
Paulo Freire, educador brasileiro, precursor da Educao Popular, prope a
humanizao das relaes e a libertao dos homens, destacando a educao
solidria, dialogada, sem arrogncia e supremacia do educador. Defende a
educao, no como mera reposio de contedos, mas como a associao da
teoria e do vivido, de modo que o educando seja o sujeito de seu prprio
desenvolvimento, com liberdade e autonomia.
Sua teoria se apoia em seis
pressupostos:
Toda ao educativa deve, necessariamente, estar precedida de reflexo
sobre o homem e de uma anlise do meio de vida do educando;
A educao deve levar o educando a uma tomada de conscincia e atitude
crtica no sentido de haver mudana da realidade;
Atravs da integrao do homem com o seu contexto, haver a reflexo, o
comprometimento, a construo de si mesmo e o ser sujeito;
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 47
medida que o homem se integra s condies de seu contexto de vida,
realiza reflexo e obtm respostas aos desafios que se apresentam, criando
cultura;
O homem criador de cultura, fazendo histria, pois na medida em que ele
cria e decide, as fases vo se formando e reformando;
necessrio que a educao permita que o homem chegue a ser sujeito,
construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer relaes de
reciprocidade, fazer cultura e histria;
1
Dos pressupostos emergiram alguns conceitos, entre eles destacam-se o de
problematizao que supe a ao transformadora, partindo de situaes vividas
e implica um retorno crtico a essas; e o de dilogo, entendido como condio
bsica para o conhecimento, pois acredita que o ato de conhecer se d num
processo social, sendo mediado pelo processo dialgico.
1
A educao em sade pode e deve ser aplicada em qualquer ambiente
onde so executadas as atividades e aes de cuidado, constituindo uma
ferramenta de promoo da sade. Os profissionais devem possuir uma viso
integral das necessidades de sade do sujeito. Paulo Freire afirmava que o ato de
ensinar no condizente com a transferncia de conhecimentos, mas sim com a
possibilidade de produo e construo deste pelo sujeito. Portanto, a Educao
para a Sade deve gerar possibilidades de conscientizao, visando o
desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade no cuidado da sade e
engendrando a transformao social, com vistas qualidade de vida.
2
A assertiva A est incorreta, pois a abordagem Biologicista condizente
com o modelo de prtica de Educao para a Sade tradicional, historicamente
hegemnico, focalizando a doena e a interveno curativa, preconizando a
mudana de atitudes e comportamentos individuais.
3
A assertiva B est correta, pois a educao dialgica, conforme Paulo
Freire, condio bsica para a produo do conhecimento, visando o
desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos sujeitos no cuidado da
sade, no pela imposio do saber tcnico, mas sim pelo desenvolvimento da
reflexo e compreenso da situao de sade
3
, a partir do mundo vivido.
A assertiva C est incorreta, pois a abordagem Higienista refere-se ao
discurso sanitrio brasileiro do sculo XIX, o qual se alicerou em torno da
48 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
moralidade e disciplinamento higinico, principalmente, nos hospitais, hospcios e
escolas.
A assertiva D est incorreta, pois o construtivismo pressupe que
nenhum sujeito uma tbua rasa, ou seja, que todos possuem um
conhecimento prvio. Quanto a culpabilizao dos sujeitos, individualmente, pela
ocorrncia de agravos sade, referida nesta alternativa, uma caracterstica da
abordagem biologicista e no da construtivista.
A assertiva E est incorreta, pois na abordagem tradicional que a
comunicao entre profissionais e usurios se caracteriza pelo carter informativo
e atitude paternalista, na qual os primeiros explicitam hbitos e comportamentos
que devem ser assumidos pelos usurios para manuteno da sade.
Referncias
1. Miranda KCL, Barroso, MGT. A contribuio de Paulo Freire prtica e
educao crtica em enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem [on-line]. 2004,
v. 12, n. 4, p. 631-635.
2. Silva JLL. Educao em sade e promoo da sade: a caminhada dupla
para a qualidade de vida do cliente. Informe-se em promoo da sade, v.1, n.1,
jul-dez 2006. p.3.
3. Alves VS. Um modelo de educao em sade para o Programa Sade da
Famlia: pela integralidade da ateno e reorientao do modelo assistencial.
Interfase (Botucatu). 2005, v.9, n.16, p.39-52.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 49
QUESTO 25
Considere as aes a serem recomendadas pelas enfermeiras que atenderam
Mateus no PS e na UBS:
I. Puncionar veia perifrica em Mateus para instalar a hidratao na fase de
expanso, colocar coletor de urina, iniciar balano hdrico e inserir a me
como uma unidade de cuidado.
II. Instalar cateter de oxignio nasal FiO2 2 Litros/minuto, fazer controle da
saturao de oxignio, manter Mateus em quarto com presso negativa e
promover atividades para fortalecer vnculo me e criana.
III. Notificar o caso Vigilncia Epidemiolgica do municpio, identificar
sintomticos respiratrios entre os comunicantes adultos e verificar a
situao vacinal das crianas da creche e da famlia de Mateus.
IV. Realizar desinfeco da creche, manter o ambiente ventilado, restringir o
uso dos brinquedos de pano e de pelcia e realizar visita domiciliar
supervisionando as condies de higiene e iluminao natural da casa de
Mateus.
Esto corretas APENAS as aes apresentadas em
(A) I e III.
(B) I e II.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.
Gabarito: A
Autoras: Karen Ruschel e Ftima Rejane Ayres Florentino
Comentrio:
Todos os anos, aproximadamente 2 milhes de crianas ao redor do
mundo morrem de diarreia. No Brasil a diarreia infantil ainda uma das principais
causas de morte entre as crianas, principalmente por representar o principal fator
associado desidratao.
1,2
A desidratao caracteriza-se pela reduo de lquido no espao
extracelular resultante da baixa oferta de lquidos ou perda hidroeletroltica. Pode
ser classificada de acordo com o nvel srico de sdio ou atravs dos sinais
clnicos apresentados. Na desidratao moderada (Quadro 1) a perda de peso
50 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
estimada de 5-10% do peso corporal total, representando um dficit de 50-
100mL/Kg.
3,4
O tratamento a ser institudo deve considerar o grau de desidratao, o
nvel de sdio e a correo das perdas hidroeltrolticas.
Quadro 1. Classificao clnica do grau de desidratao em crianas
Leve Moderada Grave
Estado Geral Irritada, com sede,
dorme mal e pouco
Mais agitada, muita
sede, raramente dorme
Deprimida, comatosa,
no chora mais
Boca Seca, lbios vermelhos,
lngua seca e saburrosa
Muito seca, lbios s
vezes cianticos
Lbios cianticos
Olhos Normais Fundos Muito fundos
Lgrimas Presentes Ausentes Ausentes
Fontanela Normal Deprimida Muito deprimida
Pele Quente, seca,
elasticidade normal
Extremidades frias,
elasticidade diminuda.
Pele fria, acinzentada,
elasticidade muito
diminuda
Pulsos Normais Finos Muito finos
Enchimento
capilar
Normal (at 3s) Lentificado (3-10s) Muito lentificado (>10s)
Perda de
peso
2,5 a 5% 5-10% >10%
Dficit
estimado
25-50mL/Kg 50-100mL/Kg >100mL/Kg
Fonte: Barbosa AP, Sztajnbok J, J Pediatria, 1999
Com relao tuberculose a estimativa de prevalncia est em torno de 50
milhes de infectados com o surgimento anual de 130.000 novos casos, o que a
configura como uma doena grave, e que reflete o estgio de desenvolvimento
social do pas, onde os determinantes do estado de pobreza, e as limitaes de
organizao do sistema de sade inibem a queda das doenas marcadas pelo
contexto social.
5
O aspecto positivo est na probabilidade de cura em aproximadamente
100% dos casos quando os princpios do tratamento so seguidos
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 51
adequadamente. A quimioterapia deve estar na dose correta, ser usada por
tempo suficiente e quando possvel sob superviso. De acordo com o Ministrio
da Sade esses so os meios para evitar a persistncia bacteriana e o
desenvolvimento de resistncia s drogas, assegurando assim a cura do
paciente. Em crianas, a tuberculose apresenta as manifestaes clnicas mais
variadas, entretanto h predomnio da localizao pulmonar. O principal sinal na
maioria dos casos a febre, que geralmente apresenta-se moderada, persistente
por mais de 15 dias e frequentemente vespertina. Ainda so comuns sinais de
irritabilidade, tosse, perda de peso, sudorese noturna, s vezes profusa. A
hemoptise rara. Em geral, a suspeita de tuberculose feita em casos de
pneumonia que no apresentam melhora com o uso de antibiticos para germes
comuns.
5-7
Fazer o diagnstico e tratar o mais rpido possvel a tuberculose uma
importante medida prtica para salvar vidas e recuperar a sade dos infectados.
Antes da quimioterapia 50% dos doentes no tratados evoluam ao bito, 25%
dos doentes tornavam-se crnicos e os demais, curavam-se espontaneamente.
Hoje, o mtodo de reduo da tuberculose na sociedade a busca de casos
novos e o tratamento/acompanhamento intensivo.
5,7
A afirmativa I est correta, porque a necessidade de reposio por via
endovenosa esta relacionada com a perda de lquidos do espao intravascular.
Essa fase denominada de expanso e o principal objetivo do tratamento ser
fornecer lquido a esse espao na tentativa de restabelecer o equilbrio
hidroeltroltico. Para incio da reidratao endovenosa necessrio a instalao
de acesso venoso perifrico e o acompanhamento do estado hdrico deve ser
feito atravs do controle de diurese, monitoramento do peso dirio e balano
hdrico.
2,8
A monitorizao da perfuso perifrica, turgor, sinais vitais assim como os
sinais de sobrecarga tambm devem constar no plano de cuidados. Quando
indicado solues criativas devem ser usadas para estimular a criana com a
ingesto de lquidos como: jogos, copos coloridos, mamadeiras prprias, etc. Para
os lactentes a amamentao deve ser incentivada.
8,9
52 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
importante salientar que a desidratao multifatorial o que refora a
necessidade da educao da famlia e da criana com vistas preveno de
novos episdios, sempre envolvendo a me no processo de cuidado.
A afirmativa II est incorreta, pois a criana no apresenta sinais de
insuficincia/comprometimento respiratrio que justifiquem a suplementao de
oxignio via cateter nasal.
A afirmativa III est correta, porque dentre as aes do enfermeiro na
ateno a tuberculose esto: identificao de sintomticos respiratrios, inspeo
vacinal das crianas comunicantes (BCG) e comunicao Vigilncia
Epidemiolgica que tem como objetivo o controle, a eliminao e a erradicao
das doenas transmissveis.
5
A tuberculose uma doena que possui alta probabilidade social, uma vez
que, tem fortes componentes sociais e econmicos. Pessoas com baixa renda,
que vivem em comunidades urbanas densas, com precrias condies de
habitao e famlias numerosas, tm probabilidade de se infectar, adoecer e
morrer por tuberculose. Igualmente com alta probabilidade so as instituies
fechadas, entre elas as creches.
5
Portanto, importante fazer a busca entre contatos, que compreende todas
as pessoas que coabitam com um paciente com tuberculose. Os comunicantes de
doentes bacilferos tm maior probabilidade de adoecer. Exames de baciloscopia
de escarro, prova tuberculnica nos contatos e exame radiolgico so condutas
prioritrias. Um sistema de registro dos sintomticos respiratrios deve ser
implantado para avaliao dos parmetros da demanda, assim como a aplicao
da vacina BCG nas crianas quando indicado.
7
A afirmativa IV est incorreta, pois as crianas comunicantes j foram
expostas ao bacilfero quando ele estava no ambiente. Realizar a desinfeco da
creche, manter o ambiente ventilado e restringir o uso dos brinquedos de pano e
de pelcia so cuidados desnecessrios uma vez que aps o incio do tratamento,
se seguido adequadamente, o risco de contgio mnimo. Uma das aes do
enfermeiro orientar pacientes e familiares quanto ao uso da medicao,
esclarecendo dvidas e desmistificando tabus e estigmas que permeiam a
tuberculose.
7
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 53
Referncias
1. Victora Parte inferior do formulrio CG. Diarrhea mortality: what can the
world learn from Brazil? J Pediatria 2009; 85(1): 3-5.
2. Almeida FA , Sabats AL. Enfermagem peditrica: a criana, o adolescente
e sua famlia no hospital. So Paulo: Manole; 2008.
3. Evora PRB, Reis Cl, Ferez MA, Conte DA, Garcia LV. Distrbios do
equilbrio hidroeletroltico e do equilbrio acidobsico Uma reviso prtica.
Med, Ribeiro Preto 1999; 32: 451-69.
4. Barbosa AP, Sztajnbok J. Distrbios hidroeltrolticos. J Pediatria 1999;
75: 223-33.
5. Brasil. Ministrio da Sade. Fundao Nacional de Sade. Centro de
Referncia Professor Hlio Fraga. Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia. Controle da tuberculose: uma prposta de integrao ensino-servio.
5.ed. Rio de Janeiro: FUNASA/ CRPHF/ABT, 2002.
6. Ministrio da Sade. Fundao Nacional de Sade. Plano Nacional do
Controle da Tuberculose. Brasilia: MS/FUNASA; 1999.
7. Brasil. Ministrio da sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Ateno Bsica. Vigilncia em Sade: Dengue, Esquistossomose,
Hansenase, Malria, Tracoma e Tuberculose. 2. ed Braslia: MS, 2008.
8. Winkelstein W, Hockenberry, MJ. Wong fundamentos de enfermagem
peditrica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2006.
9. Ministrio da Sade. Secretaria Municipal de Sade. Servio de Sade
Comunitria do GHC. A Ateno Sade da Criana de Zero a Doze Anos de
Idade. Porto Alegre: SMS, 2009.
54 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 26
No Pronto Socorro Municipal, a populao que aguardava atendimento revoltou-
se ao perceber que um homem de 40 anos, casado e com quatro filhos, que
estava na sala de espera, aproximadamente h 4 horas, faleceu antes de ser
atendido. Este acontecimento foi noticiado pela mdia e mobilizou os
trabalhadores e o gestor do Pronto Socorro a discutirem propostas de melhoria do
atendimento. Considerando os princpios norteadores da Poltica Nacional de
Humanizao, estiveram em pauta as seguintes aes:
I. Acolhimento da demanda por meio de critrios de avaliao de risco.
II. Garantia do acesso referenciado aos demais nveis de assistncia.
III. Organizao da fila de espera, considerando a idade do usurio.
IV. Definio de protocolos clnicos adequados.
Esto corretas APENAS as aes propostas em
(A) I e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, II e IV.
(D) II, III e IV.
(E) III e IV.
Gabarito: C
Autoras: Beatriz Sebben Ojeda e Vera Beatriz Delgado
Comentrio:
A questo trata dos princpios norteadores da Poltica Nacional de
Humanizao (PNH) na qual a Humanizao torna-se o eixo norteador das
prticas da Ateno e Gesto em todas as instncias do Sistema nico de Sade
(SUS)
1
. Portanto, deve ser entendida como uma poltica transversal em toda a
rede do SUS, que orienta sobre os traduzindo princpios e modos de operar no
conjunto das relaes entre profissionais e usurios, com vistas a alcanar a
qualificao da ateno e da gesto em sade no SUS
2:7
. A questo centra-se
nas diretrizes especficas para implementao do PNH na Urgncia e
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 55
Emergncia, nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos, na Assistncia Pr-
Hospitalar e outros.
A Ao I, conforme consta nas diretrizes est correta, tendo em vista que o
SUS trabalha com o acolhimento da demanda por meio de critrios de avaliao
de risco.
A Ao II tambm est correta. Conforme o PNH os servios de Urgncia e
Emergncia, nos Pronto-Socorros, Pronto-Atendimentos, Assistncia Pr-
-Hospitalar e outros devero comprometer-se com a referncia e contra-
-referncia aumentando a resoluo da urgncia e emergncia, provendo o
acesso estrutura hospitalar e a transferncia segura conforme a necessidade
dos usurios
2:14
.
A Ao III est incorreta. Com a implementao da PNH a proposta
reduzir as filas e o tempo de espera com ampliao do acesso e atendimento
acolhedor e resolutivo baseados em critrios de risco. propsito do SUS o
reconhecimento da diversidade do povo brasileiro e a todos oferecer a mesma
ateno sade, sem distino de idade, etnia, origem, gnero e orientao
sexual.
A Ao IV est correta, pois conforme a PNH, os servios devero ter seus
protocolos clnicos, garantindo a eliminao das intervenes desnecessrias,
respeitando as diferenas e necessidades especficas de cada usurio.
Portanto, aes I, II e IV esto corretas, correspondendo alternativa C da
questo.
Referncias
1. BRASIL Ministrio da Sade. Legislao do SUS. Lei n.8.080/90.
Disponvel em: <http://www.saude.gov.br>.
2. Brasil. Ministrio da Sade. HumanizaSUS: Poltica Nacional de
Humanizao. Braslia: Ministrio da Sade, 2004. (Srie B. Textos Bsicos de
Sade) 20 p. Disponvel em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf>.
56 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 27
O diretor do Distrito de Sade "Salveiros", aps avaliar o Sistema nico de
Sade, concluiu que este no est atendendo satisfatoriamente o princpio bsico
da integralidade e solicitou que os enfermeiros gerentes das unidades de sade
da regio apresentassem propostas para reverso dessa situao. Foram
apresentadas as seguintes propostas:
I. A enfermeira do Pronto Socorro sugeriu que o PS tenha vacinas disponveis
para atender vtimas de acidentes evitando, com isso, que esses pacientes
sejam encaminhados a outro servio para receber esses cuidados
profilticos.
II. A enfermeira do Hospital Geral sugeriu a implantao da consulta de
enfermagem na alta hospitalar com protocolos prprios que garantam ao
paciente orientaes sobre os cuidados necessrios e a preveno de novos
agravos no perodo de convalescena.
III. A enfermeira da Unidade de Sade da Famlia props a ampliao das
equipes do PSF com a incluso de profissionais das especialidades mdicas
mais procuradas pela populao.
IV. A enfermeira da Unidade Bsica de Sade props a anulao da delimitao
da rea de abrangncia, de modo que os pacientes procedentes de qualquer
parte do municpio, e at fora dele, pudessem se vincular a qualquer unidade
de sua escolha.
Esto corretamente articuladas com o conceito de integralidade do SUS APENAS
as propostas
(A) I e II porque reduzem a dicotomia entre as aes curativas e preventivas nos
servios de sade.
(B) III e IV porque oferecem mais servios e a um maior nmero de pessoas.
(C) I e III porque os usurios atendidos por mdicos especialistas na rede bsica
necessitaro, cada vez menos, de Pronto Socorro.
(D) III e IV porque prevem o atendimento da populao holisticamente.
(E) I e II porque no falam dos direitos do cidado brasileiro e sim da ampliao
de servios.
Gabarito: A
Autoras: Beatriz Regina Lara dos Santos e Vera Beatriz Delgado
Comentrio:
As aes e servios de sade que integram o Sistema nico de Sade
(SUS) so desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituio
Federal e os princpios que constam na Lei n 8.080 de 19 de setembro de 1990,
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 57
que dispe sobre as condies para promoo, proteo e recuperao da sade,
a organizao e o funcionamento dos servios de sade. O princpio da
integralidade da assistncia refere-se ao conjunto articulado e contnuo das aes
e servios preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os nveis de complexidade do sistema.
1
Atualmente, a questo da integralidade representa um dos maiores
desafios nas prticas em sade, pois no apenas uma diretriz do SUS definida
constitucionalmente, mas pode ser vista como uma imagem-objetivo, com vrios
sentidos: uma crtica a atitude mdica fragmentria, a um sistema que privilegia a
especializao e a segmentao; a dimenso das prticas, buscando
compreender o conjunto das necessidades de aes e servios de sade que um
paciente apresenta para alm da ateno individual curativa, necessitando que
sejam incorporadas aes de promoo e preveno na ateno sade, assim
como a articulao com aes curativas e reabilitadoras; o modo de organizar
as prticas, criticando a separao entre prticas de sade pblica e prticas
assistenciais, entre aes de sade coletiva e ateno individual, entendendo a
integralidade como horizontalizao dos programas; o modo de organizar o
processo de trabalho em sade, buscando contnua ampliao da possibilidade
de apreenso e satisfao das necessidades de um grupo populacional,
articulando a ateno demanda espontnea com a oferta programada de
ateno sade, proporcionando ampliao da eficincia; o acesso s tcnicas
de diagnstico e tratamento necessrias a cada caso quando necessrio,
articulao a partir da ateno bsica aos meios de diagnstico e ateno
especializada quando necessrio, de ampliao de acesso ao sistema de sade e
de resolutividade da ateno; e articulao intra e intersetorial para a busca de
solues para problemas e busca de qualidade de vida.
2
Portanto, a questo da integralidade representa, hoje, o maior desafio nas
prticas em sade, no como questo institucional ou poltica, mas como desafio
cultural, para romper com formas cristalizadas de se entenderem e realizarem
aes tcnicas, identificadas com formas especializadas de desempenho tcnico
e profissional, visando cura.
2
Ela A integralidade uma bandeira de luta, um
enunciado de certas caractersticas do sistema de sade, de suas instituies e
de suas prticas que so consideradas desejveis. Ela tenta falar de um conjunto
58 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
de valores pelos quais vale lutar, pois se relacionam a um ideal de uma sociedade
mais justa e mais solidria.
3
Os itens I e II esto corretos, pois pressupe a horizontalizao do
modo de organizar as prticas, evitando a separao entre aes de sade
pblica e assistenciais, ou seja, intervenes de cura e de preveno de agravos
sade.
2
O item III esta incorreto, pois a Poltica Nacional de Ateno Bsica
determina consolidar e qualificar a estratgia de Sade da Famlia como modelo
de Ateno Bsica, constituindo a porta de entrada preferencial do SUS e sendo o
centro ordenador das redes de ateno sade do sistema.
Para a implantao
das equipes de Sade da Famlia necessria a existncia de uma equipe
multiprofissional composta no mnimo por mdico, enfermeiro, auxiliar ou tcnico
de enfermagem e agentes comunitrios de sade.
4
Portanto, nas equipes de
Sade da Famlia no est prevista a incluso de profissionais das especialidades
mdicas, estes devem estar sediados nos servios de referncia.
O item IV est incorreto, pois a Poltica Nacional de Ateno Bsica tem
como um de seus fundamentos possibilitar o acesso universal e contnuo a
servios de sade de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de
entrada preferencial do sistema de sade, com territrio adscrito de forma a
permitir o planejamento e a programao descentralizada, e em consonncia com
o princpio da equidade.
4
Compete s Secretarias Municipais de Sade e ao Distrito Federal
organizar, executar e gerenciar os servios e aes de Ateno Bsica, de forma
universal, dentro do seu territrio, incluindo as unidades prprias e as cedidas
pelo estado e pela Unio.
4
Referncias
1. Brasil. Presidncia da repblica. LEI N 8080, 19 DE SETEMBRO DE 1990.
Braslia: Casa Civil; 1990.
2. Brasil. Ministrio da Sade. Integralidade da Ateno Sade. Braslia:
Secretaria de Ateno Sade. Departamento de Ateno Bsica; 2003.
3. Pinheiro R, Mattos RA. Os sentidos da integralidade na ateno e no
cuidado sade. Rio de Janeiro: ABRASCO; 2001.
4. Brasil. Ministrio da Sade. Poltica Nacional de Ateno Bsica. Braslia:
Secretaria de Ateno Sade. Departamento de Ateno Bsica; 2006.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 59
QUESTO 28
Aps o cadastramento das famlias que compem a rea de abrangncia de uma
unidade de Sade da Famlia, as equipes se reuniram para definir as estratgias
de ao frente problemtica identificada: a elevada incidncia de jovens
usurios de drogas e de pessoas com transtorno mental e histria de internao
psiquitrica. Diante dessa situao, a equipe decidiu realizar uma pesquisa para
conhecer as dificuldades das famlias em cuidar dos indivduos com transtorno
mental. Do ponto de vista metodolgico, o que deve ser considerado para a
execuo dessa pesquisa?
(A) Considerar o sexo e a idade dos sujeitos como variveis dependentes do
estudo.
(B) Enviar questionrios s famlias para avaliar o grau de confiabilidade do
teste de hiptese.
(C) Implantar, antes da coleta de dados, um programa de capacitao das
famlias para que se instrumentalizem quanto s formas de ateno.
(D) Aplicar s pessoas com transtorno mental um teste que avalie o seu
desempenho cognitivo e categorize o tipo de ateno requerida.
(E) Elaborar um projeto justificando o problema, determinando objetivos e a
trajetria metodolgica.
Gabarito: E
Autoras: Karen Ruschel e Beatriz Regina Lara dos Santos
Comentrio:
Nos ltimos anos, a enfermagem tem aumentado o interesse em buscar
evidncias cientficas destinadas a resolver problemas complexos da prtica
assistencial. Esse modelo tem sido denominado de prtica baseada em evidncia,
no qual pesquisa e prtica clnica no esto mais dissociadas, elas integram a
experincia clnica individual melhor evidncia externa disponvel oriunda da
pesquisa sistemtica.
1
A busca do conhecimento cientfico cada vez mais tem sido norteada por
orientaes metodolgicas que tm por objetivo fornecer diretrizes para a
execuo e posterior anlise de resultados.
2
A anlise rigorosa dos mtodos
pelos quais as informaes cientficas so obtidas definida como a metodologia
60 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
cientfica que, quando adequadamente aplicada, define o caminho possvel para a
busca da melhor evidncia.
2,3
A metodologia cientfica embasa a elaborao dos projetos de pesquisa,
fornece estrutura para a busca da melhor evidncia, possibilita a reproduo dos
resultados pelos prprios pesquisadores ou por outros grupos da comunidade.
3,4
Na pesquisa cientfica, tudo tem incio com a formulao do problema de
pesquisa, que se originou de uma leitura prvia, de uma dvida no atendimento a
um paciente ou a uma comunidade, ou de uma sugesto para um projeto. A
objetividade e a simplicidade do problema so fatores de qualidade na elaborao
da pesquisa. Em qualquer caso a metodologia deve ser direcionada para a
obteno da resposta.
3,5
A alternativa A est incorreta, porque a varivel dependente a varivel
que o pesquisador est interessado em compreender, explicar ou prever.
6
Conforme o enunciado da questo o interesse da equipe conhecer as
dificuldades das famlias em cuidar dos indivduos com transtorno mental,
portanto a varivel dependente seria a dificuldade das famlias em cuidar dos
indivduos com transtorno mental. Sexo e idade dos sujeitos poderiam ser
variveis independentes desse estudo, visto que a causa presumida a varivel
independente, enquanto o efeito presumido denominado varivel dependente.
6
A alternativa B est incorreta, pois a confiabilidade o principal critrio
para a investigao da qualidade de um instrumento, ou seja, refere-se
consistncia com que o instrumento mede o atributo e no ao teste de hipteses
estatsticas. No que se refere ao teste de hipteses estatsticas, este proporciona
critrios objetivos para decidir se uma hiptese aceita ou rejeitada como
verdadeira.
6
Uma pesquisa com o objetivo de conhecer as dificuldades das
famlias em cuidar dos indivduos com transtorno mental no prev teste de
hipteses estatsticas.
A alternativa C est incorreta, pois a coleta de dados de um estudo
prossegue de acordo com um plano preestabelecido, o qual contempla os
procedimentos para recrutamento da amostra, a obteno dos consentimentos
necessrios para realizao da pesquisa e a capacitao dos pesquisadores para
a coleta de dados.
6
As famlias constituem os sujeitos do estudo, portanto no
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 61
devem ser capacitadas em momento anterior a coleta de dados da pesquisa, pois
tal fato poder interferir nos resultados obtidos.
A alternativa D est incorreta, porque o objetivo desta pesquisa
determina que o sujeitos do estudo so as famlias e no as pessoas com
transtorno mental.
A alternativa E est correta, porque todos os estudos partem de uma
questo de pesquisa, a meta encontrar uma questo relevante que possa ser
desenvolvida em um plano de estudo factvel e vlido.
4,5
Feita a pergunta, os
objetivos do trabalho devem ser estabelecidos e a trajetria metodolgica
construda. Aps a aprovao do projeto nas instncias regulatrias pertinentes a
coleta de dados/ interveno na populao em estudo deve ser iniciada.
Referncias
1. Pereira AL, Bachion MM. Atualidades em reviso sistemtica de
literatura, critrios de fora e grau de recomendao de evidncia. Rev
Gacha Enferm 2006 dez 27;(4):491-8.
2. Reis FB, Lopes AD, Faloppa F, Ciconelli, RM. A importncia da qualidade
dos estudos para a busca da melhor evidncia. Rev Bras Ortop 2008
43;(6):209-16.
3. Pearce N. A Short Introduction to Epidemiology. 2 ed. Wellington: Centre
for Public Health Research;2005.
4. Amatuzzi MLL, Amatuzzi MM, Leme LEQ. Metodologia cientfica: o desenho
da pesquisa Acta Ortop Brs 2003;11(1).
5. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady D, Hearst N, Newman TB.
Delineando a pesquisa clnica: uma abordagem epidemiolgica. 2. ed. Porto
Alegre: Artmed; 2003.
6. Polit DF, Cheryl TB, Hungler BP. Fundamentos de pesquisa em
enfermagem: mtodos, avaliao e utilizao. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2004.
62 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 29
Joo, dependente de drogas e contaminado pelo vrus HIV, atendido pela
enfermeira do ambulatrio de sade mental. Durante a consulta, revela que
enfermeiro da terapia intensiva da instituio e freqentemente injeta metade da
droga prescrita aos pacientes (opicio) em si prprio. Considerando a situao
descrita e os aspectos ticos e legais, preconiza-se que a enfermeira
I. esteja comprometida com a assistncia de enfermagem a Joo, sem
discriminao de qualquer natureza, abstendo-se de revelar esses informes
confidenciais a pessoas que no estejam obrigadas ao sigilo.
II. assuma a assistncia a Joo, cidado pleno de direitos e deveres, e reflita
que ele est sendo atendido como paciente e, como tal, independentemente
de sua patologia, tem direito ao sigilo de suas informaes e de seu
diagnstico.
III. garanta a assistncia a Joo e comunique o caso diretoria de enfermagem,
considerando que ele pode cometer danos prpria vida, de terceiros e ao
patrimnio da empresa, por integrar o quadro funcional do hospital.
IV. comprometa-se com a assistncia a Joo, mesmo sendo dilemtica a
situao, porm o denuncie ao Conselho Regional de Enfermagem, visando
a cumprir os preceitos ticos e legais da profisso.
Est correto APENAS o que se afirma em
(A) III e IV.
(B) II e IV.
(C) II e III.
(D) I e II.
(E) I e III.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 63
QUESTO 30
Reginaldo, 46 anos, portador de doena renal crnica, vai iniciar hemodilise trs
vezes por semana enquanto aguarda a chamada para se submeter a transplante
renal. Ele foi encaminhado para receber o esquema de vacinao contra hepatite
B, na Unidade Bsica de Sade prxima de sua residncia, onde recebeu a
primeira dose de 2 mL de vacina por via intramuscular profunda. A segunda dose
foi administrada aps intervalo de 30 dias, tendo sido agendada a terceira dose
para 180 dias aps a primeira, data em que Reginaldo se encontrava internado no
hospital devido a uma intercorrncia gastrintestinal. Sessenta dias aps a data
agendada compareceu UBS e solicitou o reincio do esquema de vacinao
porque havia ultrapassado os prazos estipulados no calendrio. Qual a conduta e
a orientao corretas a serem oferecidas a Reginaldo?
(A) Reiniciar o esquema de trs doses conforme solicitado pelo cliente porque a
interrupo do esquema anula os anticorpos anteriormente produzidos.
(B) Dar continuidade ao esquema administrando a terceira dose e agendando a
quarta dose, prevista para pacientes de grupos de risco, porque os pacientes
nesta condio tm menor produo de anticorpos.
(C) Reiniciar o esquema e acrescentar uma quarta dose, seis meses aps a
terceira, porque na repetio do esquema o organismo demora mais tempo
para desenvolver a memria celular contra a hepatite.
(D) Encerrar o esquema de vacinao administrando a terceira dose porque a
ampliao do intervalo entre as doses supre a necessidade da quarta dose,
se cumpridos os prazos iniciais.
(E) Substituir a vacinao por imunoglobulina especfica uma vez que o
esquema no pode ser reiniciado nem completado porque o paciente no
mais virgem da estimulao pelo antgeno.
Gabarito: B
Autoras: Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Ftima Rejane Ayres Florentino
Comentrio:
A hepatite B (HB) uma infeco viral transmitida por via parenteral, ou
sexual, em que ocorre necrose de hepatcitos, com potencial evoluo para
doena heptica crnica (cirrose) e desenvolvimento de carcinoma hepatocelular.
Segundo Romo Jr. (2003), sua prevalncia de 3,2% entre pacientes
submetidos hemodilise (HD) no Brasil, estando em declnio. Vrias medidas
64 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
foram responsveis pela diminuio da prevalncia de HB em HD, tais como: a
vacinao regular, a segregao dos portadores em salas separadas e o estrito
seguimento das medidas-padro de isolamento. A vacinao para HB, a despeito
da eficcia em adultos imunocompetentes, frequentemente produz ttulos
menores em renais crnicos sob tratamento substitutivo da funo renal. A baixa
resposta dos pacientes em dilise vacinao para HB um problema que
necessita vigilncia constante dos nveis de anticorpos contra o antgeno de
superfcie do vrus B (Anti-HBs), bem como um protocolo de revacinao. Estudos
anteriores mostraram ndice de soroconverso aps a vacinao de 52,9%,
sugerindo que disfuno do sistema imune se associa falncia renal.
3
Vrios fatores podem contribuir para a baixa resposta imune do paciente
renal crnico. Dentre eles esto a uremia, a diminuio na produo de
eritropoietina (EPO), a desnutrio, a idade avanada, baixa densidade do
TCR/CD3, a exposio a agentes inflamatrios e os tipos de alelos do antgeno
leucocitrio humano (HLA)
3,4
.
A imunidade celular est comprometida, pois a resposta a antgenos
cutneos est reduzida. Observa-se linfopenia e hipoplasia do timo em renais
crnicos, retardo da cicatrizao de feridas cirrgicas e diminuio da resposta
inflamatria. Existe uma situao imunolgica paradoxal durante a uremia, onde a
resposta inflamatria sustentada contrasta com um sistema de defesa ineficaz.
4
As alteraes na imunidade so partes responsveis pelo aumento da
incidncia de infeces que representam a segunda maior causa de mortalidade
em pacientes em dilise.
5
A probabilidade de indivduos em HD desenvolverem
ttulos adequados de anticorpos por aplicao intramuscular (IM), com 40g, no
esquema de administrao em 0,1 e 2 meses da vacina, foi de 66% aos 6 meses
do incio da vacinao. O esquema de vacinao contra HB preconizado pelo
Advisory Committee in Immunization Practices (ACIP) do Center of Disease
Control (CDC) para pacientes em HD de 40 g em 4 doses, nos intervalos de
zero, 1, 2 e 6 meses, por via IM (Protection against viral hepatitis.
Recommmendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP),
mesma recomendao sugerida pela RDC 154 , que recomenda que o doente
renal crnico deve proceder a UBS para realizao da imunizao contra Hepatite
B de acordo com o Programa Nacional de Imunizaes do MS no prazo de 30
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 65
dias aps o incio da terapia de substituio renal. Esquema, este, tambm
indicado por Daugirdas (1996).
6, 7,8
Aps a vacinao IM, 44 a 83% dos pacientes em HD desenvolvem ttulo
de Anti-HBs acima de 10 UI/ml.
8
A alternativa A est incorreta, pois a interrupo do esquema vacinal no
anula os anticorpos produzidos anteriormente.
9
A alternativa B correta, pois os pacientes com insuficincia renal crnica
tm uma resposta a vacina mais baixa (50 a 80%), sendo esta atribuda a baixa
imunidade e desnutrio.
9
A alternativa C est incorreta, pois no se reinicia esquema de vacinao e
o esquema vacinal de trs doses, com intervalo de um ms entre as doses, e
reforo aos 6 meses aps a primeira dose (esquema 0,1, e 6 meses).
9
A alternativa D est incorreta, pois no se encerra o esquema de vacina
para imunodeprimidos antes de completar quatro doses.
9
A alternativa E est incorreta, pois a imunoglobulina humana anti-hepatite
B (IGHAHB) indicada para pessoas no vacinadas aps a exposio ao vrus da
hepatite B como: recm-nascido, cuja a me tem sorologia positiva PA HBsAG
(antgeno de superfcie do vrus da hepatite B); acidente com ferimento de
membrana mucosa ou cutneo por instrumento perfuro cortante contaminado com
sangue positivo para HBsAG; contato sexual com pessoa que tem sorologia
positiva para HBsAG; vtima de abuso sexual.
9
Referncias
1. Morsch C, Vicari A, Jacoby T, Barros E. O controle de infeces na unidade
de dilise. In: Barros E, Manfro R, Thom F, Gonalves LF. Editores. Nefrologia
Rotinas, diagnstico e tratamento.3 ed. Porto Alegre: Artmed, ;2006. p. 514-
526.
2. Romo JE Jr, Pinto SWL, Canziani ME, Praxedes JN, Santello JL, Moreira
JCM. Censo SBN 2002: informaes epidemiolgicas das unidades de dilise do
Brasil. J Bras Nefrol; 2003; 25:187-98.
3. Stachowski J, Pollok M, Barth C, Maciejewski J, Baldamus CA. Non-
responsiveness to hepatitis B vaccination in haemodialysis patients:
association with impaired TCR/CD3 antigen receptor expression regulating co-
stimulatory processes in antigen presentation and recognition. Nephrol Dial
Transplant; 1994; 9:144-152.
4. Campos H, Abbud Filho M, Legendre C, Kreis H. Infeces em transplante
renal. In: Riella, MC. Princpios de Nefrologia e distrbios hidroeletrolticos.
4. ed. Rio de Janeiro Guanabara Koogan; 2003. p.974-987.
66 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
5. Bandeira, MF. Conseqncias hematolgicas da uremia. In: Riella, MC.
Princpios de Nefrologia e distrbios hidroeletrolticos. 4. ed. Rio de Janeiro
Guanabara & Koogan; 2003. p.691-704.
6. Protection against viral hepatitis. Recommendations of the Immunization
Practices Advisory Committee (ACIP). MMWR Recomm Rep; 1990;39 (RR-
2):1-26.
7. RDC 154. Braslia: Ministrio da Sade/ANVISA; 2005.
8. Leehey D, Cannon JP, Lentino JR. Infections. In: Daugirdas JT, Blake P, Ing,
TS. Handbook of dialysis. 4. ed. Philadelphia: Lippincott, Williams &Wilkins;
2007.p. 542-574.
9. Aranda, CMS. et al. Manual de procedimentos para vacinao. 4ed.
Braslia: Ministrio da Sade: Fundao Nacional de Sade; 2001.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 67
QUESTO 31
Antonio de Pdua, 25 anos de idade, foi levado Unidade Bsica de Sade por
um colega. Antonio trabalha h 90 dias em uma construo civil, apresenta-se
hoje com febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia
retroauricular, no relata histria de vacinao contra rubola. Reside em
alojamento da empresa com outros 10 trabalhadores, visitou a esposa e as filhas
no municpio vizinho h 30 dias. O caso foi notificado como suspeita de rubola. A
enfermeira da UBS fez algumas consideraes para orientar as medidas de
controle e preveno. Qual a alternativa que apresenta a justificativa e a deciso
corretas?
Justificativa Deciso
A
A maioria dos casos de rubola so
subclnicos, portanto, pouco importante a
busca de fonte de infeco e a observao
dos contatos. O perodo de incubao da
doena de 14 dias.
Colher sangue para sorologia dos colegas de
alojamento aps 14 dias do incio do caso ndice,
independentemente da presena de sintomas.
B
A articulao entre os municpios uma
atribuio da esfera estadual. As medidas
de controle dependem da intensidade dos
sintomas apresentados.
Elaborar e encaminhar proposta de interveno
especfica para o caso ao servio de vigilncia
epidemiolgica estadual que solicitar ao
municpio vizinho a execuo das aes de
proteo da famlia.
C
O Brasil tem como meta a eliminao da
rubola at o ano de 2010 e o Ministrio
da Sade planeja a campanha de
eliminao da rubola para 2008.
Aproveitar a oportunidade e realizar campanha
educativa e vacinao indiscriminada com dupla
viral independentemente do seu estado vacinal e
da idade de todos os comunicantes.
D
O perodo de transmissibilidade da rubola
de 5 a 7 dias antes e 7 dias aps o incio
do exantema. O modo de transmisso
respiratrio.
Recomendar que Antonio evite contato com
pessoas sem a doena por 7 dias para reduzir o
risco de transmisso viral, e iniciar aes de
vigilncia descartando a possibilidade de a
famlia ser a fonte de infeco.
E
A rubola benigna em homens. Acima
de dois casos notificados considera-se a
existncia de um surto, o que implica
maior risco de ocorrncia da Sndrome da
Rubola Congnita.
Recomendar a vacinao das filhas e da esposa
em at 72 horas e aguardar a ocorrncia de mais
casos para desencadear a vacinao dos
colegas de alojamento.
Gabarito: D
Autoras: Ftima Rejane Ayres Florentino e Isabel Cristina Kern Soares
Comentrios:
A resposta a letra D, pois o perodo de transmissibilidade, dessa doena
de cinco a sete dias antes do incio do exantema, aproximadamente, e pelo
68 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
menos de cinco a sete dias depois
1
, por isso da recomendao para que Sr.
Antonio evitasse contato com pessoas por sete dias.
A rubola uma doena exantemtica aguda causada por vrus, muito
contagioso, que se transmite com extrema facilidade. Seu agente infeccioso o
vrus que pertence ao gnero Rubirivus da famlia Togaviridae, tendo como
reservatrio o homem. Sua transmissibilidade de pessoa a pessoa, por meio de
contato direto com secrees da nasofaringe e de indivduos infectados.
2
Causa,
normalmente, febre baixa e exantemas, comeando no pescoo, que depois se
alastra para o tronco, pernas e braos. Esses exantemas surgem com maior
intensidade do segundo at o sexto dia. Pode ocorrer tambm dor no corpo,
cefaleia, coriza e tosse. O perodo de incubao varia de 14 a 21 dias. A mdia
de 17 dias.
1
Ela pode ser assintomtica, porm contagia pessoas suscetveis. Os vrus
so transmitidos de uma pessoa infectada para outra quando esta entra em
contato direto com as gotculas de secrees que saem do nariz e da boca da
pessoa infectada ao tossir, falar ou espirrar.
1
uma doena de suscetibilidade universal. Quando h imunidade ativa
esta pode ocorrer de duas maneiras: por infeco natural ou pela vacinao com
a vacina trplice viral que previne e d imunidade contra outras duas doenas
alm da rubola, que so o sarampo e caxumba; idade mnima para aplicao
de 12 meses e a idade mxima de 11 anos completos. O local de administrao
deltoide esquerdo pela via subcutnea na dosagem de 0,5 ml. Ou pela vacina
dupla viral que d imunidade contra a rubola e o sarampo, sendo necessrio ter
a idade mnima para aplicao de 12 anos e idade mxima de 49 anos.
administrada uma dosagem de 0,5ml e nas campanhas. O local de administrao
o mesmo da trplice viral.
2
Referncias
1. Brasil livre da rubola [Internet]. Ministrio da Sade. Acesso em
10/9/2009 s 12h22, disponvel em
http://www.brasillivredarubeola.com.br/rubeola.php#this.
2. Aranda MS de S.; et al. Manual de procedimentos para vacinao. 4 ed.
Braslia: Ministrio da Sade: Fundao Nacional de Sade; 2001. 303 p.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 69
QUESTO 32
Nadir, enfermeira auditora da Secretaria Municipal de Sade de Castro Alves,
analisou o consumo de hipoclorito de sdio 1% utilizado na desinfeco de artigos
de inaloterapia das Unidades Bsicas de Sade e apresentou em reunio tcnica
o grfico abaixo.
Considerando o grfico e que no houve mudana na quantidade de inalaes
realizadas no perodo de anlise, correto afirmar:
(A) A mdia mensal de consumo foi inferior ao esperado, portanto, h risco de
disseminao de microrganismos patognicos entre os usurios do servio.
(B) Os dados no podem ser utilizados isoladamente, sendo necessrio verificar
a ocorrncia de casos de doena respiratria nos usurios para estabelecer
o grau de risco decorrente da provvel baixa concentrao do cloro.
(C) A mdia mensal de consumo foi menor que o esperado, mas no oferece
risco de infeco respiratria aos usurios das unidades, porque nelas no
h circulao de microrganismos altamente patognicos.
(D) Os traados das duas mdias de consumo de hipoclorito se mantm
paralelos sugerindo que o padro de desinfeco vem se mantendo sem o
comprometimento da biossegurana.
(E) O consumo mdio mensal de hipoclorito est abaixo do esperado porque
algumas unidades estariam utilizando concentraes de cloro menores,
compensando com a imerso do material por mais tempo, sem oferecer,
entretanto, risco aos usurios.
Gabarito: A
Autoras: Andria da Silva Gustavo e Valria Lamb Corbellini
70 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
Comentrio:
Dentre os materiais mais utilizados em instituies de sade, encontramos
os dispositivos para macro e micronebulizao teraputica a base de oxignio
e/ou ar estril medicinal, procedimento comumente denominado de inaloterapia
e/ou oxigenoterapia. Estes artigos so confeccionados em material plstico termo-
-sensvel, sendo que, aps o uso, so submetidos aos processos de limpeza e
desinfeco com a utilizao de hipoclorito de sdio a 1% que so formulaes
comercializadas na forma lquida. Devem ser utilizados nas seguintes
concentraes e tempo de contato
1,2
:
I. Desinfeco/Descontaminao de Superfcies 10.000ppm ou 1%
de Cloro ativo 10 minutos de contato.
II. Desinfeco de Lactrios e utenslios de Servio de Nutrio e
diettica (SND) 200ppm ou 0,02% Cloro ativo 60 minutos.
III. Desinfeco de Artigos de Inaloterapia e Oxigenoterapia no
metlicos - 200ppm ou 0,02% a 0,5% de Cloro ativo - 60 minutos. Dispensando
enxgue.
IV. Desinfeco de Artigos Semicrticos 10.000ppm ou 1% de Cloro
ativo 30 minutos
2
.
As opes apresentadas na questo so:
(A) A mdia mensal de consumo foi inferior ao esperado, portanto, h risco
de disseminao de microrganismos patognicos entre os usurios do servio.
Questo correta. Tendo em vista que no houve mudana na quantidade
de inalaes realizadas no perodo de anlise, se esperaria o mesmo consumo
mnimo mensal. Portanto, h risco de disseminao de microrganismos
patognicos entre os usurios do servio, no havendo adequao no processo
de desinfeco.
(B) Os dados no podem ser utilizados isoladamente, sendo necessrio
verificar a ocorrncia de casos de doena respiratria nos usurios para
estabelecer o grau de risco decorrente da provvel baixa concentrao do cloro.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 71
Questo Incorreta. Deve-se realizar desinfeco com a concentrao
adequada em todo o material utilizado em inaloterapia, independente da anlise
de ocorrncia de casos de doena respiratria nos usurios.
(C) A mdia mensal de consumo foi menor que o esperado, mas no
oferece risco de infeco respiratria aos usurios das unidades, porque nelas
no h circulao de microrganismos altamente patognicos.
Questo Incorreta. Os artigos hospitalares so definidos conforme o grau
de risco de aquisio de infeces: crticos, semicrticos e no crticos.
2:12-13
Artigos crticos so aqueles que entram em contato direto com tecidos ou tratos
estreis; semicrticos, os que entram em contato com a pele no ntegra e
membranas mucosas; e no crticos aqueles que entram em contato com a pele
ntegra. Essa classificao norteia a escolha do processo de desinfeco ou
esterilizao a ser utilizado. Portanto, os artigos crticos devem ser submetidos ao
processo de esterilizao, os semicrticos no mnimo desinfeco e os no
crticos, somente necessitam de desinfeco de mdio ou baixo nvel, quando
reutilizados em pacientes. Conforme quadro abaixo os inaladores so
classificados como artigos semicrticos, portanto deve-se realizar a desinfeco
de forma adequada.
FONTE: Brasil. Orientaes Gerais para Central de Esterilizao. Ministrio da Sade. Secretaria
de Assistncia Sade. Srie A Normas e Manuais Tcnicos, n. 108. Braslia, 2001. Disponvel
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_gerais_central_esterilizacao_p1.pdf
Acesso em: 20/9/09.
72 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
(D) Os traados das duas mdias de consumo de hipoclorito se mantm
paralelos, sugerindo que o padro de desinfeco vem se mantendo sem o
comprometimento da biossegurana.
Questo Incorreta. No momento em que se tem um consumo esperado de
hipoclorito, tendo em vista o nmero de inaloterapias realizadas no servio e a
mdia mensal de consumo foi inferior, h inadequao no processo de
desinfeco comprometendo a biossegurana.
(E) O consumo mdio mensal de hipoclorito est abaixo do esperado
porque algumas unidades estariam utilizando concentraes de cloro menores,
compensando com a imerso do material por mais tempo, sem oferecer,
entretanto, risco aos usurios.
Questo Incorreta. A concentrao do hipoclorito e o tempo de contato
padro conforme o material que deva ser submetido ao processo de desinfeco.
Referncias
1. Brasil. Ministrio da Sade. ANVISA. Disponvel em:
http://www.anvisa.gov.br/busca/busca.asp?palavrachave=hipoclorito+de+s%F3dio
+1%25+ Acesso em: 20/9/09.
2. Brasil. Orientaes Gerais para Central de Esterilizao. Ministrio da
Sade. Secretaria de Assistncia Sade. Srie A Normas e Manuais
Tcnicos, n. 108. Braslia, 2001. Disponvel em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_gerais_central_esterilizac
ao_p1.pdf Acesso em: 20/9/09.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 73
QUESTO 33
O enfermeiro da unidade de clnica mdica do Hospital Cotinha necessita realizar
a previso mensal dos materiais utilizados em sua unidade. Considerando que o
consumo de equipos de soro nos ltimos 3 meses foi de 330 unidades e o
estoque de segurana de 20%, qual a cota mensal adequada de equipos de
soro para prover essa demanda?
(A) 396
(B) 300
(C) 132
(D) 110
(E) 100
Gabarito: C
Autoras: Karin Viegas e Maria Cristina Lore Schilling
Comentrio:
O aumento da competio no mbito dos servios de sade, os preos
definidos pelo mercado, a incluso de novas tecnologias e a busca pelo maior
controle das margens de comercializao dos servios, apontam para a
necessidade de um refinado gerenciamento de custos pelas instituies
hospitalares.
A atuao do enfermeiro na administrao de recursos materiais constitui
uma conquista no cenrio da sade e implica tomada de deciso, destacando a
importncia de seu papel na dimenso tcnico-administrativa inerente aos
processos de cuidar e gerenciar. O enfermeiro, ao assumir o gerenciamento das
unidades de atendimento e coordenar toda a atividade assistencial tem papel
significativo no que se refere determinao do material necessrio
consecuo da assistncia, tanto nos aspectos quantitativos, como nos
qualitativos, incluindo definio de especificao tcnica, anlise da qualidade dos
materiais, participao no processo de compra, controle e avaliao.
Assim, a participao do enfermeiro no processo de previso de materiais
para as unidades de assistncia constitui tarefa inerente sua prtica diria,
sendo, portanto que o enfermeiro deve ter domnio do conhecimento acerca da
administrao de materiais.
74 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
A previso de materiais, ou seja, a quantidade a ser requisitada pelas
unidades ao almoxarifado determinada pelo perfil de consumo de cada unidade,
estabelecendo-se uma cota de materiais que representa uma estimativa de
gastos por um determinado perodo. Ento, a estimativa do material a ser
comprado depende do consumo mensal das unidades hospitalares, cujos valores
so calculados com base aritmtica do consumo, podendo ser estimada pela
seguinte frmula:
CM = CMM +ES
onde:
CM = cota mensal
CMM = consumo mdio mensal
ES = estoque de segurana
Para aplicao desta expresso matemtica deve-se saber que o consumo
mdio mensal (CMM) a mdia dos valores do material utilizado nos ltimos
meses, dividida pelo nmero de meses. A cota mensal baseada na mdia
aritmtica mvel o mtodo mais usado no meio hospitalar, pois permite prever o
consumo para o prximo perodo, conforme o consumo mdio do perodo
anterior.
O perodo recomendado para se determinar o consumo mdio de no
mnimo trs meses e em algumas situaes, igual a 12 meses.
O estoque de segurana (ES) ou estoque mnimo a quantidade de cada
item que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do
atendimento, caso haja aumento brusco do consumo ou atraso no suprimento.
Para esse clculo acrescenta-se 10 a 20% do CMM.
Assim, para responder questo, utilizando-se a frmula citada acima,
temos:
CM= x equipos
CMM=110 equipos
ES= 22 equipos (20% de 110)
Ento: CM= 110 + 22
CM=132 equipos
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 75
Para a resoluo desta questo pode-se, ainda, optar pela aplicao de
uma regra bsica de trs, em que:
4,5
Equipos de soro em 3 meses = 330 unidades
Equipos de soro em 1 ms = 110 unidades
Estoque de segurana (20%) em 1 ms= 22 unidades
Cota mensal para promover a demanda = 110 unidades (1 ms) + 22
unidades (estoque de segurana - 20%)
Resposta: a cota mensal adequada de equipos de soro para prover
essa demanda de 132 unidades.
Referncias
1. Silva SP, Augusto R. Gesto de custos. In: Couto RC, Pedrosa TMG.
Hospital: acreditao e gesto em sade. Rio de Janeiro: Guanabra Koogan;
2007.
2. Castilho V, Gonalves VLM. Gerenciamento de recursos materiais. In:
Kurcgant P, coordenadora. Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2005.
3. Castilho V, Leite MMJ. A administrao de recursos materiais na
enfermagem. In: Kurcgant P. Administrao em enfermagem. So Paulo: EPU;
1991.
4. Filho OK, Fvaro S. Noes de lgica e matemtica bsica. Rio de
Janeiro: Cincia Moderna; 2005.
5. Iezzi G, Murakami C. Fundamentos da matemtica elementar: conjuntos,
funes. So Paulo: Atual; 2004.
76 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 34
Os usurios da Unidade Bsica de Sade de Linha Rosa chegam s 5 horas para
serem atendidos pelo mdico a partir das 8 horas da manh. Formam uma fila em
frente ao posto e quem chega primeiro tem mais chance de ser consultado. Os
graduandos em enfermagem da Faculdade Nightingale, em estgio curricular na
Linha Rosa, questionaram a organizao do atendimento e sugeriram equipe de
sade da Unidade que aplicasse os princpios da Poltica Nacional de
Humanizao (PNH). Como tais princpios eram desconhecidos, a gerente da
Unidade solicitou aos graduandos que orientassem equipe na implantao do
PNH. Usando os princpios da educao permanente, as aes educativas a
serem desenvolvidas devem priorizar a:
(A) aprendizagem significativa, tendo em vista o conhecimento prvio dos
trabalhadores da Linha Rosa referente organizao do servio.
(B) transmisso vertical do conhecimento por meio de aulas expositivas sobre
os princpios bsicos da PNH.
(C) participao de integrantes de servios humanizados, possibilitando a
reproduo dessa experincia na Linha Rosa.
(D) memorizao dos princpios bsicos da PNH para posterior implantao
pelos trabalhadores da Linha Rosa.
(E) explanao por especialistas que sintetize o contedo do PNH aos
trabalhadores da Linha Rosa, agilizando o processo de implantao.
Gabarito: A
Autoras: Beatriz Sebben Ojeda e Vera Beatriz Delgado
Comentrio:
Conforme orienta a Poltica Nacional de Educao Permanente em Sade,
o conceito de educao permanente est relacionado ao trabalho, s prticas de
formao e ao desenvolvimento profissional. Ou seja, prope que os processos
de educao dos trabalhadores da sade se faam a partir da problematizao do
processo de trabalho e considera que as necessidades de formao e
desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de sade
das pessoas e populaes.
1:20
No mbito da educao permanente, o ensinar e o
aprender tornam-se inerentes ao cotidiano das organizaes e do trabalho a
aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 77
cotidiano das organizaes e ao trabalho. Nessa perspectiva as unidades de
sade precisam promover a cultura de uma gesto participativa aos seus
trabalhadores e usurios que se concretiza por meio de um processo de
educao permanente.
A Alternativa A est correta porque, como prope a Poltica Nacional, a
Educao Permanente se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade
de transformao das prticas profissionais. Ela feita a partir dos problemas
enfrentados na realidade e leva em considerao os conhecimentos e as
experincias que as pessoas j tm.
1:20
Os processos de educao permanente
em sade propem a transformao das prticas profissionais e da organizao
do trabalho.
A Alternativa B est incorreta porque prope transmisso vertical do
conhecimento por meio de aulas expositivas na lgica de um modelo de
transmisso escolar, com a expectativa de que os conhecimentos adquiridos
sejam aplicados na prtica, o que no garante o alcance de tal resultado. Essa
modalidade de ensino no garante a aproximao do conhecimento com os
problemas prticos ou com os comportamentos presentes da realidade do cenrio
de prtica dos trabalhadores. Como abordado anteriormente essa estratgia se
distancia dos princpios da educao permanente que prope que a educao se
d no cotidiano trabalho, na reflexo permanente daquela realidade em busca da
soluo dos problemas e das mudanas.
A Alternativa C est incorreta porque considerando que a educao
permanente busca a transformao daquela realidade todo o processo de
educao permanente proposto para a linha Rosa dever estar voltado s
necessidades dos profissionais e da comunidade, bem como dever ser
construdo coletivamente, buscando alternativas para soluo de problemas e o
envolvimento da equipe e dos gestores daquele servio.
Conforme j discutido na Alternativa B e C, as Alternativas D e E tambm
esto incorretas, pois propem um modelo de educao centrado na transmisso
vertical do conhecimento, com a expectativa de que os conhecimentos adquiridos
sejam aplicados na prtica o que no garante o alcance de tal resultado, tendo
em vista que essa construo no possibilitou a participao dos atores
78 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
envolvidos, identificando necessidades desejos e interesses individuais e
coletivos.
Conforme descreve a Poltica Nacional de Educao Permanente, seus
critrios de educao esto pautados no prprio contexto social, sanitrio e do
servio, a partir dos problemas da prtica na vida cotidiana das organizaes; na
reflexo e participao voltada para a construo coletiva de solues de
problemas uma vez que eles no existem sem sujeitos ativos que os criam; na
orientao para o desenvolvimento e a mudana institucional das equipes e dos
grupos sociais, o que supe orientar para a transformao das prticas coletivas;
na estratgia de envolver mltiplos atores, como os trabalhadores dos servios,
os grupos comunitrios e os tomadores de deciso poltico-tcnicos do sistema
1
.
Referncias
1. Brasil. Ministrio da Sade. Poltica Nacional de Educao Permanente
em Sade. Braslia: Ministrio da Sade 2009 Srie B. Textos Bsicos de Sade
Srie Pactos pela Sade 2006, v. 9, p.59. Disponvel em:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume9.pdf.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 79
QUESTO 35
O Centro Dia de Convivncia de Idosos Vida Feliz com capacidade para atender
20 idosos, em cada perodo, teve aumento de procura por parte dos familiares de
idosos que apresentam seqelas de acidente vascular enceflico (AVE). A equipe
de sade do Vida Feliz reuniu-se para planejar as aes necessrias para acolher
esta demanda e optou por utilizar como instrumento a metodologia do
Planejamento Estratgico Situacional (PES). Considerando o PES, est
corretamente correlacionado o momento com a respectiva ao a ser
implementada pela equipe em:
Momento Ao
A
Reflexivo refletir sobre a dificuldade dos cuidadores
Ativo propor a interveno nas seqelas do AVE
Estratgico possibilitar o estabelecimento de um plano de ao
Ttico-operacional implementar as aes que foram propostas
B
Explicativo explicar a realidade do aumento da demanda
Normativo conceber um plano de ao para intervir nas seqelas do AVE
Estratgico estabelecer o plano de ao
Ttico-operacional implementar as aes que foram propostas
C
Explicativo explicar a realidade do aumento da demanda
Reflexivo refletir sobre a dificuldade dos cuidadores
Ativo propor a interveno nas seqelas do AVE
Estratgico possibilitar o estabelecimento de um plano de ao
D
Ativo propor a interveno nas seqelas do AVE
Normativo conceber um plano de ao para intervir nas seqelas do AVE
Estratgico possibilitar o estabelecimento de um plano de ao
Ao implementar as estratgias propostas
E
Reflexivo refletir sobre a dificuldade dos cuidadores
Normativo conceber um plano de ao para intervir nas seqelas do AVE
Estratgico possibilitar o estabelecimento de um plano de ao
Ativo propor a interveno nas seqelas de AVE
Gabarito: B
Autoras: Andria da Silva Gustavo e Maria Cristina Lore Schilling
Comentrio:
O principal objetivo da prestao de servios de sade a resoluo das
necessidades e problemas da populao, com o melhor aproveitamento da
infraestrutura e dos recursos humanos. Para tanto, o planejamento constitui uma
das ferramentas essenciais, cujo referencial terico aponta diferentes
abordagens.
80 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
O planejamento permeia as prticas de trabalho em trs situaes: como
instrumento ou atividade dos processos de gesto das organizaes,
considerando as articulaes necessrias para o desencadeamento dos
processos de trabalho nessas organizaes; como impulsionador de prticas
sociais transformadoras, a partir do estabelecimento de novas relaes sociais; e
como mtodo de ao governamental, no que se refere produo de polticas.
Na esfera da sade o Planejamento Estratgico Situacional (PES) surge a
partir da necessidade do reconhecimento da pluralidade de atores sociais em
conflito numa realidade complexa e dinmica.
Matus e Testa, como idealizadores dessa metodologia, entendem o
planejamento como uma ferramenta que possibilita o exerccio da
governabilidade, considerando-se a projeo para o futuro e o poder dos atores
sociais envolvidos na situao.
4,5
A rea da sade est inserida em um cenrio dinmico, no qual as
situaes de agravo e as necessidades modificam-se constantemente,
aumentando a complexidade na resoluo de problemas, bem como os desafios
dos atores envolvidos.
O PES um mtodo que foca o processamento dos problemas atuais e
dos problemas potenciais (ameaas e oportunidades) em diferentes esferas. E
processar problemas implica explicar a origem e o desenvolvimento de um
problema; estabelecer planos para atacar as causas do problema; analisar a
viabilidade poltica e/ou viabilizar sua execuo; e atacar o problema na prtica, o
que significa ter uma viso real dos problemas locais.
Assim, quando colocado em prtica, o PES desdobrado em quatro
momentos, que se inter-relacionam: o explicativo, o normativo, o estratgico e o
ttico-operacional.
O momento explicativo prope-se a explicar a realidade, mediante a
seleo de problemas relevantes, buscando-se a compreenso mais ampla
acerca da ocorrncia do problema com vistas ao desenvolvimento de um plano de
ao para resolv-lo.
,4,5
Essa etapa implica o estabelecimento de prioridades, por
meio da tomada de deciso, a partir da anlise das opes disponveis para
soluo do problema.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 81
Nesse momento os atores envolvidos, precisam lanar mo de
conhecimentos e ferramentas que auxiliam no processo, tais como: domnio do
processo de avaliao de estrutura, processo e resultado, conhecimento dos
recursos epidemiolgicos, do sistema de referncia e contrarreferncia, e do fluxo
dos usurios.
O segundo momento do PES, denominado normativo, refere-se
identificao das pessoas implicadas no problema e dos recursos disponveis
para o processo de soluo. Nessa etapa faz-se a projeo de cenrios em que
so mapeadas as variveis, considerando-se as melhores e as piores
possibilidades. Avalia-se a relao entre os poderes advindos da instncia
poltica, do conhecimento tcnico sobre o problema, da capacidade organizativa
dos envolvidos, e dos recursos financeiros para a viabilizao das operaes.
Assim, nesse momento, avaliam-se as possibilidades de soluo, definem-
-se as metas e prazos das operaes, bem como os responsveis pelo
desdobramento das aes para a soluo do problema.
O terceiro momento o estratgico, o qual permeia todos os momentos da
elaborao e execuo do plano. Consiste na construo da viabilidade, por meio
da identificao de atores favorveis execuo do plano e como estes dispem
dos recursos para sua viabilizao. um momento caracterizado pela negociao
poltica, que tem como pilar a anlise das intenes, do poder e dos recursos dos
atores envolvidos.
4
O quarto momento consiste no ttico-operacional, que representa a
implementao das aes propostas. essencial, nesse momento, adequar a
execuo do plano realidade em que se est inserido, para tornar factvel a
operao. Isto significa que a implementao das aes parte do plano e no
uma ao isolada ou posterior. Essa etapa pressupe constante reavaliao, para
ajustes das aes, considerando o contexto em que ocorre, o comportamento dos
atores envolvidos e os recursos disponveis para a soluo do problema.
Analisando-se a questo da prova que traz a situao do Centro Dia de
Convivncia de Idosos Vida Feliz, a resposta B apresenta os quatro momentos do
PES.
O momento explicativo, cuja ao : explicar a realidade do aumento da
demanda est relacionado ao contexto no qual ocorre o problema. Nesta etapa os
82 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
gestores devero tentar entender o problema a partir de uma anlise situacional.
Para tanto, devero conhecer o contexto de sade local, as caractersticas da
comunidade, os hbitos de sade e condies econmicas da populao que
busca o Centro Vida Feliz, a fim de estabelecerem as causas do aumento da
demanda de pacientes portadores de AVE.
O momento normativo corresponde ao: conceber um plano de ao
para intervir nas sequelas do AVE. A partir da anlise situacional, estimada a
necessidade de recursos humanos e fsicos para a concepo do plano.
Considerando a demanda aumentada de pacientes com sequelas de AVE,
buscando o servio, a estratgia seria estabelecer intervenes para minimizar as
sequelas desse agravo.
O momento estratgico representado pela ao: estabelecer o plano de
ao. Nesse momento, busca-se identificar a viabilidade ou construir a viabilidade
do plano de ao, por meio do gerenciamento do conflito e negociao.
O momento ttico-operacional corresponde ao: implementar as aes
que foram propostas, o que significa colocar em prtica a ao que trar a
soluo para o problema, considerando as caractersticas do cenrio e sua
viabilidade, mediante avaliao constante das aes.
Assim, percebe-se o PES como um mtodo de permanente exerccio de
dilogo e reflexo sobre os problemas que incidem em uma realidade, visando a
qualificao do gerenciamento dos processos em sade.
Referncias
1. Martnez GDP. Aplicaes da epidemiologia e avaliao econmica dos
resultados na gesto hospitalar. In: Malagn-Londoo G,Moreira, RG, Laverde
GP. Administrao hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
2. Mehry EE. Razo e planejamento. So Paulo: HUCITEC; 1994.
3. Ciampone MH, Melleiro MM. O planejamento e o processo decisrio como
instrumentos do processo de trabalho gerencial. In: Kurcgant P, coordenadora.
Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
4. Matus C. Poltica, planejamento e governo. Braslia: IPEA; 1996.
5. Testa M. Pensamento estratgico e lgica de programao: o caso da
sade. So Paulo: HUCITEC; 1995.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 83
QUESTO 36
A indstria automobilstica Aston-Brasil, com 3000 funcionrios, produz veculos
automotores em quantidade para suprir o mercado crescente e com qualidade
para diferenci-lo de seus competidores. No ltimo trimestre, apresentou alto
ndice de acidente de trabalho, acarretando preocupao administrao da
indstria. A assistncia sade dos trabalhadores sempre foi provida por uma
equipe multiprofissional de sade, que atua no ambulatrio da indstria, cada
profissional atendendo de forma independente em um consultrio, sem
interferncias de uma rea no trabalho da outra. O enfermeiro Nero foi designado,
pela administrao, para avaliar a situao. Solicitou equipe uma reunio para
propor a articulao das aes de sade para os trabalhadores da indstria e a
integrao dos profissionais na construo de planos de aes preventivas em
sade, o que gerou muitos conflitos na equipe. A administrao se dividiu
discutindo duas propostas: a primeira, proibir Nero de reunir a equipe
multiprofissional, pois cada profissional realiza de forma adequada seu trabalho
individualmente, e a segunda, estimular Nero a realizar novas reunies,
entendendo que a manifestao de conflitos saudvel no trabalho em equipe.
Quais teorias de administrao embasam, respectivamente, as propostas
discutidas?
(A) das Relaes Humanas e Cientfica.
(B) dos Sistemas e Clssica.
(C) Clssica e Cientfica.
(D) Estruturalista e das Relaes Humanas.
(E) Cientfica e Estruturalista.
84 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 37 - DISCURSIVA
O municpio Esperana recebeu da Secretaria de Estado da Sade o Hospital
Casa, que possui 150 leitos ativos para atendimento de mdia complexidade, com
a proposio de ser submetido ao processo de Acreditao Hospitalar da
Organizao Nacional de Acreditao (ONA), ligada ao Ministrio da Sade. A
enfermeira Florence Nri, gerente do Servio de Enfermagem (SE), reuniu-se com
a equipe de enfermagem do hospital com a finalidade de estabelecer padres de
qualidade para as unidades do SE. Para se adequarem aos parmetros da
Acreditao Hospitalar, devero estabelecer no Hospital Casa padres
especficos para o servio.
Apresente para o SE dois padres de qualidade referentes a estrutura, dois
referentes a processo e dois referentes a resultado.
(valor: 10,0 pontos)
Padro de resposta:
O graduando dever descrever dois padres referentes a estruturas/dois
referentes a processo/e dois referentes a resultado, dentre os abaixo
relacionados: (valor: 10,0 pontos)
Estrutura:
O SE tem responsvel tcnico habilitado.
Existe superviso contnua e sistematizada por profissional habilitado, nas
diferentes reas.
A chefia do servio de Enfermagem coordena a seleo e dimensionamento da
equipe de Enfermagem.
Nmero de enfermeiros, tcnicos e auxiliares de enfermagem so adequados
s necessidades de servio.
A escala da equipe de enfermagem assegura a cobertura da assistncia
prestada e a disponibilidade de pessoal nas 24 horas em atividades
descontinuadas.
H registros em pronturio dos procedimentos relativos assistncia de
enfermagem, prescrio mdica e controles pertinentes.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 85
Os registros de Enfermagem no pronturio do cliente/paciente so completos,
legveis e assinados.
Processo:
O(s) manual(is) de normas, rotinas e procedimentos do SE so
documentado(s), atualizado(s) e disponvel(is).
Os Programas de Educao Permanente e Treinamento continuado so
realizados.
Existem grupos de trabalho para a melhoria de processos, integrao
institucional, anlise crtica dos casos atendidos, melhoria da tcnica, controle de
problemas, minimizao de riscos e efeitos indesejveis.
Existem procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao
cliente/paciente e o seguimento de casos.
Resultado:
Avaliao de procedimentos de Enfermagem e de seus resultados.
Os Indicadores epidemiolgicos so utilizados no planejamento e na definio
do modelo assistencial.
realizada a comparao de resultados com referenciais adequados e anlise
do impacto gerado junto comunidade.
Existem sistemas de aferio da satisfao dos clientes internos e externos.
Autoras: Maria Cristina Lore Schilling e Janete de Souza Urbanetto
Comentrio:
A rea da sade tem adotado modelos de gesto voltados para a
qualidade, considerando as constantes modificaes no cenrio e os desafios na
gesto dos servios de sade.
A implementao de programas, visando garantir a qualidade uma
necessidade na busca da eficincia e um dever tico e moral com os usurios e
trabalhadores, pois toda instituio cuja misso essencial assistir o ser humano,
deve preocupar-se com a melhoria constante do atendimento.
No Brasil, a intensificao dos movimentos para a implantao de sistemas
de qualidade na sade se deu a partir da dcada de 90, por meio de um convnio
firmado entre a Organizao Pan-Americana de Sade (OPAS) e a Federao
86 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
Latino-Americana de Hospitais para a produo de um manual de Padres para
Acreditao para a Amrica Latina. Em 2001, foi criada pelo Ministrio da Sade
a Organizao Nacional de Acreditao (ONA), como instituio competente e
autorizada a operacionalizar o desenvolvimento da acreditao hospitalar no
Brasil. O instrumento utilizado para o programa Brasileiro de Acreditao
Hospitalar (PBAH) o Manual das Organizaes Prestadoras de Servios
Hospitalares, o qual define e descreve os padres de qualidade para os diversos
setores de um hospital. Os padres so estruturados em trs nveis crescentes de
complexidade, os quais devem ser atendidos plenamente.
O Nvel 1 corresponde estrutura e contempla o atendimento aos
requisitos bsicos da qualidade na assistncia prestada ao cliente, nas
especialidades e nos servios da organizao de sade a ser avaliada, com os
recursos humanos compatveis com a complexidade, a qualificao adequada
(habilitao) dos profissionais e responsvel tcnico com habilitao
correspondente para as reas de atuao profissional.
O Nvel 2 corresponde processo e contempla evidncias de adoo do
planejamento na organizao da assistncia, referentes documentao, corpo
funcional (fora de trabalho), treinamento, controle, estatsticas bsicas para a
tomada de deciso clnica e gerencial e prticas de auditoria interna.
O Nvel 3 corresponde resultado e contm evidncias de polticas
institucionais de melhoria contnua em termos de: estrutura, novas tecnologias,
atualizao tcnico-profissional, aes assistenciais e procedimentos mdico-
-sanitrios, evidncias objetivas de utilizao da tecnologia de informao,
disseminao global e sistmica de rotinas padronizadas e avaliadas com foco na
busca da excelncia.
Conforme o Manual das Organizaes de Servios Hospitalares, a equipe
de enfermagem responsvel pela assistncia contnua ao paciente nas 24
horas, desde a internao at a alta e que compreende: previso, organizao e
administrao de recursos para prestao de cuidados aos pacientes, de modo
sistematizado, respeitando os preceitos ticos e legais da profisso.
Assim, respondendo questo da prova, apresenta-se os padres de
qualidade referentes estrutura, a processo e a resultado, aplicados ao servio
de enfermagem.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 87
No que se refere estrutura o manual apresenta os seguintes itens de
orientao:
- Responsabilidade tcnica conforme legislao.
- Corpo de Enfermagem, habilitado e/ou capacitado, dimensionado
adequadamente s necessidades do servio.
- Superviso contnua e esquematizada por profissional habilitado, nas
diferentes reas.
- Chefia do servio coordena a seleo e dimensionamento da equipe de
Enfermagem.
- Escala assegura a cobertura da assistncia prestada e a disponibilidade
do pessoal nas 24 horas em atividades descontinuadas.
- Condies operacionais e de infraestrutura que atendem aos requisitos de
segurana para o cliente (interno e externo).
- Procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao paciente.
- Registros de enfermagem no pronturio, completos, legveis e assinados,
que comprovem a realizao da teraputica medicamentosa, resultados de
intervenes da enfermagem, orientaes e cuidados prestados.
- Identificao, gerenciamento e controle de riscos sanitrios, ambientais,
ocupacionais e relacionados responsabilidade civil, infeces e biossegurana.
No que se refere a processo o manual apresenta os seguintes itens de
orientao:
- Identificao, definio, padronizao e documentao dos processos.
- Identificao de fornecedores e clientes e sua interao sistmica.
- Estabelecimento dos procedimentos.
- Documentao (procedimentos e registros) atualizada, disponvel e
aplicada.
- Definio de indicadores para os processos identificados.
- Medio e avaliao dos resultados de processos.
- Programa de educao e treinamento continuado com evidncias de
melhoria e impacto nos processos.
- Grupos de trabalho para a melhoria de processos e interao institucional.
No que se refere a resultado o manual apresenta os seguintes itens de
orientao:
88 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
- Desenvolvimento de um sistema de indicadores de desempenho,
focalizando as perspectivas bsicas, com informaes ntegras a atualizadas,
incluindo referenciais externos pertinentes.
- Estabelecimento de uma relao causa e efeito entre os indicadores, que
permitam uma anlise crtica do desempenho e a tomada de deciso.
- Anlise de tendncia com apresentao de um conjunto de, pelo menos
trs resultados consecutivos.
- Identificao de oportunidades de melhoria de desempenho pelo
processo contnuo de comparao com outras prticas organizacionais, com
resultados positivos.
- Desenvolvimento de sistemas de planejamento e melhoria contnua em
termos de estrutura, novas tecnologias, atualizao tcnico-profissional e
procedimentos.
O processo de avaliao voluntrio e coordenado pela ONA, por
intermdio de instituies acreditadoras. Essas tm a responsabilidade de
proceder a avaliao e certificao da qualidade. Ao final do processo de
avaliao, a organizao hospitalar receber a certificao de nvel 1, como
Acreditado, de nvel 2, como Acreditado Pleno ou de nvel 3, como Acreditado
com Excelncia.
Referncias
1. Tronchin DMR, Melleiro MM, Takahashi RT. A qualidade e a avaliao dos
servios de sade e de enfermagem. In: Kurcgant P, coordenadora.
Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
2. Pedrosa TMG, Couto RC. Gesto hospitalar com garantia da qualidade II -
usando as normas de acreditao. In: Couto RC, Pedrosa TMG. Hospital:
acreditao e gesto em sade. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007.
3. Organizao Nacional de Acreditao. Manual Brasileiro de Acreditao -
Manual das Organizaes Prestadoras dos Servios de Sade. Braslia; 2006.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 89
QUESTO 38 - DISCURSIVA
Na reunio do conselho gestor da Unidade de Sade da Famlia So Leopoldo de
um municpio de pequeno porte um representante dos usurios trouxe a seguinte
situao para discusso:
"Meu vizinho usa cadeiras de rodas h 10 anos. Pensava que boa parte de seus
problemas estavam resolvidos uma vez que, aps muita luta, a prefeitura arrumou
transporte especial para deficientes fsicos. Assim ele no dependeria tanto da
ajuda de seu filho para algumas atividades. Porm, tentou colher sangue na UBS
e quase no conseguiu por dois motivos:
os horrios do transporte so poucos e no compatveis com o horrio da
coleta de sangue. Ele chegou atrasado 30 minutos, o que se repetir todas as
vezes que ele e outros deficientes estiverem nessa situao; e
a porta da sala de coleta muito estreita e a cadeira no passou. S
conseguiu colher o sangue porque a auxiliar de enfermagem foi muito
atenciosa e colheu o sangue fora do horrio e no corredor, recomendando
que da prxima vez ele chegue mais cedo. Ele agradece muito a auxilia,r mas
gostaria de uma soluo mais definitiva para este e outros casos
semelhantes."
Um representante dos trabalhadores explicou que: "este no era um problema do
Conselho. O nmero de cadeirantes muito pequeno na rea e afinal o cliente j
havia sido atendido. Alm disso, os exames so feitos em um laboratrio regional
e o horrio de coleta definido pelo servio encarregado de recolher o material
em vrias unidades."
Outro usurio discorda afirmando que: "o Conselho tem sim muito a ver com isso,
porque foi criado no SUS para atender as reclamaes da populao. No
podemos abrir mo dessa vitria, antes no tnhamos Conselho agora temos!"
a) Tendo como base as competncias de um conselho gestor, a afirmao "...
este no era um problema do Conselho" correta? Justifique sua resposta.
(valor: 5,0 pontos)
90 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
b) Apresente uma proposta de encaminhamento que a enfermeira da UBS
poderia adotar para atender a solicitao de "uma soluo mais definitiva
para este e outros casos semelhantes". Justifique sua proposta, tomando
como referncia as atuais polticas pblicas de sade e alicerando-se em
um dos conceitos a seguir:
intersetorialidade
acessibilidade
(valor: 5,0 pontos)
Padro de resposta:
O graduando dever apresentar alm da resposta (2 pontos) uma das
seguintes justificativas (3 pontos):
a) Resposta e Justificativa (valor: 5,0 pontos)
Resposta: No
Justificativa:
competncia do Conselho Gestor:
Acompanhar, avaliar e fiscalizar os servios e as aes de sade prestadas
populao.
Propor e aprovar medidas para aperfeioar o planejamento, a organizao, a
avaliao e o controle das aes e dos servios de sade.
Examinar proposta, denncias e queixas, encaminhadas por qualquer pessoa
ou entidades e a elas responder.
Definir estratgias de ao, visando integrao do trabalho da Unidade aos
planos locais, regionais, municipal e estadual de sade, assim como a planos,
programas e projetos intersetoriais.
O graduando dever apresentar uma proposta (3 pontos) e uma justificativa
(2 pontos) dentre as relacionadas abaixo.
b) Proposta e Justificativa (valor: 5,0 pontos)
Propostas:
Procurar o servio municipal de transporte especial e discutir a possibilidade de
horrios ou percursos alternativos de transporte.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 91
Buscar parcerias no municpio para efetivar a adequao da rea fsica da
UBS.
Identificar recursos da comunidade que so alternativos para transporte
solidrio.
Justificativa:
um dos princpios da promoo da sade a intersetorialidade entendida como
a articulao de saberes e experincias no planejamento, na realizao e na
avaliao de aes, com o objetivo de alcanar resultados integrados em
situaes complexas, visando um efeito sinrgico no desenvolvimento social.
o setor sade de forma isolada no tem competncia para solucionar muitos
dos problemas apresentados pela comunidade por no dispor de instrumentos
prprios para isso.
Propostas:
adaptao da rea fsica: identificar os locais de acesso possveis para os
cadeirantes e pessoas com outras deficincias de locomoo que possam ser
adaptados s atividades necessrias para os diferentes tipos de atividades que
esses usurios precisam.
adaptao das rotinas da UBS - flexibilizar os horrios de atendimento no setor
de coleta.
adaptao das rotinas da UBS - discutir a questo com o laboratrio regional.
sensibilizar funcionrios da UBS para a questo do acesso de deficientes na
UBS.
adequao da rea fsica legislao pertinente: avaliar com a equipe e os
usurios da UBS a planta fsica da Unidade, identificar as dificuldades de acesso
de pessoas com diferentes tipos de deficincia e procurando meios de
encaminhamento de reforma do prdio.
Justificativa:
independente do nmero de cadeirantes na regio os servios que atendem ao
pblico devem permitir o acesso de qualquer cidado. um direito de todo o
cidado.
propiciar a autonomia do indivduo.
92 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
os servios de sade ainda no esto estruturados para atender s
necessidades de pessoas com deficincia, a legislao pertinente ainda no
bem conhecida pelos trabalhadores da sade.
Autoras: Olga Rosaria Eidt e Marion Creutzberg
Comentrio:
O Conselho Gestor uma das expresses da participao social previstas
na Lei 8.080/90 e composto por representantes da comunidade e por
profissionais da equipe de sade (composio tripartide). Suas competncias
incluem planejar, avaliar e controlar a efetiva execuo das polticas e das aes
de sade, na sua rea de abrangncia, com base nos princpios da
universalidade, da integralidade e da equidade. Portanto, a afirmao do
conselheiro de que "... este no era um problema do Conselho", no correta,
pois a possibilidade universal de acesso ateno integral sade foi
desconsiderada e reforada a excluso desse cidado
1
.
Um dos aspectos para a garantia da universalidade a acessibilidade aos
servios de sade. Nesse caso, a acessibilidade por meio do transporte foi
conquistada, mas identifica-se, no relato, que a rea fsica no est adequada
legislao da acessibilidade. Portanto, h necessidade de que o Conselho Gestor,
por meio de suas competncias, busque a soluo do problema junto ao
municpio, para a adequao por meio de reforma. Independente de tal ao, o
estudo da rea fsica pela equipe indicado, para a identificao de locais que
garantam ou que possam ser adaptados prestao dos servios de sade a
cadeirantes ou a pessoas com outras dificuldades de locomoo
2
.
J a dificuldade relacionada ao horrio do transporte significa um embate
adicional em prol da populao que depende dos veculos que permitem a
acessibilidade e envolvem outro setor pblico o dos transportes. Nesse caso,
aes intersetoriais, previstas na Lei Orgnica da Sade, so imprescindveis. A
intersetorialidade tem por finalidade a implementao de polticas e programas de
interesse da sade, mas cuja execuo de responsabilidade de outras reas
no compreendidas pelo SUS e, nesse caso, incluiria a discusso de horrios ou
percursos alternativos.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 93
Tambm cabe nessa situao, na perspectiva do conceito de sade da 8
Conferncia, a parceria entre Conselho Gestor, equipe de sade e a comunidade,
a identificao recursos para transporte solidrio.
Referncias
1. Brasil. Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispe sobre as
condies para a promoo, proteo e recuperao da sade, a organizao e o
funcionamento dos servios correspondentes e d outras providncias.
2. Brasil. Lei n 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas
gerais e critrios bsicos para a promoo da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficincia ou com mobilidade reduzida, e d outras providncias.
94 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 39 DISCURSIVA
Ldia, uma estudante do ensino mdio, engravidou sem ter planejado. O pai do
beb, Tiago, tem 20 anos, no estuda e no tem residncia fixa, pois foi colocado
para fora de casa quando seu pai descobriu que usava drogas. Os pais de Ldia
esto respaldando-a financeiramente e, por no aceitarem a situao, pediram
jovem que fosse morar em uma penso. Apesar de o namoro continuar e de
Tiago estar procurando um emprego, dizendo-se "limpo" das drogas, ele no
assume a paternidade, afirmando que Ldia "nunca foi muito confivel". Os
resultados dos exames laboratoriais de Ldia no primeiro trimestre da gestao
mostraram VDRL e FTA-abs positivos, alm de colpocitologia onctica com
microbiologia sugestiva de Chlamydia sp.
a) Apresente trs aes destinadas a monitorar o tratamento do casal.
(valor: 5,0 pontos)
b) Ldia poder amamentar o beb? Fundamente sua resposta.
(valor: 5,0 pontos)
Padro de resposta:
O graduando dever apresentar:
a) Aes destinadas a monitorar o tratamento do casal e a prevenir a
transmisso vertical. (valor: 5,0 pontos)
Enfatizar a adeso ao tratamento.
Orientar para que concluam o tratamento (mesmo sem os sintomas ou se os
sintomas ou sinais tiverem desaparecido).
Informar quanto necessidade de interromper as relaes sexuais at a
concluso do tratamento e o desaparecimento dos sintomas.
Oferecer preservativos, orientando sobre as tcnicas de uso.
Encorajar Ldia a comunicar a (os) seus/suas ltimos/as parceiro/as sexuais
para que possam ser atendidos e tratados.
Fornecer Ldia cartes de convocao para os ltimos parceiros (as)
devidamente preenchidos.
Acompanhar resultados dos exames de controle de cura.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 95
Aps a cura, usar preservativo em todas as relaes sexuais.
Realizar o controle de cura mensal por meio do VDRL, considerando resposta
adequada ao tratamento o declnio dos ttulos (duas titulaes em at 6 meses).
Aps o parto, manter o acompanhamento semestralmente em caso de
persistncia da positividade, em ttulos baixos.
Avaliar o tratamento realizado, tratamento do parceiro e a presena de
coinfeco pelo HIV ou outras DST para a definio de condutas durante a
gestao.
Reiniciar tratamento se houver elevao de ttulos em quatro ou mais vezes
(ex.: de 1:2 para 1:8), mesmo na ausncia de sinais ou sintomas especficos de
sfilis.
Reiniciar o tratamento em caso de interrupo do tratamento ou em caso de
um intervalo maior do que sete dias entre as sries.
Assegurar a realizao de, no mnimo, seis consultas com ateno integral
qualificada.
Documentar os resultados das sorologias e tratamento da sfilis na carteira da
gestante.
Orientar o(s) parceiro(s) sobre a importncia de no se candidatar (em)
doao de sangue.
Na admisso para parto realizar o VDRL independentemente dos resultados
dos exames realizados no pr-natal.
b) Resposta e Justificativa (valor: 5,0 pontos)
Resposta: Sim.
Justificativa: No h transmisso da sfilis por meio do leite materno.
Autoras: Heloisa Reckziegel Bello, Simone Travi Canabarro e Marisa Reginatto
Vieira
Comentrio:
a) Trs aes destinadas a monitorar o tratamento do casal:
1. Incluso no Programa Pr-Natal
96 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
O diagnstico de sfilis na gestao requer interveno imediata para que
se reduza ao mximo a possibilidade de transmisso vertical.
1
Para o diagnstico pr-natal da infeco materna, o rastreamento
sorolgico obrigatrio para todas as gestantes. As reaes sorolgicas
utilizadas so o VDRL e FTA-abs, que so testes com base em antgenos
lipdicos e treponmicos, sendo a combinao dos dois resultados o melhor
mtodo para a deteco dos vrios estgios da doena em gestantes tratadas e
no tratadas. No caso de Ldia, ambos os exames foram positivos, confirmando a
presena da doena.
2
A adeso ao tratamento e ao pr-natal para preveno da evoluo da
doena e possibilidade de monitorizao nas consultas subsequentes.
A sfilis congnita um agravo de notificao compulsria, sendo
considerada como verdadeiro evento marcador da qualidade de assistncia
sade materno-fetal, em razo da efetiva reduo do risco de transmisso
transplacentria, sua relativa simplicidade diagnstica e o fcil manejo
clnico/teraputico.
Notificao compulsria preconizada, segundo a portaria n33, de 14 de
julho de 2005 inclui Sfilis em gestante na lista de agravos de notificao
compulsria. (anexo VIII).
3
Outras DSTs Elas podem ocorrer em qualquer momento do perodo
gestacional. Ateno especial deve ser dirigida ao parceiro sexual, para
tratamento imediato ou encaminhamento para o SAE (servio ateno
especializada), sempre que houver indicao.
Casos diagnosticados e tratados durante a gestao devem ser
reavaliados no puerprio para verificar a necessidade de rastreamento.
necessrio considerar a associao entre DST e a infeco pelo HIV.
1
2. Monitorizao durante consultas subsequentes
A realizao do VDRL no incio do terceiro trimestre permite que o
tratamento materno seja institudo e finalizado at 30 dias antes do parto,
intervalo mnimo necessrio para que o recm-nascido seja considerado tratado
intratero.
3. Adeso do parceiro ao tratamento
O(s) parceiro(s) deve(m) sempre ser testado(s) e tratado(s).
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 97
b) Ldia poder amamentar o beb?
Ldia poder amamentar o beb, pois no h transmisso da sfilis por
meio do leite materno, geralmente adquirida por contato sexual, atravs de
sangue (transfuso) ou transplacentria (em qualquer idade gestacional).
Referncias
1. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Aes Programticas Estratgicas rea tcnica de sade da mulher. Manual
Tcnico Pr-Natal e Puerprio: ateno humanizada e qualificada. Braslia, DF:
2006.
2. Barros, SMO. Enfermagem Obsttrica e Ginecolgica: guia para a prtica
assistencial. 2 ed. So Paulo: ROCA, 2009.
3. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Programa
Nacional de DST e AIDS. Manual de Controle das Doenas Sexualmente
Transmissveis. Ministrio da Sade, Secretaria de Vigilncia em Sade,
Programa Nacional de DST e AIDS. Braslia: Ministrio da Sade. 2005.
98 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
QUESTO 40 - DISCURSIVA
Joo, 23 anos, motociclista e trabalha realizando entregas rpidas de
documentos. Hoje, quando conduzia sua motocicleta teve uma coliso e foi
ejetado do veculo em que viajava a 70 Km/hora. No momento dessa ocorrncia,
ele usava capacete. Estava lcido na cena, mas o nvel de conscincia declinou
at a chegada no hospital. O servio de Atendimento Pr-hospitalar transportou
Joo at o hospital e na chegada ele j se encontrava com colar cervical, em
prancha longa, com acesso venoso recebendo soluo salina isotnica e 3 L/min
de oxignio por cateter nasal. Na avaliao primria da vtima, seguindo a ordem
de prioridades conhecida como ABCDE, a enfermeira do Pronto Socorro
identificou:
FR = 30 movimentos respiratrios/min;
PA = 96/58 mmHg;
FC = 130 batimentos/min;
Escore da Escala de Coma de Glasgow = 9.
Observou, tambm, tiragem, presena de restos alimentares na boca da vtima e
cianose de extremidades.
Diante desta situao, cite trs condutas prioritrias que devem ser realizadas
imediatamente pelo enfermeiro.
(valor: 10,0 pontos)
Padro de resposta:
O graduando dever apresentar pelo menos trs das seguintes condutas:
(valor: 10,0 pontos)
Assegurar via area prvia (aspirao de secrees da cavidade oral,
manobras de abertura de vias areas).
Solicitar imediata avaliao mdica.
Elevar aporte de O2 (mscara facial com 10 a 12 L/min).
Avaliar e se necessrio ajustar a reposio volmica realizada (volume
infundido, velocidade da infuso, permiabilidade do acesso venosa, manter duas
veias de grosso calibre).
Monitorizao cardaca.
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 99
Autoras: Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo e Isabel Cristina Kern Soares
Comentrio:
Abordagem das vias areas (aspirao de secrees, manter a
permeabilidade das vias areas)
Controle da respirao e ventilao (ventilao com mscara, 10L/min)
Circulao com controle de hemorragia (controle rigoroso de pulso, cor
da pele, enchimento capilar, presso arterial, sinais de sudorese).
O traumatizado deve ser considerado um paciente potencialmente grave,
por isso, o seu atendimento deve ser imediato considerando-se o ABCDE do
atendimento ao trauma. O paciente do caso descrito acima sofreu uma ejeo do
veculo em que estava, o que aumenta significativamente o padro das leses,
expondo o paciente a um maior risco de morte pela associao de um grande
nmero de mecanismos dessas leses.
1
A - Abordagem das vias areas, com imobilizao de coluna cervical
(o paciente em questo apresentava colar cervical): a avaliao inicial deve
identificar rapidamente sinais sugestivos de obstruo de vias areas, atravs da
inspeo da cavidade oral e observao de alguns sinais que possam indicar
hipoxemia/hipxia e obstruo de vias areas. Na presena de sinais de
obstruo deve-se proceder a aspirao das vias areas e cavidade oral. O
paciente acima j chegou com colar cervical o que indica que manobras de
aberturas das vias areas j foram realizadas. O paciente, conforme o caso
descrito acima apresentava tiragem, presena de restos alimentares na boca e
cianose de extremidades, indicando quadro de hipoxemia. Deve-se proceder ao
exame da integridade da coluna cervical, atravs do exame fsico, neurolgico e
sinais sugestivos de leso nessa estrutura, pois alteraes do nvel de
conscincia podem sugerir trauma cervical.
1,2
Na chegada do paciente a emergncia deve ser solicitada a presena da
avaliao mdica para dar continuidade ao cuidado, mas no faz parte do ABCDE
do atendimento:
B - Controle da respirao e ventilao: devemos manter a
permeabilidade das vias areas, realizando aspirao de secrees desse
100 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
paciente e ventilar, com mscara e amb com reservatrio, com O
2
10L/min, pois
o mesmo tambm apresenta Glasgow 9 (queda da PO
2
ou leso cervical).
1
C - Circulao com controles de hemorragia: o paciente em questo
pode estar apresentando hipovolemia, o que pode justificar a PA = 96/58 mmHg
do paciente em questo. Devemos avaliar nesse caso: pulso, cor da pele,
enchimento capilar, presso arterial, sinais de sudorese.
1
Se necessrio e de acordo com a prescrio mdica o volume pode ser
administrado, como foi exposto acima outros indicativos de hipotenso devem ser
verificados. Frente possibilidade de reposio volmica questes relativas ao
acesso devem ser verificadas como: permeabilidade do acesso, calibre do
acesso, e necessidade de colocao de um outro acesso.
A monitorizao cardaca no faz parte da ABCDE do atendimento, mas
pode ser entendida como parte da avaliao circulatria do paciente, visto que
este encontra-se numa unidade de emergncia.
Seguindo a ordem de prioridade do atendimento conhecida como o
ABCDE, os prximos cuidados envolvem:
D - Avaliao do estado neurolgico: uma rpida avaliao do padro
neurolgico deve determinar o nvel de conscincia e a reatividade pupilar do
traumatizado. A escala de coma de Glasgow pode ser usada na cena do acidente
e em uma avaliao secundria. Na avaliao inicial usamos o mtodo proposto
pelo ATLS: A-Alerta, V-Resposta ao estmulo verbal, D-Responde a estmulo
doloroso, I-Inconsciente.
1
E - Exposio do paciente com controle de hipotermia: o paciente
traumatizado deve ser completamente despido de suas vestes para facilitar o
exame completo e a determinao de leses que podem representar risco de
morte. A proteo do paciente contra hipotermia de suma importncia, pois
cerca de 43% dos pacientes desenvolvem este tipo de alterao durante a fase
de atendimento inicial, com reduo de 1C a 3C, comprometendo o tratamento
por aumentar a perda de calor.
1
A avaliao primria, realizada nesse primeiro momento, no exclui que
seja feita uma avaliao secundria aps uma maior estabilizao do quadro do
paciente, envolvendo histria de sade, exame fsico completo, etc.
2
ENADE Comentado 2007: Enfermagem 101
Referncias
1. Acidente automobilstico. Disponvel em
http://www.bombeirosemergencia.com.br/acidentransito.htm acesso em 11/9/2009
s 20h18.
2. Enfermagem de emergncia. Srie incrivelmente fcil. edo Lippincott, W &
Wilkins Rio de Janeiro:Guanabara Koogan; 2008.
3. Bergeron, JD, Bizjak, G; Krause, G, Baudour, C. Primeiros Socorros. 2 ed.
So Paulo: Atheneu, 2007.
102 Beatriz Sebben Ojeda et al. (Orgs.)
LISTA DE CONTRIBUINTES
Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo
Andria da Silva Gustavo
Beatriz Regina Lara dos Santos
Beatriz Sebben Ojeda
Ftima Rejane Ayres Florentino
Heloisa Reckziegel Bello
Isabel Cristina Kern Soares
Janete de Souza Urbanetto
Karen Ruschel
Karin Viegas
Maria Cristina Lore Schilling
Marion Creutzberg
Marisa Reginatto Vieira
Olga Rosaria Eidt
Simone Travi Canabarro
Valria Lamb Corbellini
Vera Beatriz Delgado
Você também pode gostar
- Tutela 100 Ep Sae 90 PDFDocumento14 páginasTutela 100 Ep Sae 90 PDFBreno brefigueiredo100% (1)
- 065 - BAUTECH DESMOLDANTE - PDF - Bautech BrasilDocumento4 páginas065 - BAUTECH DESMOLDANTE - PDF - Bautech BrasilGuilherme Alves EvangelistaAinda não há avaliações
- YNSA - Ponto ZSDocumento3 páginasYNSA - Ponto ZSVanessaGonçalvesFerreiraVásquez100% (1)
- Mesomorfos PDFDocumento7 páginasMesomorfos PDFMateus NoronhaAinda não há avaliações
- Edital 27 Convocacao Prova Pratica Aprovado C 342maraDocumento14 páginasEdital 27 Convocacao Prova Pratica Aprovado C 342maraAntonio KendoAinda não há avaliações
- Resultado Edital 028 2011 FisioterapiaDocumento5 páginasResultado Edital 028 2011 FisioterapiaLuiziana Costa Melo PereiraAinda não há avaliações
- Rede de Saúde Mental - Salvador e Região MetropolitanaDocumento25 páginasRede de Saúde Mental - Salvador e Região MetropolitanaLaysa GonçalvesAinda não há avaliações
- REVISaO DE VESPERA Medicina Legal e PenalDocumento63 páginasREVISaO DE VESPERA Medicina Legal e Penalbetaniajaculi64Ainda não há avaliações
- Resumo Do GoodmanDocumento35 páginasResumo Do GoodmanRodrigo BonfimAinda não há avaliações
- Slide 2Documento14 páginasSlide 2Marianna SousaAinda não há avaliações
- Resumo - Sinais VitaisDocumento57 páginasResumo - Sinais VitaisCAROLINE CAMPOSAinda não há avaliações
- Anvisa - Vendendo SaudeDocumento81 páginasAnvisa - Vendendo SaudeCarolina MPAinda não há avaliações
- Slides Medicina LegalDocumento13 páginasSlides Medicina LegalJuniorAinda não há avaliações
- AvaliaçãoDocumento3 páginasAvaliaçãoABCGVMGAinda não há avaliações
- Anamnese AromaterapiaDocumento4 páginasAnamnese AromaterapiaLila Léa CardosoAinda não há avaliações
- Papel Do Enfermeiro Na Promocao Da Saude Do TrabalhadorDocumento53 páginasPapel Do Enfermeiro Na Promocao Da Saude Do TrabalhadorKalila AraújoAinda não há avaliações
- Sistemas de Produção e Sua Influencia Na Qualidade Da Carne SuínaDocumento18 páginasSistemas de Produção e Sua Influencia Na Qualidade Da Carne SuínamatheusnevoaAinda não há avaliações
- Best Practice Recommendations Prevention and Management Moisture Associated Skin Damage Masd PTDocumento20 páginasBest Practice Recommendations Prevention and Management Moisture Associated Skin Damage Masd PTcarolAinda não há avaliações
- Simulador de Rota CríticaDocumento49 páginasSimulador de Rota CríticaMARCOS_SHAKAWAinda não há avaliações
- Operador de Pá CarregadeiraDocumento33 páginasOperador de Pá CarregadeiraAna Claudia Gomes MarquesAinda não há avaliações
- 39760-Texto Do Artigo-176760-1-10-20171023Documento6 páginas39760-Texto Do Artigo-176760-1-10-20171023TINHA QUE SE ELEAinda não há avaliações
- FIORINI. A Primeira Entrevista em Psicoterapia BreveDocumento21 páginasFIORINI. A Primeira Entrevista em Psicoterapia BrevePsicóloga Caroline Proença100% (1)
- AnexoIV Carta Intencao Pesq ModDocumento2 páginasAnexoIV Carta Intencao Pesq ModEdwiges Ita MirandaAinda não há avaliações
- Atividade 2 - Ecos - Eletrotermofototerapia e Inovação Tecnológica - 51-2024Documento8 páginasAtividade 2 - Ecos - Eletrotermofototerapia e Inovação Tecnológica - 51-2024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações
- Anexo 4 - Atendimento PediátricoDocumento2 páginasAnexo 4 - Atendimento PediátricoJohnny meloAinda não há avaliações
- Nise Da Silveira, Antonin Artaud e Rubens CorrêaDocumento10 páginasNise Da Silveira, Antonin Artaud e Rubens CorrêaEduardo RosalAinda não há avaliações
- DIUR - 14 - 2016 - Vargem Da Benção - Recanto - Das - Emas PDFDocumento28 páginasDIUR - 14 - 2016 - Vargem Da Benção - Recanto - Das - Emas PDFneudo.oliveiraAinda não há avaliações
- Bula Ciclatry 1181900900014Documento22 páginasBula Ciclatry 1181900900014Betty BoopAinda não há avaliações
- Caderno Anamnese GeralDocumento8 páginasCaderno Anamnese Geraleduarda.cagol2005Ainda não há avaliações
- Instalação de DSIDocumento6 páginasInstalação de DSILEANDROAinda não há avaliações