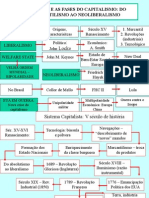Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Criminologia
Apostila Criminologia
Enviado por
Lucia Castello BrancoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Criminologia
Apostila Criminologia
Enviado por
Lucia Castello BrancoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Questes Atuais em
Criminologia
Tulio Kahn
APRESENTAO...............................................................................................3
CRIME E DESEMPREGO.....................................................................................4
CRIMINALIDADE E MEIOS DE COMUNICAO..................................................8
A VIOLNCIA BRASILEIRA.............................................................................16
OS CUSTOS DA VIOLNCIA ............................................................................21
A EXPANSO DA SEGURANA PRIVADA NO BRASIL: ALGUMAS IMPLICAES
TERICAS E PRTICAS....................................................................................34
POLICIAMENTO COMUNITRIO NO BRASIL: UMA EXPECTATIVA REALISTA DE
SEU PAPEL ......................................................................................................41
ARMAS DE FOGO: ARGUMENTOS PARA O DEBATE ..........................................49
ANEXO...........................................................................................................80
VIOLNCIA NAS ESCOLAS..............................................................................82
BIBLIOGRAFIA ...............................................................................................88
2
Questes Atuais em Criminologia
Apresentao
Os seis primeiros artigos deste volume - "Crime e Desemprego",
"Criminalidade e Meios de Comunicao", "A Violncia Brasileira", "Os
Custos da Violncia", "A Expanso da Segurana Privada no Brasil" e
"Policiamento Comunitrio no Brasil" - foram originalmente escritos para
o boletim Conjuntura Criminal (http://sites.uol.com.br/concrim) entre os
anos de 1997 e 1999. So artigos de cunho mais jornalstico do que
propriamente acadmico pois foram escritos para serem lidos na
internet, onde no possvel aprofundar temas sem cansar o leitor.
Diversamente, os artigos sete e oito - "Armas de Fogo" e "Prestao de
Servio Comunitrio" - so o resultado de pesquisas feitas pelo Ilanud
e por isso so um pouco maiores e, qui, mais profundos do que os
demais. "Crime e Desemprego" foi previamente publicado nos jornais
Notcias Populares e O Dia; "Custos da Violncia" na revista
Perspectiva, da Fundao Seade e "Prestao de Servio Comunitrio"
na revista do IBCcrim. Os demais textos foram parcialmente tratados
em artigos na imprensa, mas podem ser considerados inditos. Em
conjunto, os artigos do uma noo atualizada dos temas e mtodos da
criminologia moderna, baseada em dados empricos e em pesquisa
comparada.
O desemprego e os meios de comunicao, em sua relao com a
violncia, so tratados nos dois primeiros artigos deste volume, que
tratam de desmistificar algumas suposies correntes sobre tais
questes. O terceiro artigo procura analisar a violncia brasileira no
contexto sul-americano e o quarto e o quinto o fenmeno crescente da
"indstria da segurana" e sua expanso no pas, em conexo com o
aumento dos custos da violncia. O texto sobre policiamento
Comunitrio no Brasil uma reflexo que serviu de base para um
projeto de avaliao destas experincias, proposto pelo Ilanud
Fapesp e Fundao Ford. O texto sobre armas foi escrito para um
Workshop organizado pelo Ilanud em J unho de 99 e apresenta uma
reflexo sobre os possveis efeitos da proposta governamental de
proibir o comrcio e o porte de armas no pais. O ltimo artigo analisa
dados de uma pesquisa exploratria feita com condenados prestao
de servios comunitrios no Estado de So Paulo, avaliando o perfil
dos prestadores em comparao com o perfil dos condenados s penas
privativas de liberdade.
3
Crime e Desemprego
Nestes tempos difceis onde taxas de desemprego e ndices de
criminalidade apresentam tendncias de crescimento, parece razovel
supor que os dois fenmenos estejam intimamente relacionados. No
preciso fazer nenhuma pesquisa sofisticada para perceber que uma
taxa elevada e constante de desemprego que se mantenha durante
muito tempo tender a levar para o mundo do crime pessoas
principalmente jovens que de outro modo estariam participando do
mercado de trabalho.
preciso todavia que se faam algumas consideraes gerais sobre
como desemprego e criminalidade se relacionam, para desfazer certos
equvocos, como pretender que exista uma relao direta e imediata
entre ambos.
Pesquisa feita em 1991 pelo instituto Datafolha com 645 presos da
Casa de Deteno da Capital revelou que, no momento do crime, 27 %
dos criminosos no estava trabalhando. Com os jovens infratores
investigados em 1996 pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas
de Rua observou-se algo semelhante: 53% no trabalhava e 44%
trabalhavam informalmente na ocasio da infrao. O primeiro ponto
que nos chama a ateno sobre estes dados de que a maior parte
dos infratores adultos e boa parte dos jovens estava trabalhando no
momento do crime. Estar trabalhando assim um elemento inibidor
mas no constitui nenhuma garantia contra o cometimento do crime.
Num pas como o Brasil onde os salrios so freqentemente aviltantes
e a qualidade do trabalho precria (trabalho informal, subemprego,
ausncia de garantias trabalhistas, etc.), o universo dos criminosos se
confunde parcialmente com o universo dos trabalhadores. Enquanto no
passado a maior parte das novas vagas abertas estavam no mercado
formal, atualmente, no s ocorreu uma diminuio de vagas como
uma deteriorao qualitativa: a maior parte das novas vagas localiza-se
hoje no setor informal da economia. Este tipo de trabalhador informal,
em especial, faz parte do que a elite denominaria por "classes
perigosas", porque do "bico" para o mundo do crime um passo no
muito longo a ser dado, diversamente do que ocorre com o trabalhador
do setor formal da economia - onde a estabilidade e qualificao inibem
o envolvimento com a ilegalidade.
Nos dois estudos realizados pelo ILANUD sobre a questo do
desemprego e criminalidade na Grande So Paulo um tomando por
4
Questes Atuais em Criminologia
base 60 meses entre 1985 e 1989 e outro utilizando 13 anos de
evoluo de ambos os fenmenos entre 1985 e 1997 a constatao
geral foi de que a correlao entre os dois fenmenos existe, porm
fraca, condicional e relativa. Entre as sugestes que puderam ser
extradas esto as seguintes:
Em primeiro lugar, caberia lembrar que os efeitos do desemprego sobre
a criminalidade no so imediatos. Ningum normal perde o emprego
num dia e torna-se assaltante de bancos no outro. O recm
desempregado tentar obter uma nova colocao no mercado de
trabalho durante certo tempo. No caso de no obt-la tentar recorrer a
um subemprego, s economias pessoais, ao salrio desemprego,
ajuda de parentes e amigos, etc. Somente aps repetidas tentativas
frustradas de se colocar novamente no mercado ou quando todas as
demais estratgias de sobrevivncia tiverem se esgotado que o crime
passa a ser uma alternativa levada em considerao. Este processo,
desnecessrio dizer, pode levar meses ou mesmo anos, dependendo
do indivduo. O desemprego de hoje talvez s venha a se refletir nas
taxas de criminalidade de daqui h muito tempo e a criminalidade atual
o fruto do desemprego de perodos passados.
No s a relao no imediata como tambm no se manifesta em
todo e qualquer tipo de criminalidade. Pesquisas realizadas em outros
pases e replicadas em So Paulo pelo ILANUD sugerem que o efeito
do desemprego maior sobre os crimes contra o patrimnio e dentre
estes particularmente sobre o furto. Em outras palavras, existe uma,
digamos assim, carreira criminosa que comea com os delitos
menores e que s depois envereda para os crimes mais violentos.
Novamente, mais provvel imaginarmos um desempregado furtando
algum objeto de uma loja, ou passando cheques sem fundo do que
efetuando um roubo a mo armada ou um seqestro.
De 1981 a 1983 o pas atravessou uma forte recesso, com
crescimentos negativos no PIB e desemprego elevado por 3 anos. De
1984 a 1986 a economia reage, observando-se uma recuperao do
nvel de emprego e taxa positivas de crescimento do produto. Seguindo
o mesmo movimento, os furtos, que vinham aumentando entre 1981 e
1983, caem por trs anos consecutivos entre 1984 e 1986. Quando em
1986, no auge do Plano Cruzado, a taxa de desemprego total na
Grande So Paulo diminuiu de 12,2% para 9,6%, a taxa de furtos,
tambm na Grande So Paulo caiu em cerca de 14%. No por acaso,
este tambm foi o ano de maior crescimento do PIB na dcada. Com o
5
fracasso do Plano Cruzado em 1987, os furtos e os crimes em geral
retomam a tendncia de crescimento. Encontramos um exemplo
inverso ao de 1986 em 1992, quando a recesso reduz o mercado de
trabalho e a quantidade de furtos aumenta em cerca de 7%. Estes
efeitos so mais perceptveis em anos como estes citados, quando
ocorrem mudanas abruptas para melhor ou para pior nas taxas de
desemprego ou nos anos que marcam a inverso de tendncias. Nos
anos em que as mudanas so pequenas em magnitude ou que esto
compreendidos dentro de um ciclo de recesso ou prosperidade, os
efeitos no so to identificveis.
Caberia lembrar ainda o problema que os economistas chamam de
inflexibilidade quando analisam o efeito dos preos sobre a oferta e
procura de certas mercadorias. O aumento do preo do cigarro no
altera tanto o consumo do produto porque os fumantes tendem a ser
inflexveis, isto , continuaram fumando independentemente do preo
do produto. O aumento do preo do macarro, por outro lado, tender a
produzir uma restrio na demanda pelo produto.
Pois bem, fazendo uma analogia com a economia, poderamos dizer
que existem criminosos flexveis e inflexveis. O criminoso profissional
de certo modo inflexvel com relao s variaes no mercado de
trabalho. Mesmo que estejam sobrando postos de trabalho, eles no
abandonaro a carreira criminosa. Portanto, as variaes no mercado
de trabalho s tendero a afetar aqueles indivduos que poderamos
qualificar de criminosos espordicos ou episdicos, que se alternam
entre o mundo do crime e o mercado de trabalho conforme a
disponibilidade de empregos no mercado.
Caberia lembrar tambm dois outros aspectos da relao entre
desemprego e criminalidade. O problema do desemprego hoje o do
que os economistas chamam de desemprego estrutural. No mais um
desemprego cclico, que inclui e exclui temporariamente o "exrcito
industrial de reserva" no mercado de trabalho. Existe todo um
contigente desta reserva que jamais entrou ou entrar no mercado de
trabalho, o que tender a acentuar a relao entre desemprego e
criminalidade. Outro aspecto o preconceito com relao aos egressos
do sistema criminal: se para um trabalhador com "ficha limpa" j difcil
arrumar emprego, tanto mais para aquele com passagem pelo sistema
criminal. Isto explica em parte que as taxas de reincidncia criminal em
So Paulo estejam em torno de 47%.
6
Questes Atuais em Criminologia
Uma vez tendo ingressado na carreira criminal, fica muito mais
complicado voltar ao mercado de trabalho, independentemente da
qualificao anterior.
Mais do que o trabalhador que perde seu emprego a certa altura de sua
vida profissional, o contingente anual de criminosos engrossado pela
massa de jovens que jamais ocuparam uma vaga no mercado formal de
trabalho. a que o desemprego revela sua face mais perversa. Para
estes que preciso pensar numa alternativa ao crime, como por
exemplo um salrio-social, cursos de aperfeioamento profissional ou
um programa de primeiro emprego, para jovens desempregados das
periferias das grandes cidades. Caso contrrio, num futuro no muito
distante, este contingente de desempregados vir cobrar da sociedade
aquilo que lhes foi negado, de uma forma ou de outra.
7
Criminalidade e Meios de Comunicao
As noes das pessoas sobre criminalidade nem sempre correspondem
realidade pois so, em grande parte, influenciadas pela forma como
os meios de comunicao tratam o tema. Os meios de comunicao
acabam muitas vezes selecionando os tipos de violncia e
criminalidade relevantes, selecionando vtimas, autores ou situaes
especficas e direcionando o modo como devem ser solucionados.
(Sacco, 1995)
Existe portanto uma distoro na percepo da populao sobre
criminosos e criminalidade causada, em parte, pela nfase da mdia em
certos tipos de crimes de interesse jornalstico, aliada a outros fatores
como o preconceito social, o contato da populao com filmes e livros
de fico sobre o tema ou ainda pela explorao poltica do tema da
segurana pblica.
Estes e outros fatores fazem com que a percepo popular do crime
guarde freqentemente pouca relao com a realidade. Alguns
exemplos corriqueiros de distores: negros e migrantes so
superestimados na populao carcerria e entre os grupos criminosos;
crimes violentos e contra a pessoa so superestimados com relao ao
seu montante; os ndices de criminalidade so sempre percebidos
numa espiral ascendente e jamais descendente; porcentagem de
menores envolvidos nos crimes superestimada; porcentagem de
crimes cometidos sob a influncia de drogas superestimada; violncia
domstica subestimada, etc.
A lista longa e tais distores, desnecessrio dizer, no so
acidentais. A questo fica mais clara quando observamos no s a
magnitude mas tambm o sentido da distoro, isto , se ela
subestimada ou superestimada. No casual que os grupos de status
negativamente privilegiados - negros, migrantes, desempregados,
viciados - tenham sua participao nos crimes, invariavelmente,
superestimada. Os crimes domsticos so camuflados e os cometidos
por pessoas "de fora" so evidenciados porque vo contra a noo
corrente de que o perigo vem dos outros e no de ns mesmos. difcil
aceitar que nossos familiares correm muitas vezes mais perigo em casa
do que na rua. Os meios de comunicao no esto imunes a tais
distores, convertendo-se involuntariamente em fator de reforo.
8
Questes Atuais em Criminologia
Analisando o contedo da mdia dedicada a cobertura criminal,
percebe-se que ela fornece ao pblico uma mapa do mundo do crime
que difere em muitas maneiras daquele fornecido pelas estatsticas
oficiais.
Entre outras distores caberia destacar as seguintes:
1) as variaes no volume de notcias sobre um tipo de crime guarda
pouca relao com as variaes reais observadas naquele crime, tanto
com respeito a localizao espacial quanto a variaes no tempo
2) embora a maioria dos crimes seja no violento, a cobertura da
imprensa sugere o contrrio
3) tanto as vtimas quanto os agressores que aparecem na mdia so
mais velhos do que sugerem as estatsticas criminais
4) as reportagens tendem a sobre-representar grupos minoritrios ou
impopulares entre os agressores
5) o retrato da atividade policial dramatizado e parece mais eficaz e
emocionante do que na realidade
6) ignora-se os diferentes riscos de vitimizao dos diversos grupos
7) h uma ausncia generalizada sobre o contexto social e histrico da
informao apresentada
8) existe uma concentrao da ateno sobre crimes de rua, cometidos
por pobres, e uma desconsiderao com relao aos crimes de
colarinho branco
9) dados enganosos so apresentados aos leitores, como os que
reportam aumentos no nmero de crimes sem levar em conta aumentos
no tamanho da populao. A sazonalidade existente em certos crimes
tampouco considerada. Porcentagens so calculadas sob nmeros
absolutos insignificantes ( Schneider ;Sacco, 1995; Barkan, 1997).
Sacco obeserva no sem certa ironia que, na prtica, o nico ponto
convergente entre cobertura de mdia e estatsticas oficiais o da
apresentao do crime enquanto uma atividade predominantemente
masculina. (Sacco, 1995)
Vejamos alguns exemplos prticos do que estamos falando, utilizando
para isso cobertura brasileira dos eventos criminais.
Comparando a forma como o crime representado na imprensa com
os dados coletados pelos rgos oficiais, possvel revelar a
magnitude e o sentido de algumas distores, que terminam por
influenciar a imagem da sociedade sobre a criminalidade. Para
9
averiguar o destaque dado cobertura dos crimes pela imprensa,
utilizamos a "anlise automtica de discurso - AAD". Imaginado por M.
Pcheux, o procedimento procura, a partir da anlise dos "efeitos de
superfcie", fazer inferncias sobre uma "estrutura profunda".
Colocando de modo mais simples, a tcnica consiste em contar -
independentemente do contexto em que surge - a ocorrncia da palavra
ou expresso num texto.
A suposio subjacente a de que a quantidade de vezes que uma
determinada palavra ou expresso surge no texto fornece uma
dimenso da importncia relativa que ela assume no discurso. Assim,
na anlise de um programa partidrio de cunho liberal a palavra
"mercado" deve aparecer com relativa freqncia, sendo mais raras as
referncias palavra "igualdade". Num programa mais "socialista", em
contrapartida, espera-se que estas propores sejam inversas,
refletindo a importncia do conceito dentro dos discursos "liberais" ou
"socialistas".
Para saber que tipo de crime e com que intensidade os meios de
comunicao retratam, pesquisamos por palavras-chave a ocorrncia
de sete delitos em dois jornais de circulao nacional - um de So
Paulo e outro do Rio de J aneiro. Com isso foi possvel obter uma idia
da importncia relativa com que os vrios delitos so tratados pela
imprensa. Em seguida, comparamos as porcentagens com que os
crimes aparecem nos jornais com a porcentagem de crimes
computados pelos rgos oficiais de segurana pblica, no intuito de
verificar as diferenas entre os tipo de fontes.
Conforme antecipado, a correspondncia entre os crimes registrados
na polcia e os crimes noticiados pela imprensa bastante tnue para
certos tipos de crimes. Isto tem algumas conseqncias importantes,
pois a populao forma parte de sua viso da criminalidade pela leitura
dos jornais, uma vez que poucos tm acesso ou interesse pelos
relatrios oficiais dos departamentos de estatstica.
Os pequenos furtos e as leses corporais (agresses) so, de longe, os
delitos mais freqentes nas estatsticas oficiais de criminalidade. Mas
quem se interessa em ler nos jornais sobre batedores de carteira ou
brigas de marido e mulher ? Estes delitos tendem a comparecer no
noticirio somente quando existe algo de pitoresco e anedtico
relacionado a eles. Uma carteira furtada passa a ser motivo de
interesse jornalstico se a vtima uma autoridade pblica ou artista
10
Questes Atuais em Criminologia
conhecido. Caso contrrio, estes eventos continuaro esquecidos nos
arquivos das reparties pblicas. Regra geral, o interesse dos meios
de comunicao direcionado pelo "potencial dramtico" da histria,
dramaticidade que aumentada, segundo Sacco, quando a vtima ou o
agressor so uma celebridade, quando o incidente especialmente
srio ou quando as circunstncias so atpicas. Como se diz no meio
jornalstico, a notcia existe quando o homem morde o cachorro e no
quando o cachorro morde o homem.
Se os eventos corriqueiros e estatisticamente freqentes so
esquecidos pela cobertura jornalstica, na outra ponta, temos os
assassinatos, chacinas, os estupros, seqestros e aes de traficantes
de drogas, todos eles cobertos numa proporo bastante superior sua
participao no mundo do crime
1
. Curiosamente, apenas os roubos e
assaltos compareceram no noticirio jornalstico numa proporo
realista em relao ao seu significado. Isto ocorre, precisamente, pela
posio intermediria dos roubos em termos de gravidade para a
sociedade.
Tabela 1. Incidncia de crimes na mdia impressa e nos dados oficiais
Del i t o % Fol ha
97
% Fol ha
98*
% J B
97
% J B
98*
% de
Cr i mes em
So Paul o
- 1 t r i m.
1998
Fur t o 2, 7 4, 8 3, 0 2, 9 45, 6
Leso
cor por al / espanca
ment o
3, 9 2, 7 4, 6 2, 3 27, 3
Roubo/ assal t o 24, 7 27, 6 27, 3 31, 5 23, 7
Assassi nat o/ homi
c di o/ l at r oc ni o
41, 5 38, 1 41, 5 43, 9 1, 7
Tr f i co de
dr ogas
9, 5 10, 5 14, 3 13, 1 1, 0
Est upr o 6, 4 5, 3 6, 2 3, 5 0, 4
Seqest r o 10, 6 10, 5 2, 5 2, 2 0, 0001
Tot al 7727 3437 4279 2180 247446
Fontes: Folha de S. Paulo, J ornal do Brasil e Secretaria da Segurana Pblica do Estado
de So Paulo. * at julho de 1998.
1
Num estudo de 1980 realizado por Doris Graber com artigos sobre crimes, a
autora revelou que o Chicago Tribune dedicava 26% de suas matrias a casos
de homicdios, embora os homicdios somassem apenas 0.2% de todos os
casos registrados pela polcia de Chicago. Sobre o tema, ver Barkan, 1997,
p.29.
11
Observe-se a regularidade com que os crimes so apresentados de um
ano para outro e a semelhana de cobertura entre os jornais das duas
metrpoles. As semelhanas de cobertura so notveis, exceto pelo
destaque proporcionalmente maior dado aos seqestros pela Folha de
S. Paulo, tanto em 1997 quanto em 1998. A questo do trfico de
drogas - como esperado em funo do tipo de organizao encontrado
no Rio de J aneiro - recebeu por seu lado uma cobertura mais extensa
por parte do J ornal do Brasil. Embora no exista uma pesquisa
exaustiva sobre outros meios de comunicao, bastante provvel que
a televiso e o rdio reproduzam estes mesmos padres de cobertura
criminal.
Uma anlise preliminar de como os crimes so tratados pelos
noticirios de televiso sugere a existncia das mesmas distores
encontradas na mdia escrita. O Ilanud gravou durante uma semana,
entre 2 e 8 de agosto de 1998, a programao de 27 telejornais
exibidos pelas 7 emissoras de canal aberto existentes no pas. No total
assistiu-se a 1211 cenas de crimes nestes noticirios, assim
distribudos:
Tabela 2. Incidncia de crimes na televiso e nos dados oficiais
Del i t o Fr eqnci a Por cent agem % de Cr i mes em
So Paul o - 1
t r i m. 1998
Fur t o 5 0, 4 45, 6
Leso
cor por al / espancament o
153 12, 6 27, 3
Roubo/ assal t o 75 6, 2 23, 7
Assassi nat o/ homi c di o/ l a
t r oc ni o
714 59, 0 1, 7
Tr f i co de dr ogas 30 2, 5 1, 0
Est upr o 141 11, 6 0, 4
Seqest r o 10 0, 8 0, 0001
Out r os ( l at r oc ni o,
at ent ado vi ol ent o ao
pudor , uso de
ent or pecent e, f r aude,
dano emcar r o)
83 6, 8
Tot al 1211 100 247. 446
Font e: I l anud e Secr et ar i a da Segur ana Pbl i ca do Est ado de So
Paul o
Em que pese a influncia de casos especficos durante o perodo -
naquela semana os destaques foram os casos do Manaco do Parque,
12
Questes Atuais em Criminologia
do policial "Rambo" e a ao de um policial carioca que matara dois
assaltantes de banco numa motocicleta - a tabela mostra com nitidez a
preferncia dos noticirios de televiso pelos crimes violentos contra a
pessoa e das aes espetaculares, como seqestros, em detrimentos
dos crimes contra o patrimnio, como o furto.
Estas distores, no sentido de superestimar os crimes violentos e
organizados, certo tipo de criminosos ou circunstncias do crime, so
compartilhadas tambm por polticos e membros das foras policiais e,
no raramente, acabam se refletindo em polticas pblicas igualmente
destorcidas: orientaes para tratar com maior rigor os negros e
migrantes, criao de grupos especiais anti-seqestro, leis mais
repressivas contra drogados ou contra crianas e adolescente etc.,
quando, na realidade, a sociedade est mais carente de instituies
para lidar com a violncia domstica ou com batedores de carteira. Em
suma, a forma com a mdia retrata a criminalidade, autores e vtimas,
tem influncia na realidade social, na administrao da justia e na
legislao penal, influncia em geral mais poderosa do tm as
pesquisas de criminologia. (Schneider)
preciso adequar as polticas pblicas realidade do crime. Propostas
como as que deram origem aos "crimes hediondos", que desrespeitam
garantias e direitos clssicos dos envolvidos, surgiram, quase sempre,
aps um surto de exposio de casos ou incidentes simblicos
relatados pela mdia, surtos por vezes imaginrios, ao invs de
surgirem da reflexo sobre tendncias reais da criminalidade.
Propostas de introduo da pena de morte, reduo da maioridade
legal, e outras medidas repressivas, surgem no bojo destas "ondas de
criminalidade"
2
. Talvez o caso recente mais pitoresco seja o de alguns
acidentes ocorridos em poos de elevadores, que deve ter vitimado no
mximo uma dezena de pessoas nas ltimas dcadas, mas que,
destacados nos meios de comunicao, deram origem a um lei
obrigando a colocar um aviso, em todas as portas de todos os
elevadores do Estado, alertando as pessoas para verificar se existe
realmente um elevador antes de tentarem tomar algum ...
2
Estes surtos imaginrios de criminalidade so muito comuns nos Estados
Unidos, onde vrios exemplos foram estudados. O mais famoso o dos
"ataques contra idosos", mas h tambm os casos dos "serial killers", das
"crianas desaparecidas" ou ainda o dos "does de Hallowenn envenenados".
Todos estes casos, quando confrontados com as estatsticas oficiais,
revelaram-se claramente exagerados.
13
compreensvel que, diante da presso pblica, as autoridades
procurem solues emergenciais para tais problemas, pois mesmo que
o "surto" exista somente na cabea de alguns responsveis pelas
pautas dos meios de comunicao, o temor da populao diante do
fenmeno bastante real.
Diversas pesquisas, entre elas a pesquisa de vitimizao realizada pelo
Ilanud em 1997, que o medo do crime e da violncia no tem relao
com as reais probabilidades de vitimizao: embora os jovens corram
riscos maiores de vitimizao, o sentimento de insegurana entre eles
menor do que o manifestado pelos mais velhos, cujo risco de
vitimizao menor.
3
Outras pesquisas captaram o mesmo fenmeno:
mulheres e pessoas idosas temem mais serem vtimas de crimes
violentos cometidos por desconhecidos, embora o risco de vitimizao
destes grupos sejam inferiores mdia. (Schneider, ???)
Embora as pessoas no recebam acriticamente as informaes
passadas pelos meios de comunicao sobre a criminalidade - e filtrem
estas informaes de acordo com sua prpria experincia com o crime,
com a percepo de credibilidade no meio de comunicao ou segundo
a preocupao prvia sobre sua segurana pessoal - diversos analistas
trabalham com a hiptese de que existe uma relao entre exposio
de crimes na mdia, especialmente homicdios, e medo do crime.
(Barkan, 1997)
Por isso importante que os meios de comunicao que se dedicam a
cobertura de violncia e criminalidade faam a coleta e anlise
sistemtica e peridica de dados sobre estas questes, para que
possam dar a sua audincia uma imagem fidedigna do que est
acontecendo na realidade, sem exagerar a relevncia do evento
apresentado. Aumentos explosivos de criminalidade e "surtos" de
crimes especficos so fenmenos mais raros do que aparentam ser.
No h dvida de que existe o fenmeno do "contgio" ou "efeito
domin", onde a apario de uma modalidade ou forma diferente de
praticar um crime induz a imitao por parte de outros, provocando
assim uma "onda". Mas quando se analisa friamente a evoluo dos
crimes no tempo, percebe-se, ao contrrio, que as taxas de
3
Uma hiptese plausvel para este fenmeno a de que o sentimento de
insegurana est mais relacionado fragilidade da vtima - sua incapacidade de
se defender da violncia - do que com a experincia concreta de vitimizao.
14
Questes Atuais em Criminologia
criminalidade so na verdade bastante estveis. A realidade do crime,
ao menos aqui no Brasil, j ruim o bastante por si s, sem que
precisemos contribuir para isso.
Sempre que possvel, mesmo com as limitaes do meio, deve-se
procurar fazer uma apresentao contextualizada dos eventos
criminais. Este tipo de apresentao pode sem dvida tirar um pouco
da dramaticidade do fato, mas a nica forma de ajudar a recolocar a
discusso sobre as polticas pblicas para lidar com o crime nos seus
devidos eixos, sem provocar o pnico na sociedade ou favorecer as
"sadas mgicas", to ao gosto aos legisladores brasileiros.
15
A Violncia Brasileira
Os brasileiros, principalmente habitantes das grandes cidades, sentem
que vivem numa sociedade e numa poca violentas. Esta sensao
confirmada pelas histrias contadas pelos mais velhos, dos tempos em
que no se precisava trancar a porta de casa e podia-se ir a noite para
qualquer lugar, sem medo de ser assaltado.
Qualquer um que tenha mais de 30 anos lembra tambm por
experincia prpria que morar no Brasil j foi algo mais tranqilo.
Existe assim uma referncia temporal que toma por base o passado
como exemplo de sociedade que mantinha padres tolerveis de
violncia. Em algum momento na dcada de 80 a situao parece ter
fugido ao controle.
Se existem referncias razoavelmente seguras para inferirmos que a
sociedade brasileira tornou-se violenta com o tempo - e diversos
indicadores apontam neste sentido - existem todavia poucas
comparaes com outros pases para que tenhamos uma noo
precisa do quo violenta ela . A exiguidade de comparaes
internacionais se deve principalmente a dois fatores: falta de uma
definio precisa para o termo "violncia" e carncia e impreciso de
dados. Como saber se somos mais ou menos violentos que outros
pases ? Com quais pases estabelecer a comparao ? Quais os
indicadores adequados para mensurar o conceito de violncia ? Onde
encontr-los, calculados da mesma forma e para os mesmos perodos?
Na ausncia de um indicador mais preciso, convencionou-se utilizar
como medida de violncia a taxa de homicdios dolosos por 100 mil
habitantes. Embora a correlao no seja estritamente verdadeira,
aceita-se que a taxa de homicdios seja uma medida resumo da
violncia existente no pas e que uma sociedade onde morrem muitas
pessoas tambm uma onde ocorrem outros tipos de crimes. A
escolha da taxa de homicdios dolosos por 100 mil habitantes, se no
perfeita, tem alguns mritos: os homicdios no sofrem tanto com o
problema da subnotificao quanto os outros crimes e no existe
praticamente sociedade que no tenha um registro sobre as causas de
mortalidade de seus habitantes. Do mesmo modo, se existem
divergncias sobre o que uma agresso sexual ou um assalto de uma
legislao para outra, existem poucas sobre o que um assassinato.
16
Questes Atuais em Criminologia
Para efeitos de comparao internacional, portanto, trata-se do melhor
indicador possvel de "violncia", ao lado das pesquisas internacionais
de vitimizao.
Aceitando-se com algumas ressalvas que a taxa de homicdios dolosos
por 100 mil habitantes seja um indicador de violncia, resta o problema
de onde encontrar dados abundantes e confiveis. Os organismos
internacionais, principalmente os vinculados as Naes Unidas,
constituem o maior manancial para este tipo de informao. No que se
refere a taxa de homicdios, localizamos quatro diferentes estudos
recentes (anos 90), dois deles com informaes relativas ao Brasil: so
eles United Nations Survey on Firearm Regulation (UNSFR, 1997, 36
pases), o estudo patrocinado pelo U.S Center for Disease Control
(CDC, 35 pases) , o United Nations Surveys of Crime Trends and
Operations of Criminal J ustice System (TRENDS, 1990-1994, 59
pases) e o International Crime Statistics (ICS, 1994, 84 pases),
elaborado pela Interpol. No total, foi possvel coletar informaes sobre
taxas de homicdio para 108 pases. Quando a informao para um
pas existia em mais de uma fonte, extraiu-se uma mdia dos dados.
Uma vez escolhido o indicador a partir do qual analisar quo violento
o Brasil em comparao a outros pases e encontradas as fontes, resta
ainda uma questo crucial para a anlise: violento comparado a quem ?
Entre os pases pesquisados existem naes ricas e pobres,
socialmente igualitrias e desiguais, culturalmente tradicionalistas e
modernas, urbanizadas e rurais, super e sub povoadas, religiosas e
laicas, politicamente repressivas ou liberais, entre outras variedades.
Todas estas diferenas implicam em diferentes graus de violncia (e
violncias de natureza diferente) e s faz sentido comparamos pases
que tenham algum grau de semelhana entre si.
A taxa mdia de homicdios para os 108 pases investigados foi de 8,5
por 100 mil habitantes, o que eqivale a cerca de um tero da taxa
brasileira, estimada em 24,1 por 100 mil. Quando separamos os pases
pelo grau de desenvolvimento industrial, observamos que uma taxa
elevada de homicdios caracterstica das naes em
desenvolvimento, sendo mais baixa tanto nos pases menos
desenvolvidos quanto nos pases industrializados.
17
Tabela 1. Taxa de homicdios por grupo de pases
Gr upo Homi c di os
por 100 mi l
N de
Pa ses
Menos desenvol . 4, 2 14
Emdesenvol . . 12, 7 52
I ndust r i al i zados 4, 7 42
8, 5 108
Fontes: United Nations Survey on Firearm Regulation / U.S Center for Disease Control /
United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal J ustice System /
International Crime Statistics.
Resultados semelhantes so obtidos quando dividimos os pases pelo
seu nvel de desenvolvimento humano ou ainda pelo PIB per capta: os
nveis intermedirios de desenvolvimento so sempre mais violentos do
que os nveis muito baixos ou muito altos. Neste sentido, a evoluo do
fenmeno da violncia parece seguir a forma de sino e no uma forma
linear: ultrapassado certo limiar de desenvolvimento a violncia emerge,
voltando a cair novamente quando o pas ingressa no grupo das naes
desenvolvidas.
Mesmo quando comparado com o grupo de pases em
desenvolvimento a violncia brasileira chama a ateno, pois apresenta
quase o dobro da taxa destes pases, estimada em 12,7 por 100 mil.
Muitos pases em desenvolvimento esto localizados no mundo rabe
ou no continente asitico, pases onde a cultura e o sistema poltico e
religioso constituem-se em fatores de inibio da violncia.
Tabela 2. Taxas de homicdios por regies
Regi es Homi c di os
por 100 mi l
N de
Pa ses
f r i ca Sub- Saar i ana 13, 0 17
est ados r abes 1, 7 12
Est e da si a 5, 5 4
Sudest e Asi t i co 5, 6 9
Sul da si a 2, 2 7
Amr i ca Lat i na e Car i be 19, 8 20
Amr i ca do Nor t e 6, 1 2
Eur opa Or i ent al 8, 6 16
Eur opa Oci dent al e do
Sul
1, 9 18
8, 7 105
Fontes: United Nations Survey on Firearm Regulation / U.S Center for Disease
Control / United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal
J ustice System / International Crime Statistics.
18
Questes Atuais em Criminologia
Quando separamos os pases por regies, percebem-se as enormes
diferenas inter-regionais, com a Amrica Latina sobressaindo-se como
uma das reas mais violentas do planeta, seguida pela frica Sub-
Saariana e pela Europa Oriental. Com quase 20 homicdios por 100 mil
habitantes, a mdia latino-americana bastante prxima da brasileira, o
que sugere que no somos uma caso to desviante de violncia
quando nos comparamos apenas com a mdia dos pases da regio.
Analisando separadamente os pases da regio, o Brasil aparece como
o quarto mais violento, superado apenas por Colmbia, Honduras e
J amaica. Nem mesmo pases que passaram recentemente por guerras
civis ou que convivem com a guerrilha poltica - como Venezuela, Peru
e Nicargua - apresentam taxas to elevadas. Tendo em conta que o
Brasil o pas mais populoso do grupo, em termos absolutos somos os
lderes em mortes por homicdio.
Sendo correta a estimativa de 24 homicdios por 100 mil, numa
populao de cerca de 154 milhes de habitantes em 1994, isto
representa algo em torno de 37.000 assassinatos todos os anos. Vendo
de outro modo, o Brasil concentraria nada menos que 38,5% de todos
os homicdios ocorridos na Amrica Latina e Caribe.
Tabela 3. Taxas de homicdios por pas
Pa ses Homi c di os por
100 mi l
N. de mor t os
( est i mat i va)
Col mbi a 78, 44 27077
Hondur as 63, 58 3624
J amai ca 28, 96 722
Br asi l 24, 10 37047
Venezuel a 22, 14 4826
Gui ana 19, 85 163
Ni car gua 19, 02 837
Bahamas 18, 98 52
Mxi co 17, 58 16350
Par aguai 15, 61 780
Panam 13, 97 360
Chi l e 11, 04 1544
Tr i ni dad Tobago 10, 57 137
Equador 10, 31 1156
Gr anada 7, 78 7
Bar bados 6, 83 20
Cost a Ri ca 5, 72 175
Ar gent i na 2, 87 993
Per u 1, 41 325
Fontes: United Nations Survey on Firearm Regulation / U.S Center for Disease
Control / United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal
J ustice System / International Crime Statistics.
19
Chamamos a ateno finalmente para o fato de que as mdias
nacionais encobrem diferenas internas elevadas. O problema da
violncia concentra-se principalmente nos grandes centros urbanos
destes pases: tomadas isoladamente, cidades como Rio de J aneiro
(74,2:100 mil) ou So Paulo (44,3:100 mil) apresentam taxas muito
mais elevadas. A taxa mdia brasileira cai para 24 porque as taxas nas
cidades menores so bem mais baixas.
A explicao para a violncia generalizada na regio complexa e vai
alm da pobreza, como vimos. O passado "autoritrio" do pas
tampouco condio suficiente para explicar adequadamente a
violncia atual uma vez que ex-ditaduras como Peru (1963-1980),
Equador (1968-1979) e Argentina (1976-1983) esto entre os pases
com violncia mais baixa do continente. Uma combinao explosiva de
modernizao e urbanizao aceleradas, desigualdade social, padres
de consumo de primeiro mundo, liberdade poltica e ausncia de freios
morais e religiosos parecem ser os maiores responsveis pelo
fenmeno da violncia latino-americana, sem mencionar a produo de
drogas e a economia estagnada em vrios pases. O Brasil, neste
sentido, ao lado da Colmbia e do Mxico, seria apenas um dos casos
onde estas variveis se apresentam de modo mais extremo.
20
Questes Atuais em Criminologia
Os Custos da Violncia
Quanto se gasta ou deixa de ganhar por causa do crime no Estado de So Paulo 4
Uma combinao explosiva de modernizao e urbanizao
aceleradas, desigualdade social, padres de consumo de primeiro
mundo, liberdade poltica e ausncia de freios morais e religiosos
parecem ser os maiores responsveis pelo fenmeno da violncia
crescente na Amrica Latina, ao lado da produo de drogas e da
economia estagnada em vrios pases. O Brasil, ao lado da Colmbia e
do Mxico, um dos casos onde estas variveis se apresentam de
modo mais extremo e portanto onde a violncia tem mais crescido nas
ltimas dcadas. Este aumento da violncia tem um impacto no
desprezvel sobre a economia do pas. Neste artigo procuramos avaliar
os custos da violncia tomando como base o estado de So Paulo,
onde a questo da criminalidade se apresenta de maneira aguda.
A violncia custa caro, tanto para o pas como individualmente.
Custa caro porque "segurana" um bem desejado por todos, mas
cada vez mais escasso. Para garantir este bem, executamos todos os
dias dezenas de atos de precauo e adquirimos outros tantos bens no
mercado: seguros de toda espcie, ces de guarda, quinquilharias
eletrnicas, travas, grades e cadeados de todo tamanho e funo.
A preocupao com a segurana afeta nossas decises de
uma maneira que j quase imperceptvel e autmata para os
moradores dos grandes centros urbanos como So Paulo e Rio: sem
que o percebamos, deixamos de viajar para determinadas cidades, de
morar em certas vizinhanas, de estacionar o carro nesta ou naquela
rua, de comprar carros conversveis ou morar em casas. Em funo da
violncia reordenamos parte de nossa vida e de nossos negcios.
Para o poder pblico, segurana converteu-se tambm num
dos maiores itens oramentrios e em objeto de preocupao
prioritria. Pesquisas de opinio pblica revelam que, ao lado do
4
Diversas pessoas ajudaram a compilar os dados para este artigo, entre elas,
principalmente, Cristina Barbosa, Flvia Piovesan, Jos Alves dos Reis, Rafael
Rabinovici, Renato Srgio de Lima e Tatiana Bicudo. Nenhum deles tem
qualquer responsabilidade pela forma como os dados foram interpretados.
21
desemprego, a questo da violncia aparece entre as maiores
inquietaes da populao". Cada ano a populao exige mais
policiais, mais viaturas e armas, novos presdios, juzes, promotores,
rdios comunicadores, computadores.
O Estado vem investindo quantias significativas na rea de
Segurana Pblica desde 1995. O efetivo da Polcia Militar aumentou
em 12% desde janeiro de 1995, contando hoje com 82.021 policiais. Os
pisos salariais para os soldados de 1 e 2 classes aumentaram em
mais de 200% neste perodo. Por conta destes investimentos, os gastos
com o pagamento do efetivo da Polcia Militar passaram de R$ 47
milhes em abril de 1995 para R$ 91,7 milhes em fevereiro de 1998,
representando um aumento de 95%. A Polcia Civil, por sua vez,
nomeou cerca de 5 mil novos policiais entre 95 e 98. Foram adquiridas
4.466 viaturas para aparelhar a polcia estadual, a um custo de R$ 94,9
milhes. Outros R$ 18,7 milhes de reais foram utilizados na compra de
14.849 coletes, 22.500 revlveres, 6.000 pistolas, 5.000 cacetetes,
alm de capacetes, escudos, munio e espingardas. Na rea da
administrao penitenciria foram construdas 21 penitencirias em
regime fechado e 3 em regime semi-aberto, a um custo de R$ 230
milhes de reais, para retirar os presos condenados mantidos
ilegalmente nas delegacias de polcia. Mas, apesar de todos estes
investimentos, sem dvida necessrios, a criminalidade est
aumentando no estado de So Paulo.
Se pegarmos como perodo base o 3 trimestre de 1995 e como
perodo de comparao o ltimo trimestre de 1998, veremos que, com
exceo do estupro - que est sujeito a bruscas variaes em funo
da baixa notificao - todos os crimes monitorados pelas estatsticas da
Secretaria de Segurana Pblica aumentaram nos ltimos 4 anos. Os
ritmos de crescimento variam de crime para crime: o destaque fica por
conta dos roubos de carro, que cresceram nada menos do que 123%.
Os homicdios culposos (13,8%) e o trfico de entorpecentes (15,2%),
por outro lado, foram os crimes que menos cresceram de 1995 para c.
Todas as taxas de crescimento de crimes so maiores do que a taxa de
crescimento populacional no perodo, que ficou em torno de 5,8%. O
ndice de Criminalidade - medida resumo que indica a mdia ponderada
de 4 crimes selecionados, com base na populao - apresentou um
aumento de 63% desde 1995.
22
Questes Atuais em Criminologia
Tabela 1. Taxas de Criminalidade em So Paulo (Estado)
Var i ao da Cr i mi nal i dade -
1995 a 1998, no Est ado de
So Paul o
3 Tr i m.
1995
4Tr i m. 1998 Var i ao
1995- 1998
Homi c di o dol oso 2302 2. 953 28, 28
Homi c di o cul poso 1128 1. 284 13, 83
Tent at i va de homi c di o 1496 2. 347 56, 89
Leso cor por al 57687 75. 081 30, 15
Lat r oc ni o 101 148 46, 53
Est upr o 1153 1079 - 6, 42
Tr f i co de ent or pecent es 1911 2. 202 15, 23
Roubo 25559 52. 017 103, 52
Roubo de Ve cul o 9472 21. 136 123, 14
Fur t o 69218 98. 884 42, 86
Fur t o de Ve cul o 19787 28. 309 43, 07
Popul ao do Est ado 33427929 35367254 5, 80
hom. dol . Por 100 mi l 6, 89 8, 38 21, 74
Leso cor por al por 100 mi l 172, 57 213, 15 23, 51
r oubo por 100 mi l 76, 46 147, 67 93, 14
f ur t o por 100 mi l 207, 07 280, 73 35, 57
ndi ce de Cr i mi nal i dade 1021, 63 1664, 13 62, 89
Fontes: Fundao SEADE: Populao / Secretaria da
Segurana Pblica: dados de criminalidade
Qual o preo que a sociedade paga por este crescimento dos
ndices de criminalidade ? Estes investimentos tem se revelado
compensadores para a sociedade ? Haveriam outras formas de investir
estes mesmos recursos mais eficazmente ? Foi para responder estas
perguntas que se criaram diferentes frmulas e metodologias para
estimar os custos da violncia. No h consenso sobre a melhor
frmula, o que se deve incluir ou deixar de fora dos clculos, qual o
peso de cada fator. Os custos podem ser classificados em preventivos
e curativos, diretos e indiretos, perdas materiais e perdas humanas,
tangveis e intangveis, econmicos e financeiros, custos para a
sociedade ou para o cidado, de curto ou de longo prazo, perdas pelo
que se gasta ou pelo que se deixa de ganhar e assim por diante.
A variedade de mtodos s no maior do que a variedade de
fontes utilizadas: estatsticas oficiais de criminalidade, pesquisas de
vitimizao, oramentos governamentais, tabelas de seguradoras,
pesquisas de opinio pblica, estimativas feitas por especialistas no
setor pblico e privado e toda uma srie de meios formais e informais
que possam servir como base para o clculo.
23
Antes que algum comece a levar demasiado a srio os
clculos aqui apresentados, preciso dizer que por trs da aparente
sofisticao metodolgica das estimativas dos custos do crime existe
uma boa dose de "adivinhao". Trata-se, todavia, de adivinhao bem
informada e assume-se aqui ser melhor trabalhar com elas do que com
nada. Trata-se de ter alguma estimativa, por precria que seja, para
auxiliar no processo decisrio na esfera da segurana pblica, uma
orientao que ajude na hora de optar por alternativas, como investir na
represso ou preveno do crime.
5
J existem algumas tentativas de mensurao de custos da
violncia feitas no Brasil. Um pesquisa feita pelo BID estimou que a
violncia custa 84 bilhes de dlares ao Brasil ou 10,5% do PIB
nacional. O economista Ib Teixeira, da Fundao Getlio Vargas,
calcula em 60 bilhes o valor gasto ou perdido, ou 8% do PIB. Somente
no municpio do Rio de J aneiro, segundo o ISER, a violncia custou
aos cidados cerca de 2 milhes de dlares, ou 5% do PIB municipal
de 1995. O problema que estas estimativas no so comparveis
porque usam metodologias, unidades geogrficas e anos diferentes.
Nenhuma necessariamente certa ou errada.
Para esta pesquisa, optamos por dividir os gastos em 3 diferentes
categorias: 1) gastos feitos pelo cidado indiretamente, atravs de
impostos e que so alocados direta ou indiretamente no combate ao
crime; 2) gastos feitos diretamente pelos indivduos ou empresas para a
compra do bem "segurana" ou perda de patrimnio direta em funo
do crime e 3) valores que deixam de ser produzidos ou ganhos pela
sociedade em razo do medo da violncia / outros custos intangveis.
6
1) gastos feitos pelo cidado indiretamente atravs de impostos e que
so alocados no combate ao crime
Tabela 2 . Gastos Indiretos com Violncia
I t em Val or Por cent
5
Para tomar um exemplo concreto: o governo, atravs das Secretarias da
Administrao Penitenciria e do Trabalho, iniciou em 1997 um programa de
prestao de servios comunidade, para aqueles que foram condenados a
cumprir penas alternativas. Nesta modalidade de pena um prestador custa ao
estado cerca de 50 reais mensais e trabalha gratuitamente 8 horas semanais.
Se estivesse cumprindo pena em regime fechado, custaria R$ 620 mensais aos
cofres pblicos.
6
A explicao detalhada das fontes e clculos no cabem no limite deste
artigo, mas podem ser obtidas no Ilanud, onde a pesquisa foi desenvolvida.
24
Questes Atuais em Criminologia
.
Secr et ar i a da Segur ana Pbl i ca - 1998 3. 585. 094. 695 85, 4
Secr et ar i a da Admi ni st r ao Peni t enci r i a
- 1998
471. 007. 971 11, 1
Tr i bunal de Al ada Cr i mi nal - 1998 72. 874. 153 1, 7
I nt er nao de cr i anas e adol escent es
i nf r at or es - 1988
38. 390. 760 0, 9
Tr i bunal de J ust i a Mi l i t ar - 1998 14. 617. 586 0, 3
Mi ni st r i o Pbl i co - 1998
( soment e gast os comsal r i os, na capi t al )
5. 529. 600 0, 1
Pr ocur ador i a Ger al do Est ado - 1998.
( soment e gast os emsal r i os, na capi t al )
3. 060. 000 0, 05
Guar da Ci vi l Met r opol i t ana
( soment e gast os comsal r i os, na capi t al )
2. 700. 000 0, 06
Penses pagas par a f am l i as de pol i ci ai s,
mor t os em ser vi o. ( Dados da Resol uo
168, publ i cados no Di r i o Of i ci al de 21- 5-
98)
2. 175. 800 0, 05
I nt er naes hospi t al ar es na r ede pbl i ca :
soment e gast os com " homi c di os e l eses
pr ovocadas i nt enci onal ment e por out r as
pessoas / out r as vi ol nci as" ( DATASUS,
1997)
1. 310. 595 0, 03
Tot al 4. 196. 761. 160 100
Fontes: Dirio Oficial / DATASUS / Servio de Relaes Pblicas do
Comando da Guarda Civil / COSESP
Os gastos dos rgos diretamente relacionados com o combate
da criminalidade, como Secretarias de Segurana Pblica e
Administrao Penitenciria, foram retirados do oramento estadual de
1998. Do oramento da Secretaria de Segurana Pblica deduzimos
apenas os valores relativos ao Corpo de Bombeiros, cujas atividades
no dizem respeito ao controle do crime (exceto no caso de incndios
provocados intencionalmente). Para outros rgos pblicos que s
dedicam parte de seu oramento ao problema do crime, clculos
diferentes foram necessrios. Assim, por exemplo, o valor das
internaes dos menores infratores no eqivale aos gastos integrais
da Secretaria de Assistncia e Bem Estar mas o resultado da
multiplicao de 3.485 internos em junho de 1998, ao custo unitrio de
R 918,00 por ms.
Para estimar os custos no Ministrio Pblico averiguamos que,
somente na Capital, existem 256 promotores de J ustia com atribuies
criminais e tomamos como salrio base, no incio de carreira, o valor de
1.800 reais, tanto para promotores quanto para procuradores. O valor
sabidamente subestimado pois no leva em conta os promotores no
interior, os gastos administrativos e os acrscimos salariais. O mesmo
25
vlido para a Procuradoria do Estado: somente parte do trabalho do
rgo despendido no trato de questes criminais. Na Capital atuam
105 procuradores na rea criminal, alm de 65 espalhados pelo interior.
Somente foram levados em conta os gastos com salrios, minimizando
os custos efetivos do Ministrio Pblico e da Procuradoria. Na ausncia
de informaes precisas, ao calcular os custos da violncia prefervel
pecar por falta do que por excesso.
Na Guarda Municipal de So Paulo, segundo o servio de
relaes pblicas do Comando da Guarda Civil, trabalham 4.500
policiais, com vencimentos brutos, na categoria base, em torno de 600
reais mensais. O custo aqui novamente subestimado pois s leva em
conta os gastos com salrios e no municpio de So Paulo.
Alm dos salrios dos operadores do direito - policiais,
carcereiros, juzes, promotores e procuradores - preciso levar em
conta o pagamento de seguros e indenizaes pblicas s vtimas da
violncia. Desde 1998, as famlias dos policiais que morrem em servio
recebem como indenizao, em mdia, R$ 50.600 reais. Em 1997
morreram em servio 40 policiais militares e 3 policiais civis e sobre
esta base que computamos os gastos com seguro apresentados na
tabela. Desde junho de 1996, quando este tipo de seguro foi criado, 151
famlias receberam o equivalente a 7 milhes e 200 mil em
indenizaes da Cosesp, Companhia de Seguros do Estado.
O INSS, por sua vez, pagou em So Paulo 449.933 penses
por invalidez e 908.880 penses por morte em 1996, mas no
soubemos avaliar quantos dos mortos por homicdio e invlidos no
Estado receberam tais penses, de modo que optamos por no incluir
os gastos do INSS no cmputo. (INSS, 1996). Como a maior parte dos
mortos pela violncia so jovens, sub empregados e no raramente
desempregados, possvel que boa parte das famlias no receba
indenizaes do INSS. Quanto aos gastos ambulatoriais com as
vtimas da violncia, (93% dos homicdios em So Paulo so
cometidos por armas de fogo) finalmente, estimamos que So Paulo
representa 46,4% dos gastos nacionais no quesito "internaes
hospitalares por violncia na rede pblica", tomando como base a
proporo de gastos no Estado com atendimento especfico em
urgncia e emergncia. Faltaria acrescentar ainda os gastos em So
Paulo da Polcia Federal, para completarmos o quadro, mas no foi
possvel obter tais informaes. O efetivo da polcia federal pequeno
se comparado ao efetivos das polcias estaduais, de modo que o
resultado final no est demasiado distante da realidade.
26
Questes Atuais em Criminologia
Os gastos neste primeiro grupo de custos, que chamamos de
indiretos, so sabidamente subestimados, mas mesmo assim perfazem
4 bilhes e 200 milhes de reais, com o oramento da Secretaria de
Segurana Pblica, como era previsvel, representando o maior
dispndio proporcional nesta categoria.
2) gastos feitos diretamente pelos indivduos ou empresas para a
compra do bem "segurana" ou perda de patrimnio direta em
funo do crime
Tabela 3. Gastos e perdas diretas com Violncia
I t em Val or Por cent
.
Segur ana Pr i vada: 400. 000 guar das no
Est ado ( Sesvesp, soment e sal r i os)
2. 880. 000. 000 60, 6
Ve cul os f ur t ados 839. 772. 000 17, 6
Segur os: aut omvei s 495. 681. 600 10, 4
Ve cul os r oubados 340. 404. 000 7, 1
Car gas r oubadas ( DI VECAR, SETECESP, 1998) 116. 472. 180 2, 4
Per da de pat r i mni o em ar r ombament os
r esi denci ai s ( excl ui ndo o cust o dos danos,
soment e Regi o Met r opol i t ana de So Paul o)
41. 337. 021 0, 8
Per da di r et a de bancos com r oubos em
agnci as ( DEPATRI , 1998)
30. 000. 000 0, 6
Out r os r oubos e f ur t os, excl ui ndo
ve cul os, bancos e car gas
10. 437. 750 0, 2
Sepul t ament o das v t i mas de homi c di o 2. 496. 800 0, 05
Equi pament os de segur ana par a car r os 692. 300 0, 01
Tot al 4. 757. 293. 651 100
Fontes: SESVESP / Secretaria de Segurana Pblica / DIVECAR /
SETECESP / DEPATRI / Servio Funerrio Municipal / ILANUD
Os valores estimados para este segundo grupo de itens somam
4 bilhes e 757 milhes de reais anuais entre gastos e perdas diretas
da populao. So quantias em dinheiro ou bens que mudaram de
mos, no caso dos crimes consumados, passando do setor legal para o
ilegal da sociedade. Quantias, nos caso da preveno, que os
indivduos certamente prefeririam estar investindo em outras coisas,
como lazer, ao invs de us-las para se precaver de perigos em
potencial. Deste grupo, o item de maior peso o investimento em
vigilncia privada, um dos nicos setores do pas para o qual no existe
crise. Depois dos gastos em vigilncia privada aparecem em
importncia os gastos relativos a veculos: somados, os custos com
roubos, furtos, seguros, equipamentos de proteo de veculos
27
representam no final um rombo considervel no oramento dos
indivduos.
Poderamos agregar ainda a este grupo de custos os seguintes itens:
Custos e honorrios advogatcios.
Perdas com os "crimes de colarinho branco".
Horas de trabalho perdidos: convalescncia fsica e psicolgica,
registro de queixa policial; testemunho em processos criminais, etc.
Quebra de produtividade de funcionrios vtimas de violncia.
Tratamento mdico e psicolgico das vtimas na rede privada.
Investimento em equipamentos para segurana prpria,
empresarial ou residencial, como armas, grades, cmeras, alarmes,
etc.
Infelizmente, com relao a estes itens, s dispomos de alguns
elementos para base de clculo, de modo que no foram includos
neste levantamento. Entre estes elementos, valeria mencionar: quanto
aos custos advogatcios, o site da OAB na internet divulga uma
pesquisa feita em escritrios de advocacia, com os seguintes preos
mnimos: na fase do Inqurito Policial - diligncias R$300;
acompanhamento R$500 ; instaurao R$700. Na fase da Ao Penal:
defesa R$1.000; defesa em jri R$2.000; habeas corpus R$500, etc. Os
custos com advogados aparecem geralmente no caso de crimes
cometidos entre pessoas que se conhecem, ou nos casos de crimes
financeiros ou de "colarinho branco", raramente aparecendo no caso
dos crimes de rua, como roubos e assaltos. Note-se tambm que
deixamos de fora - e todos os clculos de custos da violncia o fazem -
as perdas para a sociedade com os crimes de "colarinho branco", como
corrupo, falncias fraudulentas, prevaricao, golpes na praa em
geral. Em geral, as pesquisas sobre custos da violncia preocupam-se
exclusivamente com os crimes violentos, ou crimes de rua, deixando de
lado os crimes no violentos cometidos pela classe mdia. Um s
destes escndalos financeiros, porm, provocados por criminosos de
classe mdia, pode implicar em prejuzos equivalentes a milhares de
roubos e furtos, cometidos por ladres pobres.
Com relao a quebra de produtividade no trabalho das vtimas
da violncia, segundo a Brasiliano e Associados, o rendimento cai de
20% a 35% nos dias posteriores ao crime. preciso computar tambm
as horas de trabalho perdidos pela vtima com a convalescncia fsica e
28
Questes Atuais em Criminologia
psicolgica, registro de queixa policial, testemunho em processos
criminais e outras atividades envolvidas na fase judicial.
Finalmente, como relao aos investimentos em equipamentos
de segurana residencial feitos pela populao, sabemos, atravs de
pesquisas de vitimizao feitas na capital, que 8% das residncias tm
arma de fogo em casa; 27% fechaduras especiais para portas; 31% co
de guarda; 32% janelas e portas gradeadas e 36% grades altas.
(Ilanud, 1997). Este tipo de investimento se faz uma s vez, sendo
difcil calcular o custo em base anual. Especificamente em relao aos
automveis, sabemos que 28% dos carros da capital tm alarme e 23%
trava de direo ou cmbio, e que 27% tm algum mecanismo de corte
de combustvel ou corrente eltrica. (Ilanud, 1997). Uma vez que a frota
no Estado era de 7.937.980 veculos em 1997, isto significa que foram
comprados para a proteo da frota atual cerca de 2.222.634 alarmes,
2.143.254 corta correntes ou de combustvel e 1.825.735 travas. Os
valores mencionados na tabela acima com "equipamentos de
segurana para carros" foram estimados com base no incremento anual
da frota.
3) valores que deixam de ser produzidos ou ganhos pela sociedade
em razo do medo da violncia / outros custos intangveis
Este ltimo grupo de custos o mais difcil de ser estimado, seja
pela precariedade de dados, seja pela subjetividade de algumas
categorias. Em termos relativos, sabe-se que a maior perda
representada pelas mortes prematuras e incapacitaes permanentes.
As vtimas da violncia so em geral jovens enquanto a expectativa de
vida no Estado de 65 anos para os homens e 73 para as mulheres.
So milhares de anos de vida potencialmente produtiva, de 11.000
pessoas mortas todos os anos, que deixam de ser aproveitadas. O
ISER avalia que tais custos econmicos por morte prematura e
incapacidade representam de 83% a 91% dos custos da violncia. Este
e outros custos no esto sendo computados aqui, pois representam
perdas potenciais.
Apenas para dar uma dimenso do quanto se perde com mortes
prematuras no Estado, podemos fazer um clculo aproximado, levando
em conta que 93% das vtimas so homens e os seguintes valores:
29
Tabela 4. Anos de vida perdidos por morte prematura
Fai xa Et r i a Homens Mul her es Anos per di dos
Homens
Anos Per di dos
Mul her es
46 a 100 ( 6, 9) 708 53 - -
39 a 45 ( 8, 2) 840 63 16800 1764
36 a 38 ( 4, 4) 458 34 12366 1190
33 a 35 ( 7, 5) 773 58 23190 2204
30 a 32
( 11, 0)
1131 85 37323 3485
27 a 29
( 11, 0)
1131 85 40716 3740
24 a 26
( 14, 3)
1469 110 57291 5170
21 a 23
( 14, 2)
1452 109 60984 5450
18 a 20
( 14, 2)
1452 109 65340 5777
16- 17
( 5, 7)
590 44 28230 2464
0 a 15
( 2, 0)
212 16 10600 928
N = 11. 000 10. 230 770 352. 840 32. 172
Fonte: DHPP / SEADE - Porcentagens por sexo e idade baseadas
nas 4145 vtimas de homicdios analisados pelo DHPP em 1997 e
extrapoladas para as cerca de 11.000 vtimas no Estado. Os limites
mximos de cada faixa foram utilizados para calcular a diferena entre
a idade da morte e a expectativa de vida para cada sexo.
Apenas para efeito de clculo, se supusermos que estas pessoas
ganhavam pelo menos um salrio mnimo mensal (R$ 1.440 por ano) e
que continuariam a ganhar o mesmo pelo resto de suas vidas,
chegamos a uma perda por mortes prematuras no valor de R$
508.089.600 reais para os homens e de R$ 46.327.680 reais para as
mulheres, totalizando R$ 554.417.280 reais, somente com as pessoas
mortas por homicdio num nico ano.
Entre outros custos intangveis por vezes computados em estudos
sobre custos da violncia valeria a pena mencionar:
Turismo nacional e internacional desviado para outros locais menos
violentos.
Oportunidades empresariais perdidas: fbricas e lojas instaladas
em outros locais.
Perda de qualidade de vida: estresse, medo.
Mudanas de estilo de vida: habitantes da cidade saem menos de
casa, consomem menos em bares, cinemas, restaurantes, etc.
30
Questes Atuais em Criminologia
Alunos que deixam de freqentar cursos noturnos e empregados de
trabalhar em turnos noturnos.
Estes valores so os mais difceis de estimar pois so quase
sempre hipotticos. Oferecemos aqui apenas alguns indcios e
variveis que deveriam ser levados em conta caso uma pesquisa
completa conseguisse estim-los: em relao ao turismo, o economista
Ib Teixeira, da FGV do Rio, calcula que o Brasil deixou de ganhar 20
bilhes de dlares entre 1988 e 1998, ou cerca de 2 bilhes de dlares
por ano. Uma vez que se estima que cada 1000 dlares gastos por
turistas no pas gera de 2 a 3 empregos, o problema do desemprego no
Brasil praticamente desapareceria nas regies tursticas se este fluxo
de visitantes fosse canalizado para c.
Sobre os aspectos subjetivos da violncia e seus efeitos
comportamentais, desnecessrio apontar o quanto nossa rotina
alterada: somente a ttulo de exemplificao, a pesquisa de vitimizao
do Ilanud levantou que, na Capital, 45% dos habitantes costuma evitar
certas ruas, locais ou pessoas por questo de segurana; 49%
sentem-se um pouco ou muito inseguros ao andar na vizinhana depois
que fica escuro; 35% acha muito provvel ou provvel ser vtima de
tentativa de arrombamento nos prximos 12 meses. Com relao a
mudana de hbitos, 52% da populao da capital costuma pedir a
vizinho ou vigia para olhar a casa quando sai (Ilanud, 1997).
Concluses
preciso ficar atento para o fato de que estes gastos tambm
implicam numa reduo da criminalidade e que porque eles so feitos
um grande nmero de crimes deixa de ocorrer . Nem todas estas
rubricas - especialmente os gastos com polcia - podem ser
considerados como "custos", se pensarmos no seu papel preventivo.
Se os gastos feitos em segurana ajudam a prevenir crimes que de
outro modo ocorreriam, trata-se na verdade de um bom investimento;
se no ajudam, ou no tanto quanto deveriam, a questo muda de
figura. Assim como no caso dos carros ou cargas roubadas
descontamos os recuperados, um clculo ideal deveria levar em conta -
e subtrair dos gastos - estes crimes prevenidos. O problema que este
clculo impossvel de ser feito, superestimando de certo modo os
custos da violncia. Tenha-se em mente tambm que, na maioria dos
casos, dinheiro e bens roubados mudam de mos, mas no
desaparecem simplesmente da economia: o dinheiro gasto em salrios
31
de policiais e vigilantes, por exemplo, entra de novo na economia
quando estes consomem outros bens.
O PIB nominal do estado de So Paulo foi de 241,58 bilhes de
dlares ou de 292, 31 bilhes de reais, em valores de 1997, segundo o
SEADE. Os custos da violncia aqui levantados, em carter provisrio,
atingem a cifra de 8 bilhes e 96 milhes de reais, ou cerca de 3% do
PIB estadual. difcil julgar se esta uma proporo elevada ou no
em comparao com outros estados ou pases, mesmo porque no
existe comparabilidade metodolgica deste estudo com os demais. Mas
sem dvida um gasto elevado quando comparamos com o que
investido em outros setores: representa, por exemplo, 2,7 vezes o
gasto feito com a Secretaria da Sade e 21,7 vezes o gasto com a
Secretaria de Assistncia e Desenvolvimento Social em 1998.
Assim como em outros servios prestados pelo Estado na rea
da educao e da sade, tambm na rea da segurana acaba
ocorrendo uma espcie de "dupla-tributao" para aqueles que no
querem depender somente dos servios pblicos. Tributao dupla
porque, apesar de pagar atravs de impostos o custeio de escolas,
hospitais e segurana pblica, o cidado que desejar ensino de boa
qualidade, atendimento mdico adequado ou melhor segurana, vai ter
que pagar caro no mercado por estes produtos. Do mesmo modo como,
em funo da perda de qualidade, o ensino e a sade pblicos foram
privatizados no pas, a deteriorao na qualidade do servio de
segurana pblica est levando privatizao do setor. Escolas,
hospitais e policiamento pblicos sero, cada vez mais, servios
prestados a quem no pode pagar pelos servios privados. Esta
tendncia deve ser ainda mais acelerada na rea de segurana pois,
diferentemente das demais, freqentemente so as mesmas pessoas
que atuam na segurana pblico e na privada: como trabalham com
base em escalas, os policiais - treinados com recursos pblicos - so
aproveitados pelas empresas de segurana privada, boa parte das
quais, diga-se de passagem, so de propriedade de policiais de altas
patentes nas polcias Civil e Militar.
Este custo da violncia at agora tem sido "repartido" pelo
Estado (cuja fonte so os impostos pagos pela sociedade), pelas
vtimas da violncia e por aquelas empresas ou indivduos que
pretendem diminuir seus riscos de vitimizao. Existem, por outro lado,
dois ramos industriais especficos que tem parcela indireta de
responsabilidade pelos elevados custos da violncia mas que no
32
Questes Atuais em Criminologia
contribuem de maneira proporcional para custe-los: estou me referindo
especificamente industria de armas e de bebidas alcolicas.
Obviamente no a arma ou a bebida que causam isoladamente a
violncia, assim como no o cigarro o nico responsvel pelo cncer
em fumantes. No h como negar, todavia, o impacto da
disponibilidade de armas e do consumo de lcool sobre a criminalidade
e seus custos, assim como no se pode mais negligenciar os efeitos
indiretos do fumo sobre a incidncia de cncer ou problemas cardacos
na populao. Pesquisa realizada pelas Naes Unidas em 1995
mostrou que no Brasil as armas de fogo so utilizadas em nada menos
que 88% dos homicdios, colocando-nos como o pas com maior
proporo de homicdios por armas de fogo em todo o mundo. Os
homicdios por armas de fogo transformaram-se, em outras palavras,
num problema de sade pblica. No Rio de J aneiro, os mdicos
plantonistas j recebem treinamento dados aos mdicos que cuidam de
vtimas de guerras, em virtude na quantidade e qualidade dos
ferimentos. Nos Estados Unidos, a indstria do fumo reconheceu sua
parcela de culpa por uma srie de doenas e est entrando em acordo
com o governo para pagar parte dos gastos na rea de sade que o
Estado tem por causa do cigarro. Como contrapartida, no seriam
aceitas aes individuais por danos contra as indstrias ligadas ao
fumo. Acordos semelhantes esto sendo estudados em algumas
comunidades com relao aos fabricantes de armas. O princpio
invocado o mesmo: o nus com o tratamento das vtimas da violncia
no deve caber apenas ao Estado ou as vtimas. Se o lcool e as
armas de fogo tem parcela de responsabilidade pela violncia e mesmo
lucram com ela - como o caso da indstria de armas - eles deveriam
arcar de alguma forma com os seus custos.
A ttulo de concluso deste artigo, gostaria de reafirmar a
precariedade dos dados aqui apresentados e de lembrar que a cifra de
3% do PIB uma estimativa conservadora para o custo da violncia em
So Paulo, uma vez que deixa de computar diversos itens importantes.
E acima de tudo uma estimativa que no leva em conta um valor
incalculvel, de uma bem que no tem preo: o valor da vida das
vtimas da violncia e suas famlias; da dor e do sofrimento humano
que a violncia representa.
33
A expanso da segurana privada no Brasil: algumas
implicaes tericas e prticas.
Teoricamente, segundo a clssica definio de Max Weber, o Estado
o detentor do monoplio da violncia legtima dentro de um
determinado territrio. Desde que os cidados abdicaram de seus
"direitos naturais" em favor do Estado, somente ele tem o poder e o
dever de zelar pela segurana externa e interna, policiando, julgando e
punindo os infratores da lei.
J ulgar e punir criminosos ainda monoplio estatal em quase todos os
pases civilizados, no obstante a freqncia das tentativas populares
de fazer "justia com as prprias mos", quando avaliam que o estado
atua ineficazmente. Mas linchamentos, vigilantismo, violncia policial e
esquadres da morte, felizmente, so atividades ilegais em qualquer
canto: existem na prtica, contando no raramente com a aprovao
popular quando as vtimas so "criminosos", mas ainda so
competncia exclusiva do poder pblico.
O poder de polcia, por outro lado, deixou h vrias dcadas de ser um
tipo de atividade monopolizada pelo Estado. Neste setor, como assinala
Bayley, (Bayley, 1994) ocorreu uma eroso do monoplio pblico,
provocada tanto pelas iniciativas comunitrias de autodefesa como
principalmente pela expanso das atividades da indstria da segurana.
Hoje a funo de policiamento repartida entre o Estado e a
sociedade, e esta ltima vem adquirindo cada vez maior proeminncia.
Em diversos pases do mundo, desde os anos 70, o nmero de
vigilantes privados superou em quantidade o de policiais treinados e
pagos pelo Estado: nos Estados Unidos existiam, em 1990, cerca de
trs vezes mais seguranas particulares (2 milhes) do que policias,
estimados em 650 mil. A projeo norte-americana de que nos anos
90 os agentes de segurana particulares cresam anualmente ao dobro
da taxa dos policiais. Na Inglaterra e no Canad a situao a mesma:
existem duas vezes mais seguranas particulares do que policiais e a
taxa de crescimento do setor privado mais rpida do que do setor
pblico. Os dados existentes para So Paulo revelam uma tendncia
parecida. Em todo estado existem cerca de 400 mil vigilantes privados,
em comparao com 120 mil policiais civis e militares, numa proporo
de 3,3:1.
34
Questes Atuais em Criminologia
As causas desta eroso do monoplio estatal sobre o policiamento ?
Aumento do crime, do sentimento de insegurana e o reconhecimento
de que o poder pblico - se pode prestar um servio de segurana
bsico, no atende s necessidades especficas de segurana
demandadas pelo mercado. Este mesmo processo, preciso lembrar,
ocorreu em outros setores tpicos da atividade estatal, como sade e
educao. Em pases, como o Brasil, onde os servios mdicos e
educacionais pblicos so precrios, aqueles que podem procuram
comprar estes servios no setor privado. Com a exceo de algumas
"ilhas de excelncia", a qualidade da segurana, educao e sade
pblicas no Brasil deixa muito a desejar, criando neste vcuo a
oportunidade para lucros elevados no setor privado: as indstrias de
sade, educao e segurana privadas, no por acaso, esto entre os
ramos mais lucrativos nas ltimas dcadas
7
. Ao pobre nada mais resta
do que lutar pelas vagas nas escolas do municpio ou do estado, mofar
na fila dos hospitais pblicos e depender da escassa proteo policial,
que simplesmente no pode estar em todos os lugares, o tempo todo. A
classe mdia, em compensao, pode ser dar ao luxo de colocar seus
filhos na escola particular, internar-se na rede privada de sade e
contratar porteiros e vigilantes para cuidarem de seus bens, mas na
verdade acaba sendo duplamente tributada: j paga e caro, atravs dos
impostos, por sade, educao e segurana, mas quase nunca pode
utiliz-los, sendo obrigada a comprar estes bens e servios no mercado
quando precisa de um atendimento de qualidade.
O problema no s o da qualidade do atendimento. Algumas
empresas ou setores da sociedade desejam ter segurana 24 horas por
dia e o estado no tem a obrigao nem o dever de atend-los, pois
isto significaria a privatizao, em benefcio de alguns, de um servio
que deve ser de todos. o caso, por exemplo, dos espaos privados
freqentados por grande nmero de pessoas, como shopping centers ,
clubes, bancos, edifcios de escritrios, condomnios, etc. No
possvel nem desejvel colocar um policial em cada um destes locais e
por isso eles so quase que exclusivamente policiados por seguranas
particulares, ainda que a jurisdio legal seja da polcia.
7
0 salrio mdio de um vigilante foi estimado em R 600,00 mensais. O setor de
vigilncia privada movimentou 1 bilho de reais no Estado de So Paulo, entre
abril de 1996 e maio de 1997 (Sesvesp). Cerca de 29% da populao da capital
diz ter vigia ou guarda de segurana para olhar a casa (Ilanud, 1997)
35
A indstria da segurana prospera no Brasil, como em outros grandes
centros urbanos, e a priori no h qualquer problema nisto. Existem
todavia algumas caractersticas especficas na prestao deste servio
no Brasil que tornam a situao algo problemtica. Em primeiro lugar,
uma simbiose por vezes suspeita entre o setor pblico e o privado na
rea da segurana. Ainda que no seja legalmente permitido, pblico
e notrio que muitos dos proprietrios de empresas privadas de
segurana pertencem aos quadros superiores das polcias: geralmente
delegados de polcia civil ou oficiais superiores da polcia militar,
embora as empresas estejam legalmente em nome de familiares, como
esposas e filhos. O mesmo ocorre com relao aos empregados,
geralmente policiais civis ou militares. Numa tese sobre a
caracterizao do policial militar no Estado de So Paulo, lvaro da
Silva Gullo (Gullo, 1992)encontra indcios claros desta simbiose:
segundo dados levantados na ocasio, 33% dos policiais tinha algum
trabalho remunerado fora da PM e a proporo era tanto maior quanto
menor o posto ou graduao. Dos que tinham algum outro trabalho
remunerado, cerca de 1% eram empregadores (obviamente os estratos
superiores), 20% trabalhavam como autnomos e 12% como
empregados assalariados. Este "bico", como revelou a pesquisa,
garantia rendimentos iguais ou mesmo superiores aos auferidos na
atividade policial. Em alguns casos a atividade policial se torna
secundria em detrimento do bico. No se sabe ao certo quantos
destes 33% que possuem outro trabalho atuam na rea de segurana
privada, mas estima-se que seja a maior parte.
A primeira vista no h problema em que um policial de rua, que
trabalha com base numa escala, tenha outra atividade e que esta
atividade se d tambm na rea da segurana. Segurana o assunto
que ele conhece, tem afinidade e para o qual foi treinado. Alm disso,
professores da rede pblica tambm do aulas particulares e mdicos
do servio pblico mantm consultrios particulares, para ficarmos
apenas nestas duas reas bsicas. A situao mais complicada para
os policiais que no esto na rua e portanto no trabalham com
escalas, pois nestes casos s possvel exercer uma atividade paralela
em detrimento do servio pblico. Outra questo complicada: os
policiais so treinados durante meses pelo Estado - defesa pessoal,
tiro, legislao, investigao, etc - com o dinheiro pblico, e todo este
treinamento aproveitado pelas empresas particulares que utilizam
esta mo-de-obra, sem que tenham que pagar nada por isso. Se, por
um lado, isto significa uma qualidade superior no servio de vigilncia
privada, por outro lado representa uma apropriao privada de um
36
Questes Atuais em Criminologia
"bem" pblico. H o problema do stress: os policiais, ao invs de
estarem repousando de uma atividade estressante, esto na rua
exercendo mais uma vez uma atividade perigosa, de modo que voltam
ao trabalho to ou mais exaustos que antes, prejudicando o trabalho
policial. Existe tambm o problema das perverses, que so casos
isolados, mas que levantam srias dvidas sobre a compatibilidade
entre prestao pblica e privada dos servios de segurana: casos de
policiais que deixam de policiar determinadas reas da cidade para se
aproveitar da insegurana e oferecer proteo particular; uso de
armamento, viaturas e outros equipamentos pblicos pelos policiais,
durante a atividade particular; extorso pura e simples de dinheiro de
comerciantes em troca de "proteo"; prestao de servios de
segurana a pessoas envolvidas em atividades ilegais, como
"banqueiros do bicho"; uso de "informaes privilegiadas", como dados
sobre criminalidade e operaes policiais, para fins privados, etc.
A soluo para o problema da simbiose suspeita est talvez na
oficializao do bico, mais do que na sua proibio, que intil, uma
vez que os baixos salrios levam os policiais a procurarem outras
atividades. Para lidar com o problema, algumas unidades policiais
norte-americanas criaram uma espcie de Fundao da Polcia, que
recebe as solicitaes de servios particulares de segurana e aponta
policiais em folga para exerc-las. Parte do lucro vai para o policial e
parte para a prpria polcia, que passa a exercer tambm alguma
fiscalizao sobre o trabalho paralelo de seus membros. A questo da
fiscalizao das atividades dos seguranas particulares tem sido
esquecida pela sociedade, que se concentrou em grande parte na
atuao das atividades policiais, em funo do histrico de violaes
aos direitos humanos das polcias brasileiras. O monitoramento das
atividades policiais atualmente feito tanto pela polcia como pela
sociedade e vrias iniciativas foram colocadas em prtica para diminuir
os abusos eventualmente cometidos pela polcia: corregedorias
internas, ouvidorias, cursos de direitos fundamentais, divulgao de
estatsticas envolvendo confrontos com civis, servios de
acompanhamento psicolgico a policiais envolvidos em confrontos que
resultaram em mortes, mudana do alvo, nos treinamentos de tiro, para
partes no letais do corpo, alm da existncia de cdigos e regimentos
internos especficos e uma srie de outros mecanismos para que a
sociedade acompanhe a atividade daqueles que ela incumbiu da
serssima responsabilidade policial. Trata-se afinal de funcionrios
pblicos muito especiais, porque, diferentemente dos demais, tem o
37
poder, em determinadas circunstncias, de utilizar a fora letal, em
nome da sociedade.
Em contrapartida, o que se faz para fiscalizar a atividade dos vigilantes
particulares ? Muito pouco, afora algumas exigncias legais simples
como ter bons antecedentes, porte de arma e aulas elementares de
legislao e tiro. So pessoas que andam armadas e exercem funes
similares s funes policiais mas que no esto nem de longe
submetidas aos mesmos constrangimentos. O resultado desta poltica
tem sido o envolvimento crescente de seguranas particulares em
confrontos letais, dos quais no raramente o prprio segurana a
vtima. Vejamos alguns dados com relao a estes confrontos: o
anurio de 1997 do Departamento de Homicdios e Proteo Pessoa -
que apura os crimes dolosos contra a pessoa de autoria desconhecida -
informa que, nos 40 homicdios mltiplos ocorridos na Capital, 25% dos
autores identificados exerciam a profisso de vigilante.
Um quarto dos envolvidos e estamos falando apenas das chacinas e de
casos de autoria desconhecida, que excluem, por exemplo, casos
clebres noticiados pela imprensa, de seguranas envolvidos em
tiroteios em pleno trnsito, quando protegiam seus clientes de
assaltantes nos semforos. No existem estatsticas sobre a profisso
dos autores dos homicdios de autoria conhecida mas a suspeita de
que boa parte deles sejam tambm vigilantes. Esta suspeita
confirmada quando analisamos a situao em que se encontravam os
policiais militares mortos em confrontos. Contrariando a lgica, o
nmero de policiais militares mortos maior em folga - quando esto
exercendo o bico - do que em servio. Isto significa que eles se
envolvem mais em confrontos letais quando esto trabalhando como
vigilantes (em tese, uma situao passiva) do que quando esto
policiando a cidade, procurando criminosos e respondendo a chamados
de crimes (uma situao ativa).
Desde metade de 1995 at o final de 1998 morreram nada menos que
53 policiais civis e 1043 policiais militares. Baseando-se nas estatsticas
da Ouvidoria de Polcia para os anos de 1990 a 1998, cerca de 23 %
das mortes dos policiais militares ocorrem quando o policial est de
servio e 77 % de folga, geralmente exercendo uma segunda profisso.
Na polcia civil o padro se inverte, com a maior parte das mortes (71%)
ocorrendo durante o servio. Os feridos so ainda mais numerosos: 230
policiais civis e 2.856 militares. Como no caso das mortes, a maioria
dos ferimentos acontece com o policial em folga ( cerca de 70%,
38
Questes Atuais em Criminologia
segundo dados de1995 a 1997). Somente em janeiro ltimo foram 12
policiais em servio e 17 durante o bico.
A explicao para esta mortalidade elevada durante a folga complexa
e passa pela violncia dos criminosos brasileiros, elevada
disponibilidade de armas na sociedade, falta de equipamentos de
segurana, falta de preparo e treinamento para o enfrentamento de
situaes de alto risco, dupla jornada de trabalho a que muitos so
obrigados a enfrentar para complementar sua renda, stress emocional,
etc. Durante o bico o policial est mais vulnervel porque atua sem a
presena de outros policiais e sem os equipamentos de segurana. O
criminoso, por outro lado, torna-se mais ousado pois geralmente no
sabe que se trata de um policial treinado ou ento sabe e aproveita
para se vingar quando o policial est sozinho.
Mas possvel especular tambm que a ausncia de maiores
constrangimentos para o uso da arma de fogo explique o elevado
envolvimento de vigilantes (policiais no bico) em homicdios e a alta
proporo de policiais militares mortos fora de servio. O segurana
particular envolvido em confronto armado talvez tenha que responder a
um processo criminal. O policial, por outro lado, est sujeito a outras
medidas: investigao pela corregedoria ou ouvidoria,
acompanhamento psicolgico, afastamento do policiamento de rua e
conseqente perda do bico, presso dos superiores ou da opinio
pblica, etc. Existem mais entraves a que se puxe o gatilho na condio
de policial do que na condio de segurana particular.
A regulamentao do bico atravs de uma Fundao da Polcia ou
outro meio, neste sentido, poderia implicar numa menor vitimizao
tanto de civis como de policiais, uma vez que o policial, mesmo a
servio privado, poderia contar com algum tipo de apoio material ou
logstico por parte da corporao. necessrio tambm reforar o
treinamento preventivo dos seguranas particulares, com aulas sobre
como abordar suspeitos sem se expor ao risco, curso de direo
defensiva (vrias mortes ocorrem por acidentes de trnsito, durante
perseguies), alert-los para o elevado risco que correm quando esto
atuando isoladamente como vigilantes privados, da necessidade de
manter sempre os hbitos e equipamentos de proteo.
preciso, em resumo, voltar um pouco os olhos para o que acontece
no setor privado de prestao de segurana, que tende a se expandir
ainda mais velozmente nas prximas dcadas. A sociedade e os
39
clientes destas empresas tem que saber como eles so treinados e
fiscalizados em caso de abusos. Os padres devem ser semelhantes
aos exigidos das foras policiais. A elevao dos padres de atuao
dos seguranas particulares contribuir para melhorar o servio
prestado aos clientes e reduzir o nmero de incidentes fatais
envolvendo seguranas, tanto como algozes quanto como vtimas. Um
vigilante despreparado e no fiscalizado em sua atuao um perigo
para os clientes que contratam proteo, para a populao como um
todo e para si prprios, alm de um mal negcio para as empresas de
segurana.
Se a sociedade consente com que os vigilantes andem armados e
exeram atividades que so funo policial, ela tambm pode exigir que
eles se adeqem aos constrangimentos legais exigidos das foras
policiais.
40
Questes Atuais em Criminologia
Policiamento Comunitrio no Brasil: uma expectativa
realista de seu papel
Projetos de "policiamento comunitrio", "policiamento interativo",
"policiamento solidrio" ou "polcia cidad" - como quer que o conceito
seja entendido e aplicado - existem atualmente em cerca de 14 estados
brasileiros. A ecloso destes experimentos sugere que causas comuns
so provavelmente as responsveis pelos mesmos efeitos: desde que,
passado o perodo autoritrio, as polcias foram confrontadas com
problemas relativos sua eficincia e imagem junto a populao,
tentativas de adotar uma nova filosofia de atuao emergiram quase
espontnea e simultaneamente em diversos lugares. Regra geral, em
todo o mundo, quase sempre os projetos de policiamento comunitrio
emergiram em conseqncia da deteriorao da imagem policial frente
a comunidade. Este "vcio de origem", todavia, no significa que
devamos deixar de comemorar estas mudanas recentes que esto
ocorrendo na filosofia do policiamento no Brasil. Na pior das hipteses,
mesmo que tais projetos no venham a contribuir significativamente
para a reduo da criminalidade nos grandes centros urbanos, eles
podem implicar num novo patamar de relacionamento entre a polcia e
a comunidade, contribuindo para a melhoria no relacionamento entre
ambos, o que j no pouco, uma vez que a populao, atualmente,
desconfia da polcia, tendo muitas vezes mais medo dela do que dos
prprios criminosos.
Quase todos os programas atuais baseados na filosofia do policiamento
comunitrio surgiram na polcia militar, mas diferem bastante entre si
em vrios aspectos, desde abrangncia a definies doutrinrias. Alm
de So Paulo, existem diversas experincias que podem ser
qualificadas de "comunitrias", nas polcias de 14 Estados: Esprito
Santo, Par, Paran, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Distrito Federal, Cear, Pernambuco, Paraba, Minas Gerais, Santa
Catarina e Bahia. (Cerqueira, 1998) No Cear, as primeiras iniciativas
que podem ser equiparadas ao policiamento comunitrio datam de
1986 e em Minas Gerais desde 1993 procura-se implementar a filosofia
comunitria nos nveis estratgicos e prticos do policiamento. A Polcia
Interativa do Esprito Santo remonta a 1993 e hoje est em andamento
em 70% dos municpios do Estado. Outros Estados vem replicando o
modelo de polcia interativa, que foi premiado pelas Fundaes Getlio
41
Vargas e Ford no Concurso de Gesto Pblica e Cidadania. O Estado
do Par instituiu o Projeto Povo (policiamento ostensivo volante, que
associa atendimento comunitrio ao policiamento tradicional. No
Paran a polcia militar colocou em prtica, entre outros, os projetos de
Policiamento Ostensivo Volante (Povo) e de Policiamento Solidrio.
No Distrito Federal, uma experincia de policiamento comunitrio
comeou em 1995, realizada pelo 11 batalho da PM na cidade satlite
de Samambaia. O primeiro projeto de policiamento comunitrio no Rio
de J aneiro tambm de 1995, montado com o auxlio do Viva Rio.
Como avalia Elisabeth Sussekind, do Viva Rio, "el proyecto, instalado
en los barrios de Copacabana y Leme, donde vivan ms de 170 mil
personas y hay cinco favelas, funcion por apenas por un ao y siete
meses. No sobrevivi al nuevo gobierno del Estado, que lo desmoviliz,
afirmando que se trataba de una vigilancia policial para elites y que los
efectivos envueltos en l seran ms tiles realizando operaciones en
las favelas." (Boletim Polcia e Sociedade Democrtica n 1).
O projeto de "Polcia Cidad" da Bahia comeou tambm em 1995 e
vrios bairros de Salvador - como Pituba e Amaralina - vm operando
segundo as novas diretrizes, inspiradas na polcia comunitria. Santa
Catarina editou em 1998 um "Plano de Implementao da Segurana
Interativa" e manuais de capacitao para agentes multiplicadores. At
outubro daquele ano haviam sido treinados 7812 policiais, estando em
andamento 74 projetos piloto de policiamento comunitrio, abrangendo
219 municpios. Pernambuco planeja colocar em prtica um projeto
experimental de policiamento comunitrio em J oo Pessoa e para este
fim j comeou a montar cursos de instruo sobre o tema (Cerqueira,
1998).
Inserido no contexto desta "onda comunitria", em 30 de setembro de
1997 a Polcia Militar do Estado de So Paulo adotou
experimentalmente a filosofia do policiamento comunitrio, definida
como " filosofia e estratgia da organizao que proporciona a parceria
entre a populao e a polcia". Atuando dentro de um territrio
especfico e voltada tambm para os aspectos preventivos do crime, a
experincia tem implicado numa parceria entre polcia, comunidade
local, autoridades eleitas e empresrios locais, entre outros grupos.
Inicialmente, foram instaladas 42 Bases Comunitrias de Segurana, 11
na Capital e 31 no interior. Cerca de 16.000 oficiais e praas j
passaram por cursos multiplicadores ou estgios de Polcia Comunitria
e a proposta era de ampliar o projeto para mais 44 Companhias.
42
Questes Atuais em Criminologia
Como em outros lugares, a evidncia de que o mero endurecimento
das leis penais e do rigor policial no produziam necessariamente
redues nos ndices de criminalidade e tampouco contribuam para o
relacionamento com a populao, despertaram a ateno das
autoridades policiais paulistas para a questo do policiamento
comunitrio. Neste estilo de policiamento, de acordo com Barkan, a
polcia atua de forma bastante prxima com os residentes dos bairros
em vrias atividades direcionadas a reduo do crime, como programas
voltados para os jovens (laser, educao ps-escola, primeiro emprego,
etc.) ou mutires para a limpeza e conservao de determinadas reas
deterioradas. (Barkan, 1997) Entre outras mudanas importantes, na
maioria dos programas de policiamento comunitrio existentes, as
patrulhas feitas com viaturas so substitudas pelo patrulhamento feito
a p.
A presuno terica a de que, trabalhando a p, os policiais mantm
maiores e melhores contatos com os moradores, favorecendo o
entrosamento mtuo e humanizando a relao entre populao e
policiais, nem sempre baseada na confiana. Uma vez estabelecida
uma relao de confiana, a populao estaria mais disposta a
colaborar com o trabalho policial, notificando os crimes de que foi
vtima, fornecendo informaes sobre pessoas suspeitas e trabalhando
em projetos comunitrios.
Alm desses efeitos sobre a comunidades, as patrulhas a p tambm
permitem que os policiais verifiquem se existe lixo nas ruas, vidraas
quebradas, pixaes, terrenos baldios, ruas mal iluminadas e uma srie
de outras situaes que contribuem para a deteriorao da vizinhana.
A hiptese subjacente conhecida como hiptese da "janela
quebrada", segundo a qual uma incivilidade atrai outra, pois mostra que
a comunidade no se importa com o que acontece ao seu redor. Assim,
uma janela quebrada por uma pedra logo atrai outra pedra, mas se a
janela logo concertada, demostra a preocupao das pessoas pelo
que acontece ao redor. Um bairro que demostra estar preocupado com
os pequenos desvios - lixo acumulado, pixaes, jogos de azar, etc.- d
sinais de vitalidade comunitria e de que no tolerar os grandes
desvios, como o trfico de drogas ou atuao de gangues juvenis. A
polcia comunitria tem um papel importante nesta fiscalizao da
qualidade de vida do bairro, com reflexos sobre os nveis locais de
criminalidade.
43
Alm destas atividades, existe uma srie de outras que costumam estar
associadas ao estilo comunitrio de policiamento, como por exemplo:
organizao de grupos de "fiscalizadores de vizinhana" (ou
"fiscalizadores de quarteiro", em locais densamente povoados), na
casa de moradores do bairro; organizao de encontros com a
comunidade em locais pblicos, onde se discutem os problemas
especficos daquela rea e propostas para lidar com eles; visitas "porta
a porta" durante o dia, onde os policiais se apresentam aos moradores
ou comerciantes da comunidade e aproveitam para colher informaes
e passar dicas sobre segurana; 190 reverso, onde os policiais
transmitem informaes sobre criminalidade e formas de preveni-la
para lideranas locais, por fax ou e-mail e inmeras outras prticas.
Assim, no existe um s modelo de polcia comunitria mas vrios, com
diferentes prticas, que compartilham os mesmos princpios.
As pesquisas criminolgicas tem procurado responder se estas teorias
e prticas sobre os efeitos do policiamento comunitrio so vlidas ou
no. Os resultados so contraditrios, dependendo em boa parte das
vezes do que exatamente se esta medindo no processo de avaliao.
Bayley apontou que o patrulhamento a p e outros aspectos do
policiamento comunitrio fazem os residentes se sentirem melhor sobre
a sua vizinhana e reduzem o medo do crime (Bayley e Skolnick, 1986).
No existem evidncias seguras, por outro lado, de que o policiamento
comunitrio tenha contribudo em alguma medida para a diminuio da
criminalidade: alguns estudos encontraram esta relao, enquanto
outros no (Barkan, 1997; Sherman, 1998). Com efeito, existem hoje
srias dvidas de que qualquer forma de policiamento, comunitrio ou
no, possa ter um impacto significativo sobre a criminalidade porque,
frente ao enorme e estrutural problema da violncia, a policia exerce
uma influncia marginal.
O problema da mensurao da eficcia da polcia comunitria atravs
dos ndices de criminalidade bastante complexo porque se depara
com a questo das chamadas "cifras negras". Na medida em que a
maior confiana na polcia incentiva a notificao de crimes pela
populao, um dos efeitos do policiamento comunitrio pode ser o
aumento dos ndices oficiais de criminalidade, mesmo que esta venha
objetivamente caindo. Se escolhermos para anlise um bairro onde
antes ocorriam 100 crimes por ms e apenas 50 eram notificados e
que, posteriormente introduo do policiamento comunitrio,
ocorressem 90 crimes mas 70 deles fossem notificados, seriamos
erroneamente levados a crer que a criminalidade aumentou de 50 para
44
Questes Atuais em Criminologia
70, quando na verdade teria diminudo de 100 para 90. O problema das
cifras negras serve para nos chamar a ateno para a complexidade do
problema de mensurao na avaliao do policiamento comunitrio.
Como notou Neild, "se han documentado casos donde un alza en
llamadas de emergencia y denuncias en las comisaras no significa que
la incidencia de crimen vaya en aumento, sino que la gente siente
mayor confianza y tiene mayor capacidad de dilogo com la polica a
raz de los programas de polica comunitaria. En este caso, el aumento
en el nmero de denuncias es un indicador positivo, no negativo, de las
relaciones com la comunidad (Neild, 1998)
Outro complicador importante diz respeito ausncia de informaes
sobre a populao existente em cada rea de atuao policial, tornando
difcil o clculo de coeficientes por 100.000 habitantes. Uma
comparao sria sobre a eficincia de um mtodo de policiamento
sobre outro precisa necessariamente levar em conta o tamanho da
populao, novamente para evitar correlaes esprias. Suponhamos,
por exemplo, que o bairro A, onde existe policiamento comunitrio e
100.000 habitantes apresente no perodo de um ano 100 roubos e o
bairro B, onde existe policiamento convencional e residem 200.000 mil
habitantes apresente 150 roubos. Se compararmos os bairros somente
por nmero absoluto de roubos diramos que o bairro A menos
violento, mas se utilizarmos, como seria correto, as taxas de roubos por
100.000 habitantes, concluiramos o inverso.
Recentemente, Lawrence Sherman fez a pedido do congresso norte
americano uma reavaliao da literatura existente sobre polcia
comunitria afim de testar a hiptese, entre outras, de que existiriam
menos crimes quanto maiores e melhores fossem os contatos entre
polcia e cidados (Sherman, 1998). De acordo com a literatura, os
eventuais efeitos preventivos do policiamento comunitrio sobre o
crime se manifestariam de 4 diferentes formas:
1) Fiscalizao comunitria (Neighborhood Watch):
aumentando a fiscalizao voluntria dos bairros residenciais
feita pelos prprios residentes reduzir-se-ia a criminalidade
porque os criminosos saberiam que a vizinhana est atenta.
2) Inteligncia baseada na comunidade: os encontros
comunitrios formais e os contatos informais da polcia com os
moradores e trabalhadores locais aumentaria o fluxo de
informaes sobre crimes e suspeitos, da populao para a
45
polcia, aumentando tambm a probabilidade de punio dos
criminosos. Este aumento do fluxo de informaes seria til
tambm para as estratgias preventivas contra o crime.
3) Informao pblica a respeito do crime: revertendo a
hiptese anterior, esta hiptese supe que o aumento do fluxo
de informaes da polcia para a comunidade aumenta a
capacidade de auto-proteo da populao. A polcia informaria
as instituies do bairro sobre os padres e tendncias da
criminalidade local e quais as medidas mais adequadas para
preveni-las. a idia de um telefone 190 s avessas, pelo qual
a polcia informa lideranas locais por fax ou outro meio sobre a
atividade criminal na rea.
4) Legitimidade policial: a hiptese aqui de que uma
polcia vista como legtima, justa e confivel, incrementaria uma
obedincia generalizada lei, inclusive por parte de policiais
circunstancialmente a violam.
A avaliao de Sherman de todas as evidncias disponveis em
estudos que colocaram a prova o policiamento comunitrio no
exatamente otimista. Segundo pode constatar, as evidncias falam
contra a eficincia dos "fiscalizadores de bairro" e dos programas
baseados no fluxo de informaes da polcia para a comunidade. As
outras prticas so no mximo promissoras e nenhuma teve sua
eficincia comprovada, ao menos no que diz respeito ao problema da
reduo da criminalidade.
O objetivo primeiro de quase todo novo programa policial, em ltima
instncia, a reduo da criminalidade, mas no o nico objetivo
colimado. O policiamento comunitrio no foge regra e acima vimos
algumas razes do porque dever-se-ia esperar que a introduo do
experimento implicasse em menores ndices de criminalidade. A dvida
metodolgica, entre outras, quanto tempo razovel esperar at que
o programa esteja consolidado e produza impactos sobre a
criminalidade, e sobre que tipo de criminalidade. No caso brasileiro, os
projetos talvez sejam demasiado recentes e incompletos, de modo que
seria uma expectativa irrealista e mesmo desleal esperar para j um
impacto significativo sobre os ndices de criminalidade, se que
devamos ter alguma expectativa neste sentido. Como todo novo
projeto, trata-se de um processo lento de maturao, cujos resultados
talvez venham a ser visveis somente em muitos anos.
46
Questes Atuais em Criminologia
verdade que quase todos os estudos que procuraram avaliar a
eficcia do policiamento comunitrio at aqui (Sherman, 1997)
chegaram a concluso de que, por si s, o policiamento comunitrio
tem um impacto limitado e marginal sobre as taxas de criminalidade.
Mas por outro lado, " los programas de polica comunitaria tienen un
inpacto significativo en reducir el miedo al crimen y la percepcon
comunitria del crimen". (Neild, 1998, p.13) Nossa expectativa tambm
de que, pelo menos por enquanto, seja pequeno ou mesmo nulo o
impacto do policiamento comunitrio sobre os ndices de criminalidade,
no s porque este impacto tambm no se verificou em outras
experincias, como porque a experincia brasileira recente e
incompleta. O maior impacto do policiamento comunitrio no Brasil se
far sentir, provavelmente, ao nvel subjetivo, tanto na populao-alvo
como entre os policiais envolvidos. possvel esperar tambm alguma
melhoria no que diz respeito a prticas policiais abusivas, como a
tortura ou uso excessivo do poder letal. Mas, como dissemos no incio,
se o policiamento comunitrio contribuir s para melhorar este
relacionamento com a populao ele j ter feito o bastante.
Se verdade que a polcia comunitria nem sempre mecanismo
eficaz para a reduo do crime, por outro lado, seu potencial de
violao aos direitos dos cidados muito menor, quando comparada
ao policiamento convencional. Na literatura, raro encontrar caso de
agresses, tortura ou homicdios que tenham sido cometidos por
policiais envolvidos no policiamento comunitrio, entre outras razes
em funo do maior envolvimento do profissional com a populao
local, seu perfil psicolgico e o treinamento recebido. Estes tens -
aumento da confiana da populao na polcia, diminuio dos casos
de abusos policiais - precisam seriamente ser levados em considerao
em qualquer tentativa de avaliao que se faa do policiamento
comunitrio no Brasil.
Estes so fatores que nem sempre foram levados em conta nas
avaliaes feitas em outros pases, porque as corporaes policiais dos
pases desenvolvidos j atuam, na maior parte dos casos, dentro dos
parmetros de uma polcia democrtica, que respeita os direitos
bsicos da populao. Nos pases desenvolvidos a polcia pouco tortura
ou se utiliza de seu poder letal no combate ao crime, de modo que as
questes giram quase que exclusivamente em torno de sua eficincia.
No Brasil e outras sociedades latino-americanas, o policiamento
comunitrio deve ser pensado, por outro lado, no apenas como uma
instrumento de eficincia no combate ao crime, mas tambm como um
47
modelo de policiamento democrtico, que substitua o medo por uma
relao de confiana mtua entre polcia e sociedade. Esta confiana,
por sua vez, a base para o policiamento eficaz, pois a informao
sobre crimes e criminosos, que a base do trabalho de investigao
policial, s fornecida voluntariamente pelos cidados se estes
respeitam e confiam na polcia que tem.
48
Questes Atuais em Criminologia
Armas de fogo: argumentos para o debate
8
A constatao feita pelas Naes Unidas de que o Brasil ocupa o
primeiro lugar em termos de homicdios praticados por armas de fogo,
somada a visita recente do presidente Fernando Henrique Cardoso
Inglaterra - que desde 1997 probe a posse de armas de fogo pelos
cidados - e os incidentes envolvendo adolescentes que atiraram em
colegas e professores em escolas norte-americanas reabriram o debate
sobre a contribuio das armas de fogo para a violncia. Por iniciativa
do governo federal, o Congresso discute no momento um projeto de lei
versando sobre a proibio de venda e posse de armas de fogo no
pas. A proposta vem sendo debatida tambm pela sociedade e nos
meios de comunicao, provocando reaes intensas entre os
contendores, que polemizam sobre seus efeitos prticos e legais.
Muitas "pesquisas" e "dados" estatsticos so invocados para ilustrar os
argumentos contra ou a favor da medida. No preciso dizer que estas
pesquisas e dados so muitas vezes distorcidos em favor dos
argumentos que se procura provar e quase sempre so omitidas as
fontes e a metodologia com que foram obtidos.
Deixando para os juristas e para os filsofos as questes legais e
morais envolvidas no debate
9
, neste artigo procuramos alinhavar
8
Texto para discusso preparado para o Workshop "Armas de Fogo: regulao
e controle", organizado pelo Ilanud no Centro de Direitos Humanos da
Academia de Polcia de So Paulo, em 25 de junho de 1999. Agradeo pelos
comentrios feitos ao texto a Cristina Barbosa, Denis Mizne, Igncio Cano,
Jos Marcelo Zacchi, Oscar Vilhena Vieira e Renato Srgio de Lima.
9
Com relao ao direito inalienvel e sagrado legtima defesa, invocado pelos
defensores das armas de fogo, gostaria de tecer o seguinte comentrio. Nem
mesmo o direito a vida um princpio absoluto em nossa ordem jurdica, uma
vez que a Constituio prev a possibilidade da pena de morte, em situao de
guerra. Assim, o direito de portar arma, como os demais, tambm deve ser e
regulado juridicamente. Com base em que fundamento, perguntaro ?
Respondo que com o mesmo fundamento que justifica que o estado obrigue
aos motoristas utilizarem o cinto de segurana ou os motociclistas a usarem
capacete. Mas porque, perguntaro, se dirigir sem capacete ou sem cinto de
segurana so decises individuais que prejudicam apenas as prprias vtimas
que optarem pelo descuido? a que reside a falcia. Toda a sociedade perde
com os acidentes de trnsito, assim como com os incidentes com armas de
fogo. Gastos hospitalares, funerrios, judiciais, anos de vida produtivos
perdidos por morte precoce, etc.. Multiplique-se isto por 35.000 anualmente e
49
algumas pesquisas acadmicas e dados oficiais que at o momento
foram produzidos no Brasil sobre a questo das armas de fogo,
avaliando o que existe de seguro ou de nebuloso sobre o tema.
De acordo com Barkan, as pesquisas sobre armas de fogo e controle
de armas costumam concentrar-se em torno de algumas questes,
como: 1) quantas armas de fogo existem, de que tipo e qual o perfil dos
usurios; 2) Quo envolvidas esto as armas de fogo nos crime
violentos; 3) As armas de fogo detm o crime ou tornam a violncia
com armas mais provvel e, finalmente, 4) Em que medida o controle
sobre as armas de fogo reduz a disponibilidade de armas e seu uso nos
crime violentos. Nos prximos tpicos seguiremos este roteiro de
questes, comparando, sempre que possvel, a situao brasileira com
a de outros pases.
1) Quantas armas de fogo existem, de que tipo e qual o perfil dos
usurios ?
O contrabando, a subnotificao dos dados oficiais e a ausncia
generalizada de dados na rea criminal no pas tornam difcil responder
a esta questo bsica, de modo que os nmeros aqui apresentados
sero bastante imprecisos. As inconsistncias so vrias, mas ainda
assim possvel fazer algumas estimativas, se assumirmos como
verdadeiras algumas pressuposies.
Se considerarmos como verdadeira a suposio de que a quantidade
de armas vendidas legalmente em cada Estado guarda relao com a
teremos uma medida aproximada dos custos relacionados a armas de fogo no
pas. por isso que a sociedade se julga no direito de impor aos motociclistas
que usem capacete, aos motoristas de usem o cinto de segurana e aos
usurios de armas de fogo que freqentem cursos de habilitao, conversem
suas armas em local seguro, utilizem bloqueadores de gatilho, etc. No poderia
afirmar com segurana se o Estado brasileiro tem o direito de proibir
radicalmente o uso de armas pelo cidado (embora a constituio brasileira no
mencione explicitamente este direito, como a norte americana). Deixo estas
questes para os juristas e j ouvi bons argumentos dos dois lados. Mas certo
que o poder pblico tem o direito de regular por quem e a forma com as armas
so utilizadas, como alis j o faz. At mesmo nos Estados Unidos esta
capacidade do estado reconhecida pela sociedade.
50
Questes Atuais em Criminologia
quantidade total de armas existentes naquele Estado, e tomarmos os
dados da polcia civil de So Paulo, que falam na existncia de 1,5
milhes de armas registradas no Estado, desde 1938
10
(Coordenadoria
de Anlise de Planejamento da SSP), ento existiriam algo em torno de
7, 5 milhes de armas no Brasil, assim distribudas:
10
Outras fontes falam em at 3,7 milhes de armas no Estado de So Paulo. A
estimativas para o Rio de Janeiro de 1 milho de armas registradas.
51
Tabela 1 - Estimativa de Armas de Fogo em Circulao no Pas
Estado
s
Armas vendidas em
1997/98
% de
vendas
Estimativa do nmero
absoluto de armas
AC 5 0,007 562,02
AL 877 1,314 98.577,72
AM 172 0,257 19.333,37
AP 177 0,265 19.895,39
BA 2.062 3,090 231.775,67
CE 1.100 1,648 123.643,67
DF 1.506 2,257 169.279,42
ES 1.271 1,904 142.864,64
GO 1.381 2,069 155.229,00
MA 2.760 4,136 310.233,20
MG 6.043 9,056 679.253,34
MS 393 0,588 44.174,51
MT 738 1,106 82.953,66
PA 1.220 1,828 137.132,07
PB 539 0,807 60.585,40
PE 1.245 1,865 139.942,15
PI 1.234 1,849 138.705,71
PR 7.280 10,910 818.296,27
RJ 9.530 14,282 1.071.203,76
RN 534 0,800 60.023,38
RO 639 0,957 71.825,73
RR 152 0,227 17.085,31
RS 8.493 12,728 954.641,51
SC 3.381 5,067 380.035,67
SE 893 1,338 100.376,18
SP 12.953 19,412 1.455.960,37
TO 146 0,218 16.410,89
TOTAL 66.724 100 7.500.000,00
Fonte: Taurus
52
Questes Atuais em Criminologia
Estas estimativas dizem respeito apenas s armas registradas,
excluindo portanto as contrabandeadas, mas no levam tambm em
conta que muitas das armas registradas no passado esto efetivamente
fora de circulao. Lembre-se que os registros, ao menos em So
Paulo, comearam a mais de 60 anos e que boa parte das armas
registradas esto atualmente obsoletas. A anlise da tabela ser
retomada adiante, em outros tpicos, para no fugirmos da questo da
quantidade de armas.
Se considerarmos como vlidas - ao menos para uma estimativa das
armas legais
11
- as respostas dadas em pesquisas de vitimizao e de
opinio pblica realizadas em So Paulo, Rio de J aneiro e Salvador,
sobre posse de arma de fogo na residncia, ento, em mdia, 7% dos
domiclios brasileiros tem armas de fogo em casa. Uma vez que
existem cerca de 39,6 milhes de domiclios particulares permanentes
no pas (IBGE, 1996), isto representaria a existncia de 2.771.934
armas legais.
As pesquisas de vitimizao perguntam a uma amostra de
entrevistados quantos tem armas em casa, de que tipo e com que
finalidade, mas no fornecem uma estimativa totalmente correta pois,
mesmo se tratando de uma pesquisa com garantias de anonimato,
parece certo que boa parte dos proprietrios de armas - especialmente
as ilegais - tendero a omitir estas informaes. Estas estimativas,
portanto, so provavelmente subestimadas, pois referem-se
principalmente as armas legais e preciso levar em conta que a
maioria destas pesquisas foi feita com amostras dos grandes centros
urbanos
12
.
Na pesquisa de vitimizao realizada pelo Ilanud / Datafolha em 1997
na cidade de So Paulo, assumiu-se a existncia de armas de fogo em
8% das residncias, sendo o revolver (6%) o tipo de arma mais comum.
11
Tomando como base as vistorias realizadas pela Polcia Militar de So Paulo
em agosto de 1999, cerca de 42,2% das armas vistoriadas estavam em
situao legal. Sendo correta esta estimativa (que eu acredito ligeiramente
superestimada, uma vez que a polcia no para aleatoriamente qualquer
indivduo nestas operaes) existiriam em So Paulo 2.370.000 armas de fogo.
12
difcil dizer se existem mais armas na zona urbana ou na zona rural. Na
zona urbana provvel que existam mais armas adquiridas para fins de
proteo contra o crime, enquanto na zona rural podem existir mais armas
compradas para prtica de caa, defesa contra animais, esportes, herdada de
antepassados, etc.
53
Com 9.155.934 domiclios em 1996, isto representa cerca de 732 mil
armas legais no Estado. A mesma pesquisa foi realizada no Rio de
J aneiro em 1996 e encontrou armas em 9% das residncias. A
Organizao Pan-Americana de Sade organizou tambm uma
pesquisa de opinio pblica em 1996 englobando, entre outras cidades
do mundo, Salvador e Rio de J aneiro e constatou a existncia de armas
de fogo em 5,6% das residncias na primeira cidade e 4,6% das casas
cariocas.
13
Uma primeira questo de interesse saber se este percentual de
armas encontrado nas pesquisas de vitimizao reduzido ou elevado
em comparao com outros pases. A tabela abaixo sugere que o
problema brasileiro no tanto o da quantidade de armas (ao menos a
quantidade assumida pelos habitantes), mas antes sua utilizao
excessiva. Dos 13 pases listados, 7 tem proporcionalmente mais
armas que o Brasil, mas apenas 2 tem taxas de homicdios por 100 mil
maiores e nenhum deles tem uma proporo to grande de homicdios
cometidos com armas de fogo.
Tabela 2 - Porcentagem de Armas nas residncias X porcentagem de
homicdios cometidos com armas de fogo.
% de residncias
com armas
(1996)
Taxa de
Homicdios por
100 mil (1995/96)
% de homicdios
cometidos com
armas de fogo
(1995/96)
Romnia 2,3 4,32 2,75
Eslovqui
a
3,3 2,38 14,96
Polnia 4,6 2,61 10,35
Filipinas 5,0 16,89 21,39
Hungria 5,3 4,07 11,44
Brasil 8,0 29,17 88,33
Estnia 8,3 22,11 27,66
frica do
Sul
12,4 64,64 41,20
13
Uma pesquisa do tipo "self-repport crime" realizada com 1800 adolescentes
pela Faculdade de Medicina da USP, perguntou aos alunos das escolas
pblicas e particulares quantos tinham levado armas para a escola no ltimo
ano. Nas escolas particulares, 3% dos estudantes confessaram ter levado uma
arma de fogo, porcentagem que se eleva a 5% entre os estudantes da rede
pblica. (Folha de S.Paulo, 10/01/99, C3.p4) Em ambos os tipos de escola,
portar arma constitui-se em comportamento tipicamente masculino.
54
Questes Atuais em Criminologia
Crocia 14,4 4,26 58,85
Costa
Rica
19,1 5,52 46,56
Colmbia 19,1 70,92 76,13
Rep.
Checa
21,2 2,80 32,75
Argentina 29,5 3,83 39,13
UNICRI, 1996 - Pesquisas de vitimizao. Dados do Brasil so para a
cidade de So Paulo, 1997.
A quantidade de casos pequena para que se tente fazer correlaes
estatsticas mas parece existir uma relao, ainda que fraca, entre
disponibilidade de armas de fogo e taxas de homicdio cometidos com
armas de fogo (coeficiente r de Pearson =0.46).
Alm do registro oficial de armas cadastradas pela polcia e das
pesquisas de vitimizao, possvel ter uma idia da quantidade de
armas em circulao a partir dos dados de apreenso de armas ilegais
feitas pela polcia. Considerando-se apenas os Estados de So Paulo e
Rio, (que juntas representam 33% das compras de armas no pas) as
apreenses remontam a cerca de 3.000 armas por ms ou 36.000
armas por ano. Note-se que a mdia de apreenses mensais sobe em
So Paulo no perodo em foco, ocorrendo o inverso no Rio de J aneiro.
Tabela 3 - Apreenso de armas pela polcia / mdia mensal
Apreenso de armas pela polcia / mdia
mensal
1995 1996 1997 1998
So Paulo (Diviso de Produtos
Controlados *)
306 344 372 433
So Paulo 2280 2447 2597 2937
Rio de J aneiro 772 678 587 -
Fontes: Secretarias de Segurana Pblica de So Paulo e Rio de
J aneiro
* armas no vinculadas a inquritos policiais / descontadas as
devolues
Se for correta a estimativa de 2,5 milhes de armas registradas
somente em So Paulo e Rio, neste ritmo seriam necessrios 70 anos
para retir-las de circulao, sem falar nas no registradas. Nem os
registros oficiais nem as pesquisas de vitimizao, como vimos,
abrangem o universo das armas clandestinas. Seria possvel chegar a
uma estimativa se soubssemos quantas armas legais a polcia
55
encontrou nas investigaes e no apenas as armas apreendidas. Mas
mesmo esta estimativa seria enviesada pois a polcia no para
aleatoriamente qualquer pessoa, mas antes pessoas "suspeitas", o que
poderia inflar artificialmente a proporo de armas ilegais em
circulao. Em outras palavras, a amostra policial enviesada.
Tipo de arma
Os meios de comunicao prestam demasiada ateno aos crimes
cometidos por bandos organizados, com armamento pesado, citando
freqentemente a apreenso de fuzis AR15 ou submetralhadoras Uzi
pela polcia. No obstante o poder letal superior destas armas, so as
armas de pequeno calibre as mais utilizadas nos homicdios e outros
crimes violentos. Segundo o Estudo internacional das Naes Unidas
sobre regulamentao das armas de fogo, realizado em 69 pases,
cerca de 40.000 dos 50.000 homicdios cometidos anualmente no Brasil
(80%) so praticados com armas de pequeno calibre (handguns). Na
anlise feita pelo Iser com 19.626 armas apreendidas pela polcia do
Rio de J aneiro entre novembro de 1996 e maro de 1999, constatou-se
a preponderncia absoluta dos revlveres (59%) e pistolas (19%) e a
participao diminuta de armas de grosso calibre, como metralhadoras
(1,5%) ou fuzis (4,7%).
O argumento de que os crimes no so efetuados com as armas legais
mas sim com as armas contrabandeadas, de calibre grosso,
falacioso. Outra pesquisa feita pelos socilogos Leandro Piquet
Carneiro e Igncio Cano, do ISER, revelou que 78% das armas
apreendidas pela polcia, so de procedncia nacional, e geralmente
roubadas. Segundo a Diviso de Produtos Controlados da Polcia Civil,
cerca de 77.000 armas foram roubadas (24.673), furtadas (46.869)
14
ou
extraviadas (5.509) em 1998, apenas no Estado de So Paulo,
realimentando o mercado ilegal. E provavelmente a quantidade maior,
se lembrarmos que os proprietrios de armas ilegais e mesmo muitos
proprietrios de armas legais deixam de registrar a ocorrncia na
polcia. Se levarmos em considerao que as armas atualmente nas
mos dos criminosos so armas que um dia foram legais e que foram
roubadas ou furtadas, ento, teoricamente, uma diminuio geral na
quantidade de armas legais poder ocasionar tambm uma queda na
14
Minha hiptese de que o elevado nmero de roubo e furto de armas seja
um reflexo indireto do elevado nmero de furto e roubo de carros no Estado, j
que muitos proprietrios costumam guardar sua arma no interior do porta-luvas.
56
Questes Atuais em Criminologia
quantidade de armas ilegais em circulao, caso esta demanda no
seja suprida pelo contrabando. De fato, existem indcios de que isto j
esteja acontecendo: a queda no volume de compras de armas legais
em So Paulo fez com que diminussem os roubos e furtos de armas
nas mos de pessoas jurdicas (bancos, empresas de vigilncia, etc.) A
mdia anual de roubos e furtos de armas de pessoas jurdicas no
Estado de So Paulo caiu de 225 por ms, em 1997 e 1998, para 165
por ms, at junho de 1999.
Perfil dos proprietrios de armas
Com relao ao perfil das residncias onde existiam armas de fogo,
levantado pela pesquisa de vitimizao em So Paulo, constatou-se
que sua existncia era proporcionalmente maior quando os moradores
eram mais ricos e escolarizados: somente 4% dos entrevistados com
escolaridade at o 1 grau afirmaram ter arma de fogo em casa, em
contraste com 15% dos entrevistados com formao superior. Com
respeito a renda familiar, somente 3% dos entrevistados com renda at
R$ 780,00 disseram possuir armas, em contraste com 19% dos
entrevistados com rendimentos superiores a R$ 2340,00. Ao menos no
que diz respeito s armas "confessveis", sua existncia claramente
maior entre os mais ricos e escolarizados, que, no por acaso, so as
maiores vtimas dos crimes contra o patrimnio e os que mais temem
ser vtimas de crimes. Quando perguntadas sobre os motivos pelos
quais tem uma arma de fogo, 58% dos proprietrios afirmou t-las para
proteo ou preveno contra o crime. Parece existir assim uma
relao entre posse de arma de fogo na residncia e probabilidade de
vir a ser vtima de crime contra o patrimnio.
Por outro lado, o perfil dos usurios das armas ilegais difere em
diversos aspectos do perfil levantado nas pesquisas de vitimizao,
segundo dados da Acrimesp
15
. Os homens ainda so os maiores
proprietrios das armas ilegais, mas principalmente os de baixa
escolaridade, ao contrrio do que ocorre entre os proprietrios de
armas legais. Cerca de 77% tinham o primeiro grau incompleto.
15
Levantamento com base em 1775 casos de flagrante de porte ilegal de arma,
entre maro e outubro de 1998, pela Associao dos Advogados Criminalistas
do Estado de So Paulo.
57
2) Quo envolvidas esto as armas de fogo nos crime violentos ?
O Brasil no s um dos pases que tem uma das maiores taxas de
homicdios por 100 mil habitantes como tambm o pas com a maior
proporo de homicdios cometidos com armas de fogo. Num estudo
preparado pelas Naes Unidas abrangendo 69 pases desenvolvidos e
subdesenvolvidos, constatou-se que nada menos que 88,39% dos
homicdios brasileiros so cometidos com armas de fogo, o campeo
entre todos os pases pesquisados: dentro de um universo de cerca de
50.000 homicdios perpetrados em 1996, 45.000 o foram com armas.
16
Esta proporo corroborada por outras fontes: o anurio 1997 do
DHPP de So Paulo, que trata somente dos homicdios de autoria
desconhecida, informa que, naquele ano, a arma de fogo foi o
instrumento utilizado em 91% das mortes (4255 em 4684 homicdios).
Esta mesma pesquisa apontou que 90% dos roubos praticados no
Brasil o so com a utilizao de armas de fogo (225.000, num universo
de 250.000 roubos e furtos em 1996). Esta proporo faria do Brasil um
dos pases com maior proporo de roubos com armas de fogo, entre
os 69 pesquisados. Lembre-se todavia que estamos falando dos roubos
notificados e que existe uma tendncia de notificao maior dos crimes
mais srios, como os cometidos com armas de fogo. Isto pode explicar
16
Com relao ao vnculo entre crime organizado e homicdios: qualquer um
que tenha contato com o tema sabe que, quanto mais organizado o grupo
criminoso, menor o uso da violncia fsica. Quando uma quadrilha organizada
precisa matar, porque a organizao fracassou. H muito o crime organizado
descobriu que "em polcia no se atira, se compra". Com efeito, a corrupo a
arma por excelncia do crime organizado e no as armas. O melhor exemplo
disso no Brasil, o Jogo de Bicho, que atua em conluio com o Estado.
(presidentes da repblica chegam a assistir desfiles de escolas de samba em
camarotes pagos por bicheiros...). Os nicos momentos de maior violncia se
do quando grupos rivais disputam mercado, em crises de liderana, etc. De
todo modo, a violncia excepcional entre as organizaes criminosas, e no a
regra. A violncia muito mais generalizada entre os pequenos bandos, pouco
organizados. As mortes provocadas por pequenos traficantes no Brasil
acontecem justamente porque a venda de drogas aos usurios fragmentada e
diversos grupos disputam pelo mercado. um erro grosseiro, portanto, querer
atribuir a elevadssima taxa de homicdios brasileira apenas ao "crime
organizado".
58
Questes Atuais em Criminologia
as diferenas entre as taxas oficiais e as encontradas nas pesquisas de
vitimizao.
Com efeito, as pesquisas de vitimizao fornecem alguns outros
indcios do uso das armas de fogo nos crimes violentos contra o
patrimnio. As vtimas de assalto entrevistadas em 1997 disseram que
em 69% dos casos os agressores tinham uma arma qualquer (inclusive
arma branca) durante o crime e em 40% dos casos esta arma era um
revlver, proporo inferior encontrada no estudo das Naes Unidas,
que utiliza estimativas oficiais.
As vtimas de agresses fsicas (leses corporais) reportaram na
pesquisa de vitimizao o uso de armas pelo agressor em 44% dos
casos e armas de fogo, especificamente, em 25% dos casos. As
mulheres vtimas de ofensas sexuais (que englobam de assdio a
estupro) relataram a existncia de armas em 8% dos casos, mas em
apenas 3% tratava-se de um revlver. Na pesquisa internacional das
Naes Unidas, por sua vez, estima-se que 20% das ofensas sexuais
tenham sido cometidas com armas de fogo (2.200 num universo de
11.000 ofensas sexuais notificadas).
A explicao para a baixa proporo de armas de fogo nos casos de
ofensas sexuais pode residir no relacionamento entre vtima e agressor:
em ambos os casos, os agressores so, em boa parte das vezes,
conhecidos da vtima, como colegas de trabalho, amigos, namorados
ou ex-namorados, parentes, etc. A ofensa sexual, diferentemente dos
assaltos, ocorre quase sempre dentro da casa ou no trabalho da vtima.
Com a possvel exceo das ofensas sexuais, a armas de fogo esto
claramente envolvidas em muitos crime violentos no Brasil,
especialmente homicdios, leses corporais e roubos.
Perfil das vtimas e dos autores dos homicdios
As maiores vtimas das armas de fogo so os homens, jovens e pobres,
moradores da periferia. O citado anurio do DHPP aponta que 93% das
vtimas de homicdio por autoria desconhecida em So Paulo eram do
sexo masculino (4471 dos 5145 mortos). A maior parte destas mortes
esteve concentrada nas faixas entre 18 e 26 anos de idade (42%).
Estes dados so bastante conhecidos de modo que no preciso
59
repis-los aqui. O ponto intrigante o seguinte: se verdade que o uso
de armas pelo cidado comum tende a se voltar contra ele ou membros
de sua famlia e, por outro lado, se tambm verdade que so as
classes mais abastadas as que proporcionalmente mais tem armas
(quase 20% dos entrevistados com rendas superiores), como explicar
este perfil das vtimas de homicdio ? No deveramos esperar uma
proporo maior de indivduos de outras faixas etrias, classe social e
gnero entre as vtimas de homicdio ?
Esta aparente contradio entre perfil dos proprietrios e perfil das
vtimas s pode ser compreendida se lembrarmos que 1) este perfil
esboado pela pesquisa de vitimizao diz respeito aos proprietrios
das armas legais. As armas ilegais, por outro lado, - como corroboram
as apreenses feitas pela polcia - encontram-se em grande parte,
precisamente, nas mos de homens, jovens e pobres, moradores de
periferia. 2) preciso tambm ressaltar novamente a questo do
contexto: no a mera quantidade de armas, per si, que provoca a
violncia, mas sim a existncia de armas num contexto violento. Assim,
mesmo que existam mais armas entre os mais ricos, eles no precisam
ser necessariamente as vtimas preferenciais da violncia. Armas,
assim como bebidas ou drogas, so fatores crimingenos, que podem
ou no contribuir para a ecloso da violncia. Quanto mais violenta for
a sociedade em questo, maior o dano potencial destes fatores.
3) As armas de fogo detm o crime ou tornam a violncia com
armas mais provvel ?
As pessoas compram armas, de acordo com o que vimos na pesquisa
de vitimizao, com a finalidade principal de se proteger e se prevenir
contra crimes. No certo contudo se a posse de arma cumpre com
esta finalidade ou se, ao contrrio, torna a violncia mais provvel.
17
preciso distinguir em primeiro lugar, de que violncia estamos falando.
17
Os jornais e o prprio ministro da justia do Brasil tem citado dados de uma
pesquisa realizada pela OAB, segundo a qual apenas uma em cada 16 pessoas
que reagem com armas a um assalto bem sucedida. No se sabe ao certo,
contudo, como, quando ou por quem foi feita esta pesquisa, amplamente
divulgada. preciso saber se a pesquisa levou em conta somente os assaltos
que foram notificados polcia, deixando de fora os assaltos que foram
evitados (e, por isso, no notificados).
60
Questes Atuais em Criminologia
A expectativa generalizada entre os criminlogos de que os efeitos do
controle das armas de fogo sejam maiores nos crimes de natureza
passional, cometidos entre pessoas que se conhecem, do que nos
outros tipos de crimes. Assim, o efeito do controle sobre as armas de
fogo ser tanto maior quanto maior for a proporo de vtimas de
crimes com determinantes domsticos, emotivos ou familiares: mais
provvel que o controle de armas reduza os crimes violentos no Peru,
onde em 80% dos assassinatos existia uma relao domstica ou
familiar entre o agressor e a vtima, do que nos Estados Unidos, onde
em apenas 12% dos homicdios havia relao deste tipo entre agressor
e vtima (segundo dados da pesquisa da ONU, 1997 casos, num
universo de 16.524 homicdios com arma de fogo, em 1994).
Os Estados Unidos, alias, diferem da Europa com relao a este
aspecto, onde muito maior a proporo de homicdios entre
conhecidos
18
. Isto significa que preciso ser cuidadoso com o uso de
dados norte-americanos ou outros que sugerem reduzido efeito do
controle de armas nos crimes violentos, simplesmente porque o perfil
dos assassinatos e de outros crimes diferente de pas para pas. Alm
disso, como vimos, a porcentagem de homicdios cometidos com armas
de fogo varia conforme o pas: nos Estados Unidos - para ilustrar
novamente as diferenas e o perigo de "importar" pesquisas sem
atentar para o contexto - 66,1% dos homicdios (13000 em 19645)
foram cometidos com armas de fogo, enquanto esta proporo no
Brasil superior a 88%. Significa tambm dizer que, qualquer que seja
o efeito geral do controle das armas de fogo sobre os homicdios, eles
sero maiores no Brasil do que nos EUA.
Mesmo nos Estados Unidos, todavia, estudos sugerem que a existncia
de armas de fogo em casa aumenta a probabilidade de violncia letal.
Conforme Barkan, muitos estudos feitos nos EUA encontraram uma
correlao, ainda que pequena, entre disponibilidade de armas e
homicdios. No Brasil, encontramos esta relao entre taxa de
homicdios por arma de fogo por 100 mil e nmero de armas vendidas
por 100 mil para o ano de 1998 (r =.40) mas no encontramos esta
correlao quando correlacionamos com os dados de vendas de 1997.
19
Na tabela 2, com pases em desenvolvimento, a correlao foi
18
Segundo a Educational Fund to End Handgun Violence, 28% dos homicdios
norte-americanos tiveram origem em discusses ("arguments"), 9% ocorreram
durante roubos, 6% estiveram relacionados a gangues e 6% a drogas.
19
Lembre-se que uma estimativa da quantidade de armas legais e que toma
61
corroborada (taxa geral de disponibilidade de armas nas residncias X
% de homicdios cometidos com armas de fogo: r =0.46). Martin Killias
tambm encontrou uma correlao significativa entre porcentagem de
casas com armas de fogo e porcentagem de homicdios por 1 milho de
habitantes cometidos com armas de fogo, analisando os dados de 16
pases desenvolvidos (r =0.47)
por base as vendas de 1997 e 1998, j afetadas pela legislao e pelas
campanhas de desarmamento.
62
Questes Atuais em Criminologia
Tabela 4 - Porcentagem de Armas nas residncias X porcentagem de
homicdios cometidos com armas de fogo. - Pases desenvolvidos
Pas % de casa
com armas
Homicdios com armas
de fogo, por milho de
habitantes
Inglaterra & Gales 4,4 0,8
Esccia 4,7 1,1
Irlanda do Norte 8,4 21,3
Pases Baixos 1,9 2,7
Alemanha 8,9 2
Sua 27,2 4
Blgica 16,5 8,7
Frana 22,6 5,5
Finlndia 25,2 7,4
Noruega 32 3,0
EUA 48 44,6
Canad 24,2 8,4
Austrlia 15,1 6,6
Espanha 13,1 3,8
CSSR 5,2 2,6
Itlia 16 13,1
Nova Zelndia 22,3 4,7
Sucia 15,1 2,0
Fonte: Martim Killias, 1992.
Mas, como lembra o autor, correlao estatstica no significa
necessariamente causao, de modo que no certo se a relao
significa que a disponibilidade de armas aumenta os homicdios, ou
simplesmente que mais pessoas tem armas em reas de maior
criminalidade. Minha suspeita a de que ambas as suposies sejam
verdadeiras.
A anlise dos dados sobre Brasil (tabela 1), pases em desenvolvimento
(tabela 2) e desenvolvidos (tabela 4) sugere que a mera disponibilidade
de armas no condio suficiente para provocar ndices elevados de
violncia. No Brasil, encontramos diversos Estados com elevadas taxas
de armas por 100 mil habitantes, mas com taxas no to elevadas de
homicdios com armas de fogo, bem como Estados com poucas armas
e muitas mortes.
63
Nas duas outras tabelas que tomam os pases como unidades de
anlise, encontramos tambm casos desviantes: entre os pases em
desenvolvimento, Filipinas tem muitas armas e reduzida taxa de
homicdios enquanto na Costa Rica e Argentina a situao se inverte.
Entre os desenvolvidos existe o caso clssico da Sua, onde cerca de
um tero das casas tem armas e as taxas de homicdio so pequenas e
o caso oposto da Irlanda do Norte. Todos estes casos sugerem que,
to ou mais importante do que a quantidade de armas o contexto
dentro da qual elas se inserem. O mesmo nmero de armas produz
efeitos muito mais danosos em pases desiguais e injustos como o
Brasil e os Estados Unidos, onde existe uma aceitao cultural da
violncia e a vida perdeu seu valor, do que em pases "pacificados"
como a Sua.
A arma apenas uma substncia crimognica, como o lcool e as
drogas, e seu perigo tanto maior quanto piores as condies
circundantes. Isto explica porque mesmo sendo os mais ricos que
possuem proporcionalmente mais armas, sejam os pobres as maiores
vtimas dos homicdios, porque a Sua no a campe mundial de
assassinatos ou o Rio Grande do Sul
20
.
Para corroborar a afirmao de que a disponibilidade de armas
aumenta a probabilidade de violncia letal, preciso deixar de lado as
correlaes ecolgicas
21
e pensar em outros "desenhos" de pesquisa.
Um tipo de pesquisa mais adequado para estas inferncias o que
acompanha os incidentes letais em famlias similares em vrios
aspectos, exceto no que diz respeito posse de armas de fogo. Barkan
relata um destes experimentos, realizado em 1993: tal estudo
comparou residncias com armas e sem armas na mesma vizinhana,
formando pares por idade, sexo e raa dos moradores. As casas com
armas tinham 2.7 vezes mais probabilidade do que as outras de ter
algum da casa assassinado, usualmente por um membro da famlia ou
conhecido. Esta relao mostrou-se verdadeira mesmo quando se
controlou o experimento pelo uso de lcool, drogas e histrico de
20
A elevada taxa de armas por 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul pode
ser explicada de vrias maneiras. Trata-se de uma regio de fronteira, com
tradio militar e, no por acaso, onde esto localizadas as maiores indstrias
de armas do pas.
21
As pesquisas do tipo ecolgicas ou espaciais trabalham com dados
agregados de grandes unidades de anlise, como Estados ou pases, como
fizemos acima nas correlaes de armas existentes em determinada regio
com taxas de homicdio ou suicdio.
64
Questes Atuais em Criminologia
violncia domstica da casa. Com notou um pesquisador, "este estudo
confirma que as armas so mais provveis de serem usadas quando
voc est bebendo e tem uma discusso com algum que conhece. Ele
indica que as pessoas tendem a usar a arma no pela razo pela qual
elas foram trazidas para dentro de casa, mas em brigas com membros
da famlia e amigos" (Barkan, p.278)
Estes estudos so metodologicamente mais adequados do que os
estudos ecolgicos porque permitem o controle de uma nmero maior
de variveis ligadas a violncia e tratam com unidades (no caso,
residncias vizinhas) que so mais homogneas. Infelizmente, eles
custam caro e demoram anos para que obtenhamos alguma
concluso.
22
22
Uma das principais crticas a More Guns, Less Crime, do prof. Lott, feita por
Jens Ludwig, professor da Universidade de Gergetown, a de que as taxas de
criminalidade, inclusive de homicdios, so cclicas, isto , aumentam e
diminuem a cada 5 ou 10 anos. As taxas de criminalidade e de homicdios nos
EUA vem caindo nos ltimos anos em todos os estados americanos e isto no
tem relao com as leis sobre armas mas sim com as taxas de emprego,
mudana na estrutura etria da populao e acomodao de quadrilhas que
disputavam a venda do crack. Alm disso, como argumenta Ludwig, em
estudos do tipo ecolgico como o de Lott, quase impossvel exercer controle
sobre todas as variveis relevantes para a explicao da criminalidade. Assim,
os estados comparados so bastante diferentes em termos de pobreza, gangs,
drogas, prticas policiais e todas estas variveis influenciam as taxas de
criminalidade e no foram levadas em considerao no modelo explicativo do
autor. Crtica semelhante feita por David Hemenway, professor da
Universidade de Harvard: as variveis analisadas por Lott no so boas
preditoras dos ciclos de crime, seu modelo no leva em conta efeitos histricos
e existem falhas em seus dados em pelo menos duas variveis bsicas: a
porcentagem de adultos com armas de fogo subestimada (39% em 1996 e
no 25%) bem como os dados sobre mortes acidentais (600 e no 200 casos,
em 1988). Dan Black (universidade de Kentucky) e Daniel Nagin reanalizaram
os dados de Lott e no encontraram qualquer evidncia de que as leis do
gnero "right to carry" reduzam o crime, refutando com testes estatsticos as
concluses do autor. Em resumo, suas concluses so no mnimo prematuras e
no se aplicam aos homicdios em geral.
Para corroborar a afirmao de que a disponibilidade de armas aumenta a
probabilidade de violncia letal, preciso deixar de lado as correlaes
ecolgicas, como a de Lott, e pensar em outros "desenhos" de pesquisa. Um
tipo de pesquisa mais adequado para estas inferncias o que acompanha os
incidentes letais em famlias similares em vrios aspectos, exceto no que diz
respeito posse de armas de fogo.
65
Quanto a natureza dos homicdios, no Brasil, os dados so esparsos,
mas sugerem a existncia de um elevado percentual de mortes cuja
autoria no pode ser imputada a criminosos, mas antes a pessoas
comuns, sem antecedentes criminais, mas que perderam a cabea num
momento de tenso. Segundo o socilogo Guaracy Mingardi, autor de
uma pesquisa sobre a violncia na Zona Sul de So Paulo, 48,3% dos
homicdios naquela regio decorriam de motivos fteis, como
discusses em bares, brigas de trnsito ou conflitos de vizinhana.
Pesquisa recente do Iser com crimes violentos cometidos no Rio de
J aneiro no ms de maro de 1998 revelou, com base em 164
ocorrncias com vtimas fatais, que em 58 casos existia um
relacionamento entre autor e vtima, ou seja, 35,4 % dos casos.
Algumas outras caractersticas dos homicdios, como dia da semana e
horrio em que acontecem, sugerem a mesma interpretao: o anurio
do DHPP de 1997 mostra que 40% dos homicdios acontece nos finais
de semana, entre 23:00 e 03:00 da madrugada. A no ser que se
consiga demonstrar que, por algum motivo obscuro, os criminosos
atuam mais nas madrugadas dos finais de semana, estas
caractersticas temporais levam a crer que se trata em boa parcela de
homicdios de autoria passional ou por motivo ftil, em decorrncia da
ingesto de bebida alcolica ou mesmo de drogas. Existe um outro
dado curioso e que ilustra bem a natureza passional ou fortuita de boa
parte dos crimes contra a pessoa: tradicionalmente, as taxas de
reincidncia das pessoas que cometeram crimes contra a pessoa
(homicdios e leses) so menores do que as das pessoas que
cometeram crimes contra o patrimnio. A explicao para isso a de
que, entre os condenados por crimes contra a pessoa, temos muitas
pessoas sem antecedentes criminais, que eventualmente cometeram
crimes, cumpriram sua pena e retornaram sociedade e jamais
voltaram a cometer crimes.
So estes crimes passionais, fteis, ou como quer que se os chame,
os tipo de crimes que podem ser reduzidos com o desarmamento da
populao, e no so poucos.
23
23
No Estado de So Paulo ocorrem cerca de 3000 homicdios por trimestre: 3%
deles esto relacionados a chacinas (homicdios mltiplos) 5 ou 6% a
latrocnios (170 no ltimo trimestre) e outros 3% aos embates na rua entre
policiais e criminosos (96 casos no ltimo trimestre). No total, apenas cerca de
11 ou 12% dos homicdios tem relao direta com o crime.
66
Questes Atuais em Criminologia
Com relao a violncia cometida por criminosos, campanhas de
desarmamento voluntrio - como a campanha Sou da Paz - ou leis que
obriguem a todos a entregarem suas armas so bvia e sabidamente
incuas. Tais campanhas e leis tem como alvo os cidados de bem
pois evidente que os criminosos no entregaro suas armas em
virtude de campanhas ou novas leis. Este tipo de violncia - latrocnios,
roubos - no ser muito afetada com a proibio legal das armas
porque criminosos, por definio, agem fora da lei. A idia da lei que
probe totalmente a venda e o porte de armas no a de acabar com a
criminalidade, mas antes reduzir os nveis de violncia interpessoais.
Os efeitos sobre a criminalidade em geral, se existirem, sero indiretos,
provocados pela reduo na quantidade total de armas disponveis na
sociedade.
At agora nos detivemos na relao entre disponibilidade de armas de
fogo e crimes, relao que, como vimos, controversa. Bem menos
polmica a associao entre disponibilidade de armas de fogo e
quantidades de suicdios e leses acidentais. Entre as 42.900 pessoas
mortas por armas de fogo em 1995 no Brasil, 1200 (2,7%) envolveram-
se em acidentes e 700 (1,6%) cometeram suicdio. Tanto as taxas de
acidentes quanto as taxas de suicdio so maiores entre os
profissionais que trabalham armados, como os policiais, e estes
incidentes esto associados no s ao carter estressante da profisso
como principalmente disponibilidade de armas de fogo. No Rio de
J aneiro as taxas de suicdio entre os policiais militares 7 vezes maior
do que entre a populao em geral e em So Paulo, cerca de 5 vezes
maior, girando em torno de 26 por 100 mil. Todos passam por
momentos de angstia mas para pessoas com acesso a uma arma
mais fcil passar da inteno ao ato.
Martin Killias, comparando a disponibilidade de armas em 18 pases
desenvolvidos com as respectivas taxas de suicdio por milho de
habitantes, encontrou que a porcentagem de suicdios cometidos por
arma de fogo aumenta dramaticamente com o aumento na
disponibilidade de armas ( r =.92, Killias, 1992). A correlao entre
disponibilidade de armas e suicdios to forte que vrios autores,
incluindo Killias, sugerem que, na ausncia de informaes sobre
quantidade de armas de fogo numa regio, as informaes sobre
suicdio com armas de fogo podem mesmo ser utilizadas como um
substituto (tecnicamente, uma varivel "proxi").
67
Correlacionando a taxa de armas de fogo por 100 mil habitantes com a
taxa de suicdio com armas de fogo por 100 mil habitantes nos Estados,
encontramos uma correlao positiva e significativa entre os
indicadores (.53), corroborando assim o encontrado em outras
pesquisas.
24
4) Em que medida o controle sobre as armas de fogo reduz a
disponibilidade de armas e seu uso nos crime violentos.
24
Diversas pessoas apresentam o caso japons como evidncia de que armas
de fogo no tem relao com suicdio, uma vez que no Japo as taxas de
suicdios so elevadas e existem poucas armas em circulao. Contra
argumentando, podemos dizer que em pesquisa costumamos falar em
"condies necessrias" e "condies suficientes". O Japo e outros casos
desviantes so evidncia, sim, de que uma grande quantidade de armas no
so condio necessria para a existncia de um elevado ndice de suicdios.
Por outro lado, pases como Itlia, Frana e Espanha, apresentam taxas de
suicdios menores do que deveramos esperar em relao a quantidade de
armas em circulao nestes pases, o que sugere que armas, per si, tampouco
so suficientes para um elevado ndice de suicdios. Fatores culturais e o
contexto histrico e social de cada pas podem explicar estes desvios negativos
e positivos. (Quanto ao Japo, basta lembrar as instituies do sepucu e
araquiri) A existncia de casos desviantes, contudo, no anula a relao geral
entre os dois indicadores. Com relao aos 27 estados brasileiros, tambm
podemos encontrar casos desviantes negativos e positivos. Mas quando
avaliamos em conjunto todos eles, a relao estatstica aparece. No mundo
existem mais de 180 pases e fcil encontrar casos isolados que confirmem
ou rejeitem as hipteses. Por isso a necessidade de avaliar grupos de pases,
estados ou cidades. Quem v apenas a rvore no consegue perceber a
floresta.
Ainda com respeito aos suicdios, sugiro a leitura de Martim Killias (Guns
Ownership, suicide and Homicide: an international perspective) onde sugere a
inexistncia do efeito "displecement" . Se as pessoas que querem se suicidar o
fazem de qualquer maneira (displecement), independentemente da existncia
de armas de fogo, ento, nos pases com poucas armas de fogo, as taxas de
suicdio por outros meios deveriam ser to ou mais elevadas do que as taxas
de suicdio em geral. Comparando 18 pases desenvolvidos e suas taxas de
disponibilidade de armas de fogo e de suicdio, Killias conclui que as taxas de
suicdio, por qualquer meio, so menores nos pases com menos armas. Ou
seja, a ausncia de armas inibe o suicdio, que no se deslocam para outros
meios mas simplesmente deixam de acontecer.
68
Questes Atuais em Criminologia
At fevereiro de 1997, o porte ilegal de armas de fogo no Brasil era
apenas uma contraveno penal, punida sem muita severidade. A partir
do incio daquele ano, de acordo com a Lei n 9437/97, o porte de arma
de fogo sem registro e sem autorizao competente transformou-se em
crime, sendo punido com maior rigor. A lei previa o prazo de alguns
meses para que as pessoas regularizassem a situao de suas armas,
que de outro modo se tornariam ilegais.
O efeito da lei, ao menos no que se refere ao recadastramento das
armas existentes, limitado no Rio e relativamente eficaz em So Paulo.
Cerca de 399 mil das cerca de 1,5 milhes de armas registradas no
Estado de So Paulo foram recadastradas, ou 26,6% do total. No Rio
de J aneiro as cifras so bem inferiores. Segundo o antroplogo Rubens
Csar Fernandes, do Viva Rio, apenas 1,5% dos armamentos
registrados foi recadastrado. A se fiar na proporo de
recadastramentos, - que tornou todas as armas no registradas em
armas ilegais - fcil prever que a lei que torna ilegal a posse de
qualquer arma de fogo no ser respeitada por boa parte dos
proprietrios. Ao contrrio, o anncio da provvel lei gerou um efeito
inverso ao esperado, provocando um aumento da procura por armas
nas lojas de armas. Pessoas que pensavam em comprar armas esto
antecipando a compra, temendo um eventual fechamento das lojas,
mesmo que isto venha a implicar numa ilegalidade no futuro prximo.
O maior efeito deu-se provavelmente sobre a expedio de novos
portes de armas: em So Paulo foram emitidos 2.115 portes de armas
em 1998 e 700 at junho de 1999, em comparao com 68,3 mil
concedidos em 1993 (dados da Diviso de Produtos Controlados). No
Rio de J aneiro apenas 120 portes foram emitidos em 1998. Tirar porte
de arma ficou no apenas mais difcil como tambm mais caro,
custando cerca de R$ 900,00. (Isto / 1548 - 2/6/99). O custo elevado
foi provavelmente o fator responsvel pela diminuio na expedio de
portes, mais do que as exigncias legais.
Uma maneira alternativa de avaliar o efeito da nova lei atentar para os
nmeros de vendas de armas, que caem abruptamente de 1995 para
1998, em quase todos os Estados, com exceo do Acre, Amazonas,
Alagoas e Rio de janeiro. No pas como um todo, segundo a
Associao Nacional de Armas e Munio, as indstrias venderam
86.857 armas em 1995. Em 1997 as vendas caram para 41.424
unidades e no ano passado, segundo a fabricante de armas Taurus, as
lojas revenderam para o pblico apenas 17.531 armas em todo o pas,
69
alm de 8.000 mil para empresas de segurana, totalizando 25.531
armas. (Isto /1548, 2/6/99). Isto significa que, qualquer que tenha sido
o efeito da legislao, no foi ela a nica ou a principal razo da queda
em todos os Estados pois a lei que transformou o porte ilegal de
contraveno em crime de fevereiro de 1997, enquanto que as
redues nas vendas comearam pelo menos desde 1995.
70
Questes Atuais em Criminologia
Tabela 5 - Venda de Armas, por Estado
Estados 1997 1998 Variao
AC 1 4 300,0
AL 422 455 7,8
AM 46 126 173,9
AP 89 88 -1,1
BA 1209 853 -29,4
CE 719 381 -47,0
DF 1050 456 -56,6
ES 971 300 -69,1
GO 967 414 -57,2
MA 2010 750 -62,7
MG 3120 2923 -6,3
MS 240 153 -36,3
MT 449 289 -35,6
PA 687 533 -22,4
PB 356 183 -48,6
PE 725 520 -28,3
PI 1037 197 -81,0
PR 4519 2761 -38,9
RJ 4086 5444 33,2
RN 455 79 -82,6
RO 427 212 -50,4
RR 77 75 -2,6
RS 5591 2902 -48,1
SC 2182 1199 -45,1
SE 570 323 -43,3
SP 9318 3635 -61,0
TO 101 45 -55,4
TOTAL 41424 25300 -38,9
Fonte: Taurus
Quando observamos os registros e concesses de armas do Estado de
So Paulo, fica evidente que as quedas no volume de armas legais em
circulao comearam pelo menos 3 anos antes da mudana legal. O
ponto de inflexo no Estado foi 1995, quando as concesses caem
dramaticamente, em funo de uma determinao do governo estadual.
71
Tabela 6 - Homicdios, registro e concesso de armas em So Paulo -
1994-98
1993 1994 1995 1996 1997 1998
Homicdios dolosos no
Estado de So Paulo /
mdia mensal
- - 782 868 880 988
Registro de armas no
Estado de So Paulo
29.61
5
42.09
0
31.78
1
22.02
5
8.90
4
6.71
4
Concesses de porte na
Capital *
68.35
8
69.13
6
10.13
7
8.399 3.50
9
2.11
5
Fonte: Diviso de Produtos Controlados e Sec. da Segurana Pblica.
* em 1998, o Deinter e o Demacro expediram tambm 916 portes
At o momento, est diminuio no nmero de registros e concesses
de portes no parece ter afetado a quantidade de homicdios dolosos
cometidos no Estado, uma vez que estes continuam aumentando
gradativamente. Mas isto no necessariamente uma prova da
inefetividade do controle de armas, como argumentam os que se
opem ao projeto de lei governamental.
Pensando contrafactualmente, possvel imaginar que os aumentos
nos homicdios teriam sido ainda maiores do que de fato foram, caso
mais armas estivem em circulao. Os homicdios, alis, vem
crescendo desde as duas ltimas dcadas, quando a legislao sobre
armas de fogo era bem mais flexvel. Em outras palavras, a liberalidade
no registro e porte, mesmo de armas ilegais, no implicou em menores
taxas de homicdios, mas antes no contrrio.
preciso lembrar tambm que, no obstante as apreenses feitas pela
polcia e a reduo de registros e concesses, o estoque atual de
armas bastante elevado e muitos anos sero necessrios para que
ele diminua substancialmente. Finalmente, as dificuldades na obteno
de armas legais pode ter incrementado o comrcio ilegal de armas,
sobre o qual no existem estimativas: em suma, pode ter ocorrido de
fato um aumento no volume total de armas, apesar da diminuio no
nmero de armas legais.
Uma caracterstica adicional da lei proposta pelo governo federal a
compra das armas pelo Estado por um valor em torno de R 150,00, que
o custo de um revlver usado no mercado paralelo. Se, numa
hiptese remota, todas as 7,5 milhes de armas cadastradas fossem
72
Questes Atuais em Criminologia
entregues, isto representaria um gasto de 1,1 bilhes de reais. Trata-se
de um bom investimento dos recursos pblicos ?
Os resultados de programas de "gun buyback" feitos em trs cidades
norte-americanas no se revelaram muito animadores. Em 1991, a
cidade de Sant Louis conseguiu comprar 7500 armas e em 1994 mais
1200. Em 1992 Seattle adotou um programa semelhante. Em nenhum
dos trs programas houve uma reduo nos homicdios, assaltos ou
ferimentos por arma de fogo. Sobre as razes do fracasso, Sherman
pondera que 1) eles acabaram por atrair armas de reas distantes e
no necessariamente reduziram a quantidade de armas na cidade; 2)
atraram armas que ficavam guardadas em casa e no as utilizadas na
rua e, finalmente, 3) algumas pessoas chegaram a utilizar o dinheiro da
venda para a compra de outras armas mais novas e danosas, pois o
valor oferecido pela arma velha superava o valor de mercado. Com
base nas informaes disponveis, Sherman avalia que existem poucas
razes para investir em experimentos deste tipo.
Estes trs experimentos so ilustrativos mas so bastante diferentes do
que se prope aqui. A proposta governamental concilia proibio e
recompra; uma proposta nacional e no local, de modo que
indiferente de onde as armas estejam sendo atradas e, com o valor
pago, qualquer que seja ele, no ser possvel adquirir armas legais no
mercado, uma vez que o comrcio estar igualmente proibido. No se
pode portanto inferir a priori que a recompra ser malsucedida, caso
implementada.
Em todo caso, Sherman sugere a existncia de meios mais efetivos
para combater a violncia com armas de fogo, como os colocados em
prtica em Kansas e Boston. Nas duas cidades a polcia reforou a
busca de armas ilegais em grupos de risco, em locais e horas de risco.
Em Kansas, as apreenses de armas ilegais aumentaram 60% na rea
enfocada e os crimes com armas de fogo diminuram 49%. Em Boston,
onde a ao foi centrada nos jovens, tambm reduziram-se os crimes
perpetrados com armas de fogo.
Alm das apreenses de armas feitas pela polcia em locais e horas
"quentes", no mbito legal, existem nos Estados Unidos diversas
propostas alternativas ao banimento total de armas, uma vez que a
constituio americana - diferentemente da brasileira - garante
expressamente aos cidados o direito de portar armas. Entre as
73
propostas que tramitam atualmente nos legislativos dos Estados norte-
americanos, esto, por exemplo:
Checagem de antecedentes criminais dos compradores.
Cursos de utilizao segura de armas de fogo (no apenas cursos
de mira).
Fabricao de armas com dispositivos que indiquem quando esto
carregadas.
Limitao de venda: "uma-arma-por pessoa-por ms", para evitar
grandes compras dirigidas ao mercado clandestino.
Limitao na propaganda de armas de fogo, alertando para os
perigos, como outros produtos perigosos, como lcool, drogas e
tabaco.
Perodos de espera de 3 dias (o nmero de dias pode variar), antes
da entrega da arma ao comprador.
Requerimentos especiais para a compra de grandes quantidades
de munio.
Sentenas mais rigorosas para crimes cometidos com armas de
fogo.
Taxao da manufatura, venda ou importao de munio.
Vendas obrigatrias de dispositivos de segurana para crianas
(bloqueadores de gatilho, cadeados, etc.) junto com a venda de
armas.
Alm destes medidas, inmeras outras foram propostas no Workshop
sobre Regulamentao de armas de fogo para as Amricas, organizado
em So Paulo pelo Ilanud, em 1997. Com relao legislao
nacional, os participantes fizeram as seguintes recomendaes:
(a) Condies de propriedade e/ou posse de armas de fogo:
Com base na sua prtica e nas deliberaes realizadas no
workshop, os participantes definiram orientaes gerais
para a regulamentao das condies de posse e/ou
propriedade, que incluem: idade; propsito de utilizao,
antecedentes criminais, antecedentes com abuso de drogas
; sade mental, antecedentes em violncia domstica,
conhecimento do uso de arma de fogo e sade fsica;
74
Questes Atuais em Criminologia
(b) Procedimento para o incio da regulamentao das armas
de fogo:
Os participantes recomendaram que os procedimentos para
a emisso de licenas para armas de fogo sejam
determinados conforme o nvel de sofisticao
administrativa presente em cada regio. Para uma regio
que possua sistema de regulamentao limitado, os pases
recomendaram que o processo de regulamentao de
armas de fogo comece com uma intensa campanha de
mdia que incite a populao a registrar suas armas de
fogo. Entretanto, em pases onde j exista procedimentos
de regulamentao desenvolvidos, foram formuladas as
seguintes recomendaes:
(i) Comprovao de residncia;
(ii) Comprovao da familiaridade dos residentes com
a legislao de armas de fogo e as condies de
uso atravs de um processo de comprovao
prtico, como por exemplo um exame escrito;
(iii) Inspees peridicas;
(iv) As idades mnimas e mximas como critrio para a
posse de arma de fogo: O limite de idade mxima
foi considerado importante porque encontra-se
associado tanto com a habilidade mental quanto
fsica da pessoa. A discusso tambm tratou da
freqncia dos exames mdicos conforme o
envelhecimento das pessoas licenciadas. Foi
recomendado a exigncia do exame mdico uma
vez por ano para pessoas licenciadas com mais de
sessenta anos de idade.
(v) Consideraes sobre diferenas regionais: em
alguns pases com grandes diferenas culturais e
geogrficas, um sistema uniforme pode ocasionar
dificuldades ao modelo de regulamentao e sua
aplicao. Por tal razo, foi recomendado que as
regras sejam estabelecidas em conformidade com
as condies culturais locais. Isso tambm significa
que uma cooperao mais prxima entre as
75
polcias nacionais e a dos pases fronteirios deve
ser reconhecida com a finalidade de suprir
necessidades tcnicas e de treinamento.
(vi) Foi dada nfase ao treinamento do uso de armas
de fogo: Onde possvel deve haver um sistema de
credenciamento de instrutores de armas de fogo;
(vii) Foi tambm recomendado com nfase a
necessidade de se checar os antecedentes das
pessoas que pretendam a licena de arma de fogo;
(viii) Limitar o nmero de armas de fogo que a pessoa
pode comprar.
(c) Condies para o uso de armas de fogo:
Os participantes sugeriram que a utilizao das armas de
fogo deve obedecer motivao de emisso de sua
licena. Foram identificadas outras condies especficas
para a propriedade de arma de fogo: Se os pretendentes
demandam uma licena para caa, deve haver um
requerimento para a aquisio de uma aplice de seguro
nos casos de acidente ou de uso incorreto. Alm disso, se o
pretendente a uma licena para arma de fogo alegar como
justificativa a segurana pessoal, este dever estabelecer
razes srias e reais.
(d) Manuseio, armazenamento, e porte de arma de fogo:
O armazenamento de arma de fogo foi vrias vezes
discutido. Os participantes recomendaram que a exigncia
de condies seguras de armazenamento sejam pr-
requisitos para a emisso da licena. Tambm houve
nfase na necessidade de os pretendentes licena serem
educados na precauo de manter armas em carros, bem
como no treinamento do uso de armas de fogo.
(e) Um melhor controle sobre armas de fogo perdidas, ilegais
ou roubadas:
76
Questes Atuais em Criminologia
Os Estados Membros recomendaram que essencial para
o controle das armas de fogo as inspees regulares, a
superviso apropriada, audincias peridicas e a acusao
por negligncia.
(f) Violaes e armas de fogo:
Os Estados Membros recomendaram desde o confisco da
licena de arma de fogo at severas sanes penais.
(g) Recuperao e remoo das armas de fogo:
Os participantes sugeriram campanhas nacionais populares
para incentivar os cidados a entregar suas armas ilegais.
Alm disso foi sugerido:
(i) programas de anistia;
(ii) pagamento pela entrega de armas;
(iii) Proibio de colees privadas de armas de
fogo, limitando as colees aos museus.
(h) Conscientizao Pblica / Programas de Educao Pblica:
Os membros recomendaram o desenvolvimento de uma
conscientizao e de um programa de educao pblica.
Foi dada nfase ao fato de que um programa de
conscientizao pblica dependente dos seguintes
elementos:
(i) A compreenso da natureza do problema,
realizada com a ajuda de estatsticas sobre a taxa de
mortalidade provocada por armas de fogo, o custo dos
prejuzos e a qualidade de vida perdida e como tais figuras
podem ser comparadas lei local em contraste com a
legislao dos pases vizinhos;
77
(ii) Envolver o pblico em focos especficos, uso
extensivo da polcia comunitria, utilizao da mdia como
aliada na promoo da causa;
(iii) Priorizar metas, desenvolver estratgias
apropriadas e executar programas especficos;
(iv) Aproveitar o treinamento do uso de armas de
fogo como um meio de se atingir os objetivos, incluindo
alm de cidados, policiais, profissionais das reas
mdicas e das reas sociais, grupos de mulheres e grupos
de vtimas;
(v) Avaliaes Constantes.
Efeitos indesejados do Projeto de Lei
Alm dos efeitos negativos relatados na experincia do "buyback" em
cidades norte-americanas - em que indivduos entregaram suas armas
ao poder pblico e com o dinheiro recebido compraram armas novas e
mais potentes - podem ocorrer outros problemas durante a
implementao da lei.
1) Muitas pessoas que j pensavam em adquirir uma arma e estavam
postergando a deciso, esto aproveitando o momento atual para
compr-las, enquanto ainda so permitidas. Estabelecimentos de
vendas de armas no Rio de J aneiro relataram um crescimento de 8%
nas vendas desde que a questo veio a tona.
2) Do ponto de vista poltico, a proposta de lei gerou a organizao de
um lobby poderoso para combat-la, que une indstria de armas,
deputados federais, clubes de tiro e caa, etc., setores que at ento
estavam inertes. Embora a opinio pblica seja ainda maioritariamente
a favor do controle de armas, a proporo favorvel parece vir
diminuindo com o tempo.
3) A proibio total do comrcio legal de armas para a populao pode
eventualmente trazer alguns efeitos indesejados, como a constituio
ou fortalecimento de grupos organizados para disputar o mercado ilegal
de armas, que poder se tornar bastante lucrativo se a oferta diminuir
78
Questes Atuais em Criminologia
mas a demanda por armas continuar a mesma
25
. Este, por exemplo, foi
o efeito produzido pela Lei Seca nos Estados Unidos, no comeo do
sculo. A constituio de um mercado ilegal de venda - e seus efeitos
sobre a criminalidade - tambm um dos argumentos que diversos
criminologistas invocam para liberar o mercado de drogas: o comrcio
ilegal de drogas, segundo se advoga, cria mais problemas de
criminalidade do que as drogas em si. O jogo do bicho no Brasil
tambm um exemplo de explorao de atividade ilegal - mas para a
qual existe um grande mercado - com efeitos deletrios para a
sociedade, pelo poder corruptor que exerce sobre policiais e polticos.
Este mercado ilegal de armas j existe no pas, mas se ele tornar-se
mais rentvel poder atrair outros grupos e provocar disputas pelo
controle.
preciso portanto estar ciente de todos os possveis efeitos da
legislao, tanto os positivos quanto os negativos, para que a deciso
que venha a ser tomada seja uma deciso bem informada. claro que
nunca se sabe ao certo quais sero as conseqncias de uma medida
at que ela seja posta em prtica, uma vez que os paralelos com outras
tentativas similares nunca so totalmente cabveis. O que deu certo ou
errado num determinado lugar no necessariamente d em outros. Mas
possvel apreender com a experincia dos outros e nosso desejo de
que este artigo, calcado nos poucos dados disponveis no Brasil sobre
a questo, sirva para jogar alguma luz nesta complexa questo do
controle das armas de fogo.
25
A lei prope ainda que o crime por porte de arma de fogo seja inafianvel, o
que tambm nos parece demasiado. No tem sentido colocar na cadeia -
especialmente as nossas cadeias - algum que possui uma arma de fogo, fato
que at alguns anos atrs era considerado mera contraveno penal. Uma
punio mais adequada seria uma pena restritiva de direito (penas alternativas).
79
Anexo
UF Taxa de
hom. por
arma de
fogo
Taxa de
suic. Por
armas de
fogo
Armas por
100 mil
(97+98)
Armas por
100 mil - 97
Armas por
100 mil -98
AC 15,17 ,55 1,03 ,83 ,21
AM 9,92 ,67 7,20 5,27 1,93
TO 7,12 ,51 13,92 4,29 9,63
CE 5,63 ,70 16,15 5,59 10,56
PB 8,82 ,00 16,31 5,54 10,77
BA 11,88 ,15 16,44 6,80 9,64
PE 31,77 1,23 16,83 7,03 9,80
MS 26,20 2,64 20,39 7,94 12,45
RN 8,82 ,56 20,87 3,09 17,78
PA 6,38 ,31 22,14 9,67 12,47
GO 12,17 1,87 30,58 9,17 21,41
AL 19,60 ,61 32,93 17,08 15,84
MT 19,82 2,05 33,01 12,93 20,08
MG 5,41 ,96 36,24 17,53 18,71
SP 16,89 ,96 37,96 10,65 27,31
ES 25,15 ,90 45,35 10,70 34,65
PI 1,50 ,34 46,16 7,37 38,79
AP 23,45 ,53 46,65 23,19 23,45
RO 21,82 ,55 51,91 17,22 34,69
MA 4,16 ,24 52,85 14,36 38,49
SE 13,45 ,46 54,98 19,89 35,09
RR 20,23 1,21 61,51 30,35 31,16
SC 4,71 2,34 69,35 24,59 44,76
RJ 46,53 ,55 71,09 40,61 30,48
PR 9,90 2,86 80,85 30,66 50,19
DF 23,93 2,75 82,66 25,03 57,63
RS 12,13 3,17 88,12 30,11 58,01
Fontes: ISER para taxas de suicdio e homicdio com armas de fogo e
Taurus para venda de armas
80
Questes Atuais em Criminologia
1,000 ,886** ,955** ,193 ,537**
,886** 1,000 ,708** ,406* ,422*
,955** ,708** 1,000 ,034 ,547**
,193 ,406* ,034 1,000 ,128
,537** ,422* ,547** ,128 1,000
, ,000 ,000 ,167 ,002
,000 , ,000 ,018 ,014
,000 ,000 , ,433 ,002
,167 ,018 ,433 , ,262
,002 ,014 ,002 ,262 ,
27 27 27 27 27
27 27 27 27 27
27 27 27 27 27
27 27 27 27 27
27 27 27 27 27
AR100TOT
AR10098
AR10097
HOMARMA
SUICARMA
AR100TOT
AR10098
AR10097
HOMARMA
SUICARMA
AR100TOT
AR10098
AR10097
HOMARMA
SUICARMA
Pearson
Correlation
Sig.
(1-tailed)
N
AR100TOT AR10098 AR10097 HOMARMA SUICARMA
Correlations
Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
**.
Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
*.
81
Violncia nas Escolas
Diversos episdios recentes envolvendo a morte de estudantes
despertaram a ateno do governo e da sociedade para o problema da
violncia nas escolas. Assim como as chacinas e os seqestros
relmpagos, a violncia nas escolas tem recebido uma ampla cobertura
por parte dos meios de comunicao e, em conseqncia, entrou na
ordem do dia. O governo federal criou, em junho ltimo, uma comisso
de especialistas encarregada de elaborar diretrizes para o combate
violncia escolar, coordenado pelo Ilanud. O MEC, junto com outros
rgos, est organizando uma campanha nacional de Educao para a
Paz.
A sociedade tambm se mobiliza na forma de campanhas e projetos
como o "se liga, galera", projeto paz, projeto Construa seu Grmio,
campanha Sou da Paz e inmeras aes isoladas. As Ongs e institutos
de pesquisas, por sua vez, convocam estudiosos da questo para
discutir o problema brasileiro, que alis no recente. no incio dos
anos 80, segundo Sposito, que o tema da violncia na escolas entra em
cena pela primeira vez e surgem ento as primeira tentativas para
remedi-la. No se trata, portanto, de um problema novo, mas de um
tema que voltou tona em funo de casos recentes ocorridos no
Brasil e no exterior. Episdios como os do tiroteio em Denver, Estados
Unidos, onde dois estudantes mataram 15 de seus colegas, feriram 28
e suicidaram-se em seguida, receberam ampla cobertura jornalstica
em todo o mundo, colocando tanto a questo da violncia nas escolas
como a das armas de fogo na pauta de preocupaes de vrios pases.
Como o tema desperta interesse na populao, um nmero crescente
de episdios violentos vem sendo relatado, em vrias cidades
brasileiras. Mesmo episdios que no ocorreram de fato nas escolas,
mas envolveram estudantes como autores ou vtimas, esto sendo
computados na categoria "violncia na escola" uma vez que o rtulo
cativa a ateno da sociedade. Incidentes com balas perdidas que
vitimaram estudantes dentro de escolas tambm so adicionados,
inflacionando o nmero de casos. No existe, em suma, um critrio
claro sobre o que ou no violncia na escola nem se sabe ao certo se
o que aumentou foi a quantidade de casos de violncia ou apenas o
interesse dos meios de comunicao pelo tema, produzindo o que os
criminlogos dedicados a comunicao chamam de "onda" .
82
Questes Atuais em Criminologia
Embora recebam grande destaque na mdia, os casos que resultaram
em mortes de estudantes so eventos raros e concentrados em reas
especficas da cidade
26
. Em todo o Estado ocorreram 12 homicdios
em escolas, at o momento. Levando em conta que somente as
escolas pblicas estaduais abrigam mais de 6 milhes de estudantes,
teramos uma taxa de homicdios de .20 por 100 mil alunos, bem
inferior aos 9 homicdios por 100 mil observados no Estado de So
Paulo. As mortes em escolas so ainda mais raras, do ponto de vista
do risco estatstico, se incluirmos no cmputo os alunos da rede privada
e das escolas municipais. Independentemente de sua pequena
proporo, o temor que estas mortes provocam entre escolares e seus
familiares bastante real. A idia transmitida pela srie de reportagens
sobre violncia na escola de que o risco de morte alto e
generalizado.
Mais freqentes que os homicdios, por outro lado, so os casos de
trfico de drogas, agresses, roubos, brigas de gangues e o porte de
armas nas escolas. Com relao s drogas, o Denarc fiscalizou durante
um ano e dois meses 2073 escolas de 1 e 2 graus em So Paulo e,
neste perodo, realizou 409 flagrantes e 582 prises relacionadas a
drogas. Pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina da USP
27
com 1800 alunos constatou que 7%
dos alunos de escolas pblicas paulistanas usaram maconha ou
inalantes (12%) alguma vez na vida, propores que elevam-se para
25% nas escolas particulares. Com relao a armas, 5% dos alunos de
escolas particulares afirmaram ter levado algum tipo de arma para a
escola - revlver, faca, etc. - assim como 3% dos alunos de escolas
pblicas.
Muito mais comuns, todavia, so os pequenos atos de violncia
cotidiana ou "incivilidades" e quase nunca chegam ao conhecimento
das autoridades escolares ou policiais: pixaes de paredes,
26
O pesquisador Eric Debarbieux, em palestra no Ilanud, estimou que apenas
5% das escolas francesas tm problemas de violncia e estas so
precisamente as escolas das periferias dos grandes centros urbanos. Este ,
provavelmente, o que ocorre no caso brasileiro, ao menos no que diz respeito
aos incidentes de maior gravidade. As mortes em So Paulo este ano
ocorreram, no por acaso, em escolas no Jardim Maia, Graja, Jardim
Ibirapuera, Parelheiros e Capo Redondo.
27
"Nossos jovens segundo eles mesmos: comportamentos de sade entre os
estudantes de So Paulo". Beatriz Cotrim, Nelson Gouveia e Cynthia Carvalho.
83
depredaes, assdio sexual, racismo, ameaas de agresso ou
extorso, pequenos furtos e por a afora. Utilizando novamente os
dados da pesquisa da USP, nas escolas particulares, 28% dos
entrevistados disseram ter pertences que foram roubados ou
estragados intencionalmente e 18% envolveu-se alguma vez em briga
na escola. Nas escolas pblicas, estas propores foram de 18% e
17%, respectivamente. Dados de 1982 j mostravam que 66% das
escolas estaduais na cidade de So Paulo haviam sofrido alguma
violncia na forma de depredao, invaso ou roubos. Em 1995,
pesquisa feita em 308 escolas da regio metropolitana concluiu que
46% tinham sofrido depredao, 46% tinham sido invadidas e 27%
vtimas de furto ou roubo. Em 1996, segundo dados da Secretaria da
Educao do Estado, foram registradas 5516 ocorrncias em escolas
na Grande So Paulo, assim distribudas: 28% depredaes; 23,7%
invases, 8% briga de gangues; e, finalmente, 7,4% de ocorrncias de
agresses.
Estes dados sugerem que a violncia no algo exclusivo das escolas
pblicas nem est relacionada necessariamente pobreza, como
comprovam, adicionalmente, os casos americano e francs. Existe,
contudo, uma diferenciao de gnero e grau de violncia quando
comparamos escolas pblicas e particulares: se o uso de droga mais
agudo nas particulares, no por acaso, todos os casos de morte e
tentativas foram registrados entre alunos de escolas pblicas.
Para lidar com o problema da violncia nas escolas - como quase
sempre acontece com qualquer tema relacionado ao crime - existem,
basicamente, duas posturas distintas, ainda que no necessariamente
excludentes: uma repressiva e outra comunitrio-preventiva. A primeira
aposta na contratao de segurana privada ou na presena ostensiva
de policiais dentro das escolas, revistando as alunos, paralelamente
aquisio de sistema de monitoramento, como cmeras de vdeo e
mesmo detetores de metais. Inspirados nesta filosofia, tanto nos
Estados Unidos como na Frana criaram-se escolas especiais para os
alunos violentos, isolando-os dos demais. A disciplina escolar, nesta
viso, diz respeito apenas aos diretores do estabelecimento, aos bedis
e aos policiais, sem o envolvimento dos demais atores. Operando uma
espcie de diviso de tarefas, aos professores caberia apenas a "alma"
dos alunos, ficando o "corpo" sob a responsabilidade exclusiva dos
funcionrios da segurana. (Devine, 1996)
84
Questes Atuais em Criminologia
O modelo repressivo bastante utilizado em escolas norte-americanas,
onde a violncia endmica. Desde 1992, 236 pessoas sofreram morte
violenta em escolas norte-americanas, incluindo a casos de suicdio.
Pesquisas de vitimizao e de ofensas auto-declaradas (self reported
crime) revelam que nos Estados Unidos, em 1995, 45% dos estudantes
foram vtimas de furtos no ano anterior, 34% tiveram bens de sua
propriedade danificados, 18% foram ameaados com alguma espcie
de arma e 5% foram feridos com alguma espcie de arma. (Sourcebook
of Criminal J ustice Statistics, 1995). Diante destas propores, no de
se admirar que 70% dos colgios americanos revistam seus alunos na
entrada e faam inspees inesperadas nas salas de aula (Sposito,
p.58).
No Brasil, a polcia tem sido chamada no s para cuidar do permetro
externo das escolas mas tambm para revistar os alunos, dentro da
escola: estudantes de Curitiba so sistematicamente revistados em
plena sala de aula e estudantes em Presidente Prudente, So Paulo,
foram obrigados a ficar de cueca e agachar de ccoras por policiais em
busca de armas e drogas, levantando a questo do papel e dos limites
da atuao da polcia no interior da escola. Mesmo que estas medidas
demonstrem-se eficazes, elas so legtimas ?
28
So amparadas pela
lei?
Alegando ineficcia e ilegalidade dos mtodos repressivos, a postura
comunitrio-preventiva procura envolver a comunidade escolar na
resoluo do problema. Comunidade entendida aqui de forma ampla,
englobando desde alunos, professores, funcionrios, grmio estudantil,
policiais, familiares dos estudantes, associaes de pais e mestres at
moradores do bairro onde a escola se localiza. Nesta perspectiva, alm
da funo pedaggica, os professores compartilham da
responsabilidade pela disciplina estudantil. A polcia intervm de forma
preventiva - inclusive na formao do estudante em questes como
drogas ou gangues - e de forma repressiva apenas nos casos de
infraes penais mais srias. O papel da polcia na disciplina escolar
complementar, cabendo prpria escola o papel principal.
Convm alertar que estamos lidando aqui com tipos-ideais e que, na
prtica, elementos dos dois modelos de tratamento freqentemente se
28
A polcia militar de Curitiba afirma estar reduzindo a violncia nas escolas
com as revistas: no primeiro semestre de 1998, registraram-se 414 ocorrncias
em escolas da cidade. Em 1999, aps a intensificao das revistas,
registraram-se apenas 271 ocorrncias.
85
confundem. A polcia pode perfeitamente estar presente no interior da
escola, mas atuando de forma preventiva, como o faz, por exemplo, a
polcia feminina em So Paulo, falando sobre o problema de drogas em
sala de aula. Sistemas de vigilncia eletrnica nas reas externas ou
reas comuns da escola no so necessariamente ruins, desde que se
evite coloc-los dentro da sala de aula, vigiando os alunos todo o
tempo. Entre a escola-presdio e a escola auto-gestionada de J anus
Korjacz existe uma srie de gradaes possveis. Ainda que de forma
reducionista, em linhas gerais pode-se afirmar que os dois modelos
para lidar com o problema vm sendo empregados alternadamente em
So Paulo desde os anos 80, conforme o carter mais ou menos
democrtico da administrao estadual e municipal.
Entre as iniciativas formuladas pela estratgia comunitrio-preventiva
figuram, entre outras:
Participao dos pais nas conversas da diretoria com alunos
envolvidos em episdios de violncia ou vandalismo;
Colaborao de pais e parentes de alunos na conservao fsica do
estabelecimento, limpando pixaes, pintando, consertando mveis
quebrados, etc. ;
Introduo de atividades extra curriculares de interesse dos alunos,
como msica, esportes e artes, aps o horrio regular;
Treinamento de professores em tcnicas de enfrentamento da
violncia;
Construo de escolas de menor porte, de modo a possibilitar o
melhor acompanhamento dos alunos e o entrosamento da
comunidade escolar;
Treinamento especfico para os policiais envolvidos no policiamento
escolar;
Elaborao de um cdigo disciplinar interno, onde se estabeleam
claramente quais as punies permitidas ou no, de acordo com a
gravidade da infrao; os alunos devem participar da elaborao do
regimento;
Criao de um S.O.S professor - um nmero de telefone atravs do
qual professores possam se manifestar ou denunciar agresses e
situaes de violncia nas escolas;
Abertura da escola para a comunidade nos finais de semana,
permitindo a utilizao de quadras como espao de lazer. Esta
abertura deve vir acompanhada de um projeto para a utilizao da
rea ;
86
Questes Atuais em Criminologia
Mapeamento prvio dos problemas especficos de violncia nas
escolas pois estes variam de uma escola para outra;
Incentivo criao de grmios acadmicos nas escolas ou s
atividades dos grmios onde estes j existam;
Substituio do trote violento pelo "trote social" entre os calouros
das universidades;
Apoio pedaggico ao alunos "em risco", evitando que eles
abandonem os estudos. Alunos envolvidos com drogas, gangues
ou alunos violentos no devem ser simplesmente expulsos da
escola, aumentando suas chances de marginalizao.
difcil avaliar quo eficazes sero estas medidas para a reduo da
violncia escolar num contexto generalizado de violncia na sociedade.
As escolas no pairam no vcuo e no possvel isol-las numa
redoma de vidro. Como lidar, por exemplo, com o caso de alunos que
alegam levar armas para a escola porque estudam de noite e moram
em bairros violentos ? De que forma impedir o uso de drogas ou lcool
pelos estudantes se seu uso generalizado entre os jovens ? Estas
propostas podem ajudar a diminuir o problema de uma forma talvez
mais eficaz do que as medidas meramente repressivas. Mas a violncia
na escola, embora tenha sua especificidade, no se resolver enquanto
no se tratar adequadamente da violncia mesma na sociedade.
87
Bibliografia
1. AKERMAM, Marco. Mapa de Risco da Violncia: cidade de So
Paulo / CEDEC - So Paulo, 1996. 12p.
2. ANDRADE, D.F e RIBEIRO, R.O. Relatrio de anlise estatstica
sobre o projeto: ndice de Criminalidade e sua possvel relao com
desemprego. So Paulo, IME-USP, 1993, 31p. (RAE-CEA-9320)
3. Anurio Estatstico do Estado de So Paulo. So Paulo, Fundao
Sistema de Anlise de Dados - SEADE, 1985 a 1988.
4. AZEVEDO MARQUES, J oo Benedicto. Penas Alternativas.
Konrad Adenauer Stiftung. Paper n. 28, 1996.
5. Banco Interamericano de Desarrollo. Anlisis de la Magnitud y
costos de la violencia em la Cuidad de Mxico. Fundacion
Mexicana para la Salud. BID, 1998.
6. BARKAN, Steven E. Criminology - A Sociological Understanding.
University of Maine, New J ersey, 1997.
7. BAYLEY, David H. Police for the Future. Oxford University Press,
New York, 1994.
8. BEATO, Cludio. "Ao e Estratgia das Organizaes Policiais".
Paper apresentado durante o segundo seminrio Polcia e
Sociedade Democrtica, Rio de J aneiro, 11 de junho de 1999.
9. BLANCO, Manoel Castao e Ferro, Belmar Costa. "Segurana do
Dinheiro ou da Vida Bancria", So Paulo, Sindicato dos Bancrios
e Financirios de So Paulo, 1992.
10. CALDEIRA, Cesar (org.) Crime Organizado e Poltica de Segurana
Pblica no Rio de J aneiro. Revista Arch n 19, Faculdades
Integradas Cndido Mendes, Rio de J aneiro, 1998.
11. CARVALHO, J os Murilo de (coordenador). Lei, J ustia e
Cidadania: direitos, vitimizao e cultura poltica na regio
metropolitana do Rio de J aneiro. CPDOC-FGV / ISER, 1997.
12. CARLEY, Michael. Indicadores Sociais: teoria e prtica. Rio de
J aneiro, Zahar, 1985.
13. Censo Penitencirio de 1995. Ministrio da J ustia. Secretaria de
J ustia. Departamento Penitencirio Nacional. Braslia, 1996.
14. Censo Penitencirio de 1997. Ministrio da J ustia. Secretaria de
J ustia. Departamento Penitencirio Nacional. Braslia, 1998.
15. CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth (org.) Do Patrulhamento ao
Policiamento Comunitrio. Freitas Bastos Editora, Rio de J aneiro,
1998.
88
Questes Atuais em Criminologia
16. Conselho Regional de Medicina do Estado de So Paulo. "A
Epidemia da Violncia". Associao Paulista de Medicina,
Sindicatos Mdicos do Estado de So Paulo, 1998.
17. DEL FRATE, Anna Alvazzi. Viticm of Crime in the Developing
World. United Nations Interregional Crime and J ustice Research
Institute . Publication n 57, Roma, 1998.
18. DEL FRATE, Anna Alvazi; UGLJ ESA, Zvekic e VAN DIJ K, J an J .
Understanding Crime Experiences of Crime and Crime Control.
UNICRI, Roma, 1993.
19. DEVINE, J ohn. The Culture of Violence in Inner-City Schools. The
University of Chicago Press, 1996.
20. GULLO, lvaro da Silva. O Policial Militar do Estado de So Paulo:
caracterizao e anlise scio-econmica. Tese de Doutoramento
apresentanda ao departamento de sociologia da Universidade de
So Paulo, 1992.
21. HOLDEN, George W. and EDWARDS, Lee A. " Parental Attitudes
Toward Child Rearing: Instruments, Issues, and Implications", IN:
Psychological Bulletin, 1989. Vol. 106, n. 1, 29-58
22. Ib Teixeira. " O Fantstico Custo da Violncia no Brasil". In:
Conjuntura Econmica, Abril de 1998.
23. IBGE. Participao Poltico-Social 1988 - Justia e Vitimizao.
Ministrio da Economia, Fazenda e Planejamento, 1989.
24. Instituto Gallup de Opinio Pblica. Relatrio dos Trabalhos de
Pesquisa sobre Imagem da Polcia no Estado de So Paulo,
realizado a pedido da Secretaria de Segurana Pblica do Estado
de So Paulo. Setembro de 1993.
25. Implementao de Programas de Prestao de Servios
Comunidade. ILANUD / IBCCrim, Revista do ILANUD n. 7. So
Paulo, 1998.
26. IZCARAI, Fausto y IZCARAI, Oli Lozada." La Construcion de
ndices de status socioeconmico: crtica y mtodo." IN: AVEPSO,
Asociacion Venezuelana de Psicologia Social, Fascculo 3,
Caracas, 1986.
27. J ohn Walker . "Estimates of the Costs of Crime in Australia in 1996".
In, Australian Institute of Criminology - Aug. 1997, n 72.
28. KAHN, Tulio. Metodologia para a Construo de um ndice de
Criminalidade, In: Os Direitos Humanos no Brasil. Ncleo de
Estudos da Violncia da USP, 1994.
29. KAHN, Tulio. Sistema Prisional Brasileiro: algumas comparaes
internacionais e perspectivas para os prximos anos, in: Relatrio
Semestral ILANUD. So Paulo, 1997. (no prelo)
89
30. KAHN, Tulio. Pesquisas de Vitimizao. Revista do Ilanud n 10.
So Paulo, Ilanud, 1998.
31. KILLIAS, Martin. "Gun ownership, suicide and homicide: na
international perspective". In: Del Frate, Anna Alvazzi; Zvekic,
Ugljesa e Van Dijk, J an. Understanding Crime - Experiences of
Crime and Crime Control. United Nations Interregional Crime and
J ustice Research Institute . Publication n 49, Roma, 1993.
32. KIM, J ae-On and MUELLER, Charles W. Factor Analysis. Statistical
Methods and Practical Issues. Sage University Paper series on
Quantitative Applications in the Social Sciences, serie n. 14.
Beverly Hills and London: Sage Publications, 1978.
33. KIM, J ae-On and MUELLER, Charles W. Introduction to Factor
Analysis. What it is and How to do it. Sage University Paper series
on Quantitative Applications in the Social Sciences, serie n. 13.
Beverly Hills and London: Sage Publications, 1978.
34. LEMGRUBER, J ulita (org.) Alternativas Pena de Priso. Governo
do Estado do Rio de J aneiro, Secretaria da J ustia, 1996.
35. LEVITT, Steven. "The Effect of Prison Population Size on Crime
Rates: evidence from prison overcrowding litigation". The Quarterly
J ournal of Economics, 1996.
36. LEVITT, Steven. "Deterrence Vs. Incapacitation". Economic Inquiry,
1998.
37. LOTT, J ohn R e MUSTARD, David B. Crime, Deterrence, and
Right-to-Carry Concealed Handguns. The University of Chicago,
1997.
38. MACDOWALL, David. "Firearms and Self-Defense". In: Reaction to
Crime and Violence, The Annal of the American Academy of
Political and Social Science, Sage Publications, 1995.
39. MARCUSE, Herbert. Eros e Civilizao - Uma Interpretao
Filosfica do Pensamento de Freud. Zahar, Rio de J aneiro, 1978.
40. Mingardi, Guaracy. O Estado e o Crime Organizado. IBCCrim, So
Paulo, 1998.
41. MILLER, Ted R.. "Costs Associated with Gunshot Wounds in
Canada in 1991". In, Canadian Medical Association - Nov. 1, 1995;
153 (9)
42. MUNIZ, J acqueline e MUSUMECI, Leonarda. "Resistncias e
Dificuldades de um Programa de Policiamento Comunitrio". In:
Tempo Social; Ver. Sociologia da USP. USP, S.Paulo, 9(1): 197-
213, maio de 1997.
43. NEILD, Rachel. Temas y Debates en la Reforma de la Seguridad
Publica - Polica Comunitaria. WOLA, 1998.
90
Questes Atuais em Criminologia
44. OLIVEIRA, Francisco de. A Economia Brasileira: Crtica Razo
Dualista, In: Selees Cebrap, brasiliense, So Paulo, 1977.
45. PASTORE, J os, ROCCA, Denise Franco e PEZZIN, Liliana. Crime
e Violncia Urbana. So Paulo, IPE-USP:FIPE, 1991.
46. PIQUET, Leandro (coord.) Magnitude, custos econmicos e
polticas de controle da violncia no Rio de J aneiro. ISER, Rio de
J aneiro, 1998.
47. QUINONES, Fernando Holgun. Estadstica Descriptiva - aplicada a
las ciencias sociales. Universidad Nacional Autnoma de Mxico,
Mxico, 1970.
48. Regulamentao de Armas de Fogo nas Amricas. Revista do
Ilanud n 11. So Paulo, 1998.
49. Regras de Tquio. Comentrios s Regras Mnimas das Naes
Unidas sobre Medidas no Privativas de Liberdade. Ministrio da
J ustia. Secretaria de J ustia. Braslia, 1998.
50. Relatrio Gerencial, Relatrio de Atividades e Resumo Informativo
do Programa Integrado de Prestao de Servios Comunidade -
SAP / SERT. Secretaria da Administrao Penitenciria, mimeo,
1998.
51. RIOS, J os Arthur. City Surveys: Rio de J aneiro, in: Criminal
Victimization in the Developing World. United Nations Interrregional
Crime and J ustice Research Institute -UNICRI - Rome, 1995.
52. SACCO, Vicent. "Media Construction of Crime", In: Reaction to
Crime and Violence, The Annal of the American Academy of
Political and Social Science, Sage Publications, 1995.
53. SCHNEIDER, Hans J oachim. "Crime in the Mass Media". In:
ILANUD, Ano 9-1-, N. 23-24
54. SCHWIND, Hans-Dieter; FERREIRA, Ivette Senise e AZEVEDO
MARQUES, J oo Benedicto. Penas Alternativas. Konrad Adenauer
Stiftung. Paper n.28, 1996.
55. Secretaria da Administrao Penitenciria do Estado de So Paulo.
Programa Integrado de Prestao de Servios Comunidade:
Pena Alternativa Priso. So Paulo, 1997, mimeo.
56. Secretaria da Segurana Pblica do Estado de So Paulo. Anurio
DHPP, 1997.
57. Segurana Pblica como Tarefa do Estado e da Sociedade. Konrad
Adenauer Stiftung, srie Debates n 18, 1998.
58. SHECAIRA, Srgio Salomo. Prestao de Servios Comunidade
(alternativa pena privativa de liberdade). Editora Saraiva, So
Paulo, 1993.
59. SHERMAN, Lawrence e outros. Preventing Crime: what works,
what doesent whats promising. University of Maryland, 1997.
91
60. SHERMAN, Lawrence. "Public Regulation of Private Crime
Prevention". In: Reaction to Crime and Violence, The Annal of the
American Academy of Political and Social Science, Sage
Publications, 1995.
61. SOMOGGI, Laura. "O Custo Brasil de que Ningum Fala". In:
Revista Exame, Ed. Abril, Maio de 1998.
62. SPOSITO, Marlia Pontes. "A instituio escolar e a violncia", 1998
63. STERN, Vivian. A Sin Against the Future. Pinguin Books, 1998.
64. SZWARCWALD, Clia Landmann. Mortalidade por armas de fogo
no Estado do Rio de J aneiro: uma anlise espacial. Fundao
Oswaldo Cruz, mimeo, 1997.
65. TROJ ANOWICZ, Robert e Pollard, Bonnie. Comunity Policing: the
line officers perspective. National Neighborhood Foot Patrol
Center. Comunity Policing Series n 11. Michigan State University,
1996.
66. TROJ ANOWICZ, Robert; Steele, Marilyn e Trojanowicz, Susan.
Comunity Policing: a taxpayers perspective. National
Neighborhood Foot Patrol Center. Comunity Policing Series n 7.
Michigan State University, 1996.
67. UNDP - United Nations Development Program, Repport 1994.
68. United Nations International Study on Firearm Regulation. United
Nations, Nwe York, 1998.
69. Uniform Crime Report for the United States. Federal Bureau de
Investigation. U.S Department de J ustice, Washington, 1964.
70. WALLER, Irvin, WELSH, Brandon C. e SANSFAON, Daniel. Crime
Prevention Digest 1997 - Successes, Benefits and Directions from
Seven Countries. Montreal, International Centre for the Prevention
of Crime, 1997.
71. Zvekic, Ugljesa. Criminal Victimization in Countries in Transition.
United Nations Interregional Crime and J ustice Research Institute .
Publication n 61, Roma, 1998.
92
Você também pode gostar
- Resumo Do Livro O Futuro RoubadoDocumento13 páginasResumo Do Livro O Futuro RoubadoRafael Henrique Rodrigues AlvesAinda não há avaliações
- Como Funcionam Os InterrogatoriosDocumento77 páginasComo Funcionam Os InterrogatoriosOdete Colaço100% (1)
- Sinologia Bony SchachterDocumento24 páginasSinologia Bony SchachterbrmarceloalvesAinda não há avaliações
- Belterra Cidade Americana No Coração Da Amazônia.Documento9 páginasBelterra Cidade Americana No Coração Da Amazônia.Venize Ramos RodriguesAinda não há avaliações
- HistÓria Do CapitalismoDocumento13 páginasHistÓria Do CapitalismoAdam Reyes100% (1)
- Desenho Urbano (Contemporâneo No Brasil)Documento33 páginasDesenho Urbano (Contemporâneo No Brasil)Lucas SoaresAinda não há avaliações
- BENHABIB, Seyla. Utopia e Distopia em Nossos Tempos PDFDocumento18 páginasBENHABIB, Seyla. Utopia e Distopia em Nossos Tempos PDFAnonymous QMFYEGcfZ7Ainda não há avaliações
- Aviso Aos Náufragos - R Kurz (Usar Textos Indiv)Documento78 páginasAviso Aos Náufragos - R Kurz (Usar Textos Indiv)LeoHil100% (1)
- Processos de Difusão Do Parque Infantil e Instituições Congêneres No BrasilDocumento12 páginasProcessos de Difusão Do Parque Infantil e Instituições Congêneres No Brasilana favila rolimAinda não há avaliações
- Processo de UrbanizaçãoDocumento19 páginasProcesso de UrbanizaçãocgampAinda não há avaliações
- Geografia 8 Ano Caderno 3 2021 QuestoesDocumento5 páginasGeografia 8 Ano Caderno 3 2021 QuestoesRicardo PortoAinda não há avaliações
- Prova 2019 1Documento24 páginasProva 2019 1Giovanni ViniciusAinda não há avaliações
- Rod. Juscelino Kubitschek KM 2, Jardim Marco Zero - Macapá-AP, CEP 68.903-419Documento322 páginasRod. Juscelino Kubitschek KM 2, Jardim Marco Zero - Macapá-AP, CEP 68.903-419Gabriel silvaAinda não há avaliações
- Atividade Geografia 8º AnoDocumento16 páginasAtividade Geografia 8º AnoClaudiaPennaAinda não há avaliações
- Revisão 2 Série (2) CorrigidaDocumento7 páginasRevisão 2 Série (2) CorrigidaCharlieAinda não há avaliações
- História Da MacrobióticaDocumento3 páginasHistória Da Macrobióticalunaplena100% (1)
- Uma Caricatura de PaiDocumento7 páginasUma Caricatura de PaiGuilherme Antonio da SilvaAinda não há avaliações
- 09Documento14 páginas09Vânia MoraisAinda não há avaliações
- Tendências Do Jornalismo Contemporâneo - Estarão As Notícias Leves e o Jornalismo Crítico A Enfraquecer A DemocraciaDocumento172 páginasTendências Do Jornalismo Contemporâneo - Estarão As Notícias Leves e o Jornalismo Crítico A Enfraquecer A DemocraciaFrancoIacominiAinda não há avaliações
- Acordos Mec Usaid 1Documento9 páginasAcordos Mec Usaid 1holy_renanAinda não há avaliações
- AMCHAMDocumento14 páginasAMCHAMDinamara PratesAinda não há avaliações
- Att 1 - FichamentoDocumento19 páginasAtt 1 - Fichamentoeliane rodriguesAinda não há avaliações
- 8º D AtividaddeDocumento8 páginas8º D AtividaddeSophia SiebertAinda não há avaliações
- Quiz de Conhecimentos GeraisDocumento27 páginasQuiz de Conhecimentos GeraisProf Patricia KoztowskiAinda não há avaliações
- Delfim Netto, Lauro Campos e As Venturas eDocumento26 páginasDelfim Netto, Lauro Campos e As Venturas eRafa Etechebere100% (2)
- CRECI SP Revista 2013 Edicao 10 PDFDocumento33 páginasCRECI SP Revista 2013 Edicao 10 PDFSirlei GhettiAinda não há avaliações
- Apostila - Ead - Formação Sóciocultural e Ética - UnifatecieDocumento97 páginasApostila - Ead - Formação Sóciocultural e Ética - Unifatecielmssaude.cotacaoAinda não há avaliações
- IEAB. PLANO ESTRATÉGICO PROVINCIAL 2020a2023. V 23012020Documento34 páginasIEAB. PLANO ESTRATÉGICO PROVINCIAL 2020a2023. V 23012020Morôni Azevedo de VasconcellosAinda não há avaliações
- Definindo Uma Matriz Materno-Centrada para Definir A Condição Das Mulheres - Nah DoveDocumento17 páginasDefinindo Uma Matriz Materno-Centrada para Definir A Condição Das Mulheres - Nah DoveCarla Cavallieri100% (1)
- Atividade 9 Ano - Quarentena CorretoDocumento14 páginasAtividade 9 Ano - Quarentena CorretoAline FerassoAinda não há avaliações