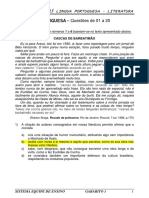Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação
Enviado por
Luiz Carlos AndradeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Homem e A Comunicação
Enviado por
Luiz Carlos AndradeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MAURICE MERLEAU - PONTY
O HOMEM E A
COMUNICAO
A Prosa do Mundo
Traduo de Celina Luz
^.
i
Primeira edio brasileira: 1974
Copyright 1969 f r l i i i i m- ; Gallimard
Traduzido do original em Francs:
La Prose du Monde
Capa de Vera Duarte
Direitos exclusivos para a lngua portuguesa
BLOCH EDITORES S.A.
Rua do Russell, 804 Rio de Janeiro, GB Brasil
Printed i Brazil
ndice
Advertncia
Nota Sobre a Edio
O Fantasma de Uma Linguagem Pura
A Cincia e a Experincia da Expresso
A Linguagem Indireta p i w T.
O Algoritmo e o Mistrio da Linguagem
A Percepo de Outrem e o Dilogo
T A Expresso e o Desenho Infantil
7
17
19
25
61
125
139
154
v
/
Adv ertncia
A obra que Maurice Merleau-Ponty se propunha intitular
A Prosa do Mundo ou Introduo Prosa do Mundo est
inacabada. Sem dv ida dev emos at pensar que o autor aban-
donou-a deliberada m ente e que no teria desejado, v iv o, con-
duzi-la a seu termo, pelo menos na forma outrora esboada.
Este liv ro dev ia constituir, quando foi comeado, a pri-
meira pea de um dptico a segunda rev estindo-se de um
carter mais francamente metafsico cuja ambio era
oferecer, no prolongamento da Fenomenologia da Percepo,
uma teoria da v erdade. Da inteno que comandav a essa
empresa possumos um testemunho, tanto mais precioso por-
que as notas ou esboos do plano reencontrados so de fraco
socorro. Trata-se de um relatrio env iado pelo autor a Martial
Gueroult, por ocasio de sua candidatura ao Collge de
France1; Merleau-Ponty enuncia nesse documento as ideias J
mestras de seus primeiros trabalhos publicados, assinalando ,
depois que se engajou desde 1945 nas nov as pesquisas desti-
nadas "a fixar definitivamente o sentido filosfico das primei- ,
rs", e rigorosamente articuladas a estas j que delas recebem
seu itinerrio e seu mtodo.
"Acreditamos encontrar na experincia do mundo perce-
bido, escrev e ele, uma relao de um novo tipo entre o esprito \ a verdade. A evidncia da coisa percebida relaciona-se com '
sen aspecto concreto, a textura mesmo de suas qualidades,
a essa equivalncia entre todas as suas propriedades sensveis
que fazia Czanne dizer que se devia poder pintar at os \. Um indito de Merleau-Ponty. Revue de Mtaphysique et
Morale, n. 4, 1962, A. Colin.
odores. diante de nossa existncia indivisa que o mundo
verdadeiro ou existe; sua unidade, suas articulaes se con-
fundem, c dizer que temos do mundo uma noo global cujo
inventrio nunca se acaba, e que fazemos nele a experincia
de uma verdade que transparece ou nos engloba mais do que
nosso esprito a detm e circunscreve. Ora, se agora nos con-
sideramos, acima do percebido, o campo do conhecimento
propriamente dito, onde o esprito quer possuir o verdadeiro,
definir ele mesmo objetos e aceder, assim, a uma sabedoria
universal e desvinculada das particularidades de nossa situa-
o, a ordem do percebido no faz figura de simples aparn-
cia, e o entendimento puro no uma nova fonte de conhe-
cimento a respeito da qual nossa familiaridade perceptiva com
o mundo no passa de um esboo informe? Somos obrigados
a responder a essas questes por uma teoria da verdade pri-
meiro, e depois por uma teoria de intersubjetividade que
abordamos em diversos ensaios, como A Dvida de Czanne,
O Romance e a Metafsica, ou, no que diz respeito filosofia
da histria, Humanismo e Terror, mas dos quais devemos ela-
borar com todo o rgor os fundamentos filosficos. A teoria
da verdade objeto de dois livros nos quais trabalhamos
agora."
Esses dois livros so mencionados um pouco mais adiante:
Origem da Verdade e Introduo Prosa do Mundo. Marleau-
Ponty define seu propsito comum que fundar sobre a
descoberta do corpo como corpo ativo ou potncia simblica
"uma teoria concreta do esprito que se mostrar a ns numa
relao de troca com os instrumentos que d a si prprio"...
Para nos recusar qualquer comentrio que acarretaria o risco
de induzir abusivamente os pensamentos do leitor, limitamo-
nos a indicar que a teoria concreta do esprito devia ordenar-
se em volta de uma ideia nova da expresso que ali haveria
para libertar e da anlise dos gestos ou do uso mmico do
corpo e do de todas as formas de linuagem, at as mais'
sublimadas da linguaeem matemtica. imoortante, por outro
lado, chamar a ateno sobre algumas linhas que esclarecem
o desgnio de A Prosa do Mundo e que revelam sobre o tra-
balho completado.
"Esperando tratar compleamente esse problema (o do
pensamento formal e da linguagem) na obra que preparamos
sobre a Origem da Verdade, ns o abordamos por seu lado
menos abrupto num livro cuja metade est escrita e que trata1
da linguagem literria. Nesse domnio mais adequado mostrar'
que a linguagem jamais a simples vestimenta de um pensa-
mento que se possuiria ele mesmo em toda a clareza. O sentido
de um livro primeiramente dado no tanto pelas ideias, como
por uma variao sistemtica e inslita dos modos da lingua-
gem e do relato ou das formas literrias existentes. Esse sota-
que, essa modulao particular da palavra, se a expresso tem
fxito, f assimilada pouco a pouco pelo leitor e lhe torna arrs-
svel um pensamento ao qual ele permanecia as vezes indife-
rente ou mesmo rebelde anteriormente. A comunicao em
literatura no o simples apelo do escritor a significaes que
fariam parte de um a priori do esprito humano: muito mais
elas suscitam a isso por arrebatamento ou por uma espcie de
ao oblqua. No escritor o pensamento no dirige a lingua-
gem de fora: o escritor ele mesmo um novo idioma que se
constri, se inventa meios de expresso e se diversifica segun-
do seu prprio sentido. O que chamamos poesia s talvez a
parte da literatura onde essa autonomia se afirma com osten-
tao. Qualquer grande prosa tambm uma recriao do
instrumento significante, a partir de ento manejado segundo
uma sintaxe nova. O prosaico se limita a tocar por sinais
convencionados significaes j instaladas na cultura. A grande
prosa a arte de captar um sentido que nunca tinha sido
objeivado at ento e torn-lo acessvel a todos os que falam
a mesma lngua. Um escritor ultrapassado quando no mais
capaz de fundar assim uma universalidade nova e comunicar
no risco. Parece-nos que poderamos dizer tambm das outras
instituies que cessaram de viver quando se mostram inca-
pazes de levar uma poesia das relaes humanas, ou seja, o
apelo de cada liberdade a todas as outras. Hegel dizia que
Estado romano a prosa do mundo. Ns intitularemos Intro-
duo Prosa do Mundo este trabalho que deveria, elaboran-
do a categoria da prosa, lhe dar, alm da literatura, uma sig-
nificao sociolgica."
Esse texto constitui certamente a melhor das apresenta-
es da obra que publicamos. Tem tambm o mrito de escla-
recer um pouco sobre as datas de sua redao. Endereado a
M. Gueroult pouco tempo antes da elejo do Collge de
France que ocorreu em fevereiro de 1952), no duvida-
mos que ele se refere s cento e setenta pginas reencontradas
nos papis do filsofo aps sua morte. So bem essas pginas
que formam a primeira metade do livro ento interrompido.
Nossa convico fundamenta-se em duas observaes comple-
mentares. A primeira que em agosto de 1952, Merleau-Ponty
redige uma nota que contm os inventrios dos temas j tra-
tados; ora, esta, apesar de sua brevidade designa claramente
o conjunto dos captulos que possumos. A segunda que entre
o momento em que comunica a Martial Gueroult o estgio
de avano de seu trabalho e o ms de agosto, o filsofo decide
extrair de sua obra um captulo importante e modific-lo sen-
sivelmente para public-lo como ensaio em Os Tempos Mo-
dernos: este aparece em junho e julho do mesmo ano, sob o
ttulo A Linguagem Indireta e as Vozes do Silncio. Ora, temos
a prova que este ltimo trabalho no foi comeado antes do
ms de maro, pois faz referncia no comeo a um livro do
Francastel, Pintura e Sociedade, que s em fevereiro saiu da
impressora. Certo, esses poucos elementos no permitem fixar
a data exata em que o manuscrito foi interrompido. Autori-
zam-nos todavia a pensar que ela no foi posterior ao comeo
do ano de 1952. Talvez situe-se alguns meses antes. Mas como
sabemos, por outro lado, por uma carta que o autor mandou
sua mulher, por ocasio do vero precedente, que ele consa-
grava nas frias o principal de seu trabalho a A Prosa do
Mundo, legtimo supor que a parada se deu no outono de
1951, ou no mais tardar no comeo do inverno 1951-1952.
Menos exatas, por outro lado, so as referncias que deter-
minam os primeiros momentos do trabalho. A redao do
terceiro captulo cujo objetivo comparar a linguagem pic-
trica e a linguagem literria no pode ter sido comeada
antes da publicao do ltimo volume da Psicologia da Arte.
ou seja, antes de julho de 1950: as referncias a A Moeda do
Absoluto no deixam dvidas sobre esse ponto. Considerando
o trabalho feito sobre a obra de Andr Malraux, cujos traos
reencontramos num longo resumo-comentrio, seramos leva-
dos a pensar que entre as duas se passaram vrias semanas ou
vrios meses. No nos esqueamos que Merleau-Ponty ensi-
nava na poca na Sorbonne e consagrava tambm parte de
seu tempo a Tempos Modernos. A hiptese reforada pela
presena de vrias* referncias a um artigo de Maurice Blanchot
O Museu, a Arte e o Tempo , publicado em Crtica no
ms de dezembro de_1950. Este ltimo indcio nos envia
novamente ao ano de' 1951^)
Nada probe, verdade, a suposio de que os dois pri-
meiros captulos estavam quase inteiramente redigidos quando
o autor decidiu apoiar-se nas anlises de Malraux. Tal mu-
dana no decorrer de seu trabalho no inverossmil. Duvida-
mos somente que isso tenha acontecido, pois todos os esboos
do plano que foram encontrados prevm um captulo sobre
a linguagem e a pintura; e o estado do manuscrito no sugere
uma ruptura na composio. Alm disso, significativo que
o exemplo do pintor seja tomado nas ltimas pginas do se-
gudo captulo, antes de passar, seguindo um encadeamento
lgico, ao centro do terceiro. Assim, inclinamo-nos a concluir
que Merleau-Ponty escreveu a primeira metade de sua obra
no espao do mesmo ano.
Mas certo que tivera bem antes a ideia de um livro
sobre a linguagem e, mais precisamente, sobre a literatura.
Se a obra de Malraux pode pesar sobre sua iniciativa, o ensaio
de Sartre, O Que a Literatura? publicado em 1947, impressio-
nou-o profundamente e o confirmou em sua inteno de ]
tratar dos problemas da expresso. Um resumo substancial!
desse ensaio redigido em 1948 ou 1949 aps a publica-
o, em maio de 1948, de Situaes U, das quais todas as r-'
ferncias so emprestadas e acompanhado de um comen-/
trio crtico que manifesta, s vezes, uma oposio vigorosa /
An irscx ilc seu autor: ora, numerosas ideias que faro a trama
ilo A V rosa tio Mundo so ali enunciadas e j religadas a um
|tni|cio cm curso. Todavia este ainda no recebeu uma forma
cxalii. Merleau-Ponty toma na poca a noo da prosa numa
. ncj vu) puramente literria; no encontrou o ttulo nem o
tema geral de seu futuro livro. Assim contenta-se em anotar
no linal de seu comentrio: " preciso que eu faa uma es-
pfcle de O Que a Literatura?, com uma parte mais longa
xtthre o sinal e a prosa, e no toda uma dialtica da literatura,
mus cinco percepes literrias: Montaigne, Stendhal, Proust,
reton, Artaud." Uma nota sem data, mas que j traz o ttulo
de Prosa do Mundo, sugere que ele imagina um pouco mais
tarde uma obra considervel, repartida em vrios volumes,
cujo objetivo seria aplicar as categorias redefinidas de prosa
c de poesia aos registros da literatura, do amor, da religio e
da poltica. No so anunciadas ali nem a discusso dos tra-
balhos dos linguistas que posteriormente ocupar lugar im-
portante, nem, o que mais significativo, um estudo da pin-
tura: seu silncio sobre esse ponto deixa supor que ainda no
tinha lido, nessa data, a Psicologia da Arte, ou calculado o
partido que poderia dali tirar para uma teoria da expresso.
Mas preciso ainda se abster de concluir dessa nota que o in-
teresse de Merleau-Ponty pela lingustica ou pela pintura ainda
no tivesse despertado: ele j interrogara os trabalhos de
de Saussure e de Vendrys e os invocava notadamen-
te em seu comentrio de O Que a Literatura?; seu ensaio
sobre a Dvida de Czanne, publicado em Fontaine em 1945
(antes de ser reproduzido em.Sens e non-sens) e redigido v-'
rios anos antes, e seus cursos na Faculdade de Lyon testemu-
nham por outro lado, do lugar que tomava em suas pesquisas,
a reflexo sobre a expresso pictrica. Podemos ainda adiantar
que, no primeiro esboo de A Prosa do Mundo, ele no pensa
em explor-las e que s o far em 1950 ou 1951, quando
tiver decidido conduzir seu empreendimento em limites mais
estreitos.
Sobre os motivos dessa deciso, s podemos ainda propor
uma hiptese. Digamos somente, tirando partido da carta a
M. Gueroult, que a ideia de escrever um livro, A Origem da
Verdade, que desvendaria o sentido metafsico de sua teoria
da expresso, tenha podido conduzi-lo a modificar e a reduzir
seu projeto primitivo. No lhe era necessrio, para esse fim,
ligar logo, como ele o fez, o problema da sistematicidade da
lngua e o de sua historicidade, o da criao artstica e o do
conhecimento cientfico, enfim o da expresso e o da verdade?
E necessrio, simultaneamente, subordinar um trabalho, a
partir de ento concebido como preliminar, tarefa funda-
mental que ele entrevia? Em suma, acreditamos que a ltima
concepo de A Prosa do Mundo o ndice de um novo estado
de seu pensamento. Quando Merleau-Ponty comea a escrever
este livro, ele j est trabalhando para um outro projeto, que
no anula este em curso, mas limita seu alcance.
Se no nos enganamos, talvez fiquemos menos desarma-
dos para responder a outras perguntas mais importantes: por
que o autor interrompe a redao de sua obra em 1952, quan-
do j conduziu-a metade do caminho; essa interrupo sig-
nifica um abandono; uma negao?
Por certos sinais podemos julgar que o filsofo ficou
muito tempo ligado ao seu empreendimento. No Collge de
France, escolheu como assunto de seus dois primeiros cursos,
no ano 1953-1954, O Mundo Sensvel e a Expresso e O Uso
Literrio da Linguagem. Esse ltimo tema, em particular,
lhe d a ocasio de falar de Stendhal e de Valry, aos quais,
segundo certas notas, tencionava dar lugar em seu livro. No,
ano seguinte trata ainda do Problema da Palavra1. um i
fato, no entanto, que, alm de ensinar, trabalha em outra di-
reco. Rel Marx, Lnin e Trotski, e acumula sobre Max l
Weber e Lukcs notas considerveis: o objetivo prximo a '
partir de ento a redao das Aventuras da Dialtica, que apa-
recero em 1955. Mas nada deixa pensar que na poca sacri-
ficou A Prosa do Mundo. Pelo contrrio, uma nota intitula-
da Reviso do Manuscrito (alis difcil de interpretar, pois
parece misturar ao resumo do texto j redigido novas formu-
laes que so talvez o anncio de importantes modificaes)
nos persuade, pela referncia que faz a um curso ministrado
em 1954-1955, que quatro anos pelo menos aps a composi-
o dos primeiros captulos o projeto continua mantido. Mas
at quando isso continua? Por falta de pontos de referncia
datados, no correramos o risco de uma hiptese. Observa-se
somente que antes de 1959 diversos rascunhos traam os es-
boos de uma outra obra que tem o ttulo Ser e Mundo ou o
de Genealogia do Verdadeiro, ou ainda o j conhecido Origem
da Verdade; e, enfim, que em 1959 a publicao em Signes
de Linguagem Indireta e as Vozes do Silncio parece excluir
a da obra deixada em suspenso.
Supondo-se todavia que o abandono fosse definitivo, no
se poderia deduzir da que significava condenao do trabalho
consumado. O mais provvel que as razes que o haviam
incitado, em 1951 ou pouco antes, a reduzir as dimenses de
sua obra sobre a expresso, em proveito de um outro livro,
lhe proibiam mais tarde de retomar o manuscrito interrom-
pido. O primeiro desejo de escrever um novo O Que a Lite-
ratura?, depois de alcanar por essa via o problema geral da
expresso e da instituio, fora definitivamente barrado pelo
de escrever um novo O Que a Metafsica? Esta tarefa no
tornava v seu antigo empreendimento, mas no lhe deixava
2. Resumos de cursos, N. R. F., 1968.
ii possibilidade de voltar a ele, e sem dvida ela ocupou-o
i-iiila vez mais at que tomou corpo em O Visvel e o Invisvel3,
herdeiro em 1959 de Origem da Verdade.
No entanto no ficaramos satisfeitos de invocar motivos
psicolgicos para apreciar a mudana que se verifica nos in-
vestimentos do trabalho. Nossa convico que ela foi co-
mandada por uma profunda reviravolta da problemtica ela-
borada nas duas primeiras teses. Que se consulte a carta a
M. Gueroult, ou a explanao Ttulos e Trabalhos que sus-
tenta sua candidatura ao Collge, veremos que nesse tempo
Merleau-Ponty aplica-se em sublinhar a continuidade de suas
antigas e novas pesquisas. Que se v em seguida s notas que
acompanham a redao de Visvel e Invisvel, deveremos con-'
vir que ele submete ento a uma crtica radical a perspec-
tiva adotada em Fenomenologia da Percepo. De 1952 a
1959 uma nova exigncia se afirma, sua linguagem se trans-
forma: ele descobre o engodo a que esto ligadas as "filoso-
fias da conscincia", e que sua prpria crtica da metafsica
clssica no o eximia; afronta a necessidade de dar um fim-
darncnt o ontolgico s anlises do corpo e da percepo de
que tinha partido. No basta ento dizer que ele se volta para
a metafsica e que esta inteno o afasta de A Prosa do
Mundo. O movimento que o leva para um novo livro ao
mesmo tempo mais violento e mais fiel primeira inspirao
do que se poderia supor considerando os gneros que pare-
cem assinalar as duas obras. Pois verdade que a metaf-
sica pra de lhe aparecer, nos ltimos anos, como o solo de
todos os seus pensamentos, que ele se deixa deportar para
alm de suas fronteiras, que acolhe uma interrogao sobre
o ser que abala o antigo estatuto do sujeito e da verdade, que
ento, num sentido, ele vai bem alm das posies sustenta-
das nos documentos de 1952; e verdade tambm que o pen-
samento do Visvel e Invisvel germina no primeiro esboo de
A Prosa do Mundo, atravs das aventuras que, de modificao
em modificao, encontram seu final na interrupo do ma-
nuscrito de tal maneira que a impossibilidade de continuar
o antigo trabalho no a consequncia de uma nova escolha,
mas sua causa.
No esqueamos os termos da carta a M. Gueroult. O
autor julga, em 1952, que A Estrutura do Comportamento e
a Fenomenologia da Percepo trazem s suas novas pesqui-
sas seu itinerrio e seu mtodo: tal , sem dvida, na poca,
a representao que ele faz. Mas, justamente, no passa de
uma representao, que s vale, como ele mesmo nos ensi-
nou, para ser confrontada com a prtica, ou seja, com a lin-
guagem da obra comeada, com os poderes efetivos da prosa.
Ora, um leitor que conhece os ltimos escritos de Merleau-
Ponty no lhe dar inteira razo; no deixar de entrever em
3. N. R. F., 1964.
A Prosa do Mundo uma nova concepo da relao do ho-
mem com a histria e com a verdade, e de notar na medita-
o sobre a "linguagem indireta" os primeiros sinais da me-
ditao sobre a "ontologia indireta" que vir alimentar O Vi'
svel e o Invisvel. Se reler as notas deste ltimo livro, perce-
bera mais que as questes levantadas no antigo manuscrito es-
to reformuladas em vrios lugares, em termos vizinhos, e
que se trate da lngua, da estrutura e da histria, ou da cria-
o literria prometidas a se inscrever na obra em curso.
A questo levantada: o abandono do manuscrito implica nu-
ma negao? Respondemos ento sem hesitao pela negativa.
O prprio termo abandono nos parece equvoco. Que o ado-
temos se ele contribuir para que se entenda que o autor no
teria nunca reatado com o trabalho comeado na nica inten-
o de lhe trazer o complemento que faltava. Mas que admi-
tamos, por outro lado, que A Prosa do Mundo, at na lite-
ralidade de certas anlises, teria podido reviver no tecido do
Visvel e Invisvel, se esta ltima obra no tivesse sido inter-
rompida pela morte do filsofo.
Resta, dir-se-, que o texto publicado por nossos cuida-
dos no o teria sido por seu autor, que o apresentamos como
a primeira metade de um livro, enquanto a segunda no de-
veria ter sido feita, ou que, a tivesse ele composto, ela teria
provocado uma to profunda modificao na parte anterior-
mente redigida que se tornaria uma outra obra. Isto ver-
dade, e j que os esclarecimentos que demos no tornam su-
prfluos mas, ao contrrio, requerem do editor uma justifica-
o de sua iniciativa, acrescentemos que a publicao se cho-
ca a outras objees, pois o terceiro captulo de A Prosa do
Mundo j tinha sido feito numa verso prxima, e o manus-
crito revela negligncias, notadamente repeties, que o escri-
tor no teria, finalmente, consentido. Essas objees, formu-
lamos a ns mesmos h muito tempo, mas sem julg-las con-
sistentes. E talvez um risco, pensamos, entregar ao pblico
um manuscrito posto de lado por seu autor, mas quanto mais
pesada seria a deciso de releg-lo mala de onde os seus o
haviam tirado, quando nele encontramos um maior poder de
compreenso da obra do filsofo e de interrogar o que ele nos
d a pensar. Que prejuzo no infringiramos a leitores que,
agora mais do que no tempo em que ele escrevia, se apaixo-
nam pelos problemas da linguagem, privando-os de uma luz
que no se veria jamais iluminando em outro lugar. A que
convenes, enfim, obedeceramos, que fossem mais importan-
tes que as exigncias do saber filosfico, e diante de quem
deveramos submeter-nos quando calou-se o nico que podia
nos ligar? Enfim estes pensamentos nos bastaram: Merleau-
Ponty disse em A Prosa do Mundo o que no disse em seus
outros livros, que teria sem dvida desenvolvido e retomado
i-in (t Visvel e o Invisvel, mas que mesmo l no pode che-
C . M ii expresso. C erto, o leitor observar que uma parte do
Irsio prxima de Linguagem Indireta e as Vozes do Silncio,
mas se clc atento perceber tambm sua diferena e tirar
ilu sua comparao um acrscimo de interesse. No deixar
de salientar os defeitos da composio, mas seria bem injusto
H C no conviesse que Merleau-Ponty, mesmo quando lhe acon-
tece estar abaixo de si mesmo, permanece um incomparvel
B iiia.
CLAUDE LEFORT
Nota Sobre a Edio
O texto de A Prosa do Mundo, como assinalamos, esten-
dc-se por cento e setenta pginas que esto redigidas em folhas
soltas, do formato comum para mquina de escrever, em
sua maioria cobertas de um s lado. Um certo nmero de
folhas apresentam abundantes correes; nenhuma est isen-
ta. Nem o ttulo da obra nem a data so mencionados.
O manuscrito compreende quatro partes expressamente
designadas por algarismos romanos: pginas l, 8, 53, 127.
Distinguimos duas outras partes com o cuidado da lgica da
composio: uma quinta, pgina 145, tirando partido de um
espao anormalmente longo no alto da pgina; uma sexta,
pgina 163, sugerida por um sinal (cruz em tringulo) e um
espao anlogo, tambm no alto da pgina. A ordem ado-
tada corresponde s indicaes da nota de agosto de 1952
(intitulada reviso do manuscrito), que contm seis pargra-
fos, dos quais s os quatro primeiros, em verdade, esto
numerados.
Acreditamos certo dar ttulos aos seis captulos assim
constitudos, pois o autor no formula nenhum. Sua nica
funo designar o mais claramente possvel o tema prin-
cipal do argumento. Os termos escolhidos por ns foram
todos tirados do texto.
l
As notas ou esboos de plano encontrados nos pare-
ceram impublicves em seguida ao texto, pois esto despro-
vidas de data, s vezes confusas ou muito elpticas e dis-
cordantes. Por outro lado era impossvel selecionar entre elas
algumas sem ceder a uma interpretao que poderia, com
razo, parecer arbitrria. Que nos permitam dizer somente que
elas sugerem uma segunda parte consagrada ao exame de
algumas amostras literrias mais frequentemente ligadas
aos nomes de Stendhal, Proust, Valry, Breton e Artaud e
uma terceira parte levantando problema da prosa do mundo
em sua generalidade, mas olhando-o da poltica e da religio.
Por outro lado, quisemos reproduzir as anotaes que
se encontravam margem do texto ou no final da pgina.
Estas talvez desencorajaro muitos leitores, de tanto as frmu-
las so condensadas ou rduas, mas podero negligenci-las
sem inconvenientes, enquanto outros as aproveitaro.
Na transcrio ns nos fixamos como regra limitar ao
mximo nossa interveno. Quando o erro percebido era
insignificante (mudana indevida do gnero ou do nmero),
ns o corrigimos; quando a retificao solicitava substituio
de palavras, fizemos uma nota para chamar a ateno do
leitor por um sic. As referncias foram precisadas ou com-
pletadas cada vez que isso nos pareceu possvel.
Assinalemos enfim que as notas introduzidas por ns, que
mencionem uma particularidade do texto ou dem lugar a
comentrios do autor, so precedidas de um asterisco. As
que ele queria figurando esto precedidas de um algarismo
arbico. Para evitar qualquer confuso, seu texto est em
romano; o nosso em itlico.
A conveno adotada para indicar as palavras que
resistiram leitura a seguinte: se esto ilegveis, (?); se du-
vidosas mas provveis, (sujeito?).
C.L.
O Fantasma de Uma
Linguagem Pura
Eis que h muito tempo fala-se sobre a terra e os trs
iu:irtos do que se diz passam despercebidos. Uma rosa,
ftnwe, o tempo est bonito, o homem mortal. A_esto
I H I I - J L ns os casos puros da expresso. Parece-nos que atinge
o ji ugc quando assinala sem equvoco acontecimentos, esta-
ilu:; de coisas, ideias ou relaes, porque, a, no deixa mais
nada a desejar, no contm nada que no mostre e nos faz
iir.-;iizar ao objeto que designa. O dilogo, o relato, o jogo\! palavras, a confidncia, a promessa, a prece, a eloqiin- l
rl:i , a literatura, enfim essa linguagem segunda potncia '
onde s se fala de coisas e ideias para atingir algum, onde
u palavras respondem s palavras, e que se carrega em si
mesma, se constri acima da natureza um reino sussurran-
te e febril, ns a tratamos como simples variedade de formas
cannicas que enunciam alguma coisa. Exprimir, no passa
ento de substituir uma percepo ou uma ideia por-um
sinal convencionado que a anuncia, evoca ou abriga. Claro,
a s h frases feitas e uma lngua capaz de assinalar o
que nunca foi visto. Mas como o poderia ela.se o novojao
Tosse feito de elementos antigos, j expressos, se ele no
fosse inteiramente definvel pelo vocabulrio e as relaes
de sintaxe da lngua em uso? A lngua dispe de um certo
nmero de sinais fundamentais, arbitrariamente ligados a
significaes chaves; ela capaz de recompor qualquer sig-
nificao nova a partir daquelas, consequentemente de diz-
19
Ias na mesma linguagem, e finalmente a expresso se ex-
prime porque reconduz todas as nossas experincias ao sis-
tema de correspondncias iniciais entre tal sinal e tal signi-
ficao de que nos apoderamos aprendendo a lngua, e que
, ele, absolutamente claro, porque nenhum pensamento sei
arrasta nas palavras, nenhuma palavra no puro pensamen-
to de alguma coisa. Veneramos todos, secretamente, esse
ideal de uma linguagem que, em ltima anlise, nos liber-
taria dela mesma entregando-nos s coisas. Uma lngua
para ns este aparelho fabuloso que permite exprimir um
nmero indefinido de pensamentos ou de coisas com um
nmero finito de sinais, porque foram escolhidos de manei-
ra a recompor exatamente tudo o que se pode querer dizer
de novo e a lhe comunicar a evidncia das primeiras desig-
naes de coisas.
J que a operao tem sucesso, j que se fala e que se
escreve, que a lngua, como o entendimento de Deus, con-
tm Q germe de todas as significaes possveis, que todos
os nossos pensamentos esto destinados a ser ditos por ela,
que toda a significao que aparece na experincia dos
homens traz em seu corao sua frmula, como, para as
crianas de Piaget, o sol traz em seu centro seu nome. Nossa
lngua reencontra no fundo das coisas uma palavra que as
fez.
Essas convices s pertencem ao senso comum. Reinam
sobre, as cincias exatas (mas no, como veremos, sobre a
lingustica). Vai-se repetindo que a cincia uma lngua
bem feita. dizer tambm que a lngua comeo de cincia.
e que o algoritmo a forma" aauitad linguagem. Ora," ela
liga a sinais escolhidos significaes definidas de propsito
e perfeitas. Fixa um certo nmero de relaes transparentes;
institui, para represent-las, smbolos que por si mesmos
no dizem nada, que ento nunca diro a no ser o que se
convencionou faz-los dizer. Tendo-se assim subtrado aos
deslizamentos de sentido que fazem o erro, est, em princ-
pio, certa de poder, a cada momento, justificar inteiramen-
te seus enunciados por recursos s definies Inirais. Quan-
do se tratar de exprimir no mesmo algoritmo das relaes
para as quais no foi feita ou, como se diz, problemas "de
uma outra forma", talvez seja necessrio introduzir novas
definies e novos smbolos. Mas se o algoritmo preenche
seu ofcio, se quer ser uma linguagem rigorosa e controlar
em todo momento suas operaes, preciso que nada de
implcito tenha sido introduzido, preciso enfim que as rela-
20
i i nvi r i e mitigas formem juntas uma s famlia, que
H ' | i i i i ni : i i l erl vur de um s sistema de relaes possveis,
l l i > i nnm n . i que u nunca haja excesso do que se quer dizer
min j i i r :.e U/ , ou do que se diz sobre o que se quer"dizer,
i| iir K Ml n i i l permanea simples abreviao de um pensamen-
i j t i i i pmleria a, qualquer momento se explicar e se justifi-
i u | > ur Inteiro. A nica virtude mas decisiva da ex-
| nu e rnl.uo substituir as aluses confusas que cada um
tli* MI I NH ON pensamentos faz a todos os outros por atos de
lliiiinencao de que sejamos verdadeiramente responsveis,
| iH H | ti< * o exato alcance conhecido por ns,-,.recuperar
puni 1 1 < > . ' : u vida de nosso pensamento, e o valor expressivo
i l u Ml f. onL i no fica inteiramente suspenso relao sem equ-
vi i en ilus -significaes derivadas com as significaes primi-
l i v t i i . e destas com sinais por si mesmos insignificantes,
ni i i l r n pensamento s encontra o que ele ali colocou.
o algoritmo, o projeto de uma lngua universal, _ a
revolta contra a linguagem dada. No se quer depender de
mm.-! confuses, quer-se refaz-la na medida da verdade,
ivik -flni-la segundo xn pensamento .de D_ eu.s, recomear do
y .ero u histria da palavra, ou antes arrancar a palavra,
hl: ;t.rla. A palavra de Deus, essa linguagem antes da lingua-
K ' Mi que continuamos a supor, no encontramos mais nas
lnguas existentes, nem misturada histria e ao mundo.
o verbo interior que juiz desse verbo exterior. Nesse senti-
do, estamos no oposto das crendices mgicas que colocam
u palavra sol no sol. No entanto, criada por Deus com o
inundo, veiculada por ele e recebida por ns como um
Messias, ou preparada no entendimento de Deus .para o
H latcma dos possveis que envolve eminentemente nosso
IMlindo confuso e reencontradapela^refley n do homem gqp
ordena em nome dessa instncia interior o caos das lnguas
histricas, a linguagem, em todo caso, se parece com as
coisas e as ideias que exprime, o duplo do ser, e no se
concebe coisas ou ideias que vm ao mundo sem palavras.
Que seja mtica ou inteligvel, h a um lugar onde tudo
o que ou que ser se prepara ao mesmo tempo para ser
dito.
Nisso se acha, para o escritor, uma crena de estado.
preciso reler sempre essas espantosas frases de L a Bruy-
rc citadas por Jean Paulhan: "Entre todas as diferentes
expresses que podem dar um s de nossos pensamentos,
s uma a boa. No a encontramos sempre falando ou
21
escrevendo: verdade, apesar disso, que ela existe1." Que
sabe ele sobre isso? Sabe somente que aquele que fala pu
que escreve primeiramente mudo, inclinado para o que
quer significar, para o que vai dizer, e que de repente a
onda de palavras vem em socorro a esse silncio, e d a ele
um equivalente to justo, to capaz de devolver ao prprio
escritor seu pensamento quando ele o tiver esquecido, que
preciso acreditar que ela j era falada no inverso, do
mundo. J que a lngua est aqui como um instrumento
adequado a todos os fins, j que, com seu vocabulrio, seus
achados e suas formas que tanto serviram, ela responde
sempre ao apelo e se presta a exprimir tudo, porque a
vlngua o tesouro de tudo o que se pode ter a dizer, que
i)nela j est escrita toda a nossa experincia futura, como o)
/destino dos homens est escrito nos astros. Trata-se somen-'
te de encontrar esta frase j feita nos limbos da linguagem,
de _captar as palavras surdas QU P n f * * * Trmrmnm Como
Jt
parece que nossos amigos, sendo o que so, no poderiam
chamar-se diferente do que se chamam, que lhes dando
um nome, somente deciframos o que era exigido por aquela
cor de olhos, aquele ar do rosto, aquele andar s alguns
so mal batizados e carregam a vida inteira, como uma
peruca ou uma mscara, um nome mentiroso ou um pseu-
dnimo , a expresso e o exprimido trocam bizarramente
seus papis e, por uma espcie de falso reconhecimento,
parece-nos que ela o habitava desde a eternidade.
Mas se os homens desenterram uma linguagem pr-
histrica falada nas coisas, se nisso h, alm de nossos
balbucios, uma idade de ouro da linguagem em que _as pa-
lavras diziam respeito s prprias coisas, ento a comunica-
o no tem mistrio. Mostro fora de mim um mundo que
j falava como mostro com o dedo um objeto que j estava
no campo visual dos outros. Diz-se que as expresses da
fisionomia so por si mesmas equvocas e que esse enrubes-
cimento do rosto para mim prazer, vergonha, clera, calor
ou vermelhido orgaca segundo a situao indica. Da
mesma maneira a gesticulao lingustica no importa ao
esprito de quem a observa: ela lhe mostra em silncio coisas
cujo nome ele j sabe, porque seu nome. Mas deixemos o
mito de uma linguagem das coisas, ou melhor, vamos abor-
d-lo em sua forma sublimada, a de uma lngua universal,
1. Ls Fleurs e Tarbes, N.R.F., 1942, p. 128.
22
t | i n < t i t l i wolvr antecipadamente tudo o que pode ter a
M i i i Mi i j i i r Mias palavras e sua sintaxe refletem os poss-
vel- h i i n l i i i i H ti l ai s c .suas articulaes: a consequncia a
nu n Nn i i ha nisso virtude da palavra, nenhum poder
i i i l i i nrla. l > ; i a puro sinal para uma pura significao.
I r mi r laia cifra seu pensamento. Ele o substitui por
uni MI i . u i i " sonoro ou visvel que no passa de sons no ar
MM inn; o.'t dr mosca sobre um papel. O pensamento se sabe
nn limita; notifica-se exteriormente por uma mensagem
< | l l i > mm o contm, e que o designa somente sem equvoco
I M I I H mu outro pensamento que capaz de ler a mensagem
JH i npi r rle atribui, pelo efeito do uso, das convenes hu-
Mi n i u i M ou de uma instituio divina, a mesma significao
tu M iiirMinos sinais. Em todo caso, no encontramos jamais1
nn . palavras dos outros nada alm do que ns mesmos co-
I nnimos nelas, a comunicao uma aparncia, no nos(
r i r i i i i i i nada de verdadeiramente novo. Como seria ela capaz
itr nos levar alm de nosso prprio poder de pensar, j que
m Mi m s que nos apresenta no nos diriam nada se ns
l u i mo possussemos por inclinao a sua significao?
vrnladc que, como Fabrice, observando sinais na noite, ou
olhando deslizar nas lmpadas imveis as letras lentas e
nipldas do jornal luminoso, parece-me ver nascer l uma
novidade. Alguma coisa palpita e se anima: pensamento
dr homem mergulhado na distncia. Mas enfim no passa
dr miragem. Se eu no estivesse l para perceber uma ca-
drncla e identificar as letras em movimento, s haveria
nmpi l l o um pisca-pisca insignificante como o das estrelas,
i lns lmpadas que se acendem e apagam, como o exige a
corrente que passa. A prpria notcia de uma morte ou de
uni desastre anunciados por telegrama, no absolutamen-
tr uma novidade; s a recebo porque j sabia que mortes e
desastres so possveis. Claro, a experincia que os homens
lom da linguagem no essa: eles amam loucamente bater-
papo com o grande escritor, visitam-no como se vai ver a
rstatua de So P edro, acreditam ento surdamente nas vir-
tudes secretas da comunicao. Eles bem sabem que uma
notcia uma notcia e que de nada adianta ter pensado
muitas vezes na morte enquanto no se sabe da morte de
algum que se ama. Mas do momento em que refletem sobre
u linguagem, em vez de viv-la, no vem como se poderia
conservar-lhe esses poderes. Afinal, compreendo o que me
dizem porque sei antecipadamente o sentido das palavras
23
que me dirigem*, e en f im s s
coloco a mim mesmo os problemas que posso resolver. Dois
sujeitos pensantes fechados sobre suas significaes entre
eles mensagens que circulam, mas que no contm .nada, e
que so somente ocasio para cada um prestar ateno ao
que ia sabia finalmente, quando um fala e o outro escuta,
pensamentos que se reproduzem um ao outro, mas apesar
de si mesmos e sem jamais se defrontar , sim, como diz
Paulhan, essa teoria comum da linguagem teria por con-
sequncia "que tudo se passasse no fim entre os dois como
se no tivesse havido linguagem2".
* Na margem: descrever o sentido de acontecimento por oposio
ao sentido disponvel.
2. Ls Fleurs de Tarbes, p. 128.
24
A Cincia e a Experincia
da Expresso
Ora, bem um resultado da linguagem se fazer es-
t| iirrer, na medida que ela consegue exprimir-se. me-,
dl da que sou cativado por um livro, no vejo mais as le-
rus sobre a pgina, no sei mais quando verei a pgina,
atruvs de todos esses sinais, todas essas folhas, viso e
i i U n j o sempre o mesmo acontecimento, a mesma aventura,
uo ponto de no mais saber sob que ngulo, em qual pers-
pectiva me foram oferecidos, como, na percepo ingnua,
um homem com um tamanho de homem que vejo l
adiante e no poderia dizer sob que grandeza aparente
eu o vejo a no ser com a condio de fechar um olho, de
fragmentar meu campo de viso, de apagar a profundida-
de, projetar todo o espetculo num nico plano ilusrio,
comparar cada fragmento a algum objeto prximo como
meu lpis, que lhe d enfim uma grandeza prpria. .Com
os dois olhos abertos, a comparao impossvel, meu l-
pis objeto prximo, os longnquos so os longnquos, dele
a eles no existem medidas comuns, ou ento, se consigo
a comparao por um objeto da paisagem, no posso em
todo caso faz-la ao mesmo tempo para os outros objetos.
O homem l adiante no tem nem um centmetro nem
um metro e setenta e cinco, um homem-a-distncia, seu
tamanho est l como um sentido que o habita, no como l
um carter observvel, e nada sei dos pretendidos sinais
pelos quais meu olho o anunciaria para mim. Assim como
um grande livro, uma grande pea, um poema fica em mi-
25
.
nhaJemfra.na mmn um bloco. Posso, revivendo a leitura
ou a representao, recordar-me de tal momento, tal pala-
vra, tal circunstncia, tal reviravolta da ao. Mas fazen-|
do-o, comercio uma lembrana que nica e que no pre-l
cisa desses detalhes para permanecer em sua evidncia/
to singular e inesgotvel quanto uma coisa vista. Essa
conversa que me tocou, e na qual por uma vez tive ver-
dadeiramente o sentimento de falar a algum, eu a sei in-
teira, poderia amanh cont-la aos que se interessam por
ela, mas, se verdadeiramente ela me apaixonou como um
livro, no precisarei associ-la a lembranas diferentes uma
da outra, eu a conservo ainda em mos como uma coisa,
o olhar de minha memria a envolve, bastar que eu_me
rmstltTlio acontecimento para que tudo, os gestos do
interlocutor, seus sorrisos, suas hesitaes, suas palavras
reapaream no justo lugar. Quando algum autor, .ou
amigo soube exprimir-se, os sinais so logo esquecidos,
s permanece o sentido, e a perfeio da linguagem passa
despercebida.
Mas nisso mesmo est a virtude da linguagem: ela
que nos atira ao que significa; dissimula-se UTTiossos
olhos por sua prpria operao; seu triunfo se apagar e
nos darjyraan, ^]^m rins palavras. ao prpnojjensamento
do autor, de tal maneira que aps acreditarmos ter:hoTn-
tretido compete sem palavras, e esprito a esprito. As pa-
TavrasTlfha vez esfriadas recaem sobre a pagina a ttulo de
simples sinais, e justamente porque nos projetaram bem
adiante de si, parece-nos incrvel que tantos pensamentos
nos tenham vindo delas. Foram elas no entanto que noa
falaram, leitura , qi ia nri o^suslentcTas' pelo movimento de
nosso olhar e de nosso-dSei0,mas tambm o sustentando,
relanando-o sem cessar, refaziam conosco a dupla do cego
e do paraltico quando eram graas a ns, e ramos gra-
as a elas palavras mais que linguagem, e a um s tempo
a voz e seu eco.
Digamos que h a duas linguagens: a linguagem de
depois, a que adquirida, e que desaparece diante do sen-
tido de que se tornou portadora e a que se fez no mo-
mento da expresso, que vai justamente me fazer deslizar
dos sinais ao sentido , a linguagem falada e a linguagem
falante. lima. VPS ^P Ti n 1ivroi glP ^\^Twn /*nrY^ ni^ jiy
m* r uc N Mi o dizer que no decorrer da leitura sempre
PH i i i i do lod, como ele podia aparecer-me no ponto em
n. . i i i i vu, ( j ue eu compreendia cada frase, cada cadncia
H n i n t i i . r ; n l ; i suspenso dos acontecimentos, ao ponto de,
> < u l i Mm, pudor ter o sentimento de ter criado o livro de
i i i i i l r nu parle, como o diz .Sartre1. Mas, enfim, s de-
MMH , enfim, este livro que eu amo, no teria podido
I n Mus, enfim, preciso primeiro ler e Sartre ainda'
l i til * mul to bem que a leitura pegue como o fogo pega..
Api o v i i r i n o fsforo, inflamo um nfimo pedao de papel,
P H n que meu gesto recebe das coisas um socorro inspira-
iln. rumo se a lareira e a madeira seca esperassem s por
H e puni desencadear o fogo, como se o fsforo s fosse um
i i i - . 1 -i encantamentos mgicos, um apelo do semelhante
AO qnul o semelhante responde fora de qualquer medida.
Ar t f i l i n comeo a ler preguiosamente, s contribuo com
um pouco de pensamento e repentinamente algumas
puinvrus me despertam, o fogo pega, meus pensamentos
queimam, no h mais nada nesse livro que me deixe in-
ilUrrente, o fogo se alimenta de tudo o que a leitura joga
nrl e. Recebo e dou com o mesmo gesto. Dei meu conheci-
mento da lngua, contribu com o que sabia sobre o sen-
i n l u dessas palavras, dessas formas, dessa sintaxe. Dei tam-
hem toda uma experincia dos outros e dos acontecimen-
tos, todas as interrogaes que ela deixou em mim, essas
N ltiiaes ainda abertas, no liquidadas e tambm aque-
lus das quais s conheo o modo comum de resoluo. Mas
O livrn ngn m^jnf.PrP-S-SRTJR. taTlt.O <"*- nfln rP9 ffrlQgl=f ^Q Q""
5
5
dlvduo nico e irrecusvel alm das I etras_e_das- pginas;
a partir dele que rfpnrnntrn ns riptalTies dft fllig Jffefiao
J sei. De tudo o que levava, ele serviu-se para me atrair
alm. Com o favor desses sinais de que o autor e eu con-
vicmos, porque falamos a mesma lngua, ele me fez acre-
ditar justamente que estamos sobre o terreno j comum
das significaes adquiridas e disponveis. Ete-inslialnikse
rm meu mundo. Depois, insensivelmente-ete desviou os si-
nais de seu sentido comum, e eles me arrastaram como um
turbilho para esse outro sentido, que, .vnn nim-nar Sei,
antes de ler Stendhal, o que um patife e posso ento
compreender o que ele quer dizer quando escreve que o fis-
cal Rossi um patife. Mas quando o fiscal Rossi comea
a viver, no mais ele que um patife, o patife que
um fiscal Rossi. Entro na moral de Stendhal pelas pala-
1. "O Que a Literatura?" Tempos modernos, n. 17, fevereiro de
1947, p. 791. Reproduzido em Situations II, N . R. F-, p. 94.
26
27
vras de todo mundo de que ele se serve, mas essas pala-
vras sofreram entre suas mos uma toro secreta. me-
dida que os confrontos se multiplicam e que mais flechas
se desenham em direo a esse lugar de pensamento onde
nunca fui antes, onde talvez, sem Stendhal, eu nunca teria
ido, enquanto que as ocasies nas quais Stendhal as em-
prega indicam sempre mais imperiosamente o sentido
novo que ele lhes d, .eu me aproximo mais dele at que
leia enfim suas palavras na prpria inteno com que ele
as. escreveu. No se pode imitar a voz de algum sem reto-
mar algo de sua fisionomia e enfim de seu estilo pessoal.
Assim a voz do autor acaba por induzir em mim seu pen-
samento. Palavras comuns, episdios j conhecidos um
1 duelo, uma cena de cime , que primeiro me enviam ao
mundo de todos, funcionam repentinamente como os emis-
srios do mundo de Stendhal e acabam por me instalar
seno em seu ser emprico, pelo menos nesse eu imagin-
rio com que ele se entreteu com ele mesmo durante cin-
quenta anos ao mesmo tempo que o comerciava em obras.
ento somente que o leitor ou o autor pode dizer com
Paulhan: "Nesse claro pelo menos, fui voc2". Crio Sten-
dhal, sou Stendhai lendo-o, mas
-
be instalar-me nele. A realeza do leitor s imaginria,
j^que ele tira toda sua potncia dessa mquina infernal
qu o livro, aparelho de criar significaes. As relaes
do leitor com o livro parecem esses amores em que primei-
ro um dos dois dominava, porque tinha mais orgulho ou
petulncia; mas logo tudo desaba e o outro, mais taci-
turno e mais sbio, que governa. O momento da expressai*
aquele em que a situao se inverte, quando o livro toma
posse do leitor. A linguagem falada aquela que o leitor
trazia com ele, a massa de relaes de sinais estabeleci-
dos com significaes disponveis, sem a qual, de fato, ele
no teria podido comear a ler, que constitui a lngua e o
conjunto dos escritos dessa lngua, ento tambm a obra
de Stendhal uma vez que ter sido compreendido e vir
acrescer a herana da cultura. Mas_ a Jincnnpm fnlnnte
a interpelao que o livro enderea ao leitor no preve-
nido, e essa operao pela qual um certo arranjo de sinais
e_de significaes j disponveis vem a alterar depois a
transfigurar, cada um deles e finalmente secretar uma
significao nova, a estabelecer no esprito do leitor, como
2. Ls Fleurs de Tarbes, p. 1 38.
28
um i n ' i mi o a partir de ento disponvel, a linguagem
H f H i i m i i i i i i Uma v/ adquirida essa linguagem, possoi
I N M I l * i n iluso de t-la compreendido por mim mesmo:!
9 > i | ni i i , i ni r Lraiislormou e tornou capaz de compreende-' ]'
I H I n i " - i . i ndo su passa de fato como se no tivesse havido
l l n| i t i ui ' . ' - i i i . e, depois, fico lisonjeado de compreender Sten-
dl "d n p n t l i r de meu sistema de pensamentos, e j muito
m i hi < nmrcdo com parcimnia um setor desse sistema
i "i picles que pagam uma dvida antiga emprestando
il -dor. Talvez a longo prazo isso seja verdade. Talvez,
j n - t . 1 1 1 a H tendhal, ultrapassaremos Stendhal, mas por-
M i n ri r ler parado de nos falar,4iorque seus escritos per-
di i . mi para ns sua virtude de expresso^Enquanto a lin-
M i i i i | ' , cm funciona verdadeiramente, no simples, coavite,
pui a p i em escuta ou l, descobrir em si mesmo significa-
M ' < . i pi r li j estejam. essa manha, pela qual o escritor
t ni o orador, tocando em ns essas significaes, tire delas
mm estranhos e que parecem primeira vista falsos e dis-
oimntes, e depois nos religue to bem ao seu sistema de
I n mia que a partir de ento o tomamos pelo nosso. En-
' , " > . dele a ns, s passaro a existir puras relaes de es-
l i l rl Lu a esprito. Mas tudo isso comeou pela cumplicidade
dn palavra e de seu eco, ou, para usar a palavra enrgica
mie llusserl aplica percepo de outrem, pelo acopla-
tin-nlo da linguagem.
A leitura um afrontamento entre os corpos gloriosos
impalpveis de minha palavra e a do autor. bem verda-
de, como dizamos antes, que ela nos atira inteno signi-
H caiite de outrem para alm de nossos pensamentos pr-
prios como a percepo das prprias coisas para alm de
uma perspectiva que s percebo depois. Mas este poder
mesmo de me ultrapassar pela leitura eu o possu pelo fato
i I r :;er sujeito falante, gesticulaiJin^uaUc^,.cj3niQ,minha
percepo s possvel por meu corpo. Essa marca de luz
que se marca em dois pontos diferentes sobre minhas duas
retinas, eu a vejo como uma s marca a distncia porque
tenho um olhar, um corpo ativo que tomam em face das
mensagens exteriores a atitude que convm para que o
espetculo se organize, se escale e se equilibre. Da mesma
maneira, vou direto ao livro atravs da confuso, porque
montei em mim mesmo esse estranho aparelho de expres-
so que capaz, no somente de interpretar as palavras
segundo as acepes recebidas e a tcnica do livro segun-J
29
do os prorfiril'mpnfng j conheci fins "r*
de s?
or ele e dotar por ele de novos-rgos. No
do poder da liaguagem. enquanta-no-SeJtiver
reconhecido essa linguagem operante ou constituinte que
aparece quando a linguagem constituda, repentinamente
descentrada e privada de seu equilbrio, ordena-se nova-
mente para ensinar ao leitor e mesmo ap autor o que
ele no sabia pensai_cu_dizer. A linguagem nos leva s pr-
prias coisas na exata medida em que, antes de ter uma
significao, ela -significao. Se s lhe concedemos sua
funo segunda, que supomos dada a primeira, que a
elevamos a uma conscincia de verdade da qual , em rea-
lidade, a portadora e enfim que se pe a linguagem antes
da linguagem.
Procuraremos alm precisar este esboo e dar uma
teoria da expresso e da verdade. Ser preciso ento es-
clarecer ou justificar a experincia da palavra, pelas aqui-
sies do saber objetvo psicologia, patologia da ex-
presso e lingustica. Ser preciso tambm confront-la
com as filosofias que pensam ultrapass-la e trat-la co-
mo uma variedade de puros atos de significao que a re-
flexo nos faria perceber sem mais. Nosso objetivo agora
no esse. S queremos comear esta pesquisa procurando
evidenciar o^ funcionamento da palavra na. literatura e
reservamos ento para uma outra obra explicaes mais
completas. Como no entanto inslito comear o estudo
da palavra por sua funo, digamos, a mais complexa, e;
ir da ao mais simples, devemos jus tificar o procedimento
fazendo entrever que o. fenmeno da expresso, tal como!
aparece na palavra literria, no uma curiosidade ou
uma fantasia da introspeco em margem da filos ofia ou
da cincia da linguagem, que o estudo objetivo-4a lingua-
gem a encontra to bem quanto a -experincia literria e
que as duas pesquisas, so concntricas. Entre a cincia
da expresso, se ela considera seu objeto por inteiro, e
a experincia viva da expresso, se bastante lcida, co-
mo niSSO haveria rnrte? ^ p-in^ ia. pn vfflfrM fo a um nn-
mafimn
tro .mundo, mas a este aqui, fala
coisas que vivemos. Ela as constri combinando as puras
ideias que define como Galileu construiu o deslizamento
de um corpo sobre um plano inclinado a partir do caso
ideal da queda absolutamente livre. M as, enfim, as ideias
30
H i' "1 . i i l mi r U d as condio de iluminar a opaci-
t l i ni i dm r . i i . . ; ; r u teoria da liriguagem..dev-abri_um_ca-
Hi l nl i " ni ' a experincia dos sujeitos falantes . A ideia
l|p uni u l l i i r . i i aK f i n s e forma e apoia sobre a linguagem
l i tul uni [ ultimas , que somos, e a lingustica no passa
id M M I I I ni i i i i rl ru metdica e mediata de esclarecer por to-
I | HH M H mi i nw fulos de linguagem esta palavra que s e pro-
I M M K I M mi nus e qual, mesmo em meio ao nosso traba-
I h r i r i i i i r i r o, continuamos ligados como qne pnr nm cnr-
ilii.i i i i i i l nl h ' , 1 !
< fi: iU irium de se desfazer dessa ligao. Seria agrada-,
vi l i l r i xnr enfim a situao confusa e irritante de um s er
i| in r u < | i u> ele fala, e de olhar a linguagem, a sociedade,
r < 'om ela no estivssemos engajados, do ponto de
vl nt u ilr Sirius ou do entendimento divino que s em
puniu < l r vista. U ma eidtique da linguagem, uma gra-
M . / / - I pura como a que Husserl esboava no comeo de
NU M rurrdra ou ento uma lgica que s conserva das
ces as propriedades de forma que jus tificam
transformaes, so duas maneiras, uma platoni-
, H. outra nominalista, de falar de linguagem sem
pi i i avras ou pelo menos de tal maneira que a significao
iluf ninais que empregamos, retomada e redefinida, nunca
pxrrtlu o que nela pusemos e o que sabemos nela encon-
I ni r . Quanto s palavras ou formas que no sofrem por se-
riu assim recompostas, no tm, por definio, nenhum
nriiNdo para ns, e o no sentido no causa problemas, a
I nterrogao no passando da espera de um sim ou de
um no que a resolvero, igualmente em enunciado. Que-
i i a . - H - ento criar um sistema de sigr4fi(iafie^ ...deliBera-
ilas que traduzisse as das lnguas em tudo p que elas tm
ilr irrecus vel e fosse a invariante qual s acrescentam
confus es e acaso. em relao a ele que se poderia me-
dir o poder de expresso de cada uma. Enfim o sinal re-
tomaria sua pura funo de indcio, sem nenhuma mistura
tl r significao. M as ningum pensa mais em fazer uma
lgica da inveno, e aqueles mesmos que acreditam pos-
N vcl exprimir depois, num algoritmo todo voluntrio, os
enunciados adquiridos, no pensam, ento, que essa pura
linguagem esgote a outra, nem suas significaes a sua.
ora, como colocaramos em conta do non-sens o que, nas
l nguas empricas, excede as definies do algoritmo ou
31
as da gramtica pura, j que nesse caos pretendido que
vo ser percebidas as relaes novas que {oinaiau neces-
srio e possvel introduzir novos smbolos?
O novo uma vez integrado, e a ordem provisoriamente
restabelecida, no se pode pensar em fazer repousar sobre
ele mesmo o sistema da lgica e da gramtica pura. Sabe-
se a partir de ento que, sempre na vspera de significar,
no significa nada por si mesmo, j que tudo o que exprime
retirado de uma linguagem de fato e de uma omnitudo rea-
litatis, que, por princpio, ele no abraa. O pensamento no
pode ffihar-fif snhrp g? panificaes ue ele deliberadamente
reconheceu, nem fazer delas a medida 3o sentido, nem tra-
tar a palavra, e a lngua comum, como simples exemplos
dela mesma, j que por elas finalmente, que o algaritmo
quer dizer alguma coisa. H nisso pelo menos uma interro-
gao que no passa de uma forma provisria do enuncia-
do e aquela que o algoritmo enderea infatigavelmen-
te ao pensamento de fato. No h questo particular so-
bre o ser qual no corresponda nele um sim ou no que
a termine. M^s a. qiiegtftn fte sa.bef pnrqiip h giiq^pg, e
como so possveis esses nn-seres que no sabem e qne-
reriam saber, no poderia encontrar resposta no ser.
A filosofia no a passagem de um mundo confuso
a um universo de significao fechadas. Ela comea ao
contrrio com a conscincia do que ri e faz explodir, mas
tambm renova e sublima nossas significaes adquiridas.
Dizer que o pensamento, mestre dele mesmo, manda sem-
pre a um pensamento misturado de linguagem, no e di-
zer que alienado, cortado por ele da verdade e da certe-
za. preciso compreendermos que a.linguagem nn nm
impedimento para a pnnsoiPTiHg, q^P r>5r. v^, diferena
jffira ela entre o ato de se atingir e o ato de se exprimir,
e que a linguagem, no estado nascente e vivente, o gesto
de retomada e .de recuperao que me rene a mim mes-
mp__como a outrem. preciso pensarmos~^cnsT:incia
nos acasos da linguagem e impossvel sem seu contrrio.
A psicologia primeiro nos faz redescobrir como o eu
falo uma operao, relaes, uma dimenso que no so
os do pensamento, no sentido comum do termo. Eu pen-
so, isto significa: h um certo lugar chamado eu, on-
de fazer e saber que se faz no so diferentes, onde o ser
32
com sua revelao a si mesmo, onde ento
uso do exterior concebvel. Esse eu no
Min i I n / ( / i / ; o que fala entra num sistema de relaes
uj | i < . . u| i . i rm e o tornamabert e. vnlTtt*r6vpl Alguns doen-'
PI MI n i i i l nm que se fala em sua cabea ou em seu corpo,
nu i n i . I M i j i n - uni outro lhes fala quando so eles mesmos
i| u> n i i i i Hh i m ou pelo menos esboam as palavras. O que
i | H< i i | i i p NP pense das relaes do doente e do homem
An, p | nrri:; o que, em seu exerccio normal, a palavra se-
| M i h- um. i lal natureza que nossas variaes doentias ne-
H i - I . I M I e permaneam a cada instante possveis. -pre-
pl n. i i pi p rxista cm seu centro alguma coisa que a torna
N i i H > i | i i i vi ' l dessas alienaes. Se dizemos que h no doente
.HP OP S bizarras ou confusas de seu corpo, ou, como se
t i l / I n, i^rturbaes da coenestesia, s inventar uma
r i i i i i ludc ou uma palavra em vez de fazer compreender
n iiconleeimento, , como se diz, batizar a dificuldade.
M M i . n i i i M melhor, percebemos que as perturbaes da coe-
i' ft/ ( V / u fazem crescer ramificaes em toda parte e que .
um. i coenestesia alternada tambm uma mudana de V
BOMO relacionamento com outrem. Falo e acredito que
i i n 1 1 corao fala, falo e acredito que me_ falam, falo _e
ttrrcdlto que algum fala em mim Q1 1 rnpsr i" a^v
Ni i l i l i i o que eu ia dizer antes que o diga todos esses fe-
nmenos frequentemente associados devem ter um centro
comum. Os psiclogos o encontram em nosso relaciona-
mcnl.o com outrem. "O doente tem a impresso de ser sem
fronteira em relao a outrem... O que d a observao...
^ estritamente... a impotncia em manter a distino do
Mv e do passivo, do eu e de outrem3." Essas perturba-
flfiea da palavra fpt-n ligaHim g na pprtnrhnpn rin prtS-
prlo corpo e da relao com outrem. Mas como compreen-
der esse' Taco? que o falar e o compreender so os mo-,
mentos de um s sistema eu-ou.trernr e aue o portador des-
c sistema no um eu puro ( que s veria nele um cie
eus objetos de pensamento e se colocaria diante), o eu
dotado de um corpo, e continuamente ultrapassado por
nssc corpo, que as vezes lhe subtrai seus pensamentos pa-
ra atribu-los a si prprio ou para imput-los a .um outro,
l'cia minha linguagem e pelo meu corpo, sou acomodado
; i outrem. A prpria distncia que o sujeito normal colo-
( . Wiillon, Ls Origines dtt Caractere Ciez l'Enfant, 1 934, pp. 1 35-1 36.
33
ca entre si e outrem, a clara distino do falar e de ou-
vi-lo uma das modalidades do sistema dos sujeitos en-
carnados. A alucinao verbal uma outra. Se acontece
que o doente acredita que lhe falam, enquanto ele que
fala de fato, o princpio dessa alienao se encontra na si-
tuao de qualquer homem: como sujeito encarnado, sou
exposto a outrem, como alis putrer" i rnim m^cmn e
me identifico a ele que fala na minha frente. .Faiar e ouvir,
ao e percepo s so para mim operaes diferentes quan-
do reflito, e decomponho as palavras pronunciadas em
influxos motores ou em momentos de articulao
as palavras ouvidas em sensaes e percepes auditivas.
Quando falo, no me represento os movimentos a fazer:
todo o meu aparelho corporal se rene para alcanar e di-
zer a palavra como minha mo se mobiliza por si mesma
para pegar o que me estendem. Bem mais: no a pala-
vra a dizer que viso, e nem mesmo a frase, a pessoa, fa-
lo com ela segundo o que ela com uma segurana s ve-
zes prodigiosa, uso palavras, com efeitos que ela pode com-
preender, ou aos quais ela possa ser sensvel e, se pelo
menos tenho tato, minha palavra, g a, um s tempn nrgn
de ao e de sensibilidade, essa mo leva olhos sua ex-
tremidade. Quando ouo, no preciso dizer que tenho
a percepo auditiva dos sons articulados, mas o discurso
fala em mim; ele me interpela e eu ressoo, ele me envolve
e me habita a tal ponto que no sei mais o que de mim
e o .que .dele. Nos dois casos, eu me projeto em outrem, o
introduzo em mim, nossa conversao se parece com a
luta dos dois atletas nas duas pontas da nica corda. Q
eu que fala est instalado em seu corpo e em.sua lin-
guagem no como numa priso, mas ao contrrio, como
num aparelho que p transporta magicamente na., perspec-
tiva de outrem. "H. . . na linguagem, uma ao dupla, a
que fazemos ns mesmos e a que fazemos fazer ao scias
representando-o dentro de ns mesmos4." A cada instante
ele me lembra que, monstro incomparvel no silncio,
.sou, ao contrrio, pela palavra, posto em presena de um
Outro eU ntfffiftt* qilfi rpr.ria Jiftffo. ip^gntp dP rninhfl Jiry-
guagem e que me sustenta no ser tambm. No^ h_jjla-
vra (e finalmente personalidade) a, no sei1 para um eu
que leva em si esse germe de despersonalizao*. Falar e
4. Lagache, Ls Hallucinatioiis Verbales et Ia Parole, P. U. F., 1934,
p. 130.
/
no supem nmente o pensamento, masr a
Ul ul o iiniis essencial, e como fundamento do prprio pen-
ftuiucnln. o poder de,s deixar,, desfazer e refazer por um
u n i u nl.ual, vrios outros possveis e presuntivamente por
luJu K a mesma transcendncia da palavra que encon-
I I M I I HI H em seu uso literrio j est presente na lingua-
I M - M I comum logo que eu no me contento com a lingua-
KI - I M pronta, que em verdade uma maneira de me calar,
n i j i i c falo verdadeiramente a algum. A linguagem, sim-
plr.M desenrolar de imagens, a alucinao verbal, simples
exuberncia de centros de imagens, na antiga psicologia,
nu nito entre os que a combatiam, simples produto de
um puro poder de pensar, n^jwgppte a pulsao de
relaes comigo mesmo e com outrem.
M as enfim, a psicologia analisa o homem falante,
rnlo natural que ela acentue a expresso de ns mesmos
nu linguagem. I sto no prova que sua funo primeira
cju essa. Se eu qi^ero rnrriv^lcar-me com outrem. preciso
primeiro qnft pn ^ispnnhaHonn-in lngua f^jpTinTT"?! nn
nus visveis para ele e para mim. Essa funo primordial
* Na margem: A sntese do acoplamento ou de transio l socius
Olhar
nuo representado, mas representado como representante r*
i" Como ouvir e falar, primeiro simples modalidade de per-
I i l KU"
ccpo e movimento, os ultrapassa: pela estrutura da linguagem,
a criao de sinais. Nos dois nveis, o reconhecimento, do pas-
sivo pelo ativo e do ativo pelo passivo, do alocutrio pelo locutor
projeo, introjeo. Q. estudo .Jeito por mim do turbilho da
linguagem, de outrem como me atraindo a um sentido, aplicarse
primeiro ao turbilho de outrem como me atraindo a eje. No
somente que eu seja fixado por outrem, que ela seja o X pelo qual
sou visto, tolhido. Ele o alocutrio, ou seja, um zumbido de mim
no exterior, meu duplo, meu gmeo, porque tudo o que.fao, faq-o
fazer e tudo o que ele faz, me faz fazer. A linguagem bem fun-
dada, como quer Sartre, mas no sobre uma apercepo, fundada
sobre o fenmeno do espelho ego alter ego, ou do eco, ou seja,
sobre a generalidade carnal: o que me esquenta o esquenta, sobre
a ao mgica do semelhante sobre o semelhante (o sol quente me
esquenta) sobre a fuso eu encarnado^- mundo; esse fundamento
no impede que a linguagem se viredilticamente sobre o que
o precede e transforma a coexistncia com o mundo e com os
corpos como puramente carnal, vital, em coexistncia de linguagem.
34
35
supostamente dada nas anlises do psiclogo. Se consi-
derssemos a linguagem no mais como um meio de re-
lacionamento humano, mas porque exprime coisas, no
mais em seu uso vivo, mas, como o linguista, em toda a
sua histria e como uma realidade exposta diante de ns,
as anlises do psiclogo, como as reflexes do escritor, po-
deriam bem nos aparecer como superficiais ao olhar dessa
realidade. aqui que a cincia nos reserva um de seus pa-
radoxos. ela justamente que nos reconduz mais segu-
ramente ao sujeito falante.
Tomemos para texto a famosa pgina em que Valry
exprime to bem o que h de opressivo para o homem r-
fletindo na histria da linguagem: "O que a realidade? *
se interroga o filsofo; e o que a Uberdade? Ele se coloca'
na condio de ignorar a origem a um tempo metafrica,
social, estatstica desses nomes, cujo deslizar para sentidos
indefinveis vai permitir-lhe a produo em seu esprito
das combinaes mais profundas e mais delicadas. Ele
no precisa acabar sua interrogao pela simples histria
de um vocbulo atravs das idades, pois o detalhe dos des-
prezes, dos empregos figurados, das locues singulares
graas ao nmero e s incoerncias das quais uma pobre
palavra se torna to complexa e misteriosa quanto um ser,
irrita como um ser uma curiosidade quase ansiosa, furta-
se a qualquer anlise em termos acabados e, criatura for-
tuita das necessidades simples, antigo expediente de co-
mrcios vulgares e trocas imediatas, eleva-se ao alto des-
tino de excitar toda a potncia interrogante e todos os
recursos de respostas de um esprito maravilhosamente
atento5."
bem verdade que a reflexo primeiro reflexo so-
bre as palavras, mas Valry acredita que as palavras s l
comportam a soma dos contra-sentidos e mal-entendidos '
que as elevaram de seu sentido prprio ao seu sentido fi-
gurado, e que a interrogao do homem que reflete ces-
saria se ele tomasse conhecimento dos acasos que reuni-
ram na mesma palavra significaes inconciliveis. Era ain-
da dar demais ao racionalismo. Era ficar no meio do ca-
minho na tomada de conscincia do acaso. Havia a, atrs
desse nominalismo, uma extrema confiana no saber, j
que Valry acreditava pelo menos possvel uma histria
5. V arete III, N. R. F., pp. 176-177.
|m lavras capaz de decompor inteiramente seu-sentido
n Hi ni l i mr como falsos problemas os problemas colocados
por HI I I I ambiguidade. Ora, o _paradoxQ. _ .qu_ e_ a histria
i l n ini|' , ii; i, se feita de acasos demais para admitir um de-
nrtivi) lvlmcnto I ngir^ nn produz nada, n,9 entanto, que
nfln trilha motivo que mesmo se cada palavra, segundo
u dicionrio, oferece uma gr a n ri p- diversidade de sentido,
vamos direto quela, q"? convm na fras* Hpt.prTnjnada (e
n alguma coisa subsiste de uma ambiguidade, fazemos
i l rl u ainda um meio de expresso) e que enfim h sentido
t ui m ns que herdamos palavras to gastas e expostas pe-
lii histria aos deslizamentos semnticos menos previsveis.
Kulainos e compreendemov4ielo menos na primeira abor-
Sfi ficasC Tnnff -ffifllTflrinfc rt sut fiipmiffg|nfl< ?
Tnnrtt.pr riP sna
liveis que as palavras
leramos nem mesmo a ideia de falar, a_ypntade de expres-
HI O desapareceria. ento porque_ a linguagem no , no
I nstante em que funciona, o simples resultado do passado
que arrasta atrs de si, que essa histria o trao visvel
dr um poder gue ela no anula. E como no entanto r-,
imnciamos ao fantasma de uma linguagem pura ou de
um algoritmo, que concentraria em si o poder expressivo e
emprestaria somente s linguagens histricas, preciso
que encontremos na prpria Histria, em pleiia desordem,
o que torna mesmo possvel o fenmeno da comunicao
c do sentido.
AqTas aquisies das cincias da linguagem so de-
cisivas. Valry mantinha-se na alternativa do filsofo que
acredita alcanar, pelas reflexes, significaes puras e
tropea nos mal-entendidos acumulados pela historia das
palavras. A psicologia e a lingustica esto mostrando pe-
lo fato que se pode renunciar filosofia de carter perma-
nente sem cair no irracionalismo. Saussure mostra admi-
ravelmente que se as palavras, e mais geralmente a lngua,
consideradas atravs do tempo ou, como ele diz, segun-
do a diacronia , oferecem de fato o exemplo de todos os
deslizamentos semnticos, no a histria da palavra ou
da lngua que faz seu sentido atual, e, por exemplo, no
a etimologia que me dir o que significa atualmente Q
pensament o. A maioria dos sujeitos falantes ignoram a eti
mologia ou melhor, em sua forma popular, ela ima-
ginria, projeta numa histria fictcia o sentido atual das
palavras, no explica, supe. Quaisquer que sejam os aca-
36
37
sos e as confuses atravs das quais o francs caminhou, e
de que se pode, e de que se deve reconstituir o desenrolar
titubeante, acontece ainda que falamos e dialogamos, es-
se caos retomado em nossa vontade de nos exprimir e
compreender os que so conosco membros de nossa comu-
nidade lingustica, da lngua, que a faria aparecer, no li-
mite, como um caos de acontecimentos, uma linguistica
da palavra que deve mostrar em si, a cada momento, uma
ordem, um sistema, uma tonalidade sem as quais a comu-
nicao e a comunidade lingustica seriam impossveis. Os
sucessores de Saussure se perguntam mesmo se se pode
simplesmente justapor a vida sincrnica e a vida diacr-
nica e, como afinal cada uma das fases que o estudo
longitudinal descreve foi um momento vivo da palavra,
tendendo para a comunicao, cada passado um presente
voltado para o futuro, se as exigncias expressivas de um
instante sincrnico e a ordem que elas impem no pu-
dessem estender-se num lapso de tempo, definir, pelo me-
nos por uma fase da diacronia, um certo sentido das trans-
formaes provveis, uma lei de equilbrio pelo menos pro-
visria, at que este equilbrio, uma vez atingido, implica
por sua vez em novos problemas que empurraro a lngua
em direo a um novo ciclo de desenvolvimento*... Em to-
do caso, Saussure tem o imenso mrito de completar a
iniciativa que libera a histria do historicismo e torna
possvel uma nova concepo da razo. Se cada palavra,
,cada forma de uma lngua, tomadas separadamente, re-
cebem no curso de sua histria uma srie de significaes
discordantes, no h equvoco na lngua total considera-
da em cada um de seus momentos. As mutaes de cada
aparelho significante, por mais inesperadas que paream,
se consideradas isoladamente, so solidrias das de todas
as outras e isto faz com que o conjunto permanea meio
de uma comunicao. Ajiistria objetiva era toda hist-
ria fica para Saussure uma anlise que decompe a
linguagem e em geral as instituies" s sociedades num
nmero infinito de aeascjS. Mas no pode ser nossa nica
aproximao em direo linguagem. Ento a linguagem
se tornaria uma priso, condicionaria mesmo o que se pode
Na margem: No preciso que o ponto de vista sincrnico seja
instantneo. Encadeamento de cada parte da palavra sobre o todo,
preciso que seja tambm encadeamento de um tempo sobre outro,
e eternidade existencial.
38
ilt/ .rr I L respeito e, sempre suporta no que se diz dela, no
MC I I n rapaz de nenhum esclarecimento. A prpria cincia
tln linguagem, envolta em seu estado atual, no obteria
i ni ni verdade da linguagem e a histria objetiva se des-
l i u i i l u a si mesma*. C om Saussure, esse envolvimento da
liM| ' . mitf em pela linguagem justamente o que salva a ra-
eliumlidade, porque no mais comparvel ao movimen-
to objetivo do observador, que compromete sua observa-
C rto dos outros movimentos, atestando ao contrrio entre
m < ] i i e falo e a linguagem com que falo uma afinidade
permanente. H um eu falo que encerra a dvida a rs-!
[ M' | | ,O da linguagem como o eu penso que encerrava a d-
vida universal. Tudo o aue digo da lincmao-pm a
mas isto no invalida o que digo, revela somente que a
linguagemSe tnpa_e_jgp prvmprPPnHp q, <^ rppgma( JstpJjnffS^
tni somente que ela no objeto, que susceptvel de uma
n-tomada, que acessvel do interior. E" se consTrasse-
nios no presente as lnguas do passado, se nos reunsse-
mos para retomar o sistema de palavras que elas foram
cm cada um dos momentos de sua histria, ento, atrs
das circunstncias incontestveis que as modificaram
t) desgaste das formas, a decadncia fontica, o contgio
diis outras falas, as invases, os usos da C orte, as decises
da Academia , reencontraramos as motivaes coeren-
tes segundo as quais esses acasos foram incorporados a
um sistema de expresso suficiente. A histria da lingua-
gem conduz ao ceticismo enquanto histria objetiva, pois
cia faz aparecer cada um de seus momentos como um
acontecimento puro e se fecha ela prpria no momento
om que se escreve. Mas este presente se revela subitamen-
te presena num sistema de expresso, e assim todos os
outros presentes tambm. Entn, np
cimentes, se desenha a srie de sistemas que sempre
.curaram a .expresso. ' A subjetividade inalienvel de mi--
(nh palavra me torna capaz de compreender essas sub-,
I jetividades apagadas de que a histria objetiva s me dava)
traos. J que falo e depois aprendo, na troca com outros
sujeitos falantes, o que o sentido de uma linguagem, en-
to a prpria histria da linguagem no somente uma
Na margem: Saussure mostra a necessidade de haver um interior.
da linguagem, um pensamento distinto do material lingustico e '
no entanto ligado a ele, no lgico.
39
srie de acontecimentos exteriores um ao outro e exterio-
res a ns. A objetividade pura conduzia dvida. A cons-
cincia radical da subjetividade me faz redescobrir outras
subjetividades, e assim uma verdade do passado lingus-
tico. Os acasos foram retomados interiormente por uma
inteno de comunicar que os muda em sistema da ex-
presso, eles o so ainda hoje no esforo que fao para
compreender o passado da lngua. A histria exterior se
duplica com uma histria interior que, de sincronia em
sincronia, d um sentido comum pelo menos a certos^ciclos
de desenvolvimento. O recurso.-_palavra.
esse subjetivismo metdico anula o absurdismo de. _V a-
lry, concluso inevitvel do saber pnquanto.-Bjcongide-
rasse a subjetividade s como um resduo, como um con-
mi pjnj rin Pvtprinr fl -?"lUP da.s~fln-
vidas a respeito da linguagem no se encontra num re-
curso a alguma lngua universal que dominaxia a Hist-
ria, mas no que Husserl chamar o presente vivo, numa
'.palavra, variante de todas as palavras que se disseram an-
tes de mim, tambm modelo para mim do que elas fo-
,ram...
^Resta compreender esse sentido sincrnico da lingua-
gem. Isso exige um reviramento de nossos hbitos. Jus-
tamente porque falamos, somos levadosj ppnnr q^P^na.
ss formas de expresso convm s prprias coisas, e. pro-
curamos nas falas estrangeiras o equivalente do que
to bem expresso pela nossa. Mesmo o rigoroso Husserl,
colocando, no comeo d sua carreira, os princpios de
uma gramtica pura, pedia que se fizesse a lista das
formas fundamentais da linguagem, aps o que se pode-
ria determinar "como o alemo, o latim, o chins expri-
mem a proposio de existncia, a proposio cate-
grica a premissa hipottica, o plural, as modalida-
des do possvel, do verossmil, o no, etc." "No se pode,
acrescentava, desinteressar-se da questo de saber se o gra-
mtico se contentar com suas vises pessoais e pr-cien-
tficas sobre as formas de significao, ou das representa-
es empricas e confusas que tal gramtica histrica lhe
fornece, a gramtica latina por exemplo ou se ele tem
sob os olhos o puro sistema das formas numa formula-
o cientificamente determinada e teoricamente coeren-
te , ou seja, a de nossa teoria das formas de significa-
40
i. - 1 " Husserl s esquecia uma coisa, que no basta, para
i'hr| ',ar gramtica universal, sair da gramtica latina,
r < | ur n lista que d das formas de significao possveis
niiT cK u. a marca da linguagem que ele falava.
Parece-nos sempre que os processos de experincia
< i, 1 1 1 iados em nossa lngua seguem as prprias articulaes
< | n MT , porque atravs dela que aprendemoa.a.viaJn^e,
i| ncT rndo ensar a linguagem, ou seja, reduzi-la condio
i Ir uma coiss diante do pensamento, continuamos a correr
i risco de tomar por uma Intuio do ser da linguagem
im processos pelos quais nossa linguagem tenta determi-
nar o ser. Mas que dizer quando a cincia da linguagem
que s em verdade uma experincia da palavra mais
variada, e estendida ao falar dos outros nos ensina no
finmcnte que no admite as categorias de nossa lngua,
mus ainda que so uma expresso retrospectiva e ines-
K rncial de nosso prprio poder de falar? No somente no
ha anlise gramatical que descubra elementos comuns a
todas as lnguas fi pada. lin^m no contem pecessanafgfen-
\ 4 i o equivalente dos modos de expresso que se encon-
tram nas outras a entonao que significa a nega-
ro, o duel do grego antigo confundido em francs com
o plural, o aspecto russo no tem equivalente em francs
r, em hebreu, a forma que chamamos futuro serve para
marcar o passado nas narraes, enquanto que a forma
nomeada pretrito pode servir de futuro, o indo-europeu
no tinha passivo, infinitivo, o grego moderno ou o bl-
garo perderam seu infinitivo7), mas ainda no se pode
nem reduzir a sistema os processos de express_p_de uma
lngua e, confrontadas com o uso vivo, as significaes l-
xicas ou gramaticais no passara nunca de aproximaes.
Impossvel marcar em francs onde acabam os semante-
mas ou as palavras, onde comeam os simples morfemas:
o quidi da lngua (j'ai faim, qu'il it) comeou por ser
feito de palavras: no passa, no uso, de um morfema. O
pronome e o auxiliar de il a fait comearam por ser se-
6. Logische Untersuchunen II, 4. Untersuchung, Max Niemeyer Ver-
iag, 1 91 3, p. 339. Trad. fr. Recherches Logiques, P. U. F. , 1 959,
t. II, pp- 1 35-1 36. Husserl devia em seguida retomar sem cessar o
problema das relaes da razo e da histria, para chegar, em suas
ltimas formulaes, a uma filosofia que as identifica. (A nota
inacabada menciona somente a Origem da Geometria.)
7. Vendrys, L Langage, Ia Renaissance du Livre, 1 921 , pp. 1 06-1 34.
41
mantemas: no tm atualmente outro valor alm do au-
mento, o sigma e a desinncia do aoristo grego. Eu, tu, ele,
me, te, o, comearam por ser palavras e o so ainda em
alguns casos quando empregados isoladamente (Eu o di-
go), mas cada vez que aparecem soldados ao verbo, como
em je dis, tu ais, U dit (pronunciados jedi, tudi, idi),
no passam do o final do latim dico, podem ser tratados
como uma espcie de flexo do verbo por adiantamento,
e no tm mais a dignidade de semantemas. O gnero das
palavras em francs s tem existncia pelo artigo que o
sustenta: nas palavras que comeam por vogal e onde a
eliso mascara o gnero do artigo, o gnero da prpria
palavra torna-se flutuante e pode at mudar. O ativo e o
passivo no so na lingu falada essas entidades que os
gramticos definem, e o segundo quase nunca o inverso
do primeiro: ns o vemos invadir a conjugao ativa e
nela encravar um passado com o verbo ser que dificilmen-
te se deixa conduzir ao sentido cannico do passivo. As ca-
tegorias do substantivo, do verbo e do adjetivo elas pr-
prias pisoteiam umas s outra/"Um sistema morfolgico
s compreende sempre um nmero restrito de categorias
que se impem e dominam. Mas em cada sistema h sem-
pre outros sistemas que se introduzem e se cruzam, re-
presentando, ao lado das categorias gramaticais plena-
mente expandidas, outras categorias em via,de desapare-
cer ou, ao contrrio, em fase de formao8'*. Ora, esses
fatos de uso podem ser compreendidos de duas maneiras:
ou bem se continuar pensando que s se trata a de
contaminaes, desordens, acasos inseparveis da existn-
cia no mundo, e se guardar contra qualquer razo da
concepo clssica da expresso, segundo a qual a clarida-
de da linguagem vem da pura relao de denotao que se
poderia em princpio estabelecer entre sinais (?) e signff-
caoes lmpias. Mas ento se deixar talvez escapar o que
faz o essencial da expresso. Pois, enfim, sem ter feito a
anlise ideal de nossa linguagem, e a despeito das dificul-
dades que ela encontra, ns nos compreendemos na lin-
guagem existente. No ento ela, no corao do esprito,
que funde e torna possvel a comunicao. A todo momen-
to, sob o sistema da gramtica oficial, que atribui a tal si-
nal tal significao, v-se transparecer um outro sistema
8. Ibid., p. 131 (Texto exato da segunda frase: Mas em cada sistema
h sempre mais ou menos outros sistemas...)
42
-
expressivo que traz o primeiro e procede diferentemente
(Ido: a expresso, aqui, J3MV.ARtA.nr/lPTigrig, pontiO ppr Jgm-
to, ao exprimido; cada um de seus elementos no se pre-
cisa e no recebe a existncia lingustica a no ser pelo que
rlc recebe dos outros e pela modulao que imprime a to-
dos os outros. o todo que tem um sentido, no cada parte.
A partcula av do grego clssico no somente intradu-
zvel em francs, indefinvel mesmo em grego. Trata-se
com todos os morfemas (e vimos que o limite do seman-
Icma e do morfema indeciso), no de palavras, mas de
coeficientes, de expoentes9 ou ainda de ferramentas lin-
gusticas que tm menos uma significao do que um
valor de emprego. Cada um deles no tem poder significan-
te que se possa isolar, e no entanto, reunidos na palavra,
ou, como se diz, na cadeia verbal, compem juntos um sen-
tido irrecusvel. A muridarift ria iinga^gem_no est atrs
dela, numa gramtica universal que carregram"s~oini-
quamente a ns, ela est na frente dela, no que os gestos
infinitesimais de cada pata de mosca no papel, de cada in-
flexo vocal, mostram no horizonte como seu sentido. Para
a palavra assim compreendida, a ideia mesmo de uma
expresso consumada . quimrica.: o que chamamos assim
a comunicao conseguida. Mas ela s o se aquele que
escuta, em vjfe de seguir malha por malha da cadeia ver-
bal, retoma por sua conta e ultrapassa ao consum-la a
gesticulao lingustica do outro.*
Parece-nos que, em francs, rhomme que j'aime ex-
prime mais completamente que o ingls the man I love.
Mas, nota profundamente Saussure, porque falamos fran-
cs. Parece-nos inteiramente natural dizer: Pierre frappe
Paul, e que a ao de um sobre o outro est explcita ou
expressa pelo verbo transitivo. Mas ainda porque fala-
mos francs. Essa construo no por si mais expressiva
que uma outra; poderamos mesmo dizer que menos, o
nico morfema que indica a relao de Pierre e de Paul, sen-
do aqui, como diz Vendrys, um morfema zero.10 The man
I love no menos eloquente para um ingls. "Pelo nico
fato de que compreendemos um complexo lingustico ( . . . ),
9. Ibid., p. 99.
10. Ibid., p. 93.
* Mi margem: A claridade da linguagem de ordem perceptiva.
7T
43
esta sequncia de termos a expresso adequada do pen-
samento."11 preciso ento que nos desfaamos do hbito
que temos de subentender o relativo em ingls: falar
francs em ingls, no falar ingls. Nada est subenten-
dido na frase inglesa, do momento em que ela compreen-
dida ou melhor, s h subentendidos numa Ungua qual-
quer que ela seja, a prpria ideia de uma expresso ade-
quada, aquela de um significante que viria cobrir exafa-
mente o significado, aquela enfim de uma comunicao
integral so inconsistentes.*) No depositando todo o
meu pensamento em palavras onde os outros viriam beber
que comunico com eles, compondo, com minha gargan-
ta, minha voz, minha entonao, e outro tanto com as pa-
lavras, as construes que prefiro, o tempo que escolho dar,
a cada parte da frase, um enigma tal que ela s comporta
uma nica soluo, e que o outro, acompanhando em si-
lncio essa melodia semeada de mudanas de abertura,
pontas e quedas, venha a toma-la por sua conta e a diz-la
comigo, o que compreender. Vendrys nota com profun-
didade: "Para fazer sentir ao leitor o contrrio de uma im-
presso dada, no basta grudar uma negao nas palavras
que a traduzem. Pois no se suprime assim a impresso
que queremos evitar: evocamos a imagem acreditando ba-
ni-la..." O morfema gramatical no se confunde com o
que se poderia chamar o morfema de expresso.12 H ne-
gaes que confessam. D sentido est alm da letra,.Qj3fin-
tido sempre irnico. No caso em que nos parece que o
expresso foi atingido, direta ou prosaicamente, e que ai h
gramtica mais do que estilo, somente porque o gesto
habitual, que a retomada por ns imediata, e que no
exige de ns nenhum remanejamento de nossas operaes
comuns. Os casos em que, ao contrrio, precisamos achar
na frase do momento a regra de equivalncia e substitui-
es que ela admite, na linguagem sua prpria chave, e na
11. F. de Saussure, Cours de Linguistique Gnrale, Payot, p. 197.
12. Vendrys, op. cit., pp. 159-160.
* Na margem: Comunicao da ordem do pr-objetivo. A signifi-
cao transporte quase sensorial: um relevo n universo da lin-
guagem. Da a palavra que injria, o bocado inteligvel. pre-
ciso compreender cada frase dita no como um percebido, mas
como um gesto que vai tocar um conjunto_cultural. "Da a relativa
indiferena dos sinais um a um: eles no passam de diacrticos."
cadeia verbal seu sentido, so aqueles pelos quais podemos
compreender os fatos mais comuns da linguagem.
H ento uma primeira reflexo, pela qual destaco a
.significao dos sinais, mas ela chama uma segunda re-
flexo que me faz reencontrar alm dessa distino o
funcionamento efetivo da palavra.
Isso mesmo que chamo significao no me aparece
coma pensamento sem nenhuma mistura de linguagem
a no ser pela virtude da linguagem que me leva para o
expresso; e o que chamo sinal e "reduzido condio de um
invlucro inanimado, ou de uma manifestao exterior do
pensamento, se aproxima tanto quanto quisermos da signi-
ficao logo que eu o considere como funcionando na lin-
guagem viva. "O alvo (die Meinung) no se encontra fora
das palavras, ao lado delas; mas pela palavra (redend) con-
sumo constantemente um ato de alvo interno, que se fun-
de com as palavras e por assim dizer as anima. O resulta-
do dessa animao que as palavras e todas as palavras
encarnam, por assim dizer, o alvo em si prprios p ^ar-
regam, encarnado nelas, como sentido".13-1 Antes que a lin-'
1 guagem carregue significaes que nos mascaram sua ope-
. rao tanto quanto a revelam, e que uma vez nascidas pa-
\o simplesmente coordenadas a sinais inertes, pre-
ciso que elasecrete por seu arranjo i n te m n ^ij n fftrt/) apn-
tido originrio sobre o qual as significaes sero retira-
das; preciso que haja a um estudo que se coloque sob a
linguagem constituda e considere as modulaes da pa-
lavra, a cadeia verbal como expressivas por si mesmas,14 e
colocar em evidncia, aqum de qualquer nomenclatura es-
tabelecida, o valor lingustico* imanente aos atos da pala-
vra. Aproximamo-nos dessa camada primordial da lingua-
gem definindo com Saussure os sinais, no como os repre-
sentantes de certas significaes, mas como meios de dife-
13. Husserl, Formale und Transzendentale Logik, Niemeyer Verlag,
Halle (Saale), 1929, p. 20. O texto de Husserl o seguinte: "Diese
(die Meinung) aber liegt nicht ausserlch neben deu Worten; son-
dem redend vollziekem wir fortlaufend ein inneres, sich mit Wor-
ten verschmelzendes, sie gleichsam beseelendes Meinem. Der Erfolg
dieser Beseelung ist, dass die Worte und die ganzen Reden in sich
eine Meinung gleichsam verleiblichen und verleiblicht in sich ais
Sinn tragen."
14. Esse estudo a fonologia.
45
renciao da cadeia verbal e da palavra, como "entidades
opositivas, relativas e negativas".15 Uma lngua menos
um somatrio de sinala (palavras e formas gramaticais e
meio mptinriinn n* n
nais uns dos outros, e construir assim um mu^erso % de lin-
guagem, do qual dizemos depois quando bastante pre-
ciso para cristalizar uma inteno significativa e faz-la
renascer em outrem que exprime um universo jie_jDen-
samento, enquanto ele lhe d existncia no mundo e arran-
ca sozinho ao "carter transitivo de fenmenos interiores
um pouco de ao renovvel e de existncia independen-
tfill.6 "Na lngua s h diferenas sem termos positivos. Que
se tome o significado ou o significante, a lngua no com-
porta nem ideias nem sons que preexistiriam ao sistema
lingustico, mas somente diferenas conceituais e diferen-
as fnicas sadas desse sistema."17 O francs no a pala-
vra de sol, mais a palavra de sombra, mais a palavra de
terra, mais um nmero indefinido de outras palavras e de
formas, cada uma dotada de sentido prprio a confi-
gurao que desenham todas essas palavras e todas essas
formas segundo suas regras em emprego de linguagem
e que apareceria de maneira ofuscante se no soubssemos
ainda o que querem dizer, e se nos limitssemos, como a
criana, a perceber seu vaivm, sua recorrncia, a maneira
pela qual se frequentam, se chamam ou se repelem, e cons-
tituem juntas uma melodia de um estilo definido. Notamos
com frequncia que impossvel, num dado momento, fa-
zer o inventrio de um vocabulrio mesmo que seja o
de uma criana, de um indivduo ou de uma lngua. Ser
preciso contar como palavras distintas, aquelas que se for-
mam por um processo mecnico a partir da mesma pala-
vra de origem? Ser preciso contar essa palavra que ainda
compreendida, mas que no mais empregada, e que est
margem do uso? Como Q campo visual, o campo lingus-
tico de um indivduo acaba no vago. que flr~n"a"fre'tr
sua disposio um certo nmero de sinais, mas possuir a
lngua como princpio de distino, qualquer que seja o
nmero de sinais que ela nos permite especificar. H in-
15. Saussure, op. cit., p. 171.
16. Valry.
17. Saussure, op. cit., p. 172.
46
nuas em que no se pode dizer: s'asseoir au soleil18, por-
que dispem de palavras particulares para designar a irra-
diao da claridade solar, e reservam a palavra soleil
pura o prprio astro. Quer dizer que o valor lingustico des-
NI I palavra no definido pela presena ou ausncia de
outras palavras ao seu lado. E como se pode dizer a mes-
ma coisa destes, parece que a linguagem nunca diz nada.
inventa uma gama de gestos que apresentam entre si_$i-
jcrenas bastante claras para que a conduta da lingua-
{/cm, medida que se repete, se recorta e se confirma ela
mesma, nos fornea, de maneira irrecusvel, o funciona-
mento e os contornos de um universo de sentidos. Bem i
mais, as palavras, as prprias formas, por uma anlise
orientada como esta, aparecem logo como realidades se-
gundas, resultados de uma atividade de diferenciaes mais
originria. As slabas, as letras, os torneamentos e as de-
sinncias so os sedimentos de uma primeira diferencia-
o que, desta vez, procede sem nenhuma dvida a rela-
o de sinal significao, j que ela que torna possvel
a distino mesma dos sinais: os fonemas, verdadeiros fun-
damentos da palavra, j que se encontram pela anlise
da lngua falada e no tm existncia oficial nas gramti-
cas e nos dicionrios, no querem, por si mesmos, dizer
nada que se possa designar. Mas, justamente por essa ra-
zo, eles representam a forma originria do significar, fa-
zem-nos assistir, sob a linguagem constituda, opera-
o prvia que torna simultaneamente possveis as signifi-
caes e os sinais discretos. Como a prpria lngua, consti-
tuem um sistema, quer dizer, so menos um nmero finito
de utenslios do que uma maneira tpica de modular, um
poder inesgotvel de diferenciar um gesto lingustico de
um outro, e finalmente, medida que as diferenas so
mais precisas, mais sistemticas, aparecem em situaes
elas prprias mais bem articuladas e sugerem sempre mais
que tudo isto obedece a uma ordem interna, poder de mos-
trar criana o que era visado pelo adulto.
Talvez se ver melhor como a linguagem significa;
i considerando-a no momento em que inventa um meio de
expresso. Sabe-se que em francs o acento est sempre na
ltima slaba, salvo nas palavras que terminam com um
e mudo e que em latim o acento est na penltima slaba
18 . I bid., p. 167.
47
quando ela longa (amcus), na precedente se a penlti-
ma breve (anima). O sistema de flexes do latim no po-
dia evidentemente subsistir a no ser que as finais perma-
necessem perceptveis. Ora, justamente porque elas no
eram acentuadas, enfraqueceram. A lngua primeiro ten-
tou repar-las, enxertando em palavras francesas restos de
flexes latinas que permaneceram mais vivas: da as desi-
nncias em ons e em ez das duas primeiras pessoas do
plural; da certos particpios passados em u derivados
das terminaes latinas em utus, bastante raras (lu, vu,
tenu, rompu).19 Isso no bastou e a decadncia continuou
em outra parte. Vem um momento em que o que era ru-
na torna-se maqueta, de onde o desaparecimento das finais
do latim, fato de decadncia, percebido pelos sujeitos fa-
lantes como expresses de um princpio novo. H um mo-
mento em que" " acento latino, permanecendo na slaba em
que sempre estivera, muda no entanto de lugar pelo desa-
parecimento das seguintes. "O lugar do acento mudou sem
que se tivesse tocado nele."20 O acento sobre a ltima s-
laba ento mantido com regra j que invadiu at as pa-
lavras de emprstimo, que no devendo nada ao latim, ou
at s que s vinham dele pela escrita (facile, cnsul, ti-
cket, burgrave).21 Com essa espcie de deciso da lngua,
tornava-se necessrio um sistema que no mais fosse fun-
dado sobre a flexo mas sobre o emprego generalizado da
preposio e do artigo. A lngua ento se apoderou de pa-
lavras que eram cheias e esvaziou-as para fazer delas pre-
posies (ainsi chez, casa, pendant, vu, except, malgr,
sauf, plein) ,22 Como compreender esse momento fecundo da'
lngua, que transforma um acaso em razo e, de uma ma-
neira de falar que se apagava, faz repentinamente uma
nova, mais eficaz, mais expressiva, como o prprio refluxo
do mar aps uma onda que excita e faz crescer a onda se-1
guinte? O acontecimento demasiado hesitante para que
imaginemos algum esprito da lngua ou algum decreto
dos sujeitos falantes que sejam seu responsvel. Mas tam-
bm demasiado sistemtico, supe demasiada conivncia
19. Vendrys, op. cit, p. 195.
20. Saussure, op. cit., p. 126.
21. Ibid., p. 127.
22. Vendrys, pp. 195-196.
48
rntrc diferentes fatos de detalhe para que o reduzamos
Mi ma das mudanas parciais. O acontecimento tem um
Interior, embora no seja a interioridade do conceito. "Ja-
muis o sistema . modificado vdiretamente; nele mesmo ele
imutvel, s alguns elementos so alterados sem respeito
A solidariedade que os ijga an todo. como se um desses |
(planetas que gravitam em volta do Sol mudasse de dimen- /
IHI O e de peso: esse fato isolado acarretaria consequncias/
(gerais e deslocaria o equilbrio de todo o sistema solar."23'
Acrescentemos somente que o novo equilbrio do sistema
solar seria s o resultado das aes exercidas e sofridas por
cada uma de suas partes e que poderia ser menos rico de
consequncias, menos produtivo e por assim dizer de me-
nor qualidade que aquele ao qual sucederia. Ao contrrio
os modos de expresso do francs que vm religar aqueles
do latim tm como efeito restabelecer um poder de expres-
so ameaado. O que sustenta a inveno de um novo siste-.
ma de expresso ento o empurro dos sujeitos falantes
que querem fazer-se compreender e que retomam como
uma nova maneira de falar os restos gastns HR ntp niif,rff
modo HpjP vprflfiftpn. A lngua toda acaso e toda razo por-
que no existe sistema expressivo quft siga um plar\p'e iia \o tefina sua origem em algum dado acidental, mas tam-
bm no h acidente que se torne instrumento lingustico
sem que a linguagem tenha insuflado nele o valor de uma >
nova maneira de falar, tratando-o como exemplo de uma
regra futura que se aplicar a todo um setor de sinais.
E nem mesmo preciso colocar em dois (?) distintos o for-
tuito e o racional, como se os homens trouxessem a ordem
e os acontecimentos desordem. A vontade de Qgpressn
ela mesma ambgua e contm um fermento que trabalha
para modifica-la: cada lngua, diz por exemplo Vendrys24,
submetida a cada momento s necessidades gmeas e
contrrias da expressividade e da uniformidade. Para que
uma maneira de falar seja compreendida, preciso que v
por si, preciso que seja geralmente admitida; o que supe
enfim que ela tenha seu anlogo em outros torneamentos
formados sobre o mesmo padro. Mas preciso ao mesmo
tempo que ela no seja habitual ao ponto de se tornar in-
23. Saussure, p. 125.
24. Vendrys, p. 192.
49
distinta, preciso que ela atinja ainda aquele que a ouve
empregar, e todo o seu poder de expresso vem de que ela
no idntica s suas concorrentes. Exprimir-se ento
um empreendimento paradoxal, j Jiue_jaup_umu2un3jie
expresses aparentadas, j estahfileridas, Incontestadm e
que sobre esse fundo a forma empregada se destaque^per-
manea bastante nova para despertar a ateno. uma
operao que tende sua prpria destruio, j que se su-
prime medida que se credita, e se anula se no se credita.
assim que no se saberia conceber expresso que fosse de-
finitiva j que as prprias virtudes que a tornam geral a
tornam pelo mesmo ato insuficiente. Logo que a palavra
pega, logo que ela se torna viva, a lngua artificial mais
racionada torna-se irregular e se enche de excees.25 As ln-
guas s so to sensveis s intervenes da histria geral
e ao seu prprio gasto porque so secretamente famintas i
de mudanas que lhes dem o meio de se tornarem ex^ i
pressivas novamente.^ H, ento, seguramente, um tote-'.
rior da linguagem, uma inteno de significar que anima,
os acidentes lingusticos e faz da lngua, a cada momen-
to, um sistema capaz de se recortar e de se confirmar ele
pjjiro. Mas essa inteno diminui medida que se con-1
suma; para que seu voto se realize preciso que no se rea-j
lize totalmente, e para que alguma/coisa seja dita preciso|(
que nunca seja dita inteiramente. O poder expressivo^ de
um sinal deve-se ao fato de ele integrarjim sTstemaj^co-
existir com outros sinais e no porque tenha sido institu-
do por Deus pu pela Natureza para designar uma significa-
o. E mais, mesmo esse sentido linguajar ou esse valor de
uso, essa lei eficaz do sistema que fundam a significao,
25. Vendrys, p. 193.
* Na margem: Ponto essencial: no fazer a sincronia instantnea,
pois isso faria repousar a totalidade da palavra sobre os poderes
absolutamente transcendentes da conscincia. preciso que haja
a um fundo nonthtique da lngua em seu estado imediatamente
anterior, que acaso e razo se unam, que cada presente seja dife-
renciao em relao ao precedente. Nenhum trao do passado
longnquo no presente demais: h seno conscincia desse pas-
sado, pelo menos conscincia de um passado em geral, de uma tpica!'
histrica.
50
imo NU O primeiro apanhados pelos sujeitos pensantes, so
pruU ciidos pelos sujeitos falantes, e s esto presentes nos
m-idcntcs histricos que o sugeriram a eles e se tornaro
wmplos para os gramticos, como o carter de um ho-
mrin est presente em seus gestos e em sua escrita antes
(Ir qualquer psicologia, ou como a definio geomtrica
do crculo est presente em minha viso de sua fisionomia
circular. A significao dos sinais Primeiro sua configu-.!
rato nojiso^o estilo de relaes inter-humanas que deles
mana; e s a lgica cega e involuntria das coisas perce-
bidas, toda suspensa atividade de nosso f nrpa3 pode-nos'
fazer entrpypy ^Pgpyit^pTinnimn qna inwnta, Tin p,OniC5ft j
da lngua, um ^QYOjm^" Hp fgp^^sni' As coisas percebidas" ,
ria seriam para ns irrecusveis, presentes em carne e
osso, se no fossem inesgotveis, nunca inteiramente dadas,,
no teriam o ar de eternidade que lhe encontramos se no
se oferecessem _a uma inspeo^ que em nenhum tempo
pode terminar: Da mesma maneira, a expresso nunca
totalmente expresso, o expresso nunca totalmente ex-
presso, essencial linguagem que a lgica de sua cons-
truo no seja nunca a das que se podem colocar em con-
ceitos, e verdade de nunca ser possuda, mas somente
transparente atravs da T5gc turva de um sistema de
expresso que carregados traos de um outro passado e
os germes de um outro futuro.* _/
s Compreendamos bem que isso no invalida o fato da
expresso e no prova nada contra a verdade do expresso.
Invocando as cincias da linguagem, no nos fechamos
numa psicologia ou uma histria da expresso, que s apa-
nhassem as manifestaes atuais, e seriam cegas para o
poder que as torna possveis, enfim para uma filosofia
* Na margem: Tudo isto f t f az colocar melhor cm evidenciada
transcendncia da.. .signif*ta^ fiP* p^aca aQ*nguag8in> fcomo a
anlise da percepo coloca em evidncia a transcendncia da coinz
em relao aos contedos e Abshattungen. A coisa surgiu l en-
quanto acredito apanh-la numa tal variao da hyl onde ela s
est em filigrana. Da mesma maneira o pensamento surgiu l eu-1
quanto eu o procuro em tal inflexo da cadeia verba!. Mas o poder
de transcendncia da palavra e da percepo resulta precisamente^
HH sua prpria P.r8(U lZai5fv A passagem Bedeutung no salto'
no espiritual. l
51
qnp P nnnR.ii-.iii a Hngimgpm
dos-objetoa, do pensamento,*
0s progressos da psicologia e da lingustica devem-se
justamente a que, revelando o sit^eitoL^aLante e a palavra
ao presente, elas encontram o meio de ignorar as alter-
nativas do atual e do possvel, do constitudo e do consti-
tuinte, dos fatos e condies de possibilidade, do acaso e
da razo, da cincia e da filosofia. Sim, quando falo atual-
mente, digo bem alguma coisa e em bom direito que ptfe-
tendo tirar coisas ditas e atingir s prprias coisas. em
bom direito tambm que, alm de todos os semi-silncios
ou todos os subentendidos da palavra, pretendo ter-me
feito entender e coloco uma diferena entre o que foi dito
e o que nunca o foi. Enfim em bom direito que trabalho
para me expressar* mesmo se est na natureza dos meios
de expresso serem transitrios: agora, peio menos, _ eu
disse alguma coisa, e o quase silncio de_ Mallarm ain-
da alguma coisa cpe toi expressa. Q que h semprg de he-
buloso em cada linguagem,, e que a impede de ser o re-
flexo de qualquer lngua universal onde o sitiaTreco-
* Na margem e entre ganchos: Contra Vendrys: nada de limites
da lngua, nada de estrutura da lngua (j que o sistema ali est
sempre misturado a outros sistemas), nada de comparaes entre
elas, elas exprimem todas to bem (recusa de valores em Ven-
drys talvez Saussure). Esses limites e esses valores existem,
simplesmente so da ordem do perceptivo: h uma Gestalt da
lngua, h no presente vivo do expresso e do no expresso, h
trabalho a fazer. Enfim, preciso que a linguagem signifique al-
guma coisa e no seja sempre" linguagem sobre linguagem. Mas
a significao e o sinal so de. ordem perceptiva, no de ordem
do Esprito absoluto. Sim, h uma questo de saber como os pri-
meiros sinais se tornaram capazes de sedimentao., e de todo um
(?) de cultura, e h uma questo de saber como pensar a consu-
mao presuntiva da linguagem na no-linguagem, no pensamen-
to. Mas esses dois fatos no passam de outra coisa que fato
mesmo da percepo e da nacionalidade; do logos do mundo es-
ttico. Pedir uma explicao, (?) d'obscurum per obscurius.
A essa nota se encontra, nas ltimas linhas, superposta uma outra'.
a^sedimentao: o fato de Stiflang de um sentido que ser na-
chvollsichivar. A expressividade temporria. Mas poderemos voltar
ao presente no/passado. H retomada de um outro passado pelo
meu presente. Cada ato de _ p_ alavra retgma_ lQdas_ 3< ""*rayjiisl'a-
mente se no h limites absolutos entre. 33 lngiiac R AHimfjnfggS^ e
reativao.
52
hi l i l u exatamente o conceito noLa impedi-. no exerci
rio vivo da palavra, de preencher seu papel de revcluciio,
I I I - MI de comportar suas evidncias tpicas, suas cxpcrlfin-
rius de comunicao. Que a linguagem tenha uma signifi-
cao metafsica, quer dizer que ela ateste sobre outras
ivlii<;cs e outras propriedades alm das que pertencem,
m-|undo a opinio comum, multiplicidade das coisas da
natureza encadeadas por uma casualidade, a experincia
da linguagem viva nos convence suficientemente disso, j
que ela caracteriza como sistema e ordem compreensvel
esta mesma palavra que, vista de fora, um concurso de
acontecimentos fortuitos. A esse respeito, possvel que
os linguistas no tenham percebid sempre a que ponto
sua prpria descoberta nos afastava do positivismo. Justa-
innnt.p SP as patpgnriag gramatirais rins snns Hs"fprmflfl e
das palavras revelam-se bstratS', porque cada espcie de
sinais, na lngua no presente, s funciona apoiada sobre
todas as outras justamente se nada permite traar en-
tre os dialetos e as lnguas ou entre as lnguas sucessivas
c simultneas fronteiras precisas, e se cada uma delas s
c "uma realidade em potencial que no chega ao ato26" ,
justamente se o que chamamos o parentesco das lnguas
exprime muito menos analogia de estrutura interna que
uma passagem histrica de uma a outra que se encontra,
por sorte, atestada, mas poderia no s-lo sem que o pr-
prio exame das lnguas ali suprida27 as dificuldades que
encontramos a dar uma frmula racional de cada lngua,
a defini-la sem equvoco por uma essncia onde suas carac-
tersticas encontrariam sua comum razo de ser, e a es-
tabelecer entre essas essncias claras relaes de deriva-
o, longe que elas nos autorizem a pulverizar a lngua
26. Vendrys, op. cit., p. 285.
27. I bid., p. 363; "Se s conhecssemos o francs no estado de lngua
falada e sob sua forma atual, e se no ignorssemos por outro
lado as outras lnguas romanas e o latim, no seria to fcil provar
que o francs uma lngua indo-europia: alguns detalhes de es-
trutura como a oposio de U est, ils sont (pron. il, ison), ou me-
lhor, ainda a forma dos nomes de nmeros ou dos pronomes pes-
soais, com alguns fatos de vocabulrio como os nomes de paren-
tesco, eis tudo o que o francs conserva do indo-europeu. Quem
sabe se no encontraramos razes mais tpicas para lig-lo ao
semtico ou ao ftnnt-ougrien."
53
qnp i g Hngimgpm
dos. objetos. do pensamento,*
0s progressos da psicologia e da lingustica devem-se
justamente a que, revelando o svjsitcLjaLante e a palavra
ao presente, elas encontram o meio de ignorar as alter-
nativas do atual e do possvel, do constitudo e do consti-
tuinte, dos fatos e condies de possibilidade, do acaso e
da razo, da cincia e da filosofia. Sim, quando falo atual-
mente, digo bem alguma coisa e em bom direito que jife-
tendo tirar coisas ditas e atingir s prprias coisas. em
bom direito tambm que, alm de todos os semi-silncios
ou todos os subentendidos da palavra, pretendo ter-me
feito entender e coloco uma diferena entre o que foi dito
e o que nunca o foi. Enfim em bom direito que trabalho
para me, expressar.' mesmo se est na natureza dos meios
de expresso serem transitrios: agora, peio menos, _ eu
disse alguma coisa, e o quase silncio de_ Mallarm ain-
da alguma "cls que oi expressa. O que h sempre .ne-
buloso_ gm cada Impuagam. e que a impede de ser o re-
flexo de qualquer lngua universal onde o snTreco-
* Na margem e entre ganchos: Contra Vendrys: nada de limites
da lngua, nada de estrutura da lngua (j que o sistema ali est
sempre misturado a outros sistemas), nada de comparaes entre
elas, elas exprimem todas to bem (recusa de valores em Ven-
drys talvez Saussure). Esses limites e esses valores existem,
simplesmente so da ordem do perceptivo: h uma Gestalt da
lngua, h no presente vivo do expresso e do no expresso, h
trabalho a fazer. Enfim, preciso que a linguagem signifique al-
guma coisa e no seja sempre" linguagem sobre linguagem. Mas
a significao e o sinal so de. ordem perceptiva, no de ordem
do Esprito absoluto. Sim, h uma questo de saber como os pri-
meiros sinais se tornaram capazes de sedimentao., e de todo ,um
(?) de cultura, e h uma questo de saber como pensar a consu-
mao presuntiva da linguagem na no-linguagem, no pensamen-
to. Mas esses dois fatos no passam de outra coisa que fato
mesmo da percepo e da nacionalidade; do logos do mundo es-
ttico. Pedir uma explicao, (?) d'obscurum per obscurius.
A essa nota se encontra, nas ltimas linhas, superposta uma outra:
a sedimentao: o fato de Stiflang de um sentido que ser na-
chvollsichioar. A expressividade temporria. Mas poderemos voltar
ao presente no/passado. H retomada de um outro passado pelo
meu presente. Cada ato de _ p_ alavra retg_ rna_ iQdaa,.q ""tr?s justa-
mentesenanh limites flbsnlutps pntre. qs lnguas. Rp.Himfir|fggS^ e
reativaco.
52
I n l r l i i exalamente o conceito no a impede, no cxcrrl
rio vi vo da palavra, de preencher seu papel de revulugiio,
nriii lc comportar suas evidncias tpicas, suas exporlftn-
rl aH < Ic comunicao. Que a linguagem tenha uma signifi-
rueuo metafsica, quer dizer que ela ateste sobre outras
relaes e outras propriedades alm das que pertencem,
nei;undo a opinio comum, multiplicidade das coisas da
natureza encadeadas por uma casualidade, a experincia
da linguagem viva nos convence suficientemente disso, j
que ela caracteriza como sistema e ordem compreensvel
esta mesma palavra que, vista de fora, um concurso de
acontecimentos fortuitos. A esse respeito, possvel que
os linguistas no tenham percebido sempre a que ponto
sua prpria descoberta nos afastava do positivismo. Justa-
mente se SL& categorias gramgt-lcg^-s f^ng gnrts, rias _ fprjy\ flp e
das palavras revelam-se ^bstratfr, porque cada espcie de
sinais, na lngua no presente, s funciona apoiada sobre
todas as outras justamente se nada permite traar en-
tre os dialetos e as lnguas ou entre as lnguas sucessivas
c simultneas fronteiras precisas, e se cada uma delas s
"uma realidade em potencial que no chega ao ato26" ,
justamente se o que chamamos o parentesco das lnguas
exprime muito menos analogia de estrutura interna que
uma passagem histrica de uma a outra que se encontra,
por sorte, atestada, mas poderia no s-lo sem que o pr-
prio exame das lnguas ali suprida27 as dificuldades que
encontramos a dar uma frmula racional de cada lngua,
a defini-la sem equvoco por uma essncia onde suas carac-
tersticas encontrariam sua comum razo de ser, e a es-
tabelecer entre essas essncias claras relaes de deriva-
o, longe que elas nos autorizem a pulverizar a lngua
26. Vendrys, op. cit., p. 285.
27. Ibid., p. 363: "Se s conhecssemos o francs no estado de lngua
falada e sob sua forma atual, e se no ignorssemos por outro
lado as outras lnguas romanas e o latim, no seria to fcil provar
que o francs uma lngua indo-europia: alguns detalhes de es-
trutura como a oposio de i'/ est, ils sont (pron. il, ison), ou me-
lhor, ainda a forma dos nomes de nmeros ou dos pronomes pes-
soais, com alguns fatos de vocabulrio como os nomes de paren-
tesco, es tudo o que o francs conserva do indo-europeu. Quem
sabe se no encontraramos razes mais tpicas para lig-lo ao
semtico ou ao finni-ougrien." .
53
numa soma de fatos fortuitamente reunidos e a tratar a
funo mesma da linguagem como uma entidade vazia,
mostram que num sentido, nessa imensa histria onde na-'
da acaba ou comea subitamente, nessa proliferao ine-'
xaurvel das formas aberrantes, no movimento perptuo
das lnguas onde passado, presente e futuro so mistura-
dos, nenhum corte rigoroso possvel e que enfim s h,
a rigor, uma s linguagem a vir a ser.28* Se preciso renun-"
ciar universalidade" bsrtnlinia gramtica racional
que d a essncia comum a todas, as linguagens, s para
reencontrar a universalidade concreta de uma linguagem ]
que se diferencia de si mesma sem, jamais se renegar, aber-
tamente. Porque eu falo presentemente, minha lngua no
para mim uma soma de fatos, mas s um instrumento
para uma vontade -de expresso total. E porque ela isso
para mim soucapaz de entrar em outros sistemas e ex-
presso compreendendo-os primeiro como variantes do
meu, depois deixando-me habitar por eles ao ponto de
pensar o meu como uma variante daqueles. Nem a uni-
dade da lngua, nem a distino das lnguas, nem seu pa-
rentesco no deixam de ser pensveis, para a lingustica
moderna, uma vez que se renunciou a conceber uma essn-r
cia das lnguas e da linguagem: shnple^mjeji_la_soji
conceber numa dimenso que no mais aquela, do con-
ceito ou da essncia, mas da existncia. Mesmo se o siste-
ma do francs est todo cheio de formas, palavras e sons
que no so mais e de outras que no so ainda o francs
cannico, permanece que o sujeito falante est consciente
de uma norma de expresso e muito sensvel s formas in-
slitas do falar; permanece que, quando se vai do latim ao
francs, mesmo se no h fronteira que se passa, vem um
momento em que incontestavelmente a fronteira passa-
da. E a comparao das lnguas, a estimao objetiva de
seu poder de expresso contnua possvel, embora cada
uma, j que foi falada, tenha at um certo ponto satisfeito
necessidade de expresso. Embora nenhuma expresso
seja jamais expresso .absoluta ou sobretudo por essa
prpria razo , h palavras que dizem assim outras
que dizem de outra maneira, h as que dizem mais e ou-
28. Ibid., p. 273.
* Na margem, essas duas frmulas superpostas: universal existencial,
eternidade existencial.
54
IniH que dizem menos. Bmhora nSn s pnaga sonhar com
uni u linguagem, que nos abra a significaes nuas e que
nrnlmma palavra no se apague totalmente diante do sen-
U U u cm direo do qual ela faz sinal ou justamente por
ittttu razo , acontece que h, no exerccio da linguagem,
conscincia de dizer alguma coisa, e presuno de um con-
wimo da linguagem, de uma palavra que termina. tudo.
Simplesmente, a existncia distinta dos sistemas da pala-
vra e a das significaes, que visam da ordem_dp perce-
bido, ou do presente, no da ordem da ideia ou do eterno.
K u no saberia dizer quando precisamente o sol, que se pe,
virou de sua claridade branca sua claridade rosa. No sa-
beria dizer em que momento esta imagem que se desenha
sobre a tela mereceria ser chamada um rosto, mas um mo-
mento vem em que um rosto que est l. Se espero para
acreditar nessa cadeira na minha frente ter verificado que
cia satisfaz bem a todos os critrios de uma cadeira real,
no acabaria nunca; minha percepo adianta-se ao pen-
samento pelos critrios. me diz enfim que, ** aparn-
cias querem dizer: uma .cadeira. Da mesma maneira, em-
bora nada seja dito totalmente diante da histria univer-
sal, h um certo dia em que todos os sinais que me faziam
os livros e os outros quiseram dizer isto, e em que os com-
preendi. Se eu fosse supor que eles s chamaram minha
ateno sobre a pura significao que eu trazia em mim,
e que venho recobrir e como que reabsorver as expresses
aproximadas que me ofereciam, ento eu renunciaria a
compreender o que compreender. Eois a potncia da lin-
guagem no est no tte--tte que proporcionaria ao rios-
so esprito e^s coisas, nem jihs no privilgio que teriam
recebido asvprimeirs palavras de designar os elementos
mesmo dojer, como se todo conhecimento a vir e toda
palavra ulterior se limitassem a combinar esses elemen-
tos. O poder da linguagem no est nem nesse futuro de
inteleco para o qual vai, nem nesse passado mtico de
onde proviria: est todo inteiro em seu presente na me-
dida em que consegue ordenar as pretendidas palavras-
chave de maneira a lhes fazer dizer mais que jamais .dis-
seram, que se ultrapasse como produto do passado e nos
d assim a iluso de ultrapassar qualquer palavra e ir as
prprias coisas porque com efeito ultrapassamos toda lin-
guagem dada. Nesse momento, alguma coisa est bem ad-!
55
quirida de uma vez por todas, fundada para sempre, e po-
der ser transmitida, como os atos de expresso passados
o foram, no porque teramos assim um pedao do mundo
inteligvel ou alcanado o pensamento adequado, mas por-
que nosso uso presente da linguagem poder ser retomado
enquanto a mesma linguagem estiver em uso, ou enquan-
to os sbios forem capazes de remet-la ao presente. Essa
maravilha que um nmero finito de sinais, de torneados e
palavras possa dar lugar a um nmero indefinido de em-
pregos, ou esta outra e idntica maravilha que_o sentido
lingustico nos orienta para um alm da linguagem, o
prodgio mesmo do falar, e quem quisesse explic-lo por
seu comeo ou por seu f i m perderia de vista seu laser.
H bem no exerccio presente da palavra retomada de toda
a experincia anterior, apelo ao consumo da linguagem,
eternidade presuntiva, mas como a coisa percebida, nos d
a experincia de ser mesmo no momento em que ela con-
trata na evidncia do presente, uma
e a prfisnngfin f|e um, futuro sem fim que a conteria...
Em suma, o que encontramos, que os sinais, os mor-
femas, as palavras Uma a y-mn no signifinam narta que
s venham a nnnt.pr pignifina.n pr sua reunio. R que
enfim a comunicao vai do todo da lngua falada ao todo
da lngua entendida. Falar a cada momento detalhar
uma comunicao cujo principio j est cqlpcado. Pergun-
tar-s- talvez como. Pois, enfim, se o que nos dizem da|
histria da terra tem fundamento, preciso que a palavra,
tenha comeado, e ela recomea com cada criana. Que a/
criana v ao todo s partes da lngua mesmo se ela
mesma s emprega, para comear, algumas de suas possi-
bilidades , no surpreendente, j que o funcionamen-
to da palavra adulta se oferece a ela como modelo. Ela a
apanha primeiro como conjunto vago e por um movimen-
to de vaivm, cada um dos instrumentos de expresso que
dele emergem suscita remanejamento do conjunto. Mas
que dizer da primeira palavra da humandlicrTTiira no se
apoiava sobre uma lngua j' estabelecida; foi bem precisa,
se dir, que ela fosse significante por si mesma. Mas isso
seria esquecer que o princpio da comunicao j estava
dado antes dela pelo fato de o homem perceber outro ho-
mem no mundo, como parte do espetculo, e que assim
56
luUo o que o outro fiu J tom u I UUMI UU auiitido do que o que
eu Tuo, porque suu uuu (nu medida em que sou especta-
dor) visa aos mesmos objetos com os quais tenho a ver. A
primeira palavra no se estabeleceu numa inexistncia d< >
uuuiunicao, porque ela emergia_dasj
comuns e tomava razes num mundo sensvel.que j tinha
ccH.sudo de ser mundo privado*) Certo, ela trouxe a essa
comunicao primordial e muda tanto mais do que re-
cebia dela. Como todas as instituies, transformou o con-
gOncre em homem. Ele inaugurou um novo mundo, e, para
ns que estamos dentro e sabemos de que reviramento co-
purniciano ela responsvel, ^ legtimo recusar as pers-
pcctivas que apresentariam o mundo das instituies e da
linguagem como segundo e .derivado*em ron^ " u ttiiiimn
tia natureza, e de viver mima espniq de religi^ p fl homem.
Mo entanto, como todas as religies, .esta,_s -vive^ de^ em,-
prstimos exteriores. Ela perderia conscincia de -si pr.
pria se se fechasse em si mesma, e .cessaria de honrar-a
homem se no fnnhpesse tambm o silncio pr-huma-
no. A primeira palavra encontrava seu sentido no contexto
de co"ria*uT5,"Ja~cmuTrs; "Como a primeira constituio con-
tinuava ultrapassando-a uma histria espontnea. J que
no se pode fazer a economiat_no fi,incinnampnt.o.-da lin-
guagem estabelecida, desse movimento pelo qual o auditor
ou o leitor ultrapassais gestos lingusticos em direo de,
seu sentido, o mistrio da primeira palavra no maior)
que o mistrio de qualquer expresso conseguida. Em um
como em outro h,iny_asi) de um espetculo prva_do por
um senso gil, indiferente s trevas individuais que vem
habitar. Mas esse vazio do sentido preparou-se no total da
vida individual, como a ebulio na massa de gua, desde
que o sentido.poaguloie em coisas. A palavra num senti-
do retoma e supera, mas em um sentido conserva e conti-
nua a certeza sensvel, ela no penetra nunca conipleta-
mente o silncio eterno da subjetividade privada. Agora,
ainda, ela continua sob as palavras, no cessa de envolv-
las, e, por pouco que as vozes sejam longnquas ou indistin-
tas, ou a linguagem bastante diferente da nossa, pode-
mos reencontrar, diante dela, o estupor da primeira tes- j
temunha da primeira palavra.
Na margem: Logos do mundo esttico e logos.
57
.
~~-(me
No compreendemos mesmo a linguagem a no ser a
esse preo. Dizer que nenhum sinal isolado nada significa,
e que a linguagem reenvia sempre linguagem, j que a
cada momento s alguns sinais so recebidos, dizer tam-
bm que a linguagem exprime tanto pelo. que est entre
as palavras como pelas prprias palavras, .e pelo que no
3iz como pelo que diz, como o pintor pinta, tanto pelo1
ele traa, pelos brancos que coloca, ou aels traos de,
gmcel que no realizou*. O ato de pintar tem duas ias.es:
ha mancha de cor ou de fuso que se coloca num ponto da
tela ou do papel, e h o efeito dessa mancha no conlunCTsem
medida comum com ela, j que ela no quase nada e que
basta para mudar um retrato ou uma paisagem. E algum
flue olharia a pintura de muito_ pertor o nariz sobre seu
pincel^ s veria o inverso~9e i seiT trabajho. QJmrerso aque-
le fino trao negro, o verso a grande mancha de sol que
qle cjrcunsnrpve. A experincia foi feita. Uma cmara re-
gistrou em marcha lenta o trabalho de Matisse. A impres-
so era prodigiosa, ao ponto do prprio Matisse ficar, con-
/ ta-se, emocionado. O mesmo pincel que, visto a olho nu
/ saltava de uma ao a outra, era visto meditar, num tem-
po dilatado e solene, numa iminncia de comeo do mun-,^
V jdo, comear dez aes possveis, executar diante da tela1
como que uma dana preparatria, aflor-la vrias ve-
zes at quase toc-la, e se abater enfim como um raio so-
bre o nico traado necessrio. H, bem entendido, algu-
ma coisa de artificial nesta anlise, e se Matisse acredita-
va, com base no filme, que ele verdadeiramente escolheu,
naquele dia, entre todos os traados possveis, e resolveu
como o Deus de Leibniz num imenso problema de mnimo
e mximo**} ele se engana: ele nq ^ um ^pm^ur^n| ^ um
homem. No teve, sob o olhar de seu esprito, todos os
gestos possveis, no teve que eliminar todos menos um,
riflrrO TQ*5r> a na fftn^a a cmara e sua lentido que
explicitam todos os._passyeis. Matisse, instalado nurri tem-
po e uma viso de homenj) olhou o cbnjujifo.auQ:&f-
tual de sua tela eTevutTa ma pra a regio que chamava
o pincel para que. o quadro fosse enfim o que ele se tor-
nava. Ele resolveu por um gesto simples o problema que,
* Na margem: Analisar que significa essa referncia ao comum, '
norma? H a uma tpica de omunicafio, que preciso com- ,
preender se queremos compreender os Abweichungen.
** Na margem: Mnimo e mximo: definido por que quadro?
58
da anlise e depois, parece comportar um nmero
I nf i ni t o de dados*, como, segundo Bergson, a mo na lima-
I hi i do, ferro obtm de uma s vez um arranjo muito com-
pllrmlo. Tudo se passou no mundo humano da percep&o
i - do tcsto, e o artifcio da cmara e da marcha lenta que
nos d do acontecimento uma verso fascinante fazendo-
nos acreditar que a mo de Matisse passou milagrosamen-
te tio mundo fsico onde uma infinidade de solues so
possveis, ao mundo da percepo e do gesto onde somen- /
Ir algumas o so. No entanto, verdadfi.aue a mo hesitou,
que meditou, ento verdade que houve escolha, que q
I rao escolhido'o foi de mangira a gatififpaftr dez condies
esparsas sobre o quadro, informuladas, informulveis para
algum outro que no fosse Matisse, j que no estavam
definidas e imposta&.a.no.-Sr-Dela.intenco de fazer ague-
I c quadro que ainda no existia^ ^ a mesma coisa com a
palavra verdadeiramente expressiva1 e ento com toda
a linguagem em sua fase dtTestabelecimento. Ela no es-
colheu somente um sinal por uma significao j definida,
como se vai procurar um martelo para enfiar um prego
ou uma torqus para arranc-lo. Ela tateia em volta de
uma inteno de significar que no dispe de nenhum
texto para se guiar, que justamente esta escrevendo. E se
queremos*pegar a palavra em sua operao mais limpa, e
de maneira a justific-la plenamente, precisamos evocar
todas as que teriam podido tomar seu lugar, e que foram
omitidas, sentir como elas teriam, de outra maneira, tocado
* Na margem: Comparar com a anlise abaixo do estilo das mi-
niaturas. O estilo como generalidade pr-conccitual generalidade
do pivot que pr-objetivo, e que faz a realidade do mundo: a
coisa est onde eu a toco, no um geometral dos Abschattungen,
escapa a Erlebnisanalyse (sua entrada a seu registro somente
notada em minha histria) porque h uma transtemporalidade
que no a do ideal, mas a do ferimento mais profundo, incurvel,
i Esta racionalidade no constituda da coisa-piv (racionalidade no
constituda s possvel se a coisa no frontal, objeto, mas o
que morde em mim e o que mordo por meu corpo, se a coisa ,
ela tambm dada em compreenso indireta, lateral como outrem '
uma tal racionalidade tem a decenracQ^sojno fundamento do sen-
tido) j anloga do ato~"3 pintar: resolvemos problemas no
colocados, i. e., o que fazemos tem mais sentido do que sabemos.
sobre esta instituio primordial do corpo que est fundada toda
a elaborao simblica que, ela tambm, consiste em entrar direto
com os ps num terreno desconhecido.
59
e abalado a cadeia da linguagem, a que ponto esta era. ver-
dadeiramente a nica possvel*! se esta significao devia
vir ao mundo... Em suma, .preciso pnngiHpmrmnq q pa.1q-:
vra antes que ela seja pronunciada, sobre o fundo do siln-1
cio que a precede, que jiqjira de acompanh-la, e sem o
qual ela no diria nada; mais ainda, precisamos ser sens- j
veis a esses fios de silencio com os quais o tecido da pala- r
vra est misturado**? H, para as expresses j adquiridas, l
um sentido direto que corresponde, ponto por ponto, a
torneados, formas, palavras institudas; justamente porque
essas expresses esto adquiridas, as lacunas e o elemento
de silncio a esto obliterados, mas o sentido das expres-;
soes em formao no pode, por princpio, ser dessa esp-
cie: um sentido lateral ou oblquo que resultando comr-
cio das prprias palavras (ou das significaes disponveis).
uma maneira nova de sacudir o aparelho da linguagem,
ou o de relato, para lhe fazer devolver no se sabe o que,
j que justamente o que se diz ento nunca foi dito. Se
queremos compreender .a linguagem em sua operao slg^
nificante de origem, pr_ pnjsamna fingir rmnra ter falado,
operar sobre ela uma reduo sem a qual el^se esconderia
a nossos olhos reconduzindo-nos ao que significa para ns
olh-la como surdos olham Os que lhes falam, e comparar
a arte da linguagem s outras artes da expresso que no
recorrem a ela, tentar v-I~~cm~ uma dessas afies mudas.
Pode acontecer que o sentido da linguagem tenha, sobre
o sentido do quadro, alguns privilgios, e que no final das
contas tenhamos que ultrapassar esse paralelo, mas so-
mente tentando que perceberemos o que o torna finalmen-
te impossvel, e que teremos oportunidade de descobrir o
mais prprio da linguagem.
* Na margem: noo do lgjjjx no-surftimento gfljitrrin ex-m-
,yhilo ma* aparecimento lTeTl de um aparelho de sentido que s
exiba pouco a pouco seu contedo.. .
** Na margem: no se sabe o que se diz, sabe-se depois de ter dito.
60
A Linguagem Indireta
Mesmo se, finalmente, devemos renunciar a tratar a
pintura como uma linguagem o que um dos lugares co-
muns de nosso tempo , e justamente para colocar pro-
va esse lugar comum, preciso comear por reconhecer que
o paralelo um princpio legtimo. Levando em conta or-
ganismos, objetos ou fragmentos de objetos que existem
pesadamente e o que a cerca, cada um em seu lugar, e no en-
tanto percorridos e religados na superfcie por uma rede de
vetores, na espessura por uma fuso de linhas de fora, o
pintor joga os peixes e conserva a rede. Seu olhar se apro-
pria das correspondncias, das perguntas e das respostas que
no so, no mundo, indicadas a no ser surdamente, e sem-
pre flhftfariM ppln Pstnpnr rina nhjpfog el6S OS desinveste, OS
liberta e lhes proporciona um corpo mais gil*. Levando
em conta, por outro lado, as cores e uma tela que fazem par-
te do mundo, ele os priva subitamente de sua inerncia: a
tela, as prprias cores, porque foram escolhidas e compos-
tas segundo um certo segredo, cessam para nosso olhar de
continuar l onde esto, fazem um buraco na plenitude do
mundo, tornam-se como as fontes ou as florestas, o lugar de
apario dos Espritos, s^sto l como o mnimo da ma-
tria de que um sentido tinha necessidade para se manifes-
tar**. A tarefa da linguagem semelhante: levando em
* Na margem: Metensomatose da arte. O que transportado?
** Na margem: O imaginrio alojado no mundo.
61
conta uma experincia que pode ser banal mas se resume
para o escritor num certo sabor muito preciso da vida, le-
vando em conta, por outro lado, palavras, formas, tornea-
dos, uma sintaxe, e mesmo gneros literrios, maneiras de
contar que esto, pelo uso, j investidas de uma significa-
o comum, disposio de cada um, escolher, retinir, ma-
/ nejar, atormentar esses instrumentos de tal maneira que in-
/ duzam o mesmo sentimento da vida que habita o escritor
\ cada instante, mas exibido a partir de ento num mundo
imaginrio e no corpo transparente da linguagem. ^ento,
dos dois lados, a mesma transmutao, a mesma migrao
de um sentido esparso na experincia, que deixa a car-
ne onde no chegava a se reunir, mobiliza em seu proveito
instrumentos j investidos, e os emprega de tal maneira
que enfim eles se tornam para ele o prprio. corpo de que
tinha necessidade enquanto passa dignidade da. .signifi-
cao expressa. J que a mesma operao expressiva fun-
ciona aqui e l, possvel considerar a pintura sobre o fun-
do da linguagem e a linguagem sobre o fundo da pintura, e
necessrio, se queremos subtra-los ao nosso hbito, falsa
evidncia do que vai de si.
Nossa comparao da linguagem e da pintura s
possvel graas a uma ideia da expresso criadora que
moderna, e durante sculos os pintores e escritores traba-
lharam sem suspeitar seu parentesco. Mas fato, como o
demonstrou Andr Malraux, que cada um sua maneira e
cada um por sua conta, eles conheceram a mesma aventu-
ra. Como a linguagem, a pintura vive primeiro no meio do
sagrado exterior. Eles s conhecem seu prprio milagre em
enigma, no espelho de uma Potncia exterior. A transmuta-
o' que operam do sentido em significao, transformam em
homenagem ao Ser que se acreditam destinados a servir.
preciso dizer no somente que eles se oferecem como meios
para celebrar o sagrado : isso no explicaria que eles se iden-
tificam to universalmente e to longamente religio.
preciso dizer que eles so eles prprios culto e religio, por-
que no assumiram seu prprio poder. Enquanto a arte
voltada cidade e aos seus deuses, enquanto a palavra
concebida como o simples exerccio de uma linguagem de
instituio divina, o prodgio da comunicao entre os ho-
mens projetado para atrs de ns, j\a^f p a ut^f^nra se
pja.Tiifpst.g-m nnmn n jntm at.rft-vg rip, nps^jg uma arte C de
uma palavra de origens em que tudo est antecipadamente
62
. ft < l ut qiir predito piirllr puni ilur todo seu sen-
tido rccupuruean r nl r r ou modrrnos ilu pintura e da lin-
r . i i : i r , r i M por eles mesmo.s. Polo se ns estamos multo longe
( I r conceber a arte e a linguagem como instituies divinas
dus quais s deveramos utilizar, estamos ainda cheios de
uma concepo clssica da arte e da linguagem que no
ptussa em suma de uma secularizao daquela concepo
- - e que mesmo, em vrios aspectos, menos que ela concilie
( tom a conscincia moderna da expresso. Se a arte a
representao de uma natureza que pode no mximo-.em-
belezar, mas seguindo as receitas que ela lhe ensina, se,
como o queria La Bruyre, nossa palavra s tem como pa-
pel reencontrar a expresso justa antecipadamente assina-
lada a cada pensamento por uma linguagem das prprias
coisas, pode-se bem dizer que o ato de pintar e o ato de es-
crever comeam a ser autnomos, j que eles no reconhe-
cem outro mestre a no ser a verdade ou a natureza; mas
por outro lado, destacados do sagrado, quer dizer d .que
ultrapassa o homem, ordenados a uma natureza em si ou a
uma linguagem em si, eles cessam de viver em estado de
tenso, eles se .destinam a um estado de, perfeio em que
a expresso plena"seria atingida e ser preciso uma verda-
deira reviravolta das ideias recebidas para que elas reencon-
trem a conscincia de seu inacabamenta, Somos ns mesmos
sempre tentados a voltar a esse~xacionalism7}5 preciso en-
to examin-lo melhor com mais insistncia talvez do que
Malraux o fez.
Tudo mostra, como ele diz, que a pintura clssica na
Europa se concebe como a representao dos objetos e dos
homens em seu funcionamento natural.* A. predileo pela
pintura a leo, que permite, melhor que outra, atribuir a
cada elemento do objeto ou do rosto humano um represen-
tante pictural distinto, a procura de sinais que possam, in-
corporados aos quadros, dar a iluso da profundidade ou do
volume pelo jogo das luzes, pela sntese ou pelo claro-escu-
ro a do movimento, a das formas, a dos valores tteis e
as diferentes espcies de matria (que se pense nos estudos
pacientes que conduziram sua perfeio a representao
do veludo) , esses segredos, esses processos descobertos por
um pintor, transmitidos aos outros, aumentados a cada ge-
rao, so oioTTMmtn? HO nmft timira jgrpl de represen-
tao que, no mximo, atingiria a prpria coisa, o prprio
homem, dos quais no se imagina um instante que possam
63
conter o acaso ou o vago. Eles evocam um progresso da
pintura em direo de um mundo e um homem consuma-
dos dos quais se trata, para ela, de igualar o funcionamen-
to soberano. Sobre o caminho cujo fim est claramente de-
finido, so dados passos sobre os quais no ser preciso vol-
tar. A carreira de um pintor, as produes de uma-escQla,
o prprio desenvolvimento da pintura vo em direo das
obras nas quais se resumem toda uma srie de aquisies,
em direo das obras-primas onde, enfim, obtido o que
era antes procurado, qu;^peio menos provisoriamente, tor-
nam inteis todos os ensaios anteriores e que em todo caso
marcam para sempre um certo progresso da pintura... En-
fim, a relao do pintor e de seu modelo, tal como se exprime
na pintura clssica, supe tambm uma certa ideia da co-
municao entre o pintor e o espectador de seus quadros.
Quando o pintor clssico, diante de sua tela, procura uma
expresso dos objetos e dos seres que guarde toda a rique-
za e conserve todas as propriedades, que ele quer ser to
'convincente quanto as coisas, que ele pensa que s pode
j j tingir-hos como elas nos atingem: impondo aos nossos
Y f sentidos um espetculo irrecusvel. Toda a pintura cls-
sica supe esta..ideia- de -uma comunicao- entre o pin-
tor e seu pblico atravs da evidncia das coisas. O proble-
ma moderno de saber como a inteno do pintor renascer
naqueles que olham seus quadros ele no nem colocado
pela pintura clssica que se volta, para assegurar a comuni-
cao, ao aparelho da percepo considerado como meio na-
tural de comunicao entre os homens. Nao_tenios todos ns
olUos, que funcionam mais ou menos na mesma maneira, e,
se o pintor soube descobrir sinais suficientes da. profundida-
de ou do veludo, no teremos todos, olhando seu quadro, o
mesmo espetculo, dotado da mesma espcie de evidncia
que pertence s coisas percebidas?
No entanto, se a pintura clssica deu-se por objetivo a
representao da natureza e da natureza humana, fica que
esses pintores eram pintores, e que nenhuma pintura v-
lida consistiu jamais em representar simplesmente. Mal-
raux indica frequentemente que a concepo moderna da
pintura, como expresso Criadora/ foi uma novidade para o
pblico muito mais que paRTbs prprios pintores, que sem-
pre a praticaram, mesmo se no tinham conscincia dela
e no faziam sua teoria, que, por essa razo mesma, fre-
quentemente aateciparamajimtura. que. ns praticamos, e
permanecem os I nlrrrcw torni i l f Nl ut i H i l i H i I! H h u l M
ciio pintura. prcciao rutilo primai uuu, I M ul l t i M
para o mundo e no prprio nmnirutii i MI I J H I < H I ' H " ( | | H V MI I I
lhe pedir o segredo de uma roprcuuilmj Uo itflcI rUtl ,
operavam sem querer essa transformao ou P AIM
fose que a pintura em seguida props a ai uiuaiuu
mente como objetivo. Mas ento, para definir u pintura
clssica, no basta sem dvida falar de representaes ou
de natureza, ou de uma referncia a nossos sentidos como
meios de comunicao naturais: no assim que a pintura
clssica nos toca, no nem mesmo assim que ela tocou
seus primeiros espectadores, e precisamos encontrar o
meio de ligar nela o elemento e criao e o elemento de
representao.
Talvez chegssemos a isso examinando mais de perto
um dos meios de representao de que ela mais frequen-
temente se orgulhou: a perspectiva, e mostrando que na
realidade ele era inteiramente criado. Malraux fala s ve-
zes como se os sentidos e os dados dos sentidos, atravs dos
sculos, no tivessem nunca variado, e como se, tanto quan-
to a pintura se referia a eles, a perspectiva clssica impunha-
se a ela. certo no entanto que essa perspectiva Tft? 1inm
lei de funcionamento da percepo, que ela provm da or-
dem da cultura, que uma das maneiras inventadas pelo
homem de projetar diante dele o mundo percebido, e no
o decalque desse mundo. Se ns confrontamos as regras
com o mundo da viso espontnea, logo nos aparece que elas
so uma interpretao facultativa, embora talvez mais pro-
vvel que uma outra no que o inundo percebido des-
minta as leis da perspectiva e imponha outras, mas sobre-
tudo porque ele no exige nenhuma em particular, e que
de uma outra ordem que no elas. preciso no se cansar
de voltar s belas observaes dos psiclogos que mostra-
ram que, na percepo livre e espontnea, os objetos es-
calonados em profundidade no tm nenhum tamanho app-
renBlfinido. Os objetos afastados no so mesmo maiores
do que ensina a perspectiva, a Lua no horizonte no
maior que a moeda que tenho perto de mim, pelo menos
desse tamanho que seria como a medida dos dois objetos:
ela " objeto grande a distncia" ; o tamanho de que se tra-
ta como o quente ou o frio uma qualidade que adere
Lua e que no se pode mais medir por um certo nmero de
partes alquotas da moeda.
64
65
O objeto prximo e o objeto distante no so mais com-
parveis, so um prximo e de uma pequeneza absoluta,
o outro distante e de uma grandeza absoluta, e tudo.
Se quero passar disso perspectiva, prpcJRn
de olhar livremente o espetculo inteiro, que feche um olho
e circunscreva minha viso, que marque num objeto que te-
nho o que chamo a grandeza aparente da Lua e a da moeda,
e que, enfim, eu leve sobre o plano nico do papai as co-
muns medidas que obteuiio. Mas durante esse tempo o
mundo percebido desapareceu : > no posso obter o aennini-
nador comum ou a medida comum que permite a projeo
plana a no ser renunciando simultaneidade dos objetos.
Qnnnrin P M vin f-nm nm sn olhar a. mnP fa P a T,ua. era P re-
-.- ciso que meu olhar se fixasse num dos dois, e o outro me
Aparecesse ento na margem, objeto-pequeno-visto-de-per-
to, ou objeto-grande-visto-de-longe, incomensurvel com o
primeiro, e como situado num outro universo. O que eu
iftvn para n ifflpfl] ppn pst.a. flftyyjstneia dos objetns perce-
bidnsr sua rivalidade diante de meu olhar. Encontro o meio
de arbitrar seu conflito que faz a profundidade. Decido fa-
z-los coabitar num mesmo plano e consigo isso substituin-
do ao espetculo total e coagulando sobre o papel numa s-
rie de vises locais monoculares, das quais nenhuma super-
posvel s partes do campo perceptivo vivo. Enquanto as
coisas disputavam meu olhar, e ancorado numa. H e1 ' " -* * , eu
sentia a solicitao que s outras endereavam. ao .meu
olhar e que as fazia coexistir com a primeira, enquanto eu
estava a cada instante investido no mundo' das" cis' s " in-
vadido por um horizonte de coisas a ver, incompatveis com
*t aquela que eu via atualmente, mas por a mesmo simult-
- neas com ela, construo uma representao em que cada uma
^ cessa, de exigir para si toda a viso, feita de concesses s
outras e consente a s ocupar no papel o espao que lhe
deixado por elas. Enquanto meu olhar percorrendo livre-
mente a profundidade, a altura e o comprimento no se sub-
metia a nenhum ponto de vista, porque os adotava e os
rejeitava todos vez por vez, renuncio a essa ubiquidade
e convenho s fazer, figurar em meu desenho o que poderia
ser visto de um certo ponto de observao por um olho im-
vel fixado sobre um certo ponto de fuga, de uma certa
linha de horizonte escolhida de uma vez pr" todas. En-
quanto eu tinha a experincia de um mundo de coisas, for-
migantes, exclusivas, das quais cada uma chama o olhar e
ipir .s seria iihriu; iulii mediante um percurso temporal onde
ni clu ganho e, uo meamu U-mpo porcld, ols que esse mundo
iTl.-itiiH xa numa perspoctivu urduudu onde os longnquos se
n-iigmim a s longnquos, inacessveis e vagos como convm,
onde os objetos prximos abandonando algo de sua agres-
.-ilvldade, ordenam suas linhas interiores segundo a lei co-
mum do espetculo, e se preparam j para se tornar lon-
l-.nquos, quando for preciso, onde nada em suma engate o
olhar e faa figura de presente. Todo o quadro est no ps- ,
. indo, no mundo do completo ou da eternidade; tudo toma
um ar de decncia e de discreo; as coisas no me intr-
pt-lam e no sou comprometido por elas. E se acrescento a
riisc artifcio da perspectiva geometria o da perspectiva
area, como o fazem em particular tantos quadros venezia-
nos, sente-se a que ponto aquele que pinta a paisagem e
aquele que olha o quadro so superiores ao mundo, como o
dominam, como o abraam com o olhar. A perspectiva
muito mais H A n i^sgrftflo tcnico para representar
uma realidade que se daria a todos os homens dessa ma-
neira: ela a realizao mesma e a inveno de um mundo
dominado, possudo de parte em parte, num sistema instan-
tneo, cujo olhar espontneo nos oferece no mximo o es-
boo, quando tenta vmente conter juntas todas as coisas
das quais cada uma o exige por inteiro. A perspectiva geo-
mtrica no mais a nica maneira de ver o mundo sens-
vel como o retrato clssico no a nica maneira de ver o
homem. Esses rostos, sempre a servio de um carter, de
uma paixo ou de um humor sempre significantes su-
pem a mesma relao do homem com o mundo que se l
na paisagem clssica, a relao do adulto seguro de si com
o mundo que domina. A expresso da infncia da -pintora
clssica quase " H fa a ria, ir^nria p^^ i prpria e foi
qual ela vive. o olhar pensativo que admiramos s vezes
nos bebs ou nos animais porque_Jaz.p,rP ns H P I P S n emblema
de uma meditao de affuTToTquando no passa da ignorn-
cia de nosso " mundo. A pintura clssica, antes de ser e para
ser representao de uma realidade e estudo do objeto, deve
ser primeiro metamorfose do mundo percebido num universo
peremptrio e racional, e do homem emprico^confuso e
incerto, em carter identificvel.
I mporta compreender a pintura clssica como uma
criao, " te isto, no prprio momento em que quer ser repre-
sentao de uma realidade. Dessa colocao em perspectiva
66
67
depende a ideia que se far da pintura &Qdernjfc> Enquanto
se acredita que a objetividade dos clssicos "justificada pelo
funcionamento natural de nossos sentidos e fundada sobre
a evidncia da percepo, qualquer outra tentativa s pode
ser considerada se romper .com a objetividade e com a per-
cepo, voltar-se para o indivduo e fazer da pintura uma
cerimnia em sua honra. H s um tema em pintura, que
o prprio pintor1. No mais o aveludado dos pssegos que
se procura, como Chardin, , como Braque, o aveludado do
quadro. Enquanto os clssicos eram eles mesmos sem que-
rer, os pintores modernos procuram primeiro ser originais
e seu poder de expresso se confunde com sua diferena in-
dividual2. J que a pintura no mais para a f ou
para a beleza, ela para o indivduo3, ela a anexa-
o do mundo pelo indivduo4. O artista ser ento "da fa-
mlia do ambicioso, do drogado5", voltado como eles a um
nico prazer teimoso e montono, prazer de si mesmo e pra-
zer do si mais individual, o menos cultivado, prazer do de-
mnio, de tudo o que, no homem, destri o homem... Mal-
raux sabe, no entanto, que a pintura moderna no s isso
e que estaramos maT^aplicando a Czanne ou a Klee por
exemplo essa definio. Sim, pintores modernos entregam
como quadros esboos que os clssicos guardavam para si,
mesmo quando eram mais eloquentes que seus quadros, e
procuravam traduzir na linguagem toda explcita de uma
obra acabada. Sim, em alguns modernos, o quadro no
passa da assinatura, a marca de um momento de vida, cede
para ser visto em exposio, na srie de obras sucessivas,
enquanto que o quadro clssico se bastava e se oferecia
contemplap. Mas a tolerncia do inacabado pode querer
dizer duas coisas: ou bem de fato que se renuncia obra e
no se pretende mais do que a expresso imediata do ins-
tante, do sentido e do indivduo expresso 'bruta, como
diz ainda Malraux ou que o acabamento, a apresentao
objetiva e convincente para os sentidos, no mais conside-
1. O Museu Imaginrio, a Psicologia da Arte, Skira, p. 59. (Todas as
citaes de Malraux foram tiradas dessa edio; no foi possvel com-
par-los edio Gallimard de Voix du Silence, j que os dois textos
publicados pelo escritor so sensivelmente diferentes.)
2. Ibid., p. 79.
3. Ibid., p. 83.
4. La Monnaie de FAbsolu, p. 118.
5. La Cration artistique, p. 144.
68
rada como necessria nem mesmo como suficiente; e que se
encontrou alhures o sinal prprio da obra consumada. Bau-
dclaire escreveu, o que Malraux lembra, "que uma obra fei-
ta no era necessariamente acabada e uma obra acabada
no necessariamente feita6." "Sublinhemos as ltimas pala-
vras, e compreenderemos que os modernos, pelo menos os
melhores e mais preciosos, no procuram o inacabado pelo
Inacabado, que colocam acima de tudo o momento em que
a obra est feita, esse momento, precoce ou tardio, em que
o espectador atingido pelo quadro, retoma misteriosa-
mente por sua conta o sentido do gesto que o criou e, sal-
tando os intermedirios^sein-outraguia ano serjimjmo-
vimento da linha inventada, um trao do pintor quase des-
provido de matria, alcana o mundo silencioso do pintor,
a partir de ento proferido e acessvel. H a improvisao
dos pintores-crianas, que no aprenderam seu prprio ges-
to; eles se deixam possuir e dissolver pelo instante, e sob
nico prazer teimoso e montono, prazer de si mesmo e
pretexto que um pintor uma mo, pensam que basta ter
uma mo para pintar. Tiram de seu corpo prodgios me-
nores como um jovem moroso pode sempre tirar do seu,
bastando que o observe com complascncia suficiente, al-
guma pequena estranheza boa para alimentar sua religio
de si mesmo ou da psicanlise. Mas frfi tambn a improvi-
sao daquele que, virado para o mundo, uma obra fazendo
a curta escala outra, acaba por se constituir um rgo de
expresso e como uma voz aprendida que rnqls sua que
seu ^ritojagjnrigens. H a improvisao da escritura auto-
mtica e h aquela de La Chartreuse de Parme. Uma das
grandezas do pensamento e da arte moderna ter desfeito
os falsos laos que uniam a obra vlida e a obra acabada. J
que a prpria percepo nunca acabada., j que no nos
d um mundo a exprimir e a pensar a no ser atravs das
perspectivas parciais que invade de todos os lados, que sua
inenarrvel evidncia no daquelas que possumos, e que
enfim s se anuncia tambm por sinais fulminantes como
pode s-lo uma palavra, a permisso de no acabar no
necessariamente preferncia dada ao indivduo sobre mun-
do, ao no-significante sobre o significante, fia pode ser
tambm o reconhecimento de uma maneira de comunicar
que no passa pela evidncia objetiva, de uma significao
que no visa a um objeto j dado, mas o constitui e o inau-
6. L Muse Imaginaire, p, 63.
69
gura, e que s prosaica porque desperta e reconvoca por
inteiro nosso poder de exprimir e nosso poder de compreen-
der. A pintura moderna nos coloca todo um outro problema
que no o da volta ao indivduo: trata-se de saber como se
pode comunicar sem o socorro de uma natureza preestabe-
lecida e sobre a qual nossos sentidos se abririam a todos,
como pode haver a uma comunicao antes da comunjca-
o e enfim uma razo antes da razo.
Sobre esse ponto, Malraux, em certos trechos de seu li-
vro, ultrapassa seus enunciados contestveis sobre o indi-
vidualismo da pintura moderna, e vai mais longe do que
jamais se esteve, desde que Husserl mtroduziu^na.ra traduzir
nossa relao original ao mundo. _ a noo deesf^ ) que o
pintor procura colocar num quadro, no e o seu imediato,
a prpria nuana do sentir, seu ,estilo7 e tem tanto a con-
quistar sqbre_ seus_ DrnrQS,nBaios^. snhrp n SR ^ Hp.rift, copio
sobre a pintura dos outros ou sobre o mundo. Quanto tempo,
diz Malraux, antes que o escritor tenha aprendido a falar
com sua prpria voz. Da mesma maneira, quanto tempo an-
tes que o pintor que no tem, como o historiador da pintu-
ra, a obra exibida a sua viso, mas a faz, reconhea, afoga-
do em seus primeiros quadros, os lineamentos do que ser,
mas somente se ele no se engana sobre si mesmo, sua obra
feita... Para dizer a verdade, no mesmo neles que ele se
discerne a si prprio. O pintor no mais capaz de ver seus
quadros do que o escritor de se ler. Essas telas pintadas,
esses livros, tm com o horizonte e o fundo de sua prpria
vida uma semelhana demasiado imediat.a para que um
e outro possam experimentar em todo o seu relevo o fe-
nmeno da expresso. preciso outros fluxos interiores
para que a virtude das obras expltfda_ suscitando nelas signi-
ficaes de que no eram..capazes. mesmo neles somente ,
/que as significaes so significaes: para p escritor ou para \ o pintor, s h a ajusn dn au an qe.v, familiaridade do ron-
1 ronar pessoal pomposamente chamado monologo interior,'
no menos enganador que o que temos com nosso corjxTou,
como dizia Malraux justamente em A Condio Humana,
que nossa voz ."ouvida pela garganta"... O pintor faz seu_
rasto, mas, salvo quanto se trata de oDras j antigas e onde
ele se diverte em reencontrar o que depois se tornou, ele
no gosta tanto de olh-lo: ele tem melhor atravs de sij^
para ele tudo est sempre no presente, o fraco acento de
suas primeiras obras eminentemente contido na lingua-
r - I N . [ < ,'iiiit iimlurlilmln, muni u uKMMifhl H HiltillillNHM, H H
[tilo (Ir rn.Ho pur l l i- iil ni i-ni < piiil ipii> i U U U I MK| | | M MHIt<IHll*ft
l Mi-m ;ic vol tar puni MUin piliiirliun uUliU, D pcln lllll
l n l M i Ir I r i V l l l CUISUIUUUO CCTUltt OpClUCQua I' J IUJ L ' M 1 V IU. "
mrri l or ( ; o pintor so dutudos cuniu de nuvua ruAnn o im
pr i i nu- nU i i n, nessa nova condio que se U urum, u t i xn-. vi n-
i l n que est a_diz?r sobre seus poderes extraordinrios, so
rupn/r: ; a menos que um misterioso esgotamento inter--
vmhii, dos quais a histria oferece exemplos de ir no:
M ni mo sentido mais longe, comqjse se alimentassem de,
iiiu .substncia, crescessem com seus dons, como se cada
piisso feito exigisse e tornasse, possvel um outro passo,-
niino se, enfim, cada expresso conseguida prescrevesse" ao-
autmato espiritual uma outra tarefa ou ainda fundasse1
uma instituio da qual ele no terminaria de verificar o
exerccio. Assim, esse esquema interior que se realiza,
M-mpre mais imperiosamente nos quadros, ao ponto da fa-
mosa cadeira tornar-se para ns "um brutal ideograma do
prprio nome de Van Gogh7", para Van Gogh no est es-:
bocado em suas primeiras obras, no mais legvel no que.
chamamos sua vida interior, pois ento Van Gogh no te- ,
ria precisado de quadros para se alcanar, e cessaria de*
pintaL Ele essa vifla na mpHiHn Pm rpip pia $a1 de sua.
inernciaTe de seU silncio} que sua diferena a mais prpria1
pare de gozar A.S mesrna .eJflrnfcsg^gTorde compreender e;
de fazerj!nmpreender. de ver e fazer ver^- no ento f-
chada em algum laboratrio privado, no mago do indiv-;
duo mudo, mas difuso em seu comrcio com o mundo visi-
vel, espalhado em tude-o que ele-v. O estilo o que torna,
possvel toda significao. Antes do momento em que os
sinais ou emblemas se tornarem em cada um e no prprio
artista o simples ndice de significaes que ali j esto, ,
preciso que haja esse momento fecundo em que eles deram
forma experincia, pn^qug um ae.ntdQ- que so era
te mi mrpTvrp| Pnpnnt.rnn na emlflfimaa qiifi t;
c torn-lo manejvel para o artista e acessvel aosjmiios.
Se queremos verdadeiramente compreender a origem da sig-
nificao e, se no o fizermos, no compreenderemos ne-:
nhuma criao, nenhuma cultura, retornaremos suposio
de um mundo inteligvel onde tudo tenha anteriormente
significado , preciso aqui nos privar de Ioda. significa-
o j instituda, e voltar situao de partida de um mun-
t
7. O Museu Imaginrio, pp. 79-80. '
70 71
do no-significante que sempre a do criador, pelo menos
respeito do que justamente ele vai dizer. Meamos bem o
problema: no h a compreender como significaes, ou
ideias, ou procedimentos dados vo ser aplicados a esse
objeto, que figura imprevista vai tomar o saber nessa cir-
cunstncia. H primeiro a compreender como este objeto,
esta circunstncia se pem a significar, e em que condi-
es. Na medida em que o pintor j pintou, e em que ele
o""certa maneira mestre de si. inesrno., o que lhe dado
como seu estilo, no um certo nmero de ideias ou de ti-
ques dos quais ele possa fazer o inventrio, um modo de
formulao to reconhecvel pelos outros, to pouco vis-
vel para ele mesmo quanto sua silhueta ou seus gestos de
todos os dias. Quando ento Malraux escreve que o estilo
o "meio de recriar o mundo segundo os valores do homem
que o descobre8" ou que ele a "expresso de uma significa-
o emprestada ao mundo, apelo, e no consequncia de
uma viso9" ou enfim que ele "a reduo a uma frgil
perspectiva humana do mundo eterno que nos arrasta numa
deriva de astros segundo seu ritmo misterioso10",, certo
que essas definies no vo ao centro dojenmeno: elas
no scolocam no momento em que o\esglQ> onera, ^elas so
retrospectivas, elas nos indicam certas consequncias dele,
mas no o essencial. Quando o estilo est no trabalho, o pin-
tor no sabe nada da anttese do homem e do mundo, da sig-
nificao e do absurdo- l que o homem e a significao se
desenharam sobre fundo do mundo justamente pela opera-
co do estilo. Se esta noo, como acreditamos, merece o
crdito que Malraux lhe abre, com a condio de que ela
seja primeira, e que o estilo ento no se possa tomar por
objeto, j que ele ainda no nada e s se tornar visvel na
obra. No podemos dizer seguramente que o estilo seja um
meio de representar, o que seria supor-lhe algum modelo
exterior, e supor a pintura feita antes da pintura, mas tam-
bm no que a representao do mundo seja "um meio do
estilo11", o que seria faz-lo conhecido anteriormente como
um fim. preciso v-lo aparecer ao ponto de contato.do
pintor e jo mundo, no fundo de sua percepo de pintor e
como uma exigncia sa3a~3ela. lualraux o mostra numa de
8. A Criao Artstica, p. 151.
9. Ibid., p. 154.
10. Ibid., p. 154.
11. Como o diz Malraux em A Criao Artstica, p. 158.
N i i i i - i melhorem purtrmxP iiN u | i iii m/ ftw IA MUUM* U m* nt i l
Mi n que pussa, nuu u pi i mui i u jw m nim U ni 1' Hi i l i t i ht t mil1
pnmi , um manequim colorido, um nNiN< lA iMlliJ ( < ill Ul IU|*i
U M r.spuo, "uma expressuo individual, l uml l i nci i l nl ,
K iinl ", uma^trne^toda inteira presente, cum uuu vluur ti
nuu fraqueza, no andar ou mesmo no choque do sulto no-
bre o cho. uma maneira nica de variar o acento do
fier feminino e atravs dele do ser humano, que compreendo
rcimo compreendo uma frase, porque ela encontra em mim
o nlstema de ressonncias que lhe convm. J ento a per-
cepo estiliza, quer dizer que ela afeta todos os elementos
de um corpo ou de uma conduta, de uma certa comum des-
vluo em relao a alguma norma familiar que eu possuo
em meu ntimo. Mas, se eu no sou pintor, essa mulher que
passa s fala ao meu corpo ou ao meu sentimento da vida.
Sc eu o sou, essa.primeira significao vai suscitar uma
outra. No vou somente retirar sobre minha percepo
visual e levar para a tela os traos, as cores, os tra-
ados, e esses somente, entre os quais se tornar manifes-
to o valor sensual ou o valor vital dessa mulher. Minha es-
colha e os gestos que ela guia vo ainda se submeter a "uma
condio mais restritiva: tudo o que encontrava, compa-
rado a^_realobsen)^eZ, ser... submetido a um princpio
de deformao mais secreto, que far com que, enfim, o que
o espectador ver sobre a tela no ser mais somente a
evocao de uma mulher, npm fle. iiT flq. profisso, nem de
uma conduta, nem mesmo de uma concepo da vida
( a do modelo ou a do pintor) mas de uma maneira tpica
de habitar o mundo e trat-lo, enfim de signific-lo pelo
rosto co~mo pela roupa, pela carne como pelo esprito. "T odo
estilo a colocao em forma dos elementos do mundo que
permitem orientar este para uma de suas partes essen-
ciais12". H significao logo que submetemos os dados do
mundo a^uma "aetormaao" coerente13". Mas de onde vem \e ela nos parea coerente e que todos os vetores visveis )
e morais do quadro convirjam para a mesma significao /
X? Eles no podem, dissemos, reenviar a nenhuma ordem
de significaes preestabelecidas.' . preciso ento qutT o
mundo percebido plo homem seja tal que possamos fazer
nele aparecer, por um certo arranjo de elementos, os em-
12. Citado por Maurice Blanchot, "O Museu, a A rte e o T empo", iu
Critique, n. 43, dezembro 1950, p. 204.
13. A Criao Artstica, p. 152.
72
73
blemas no somente de nossas intgncfifis
ainda."cnTrissa reiaa mais ltima cnm nCse/-Jo mundo
percebido e talvez mesmo o^doDensamento feito de tal
maneira que no se pode coloc;rife^o que quer que seja
que no assuma logo sentido nosTSTmos de uma lingua-
gem da qual nos tornamos depositrios, mas que tareia
tanto quanto herana. Basta que, no pleno das coisas, c ui i i r-
mos de certos ocos, certas fissuras e desde que, .yr^emos,
ns oTzemos -- para fazer vir ao mundo aquilo mesmo
que lhe mais estranho: um sentido,)uma incitao irm
aas que nos arrastam para o presente ou o lutunTTO" o
passado, para o ser e p no ser... H estilo ( da signifi-
cao) desde que h figurai e^funSo. uma norma e^ um
desvio, um alto c um Baixo, _ ou seja, desde que cfs "ele-
mentos do mundo tomam valor de dimenses segundo as
quais a partir de ento mpri i mns tnri n n rgio, em relao . .
s quais indicamos todo o resto. O estilo em cada pi ntr
o sistema de equivalncias que ele se constitui para esta
obra de manifestao, o ndice geral e concreto da defor-
Btggg_ coerente pela qual ele concentra a significao ain-
da esparsa em sua percepo, e a faz existir expressamente.
^ A e^re^sJ^^ictui^re^ojna^e^gP-P^^ a .colocao
em forma d mundo que comeada na percepo, ' dizer
que a obra no se f az longe das coisas e em algum labora-
trio ntimo, do qual o pintor teria, e s ele, a chave. di-
zer tambm que ela no de sua parte um decreto arbi-
trrio, e que ele se relaciona sempre com seu mundo como
se o princpio das equivalncias pelas quais vai manifest-lo
estivesse ali desde sempre enterrado. No preciso aqui
jque_.os . escritores subestimem o trabalho, o sntcto do""pin-
tor, e sob pretexto que de f ato a pintura_ pintura, e_ nao
palavra, esqueam o que h de metdico na procura do
pintor. verdade, seu sistema de equivalncias, mal tirado
do espetculo do mundo, ele investe de novo nas cores, num
espao, sobre uma tela; o sentido impregna o quadro mais
que o quadro o exprime, "Esta rasgadura amarela do cu
acima do Glgota . . . uma angstia feita coisa, uma an-
gstia que se tornou rasgadura amarela do cu e que assim
fica submerso, empastado pelas qualidades prprias das coi-
sas...14" O sentido se entranha no quadro, habita ou ob-
seda o quadro, treme sua_ volta "como^iuna bruma de ca-
lor15" mais do que e mani f estado por ele, fi. gomo "um es-
14. J. P. Sartre, Situations II, N. R. F., p. 61.
15. Ibi d., p. 60.
74
!HM;M llll(MINI) PVitn. > i f ' l l l | > M' pillllilii II l l | l < h > l il l l l l l l l ui ril l l cO
i r i i r u I n i t i " ' l nu M r u p i l ml l n < | i i i ' u i i i i l i i i r / n i lu ( ( mnl m
i hr probr p x p i i i u i i H! * f n Impw i Ni li i P Ulvr* I t n v M f t v H i < n
l, i r os pr o l . sNl ni i nl M du l l i i | ' . i i u| ' , ni i , nni l i l nr n I l i r n u i | i i n nni
urontecc ouvindo uni a lli i ^ui i r.si ni n^rlnt i pi r f uhi moM i nti l
ri a nos parece sempre montona, murc adu tlr. ubor f orlr
demai s e sempre a mesma, justamente porque ela no 6
u nossa e no fizemos dela o instrumento principal de nos-
iius relaes com o mundo. O sentido do quadro perma-
nece cativo para ns, que no nos comunicamos com o mun-
do pela pintura. M as para o pintor e mesmo para todos
os apaixonados da pintura bem preciso que ele seja
mais que uma bruma de calor na superfcie da tela, j que
cie capaz de exigir esta cor ou este objeto de preferncia
a qualquer outro, e que comanda tais arranjos subordina-
dos to imperiosamente quanto uma sintaxe ou uma lgi-
ca. .. Claro, o sentido dessa rasgadura amarela do cu,
acima do Glgota, permanece cativo da cor, como o avelu-
dado permanece cativo do azul ou a alegria cida do verde
ma. M as todo o quadro no est nisso. Essa angstia ade-
rente cor s um componente de um sentido total e-
nos pattico, mais durvel, mais legvel, e que permanecer
em ns quando tivermos_h muito tempo deixado o quadro
com' ls oinos. M airaux tem razo de contar a anedota" cfo
hoteleiro de Cassis que v Renoir trabalhando diante do
mar e aproxima-se: "eram mulheres nuas que se lavavam
num outro lugar. Ele olhava no sei o que, e mudava so-
mente um cantinho." E M alraux prossegue: "O azul do
mar tinha-se tornado o do regato das Lavandires. . . Sua_
viso era menos uma maneira de olhar o mar do que a se-
creta elaborao de um mundo ao qual pertencia aquela
profundidade de azul que ele retomava imensido17". M as
justamente, por que o azul do mar pertencia ao mundo da
pintura de Renoir? Como podia ele lhe ensinar alguma
coisa a respeito do regato das Lavandires? tf. gn*
mento . do mundo, e especialmente o mar, s vezes crivado
de turbilhes, plumas "e vmcos^.QU enTao macio, espesso^
e imvel em si mesmo, exibe um nmero ilimitado de iigu-
ras do ser, mostra uma certa maneira que tem de respon-
der e viErar sob o ataque do olhar, que evoca todas as es-
pcies de variantes, e, enfim, ensina, alm dele mesmo,
16. Ibid., p. 61.
17. A Criao Artstica, p. 113.
75
uma maneira geral de falar. Pode-se pintar mulheres nuas
um regato de gua suave diante do mar em Cassis, por- .
que s se pede ao mar a maneira que ele tem de interpre-
tar a substncia lquida, de manifest-la e comp-la com
ela mesma para lhe fazer dizer isto ou aquilo, em suma,
uma tpica das manifestaes da gua. Fode-se pintar
olhando o mundo porque o estilo que definir o pintor para /
j os outros, parece-lhe encontr-lo nas prprias aparncias/
i (enquanto, bem entendido, elas so aparncias suas).
Se, como o exprime ainda Malraux, a pintura ocidental
variou to pouco seus assuntos, se, por exemplo, de gerao
em gerao e desde Rembrandt at Soutine, o boi esfolado
reaparece, que no necessrio, para atingir a pintura,
explorar pacientemente todas as coisas, nem mesmo ruim,
para manifestar um estilo, tratar novamente um tema j
tratado, e que enfim a pintura um sistema de equivaln-
cias e de significaes que mais convincente fazer aflo-
rar num obj eto familiar ou frequentemente pintado que
num obj eto desconhecido, onde elas arriscam se'afundar.
"Um certo equilbrio ou desequilbrio peremptrio de cores
e de linhas transtorna aquele que descobre que a porta
entreaberta l a de um outro mundo18." Um.QUtro mundo__
entendamos: o mesmo mundo que o pintor v, e falan-
do sua prpria linguagem, mas liberado do peso sem npgie
que o retm atrs e mantm no equvoco. Como o pintor
ou o poeta seriam outra coisa a no ser seu encontro com
- o munp? ue que falariam? De que mesmo a arte abstrata
falaria, seno de uma certa maneira de negar ou de recusar
o mundo? A austeridade, a obsesso das superfcies ou das
formas geomtricas tem ainda um odor de vida, mesmo se
se trata de uma vida vergonhosa ou desesperada. A pintura
reordena o mundo prosaico e faz, se quisermos,. .um.,nola=.
causto de obj etos como a poesia faz queimar a linguagem
comum. Mas, quando se trata de obras que amamos rever
ou reler, a desordem sempre uma outra ordem, um novo
sistema de equivalncias exige esse transtorno, no qualquer j
um, e em nome de uma relao mais verdadeira entre '
l as coisas que seus laos comuns so desatados.
Um poeta, uma vez por todas, recebeu por tarefa tra-
duzir essas palavras, essa voz, esse sotaque, dos quais cada
coisa ou cada circunstncia lhe reenvia o eco. No h mu-
danas na linguagem comum diante da qual ele recue pa-
ra chegar ao fim de sua tarefa, mas ele no prope nenhum
18. A Criao Artstica, p. 142.
que nuu rinju mnt.lviidn l imlnirviM. rrtntwcndo n primeiro
m:.ninho dr O l,!iu. l , i. < ! < < Muh hl-.iur n irr.irrilimKm
SCguldil, MTM l{n|'.ii|lnr Mir, u .il l l r.l l l l l l rnu mio i- i |i lllli |li ri
uma, r l ; i sc funda .solm- o M. -. l mm de r qi i l vul r nr l i i M. mi mr
lhor, sobre o princpio de sclco e sobre u reuni dr c-x
presso que prescreve esse romance, destinado como oat
a comunicar isto e no aquilo. "O personagem substitu-
do por um outro, como, num quadro, uma j anela, clara de-
mais para a parede que perfura, substituda por uma/
armao de cachimbos19". A significao comum da j anela,
da armao de cachimbos, da parede no negada, j que
sempre do mundo que falamos se queremos ser entendi-
dos, mas pelo menos reintegrada a uma significao mais
originria, mais ampla, sobre a qual retirada. O aspecto_
da parede, da j anela, dos cachimbos no vale somente j >ara
Indicar, alm de si mesmos, utenslios a manej ar. Ou me-
Ihor pois a percepo sempre .ao , a ao, acj ui,
torna-se gragi, quer dizer que ela se recusa s abstraes
do til e nEuTntende sacrificar os meios ao fim, _aparn-
cia realidade. Tudo conta a partir de ento, e o uso dos
obj etos menos que sua aptido a compor j unto, at em
sua textura ntima, um emblema vlido do mundo ao qual
somos confrontados.
Nada de espantoso se essa viso sem viseiras, essa ao
sem partipris, descentram e reagrupam os obj etos do mun-
do ou as palavras. Mas nada tambm de mais louco que
acreditar que basta quebrar a linguagem para escrever Ls
Illuminations. Malraux nota profundamente pintores mo-
dernos que, "se bem que nenhum falasse de verdade, todos,
diante das obras de seus adversrios, falavam de impos-
tura20". Eles no querem mais falar de verdade na medida
em que a palavra evoca uma adequao entre a coisa e a
pintura. Mas eles no recusariam sem dvida falar de ver-
dade se se entendesse por ela a coerncia de uma pintura
consigo mesma, a presena nela de ura princpio nico que
prescreve a cada elemento sua modulao. Os clssicos,
cuj a arte ia bem alm, viviam pelo menos na iluso repou-
sante de uma tcnica da pintura que permite aproximar o
prprio veludo, o prprio espao... Qs-mndernos bpm sa-
bem que nenhum espetculo no mundo se impe totalmente
percepo, e ainda menos bem uma pintura, e que a ze-
bruna imperiosa do pincel pode mais para nsj Eazer possuir
19. A Criao Artstica, p. 147.
20. A Moeda do Absoluto, p. 125.
76 77
com o olhar a l_ou a_carne do que a reconstituiro mais
paciente das aparncias. Mas o que eles colocaram no lu-
gar de uma iiispeffb do esprito que descobriria a prpria
textura das coisas, no o caos, a lgica alusiva -do-mun-
do. Eles no tm mefos que os clssicos a inteno de sig-
nificar, a ideia de qualquer coisa a dizer, da qual podemos
aproximar-nos mais ou menos. Simplesmente "ir mais lon-
ge" de Van Gogh no momento em que ele pinta Ls Cor-
beaux no indica mais alguma realidade para a qual seria
preciso marchar, mas o que resta a fazer para exprimir
mais ainda o encontro e o conflito do olhar com as coisas
que solicitam, do corpo com o mundCLque ele habita, da-
quele que tem a ser com aquilo que . Se a que a arte
significa, claro demais que no pode faz-lo parecendg^se
com as coisas ou com os seres do mundo. "Como sempre
em arte, mentir para ser verdadeiro", escreve Sartre com
razo. Diz-se que o registro exato da conversao mais bri-
lhante d em seguida a impresso da indigncia. Aqui a
verdade mente. A conversao exatamente reproduzida no
mais o que era quando a vivemos: faltam ai a presena
dos que falavam, todo esse acrscimo de sentidos que do
os gestos, as fisionomias, que d sobretudo a evidncia de
um acontecimento que teve lugar, de uma inveno e de
uma improvisao continuadas. A conversao no existe
mais, no provoca mais de todos os lados ramificaes, ela
achatada na nica dimenso do sonoro. Em vez de nos
convocar inteiros, s nos toca levemente, pelo ouvido. _di-
zer que, para nos satisfazer como pode faz-lo, a obra de
arte que, ela tambm, s se enderea comumente a um de
nossos sentidos, e que em todo caso nunca nos d o gnero
de presena que pertence ao vivido, deve ter um poder que
faa dela, no a existncia esfriada, mas a existncia su-
blimada, e mais verdadeira que a verdade. A pintura mo-
derna, como em geral o pensamento moderno, nos obriga
totalmente a compreender o que uma verdade que no
se parece s coisas, que seja sem modelo exterior, sem ins-
trumentos de expresso predestinados, e que seja, no en- j
tanto, verdade.
Mas, enfim, perguntar-se-, talvez, se verdadeiramente
a pintura era uma linguagem, haveria meio de dar na lin-
guagem articulada um equivalente do que ela exprime sua /
maneira. Que diz ela ento?
Se enviarmos, como tentamos f azer, o pintor ao contato
de seu mundo, talvez encontraremos menos enigmtica a
78
( | m< iilnivc* ilHn liiniutninm II iiminlnMH |iln
1 , 1 Mil, r.SMU que, di-idi- ;irii:i riiniiv* ulu u Iliut til lilinln, n nillilii
rm ai mesmo, o esau ouliii que, u uulll U U U U A"* r ci U i l i nu
rrrl.aa obras do puasudu c lhes umincu u n i rro que H un
nunca haviam tido. Quando um escritor olna os pintores,
rir lia um pouco na situao em que se encontram os
amantes de literatura a respeito do prprio escritor. O que,
pensam, eis ento o que faz de seu tempo o escritor que
H asto tanto? Eis a casa em que ele mora? Eis a mulher com
u qual ele partilha sua vida? Eis as pequenas preocupaes
il que est cheio? Ns pensamos no escritor a partir da
obra como pensamos numa mulher distante a partir das
Circunstncias, das palavras, das atitudes em que ela se ex-
primiu mais puramente. Quando reencontramos a mulher
umada ou quando conhecemos o escritor, ficamos tolamente
decepcionados de no reencontrar em cada instante de sua
presena aquela essncia de diamante, aquela palavra per-
feita, que nos habituamos a designar por seu nome. Mas
a s se trata de prestgio (s vezes mesmo inveja, dio
secreto). Q,segundo grau da maturidade compreender que
no h super-homem. nenhum homem que no tenha 3e
viver uma vida de homem, e que o segredo da mulher amada,
do escritor e do pintor no est em algum alm de sua
vida emprica, mas to estreitamente misturado s suas
mnimas experincias, to pudicamente confundido com
sua percepo do mundo, que no poderia ser questo de
reencontr-lo parte, face a face. Lendo a Psicologia da
Arte, surpreendemo-nos s vezes de ver que Malraux que,
como escritor no tem nada a invejar a ningum, e sabe
seguramente disso, o esquece quando se trata dos pintores,
vota-lhes o mesmo gnero de admirao que no aceitaria
de seus leitores, e os transforma em deuses. "Que gnio no
fica fascinado por esta extremidade da pintura, por esse
apelo diante do qual o tempo vacila? o instante da pos-
sesso do mundo. Que a pintura no possa ir mais longe,
e o velho Hals torna-se deus21". Isto o^intop visto por
outro. Para ele mesmo, no nada disso. um
ao trabalho, que reencontra cada manh, na configurao
que as coisas_ r tomam sob., seus olhos, o mesmo apelo, a
mesma exigncia, a mesma incitao imperiosa qual
nunca acabou de responder. Sua obra no se acaba, ela
est oompro no^utui* * . U m dia, a vida foge, o corpo se
21. A Criao Artstica, p. 150.
79
desfalca. Outra vez, e mais tristemente, a interrogao
esparsa atravs dos espetculos do mundo que cessa de se
pronunciar. Ento o pintor no mais ou pintor honor-
rio. Mas enquanto pinta sempre aberto para as coisas ou,
se ou torna-se cego, sobre esse indivduo irrecusvel que
se deu a ele, no primeiro dia de sua vida, como o que era
preciso manifestar. E porque seu trabalho, obscuro para
ele mesmo, no entanto guiado e orientado. Ele s v a
trama, e s os outros podem ver seu lugar, porque o que lhe
implicitamente dado a cada minuto de sua experincia
no pode ter sob seus olhos o relevo e a configurao im-
previsvel da vida de outrem. Mas esse encaminhamento
do cego , no entanto, juncado pelos indcios: jamais ele cria
no vazio, ex-nihilo. S se trata de levar mais longe o mesmo
rasto j esboado no mundo como ele o v, em suas obras
precedentes ou nas do passado, de retomar e generalizar
esse acento que tinha aparecido no canto de um quadro
anterior, de converter em instituio um costume j insta-
lado sem que o prprio pintor possa jamais dizer, porque
isto no tem sentido, o que dele e o que das coisas, o que
estava em seus precedentes quadros e o que ele ali acres-
centa, o que tomou de seus predecessores e o que seu.
A tripla retomaria, pela qual ele continua ultrapassando,
conserva destruindo, interpreta deformando, infunde um
sentido novo ao que no entanto_hamava e antecipava esse
sentido, no somente metamorfose no sentido dos contos
de fadas, milagre ou magia violncia ou agresso, criao
absoluta numa solido absoluta, tambm uma resposta
ao que o mundo, o passado, as obras anteriores lhe..pediain,
consumao, fraternidade. Husserl empregou a bela pala-
vra de Stiftung para designar primeiro essa fecundidade
indefinida de cada momento doJiejnno, que justamente por-
que ele singular e que passa, nunca poder cessar de .ter
sido ou de ser universalmente e, mais ainda, a fecundi-
dade, derivada daquela, operaes de cultura que abrem uma
tradio, continuam valendo aps seu aparecimento hist-
rico, e exigem alm delas mesmas operaes outras e as
mesmas. assim que o mundo desde que ele o viu, suas
primeiras tentativas e todo o passado da pintura, criam para
o pintor umajtradico; quer dizer, diz Husserl, o esqueci-
mento das origens, o dever de recomear de outra maneira
e de dar ao passado, no uma sobrevivncia que a forma
hipcrita do esquecimento, mas a eficcia da retomada ou
da repetio que a forma nobre da memria.
M n l i n i i K l l i nU l n HM I I I * I I I | HH I l A li i l Hl l * Hl u H I | H
nu r ni ni MI n ilu t i Mpl i l l n l > l l | t t M I | H H A l W H I
I nimigos, Delocrulx n I M^ I P N , mi ni i n u pni l m hi nd u I HI MI
t i ht rrr o mesmo tempo, ctuirN p f i i l . u t P N i j i i n MH I J I I P I U I U
rliis.slcos e so neoclssicos, quer dlxrr < > r i ml i i ul u, P N N K N
rfd.llus que escapam ao olhar de seu criador c s m- t omam
vlHlvcls quando o Museu rene as obras dispersadas atra-
vs da terra, ou quando a fotografia aumenta as miniatu-
ras, transforma por seus enquadramentos um pedao do
quadro, transforma em quadros os vitrais, os tapetes e as
moedas, e d pintura uma conscincia de si prpria que
c sempre retrospectiva. "... Como se um imaginrio esp-
rito da arte crescesse de miniatura em quadro, de afresco
cm vitral, uma mesma conquista, e repentinamente a aban-
donasse por uma outra, paralela ou repentinamente oposta,
como se uma torrente subterrnea de histria unisse, arras-
tando-as, todas essas obras esparsas (. . . ). U m estilo conhe-
cido em sua evoluo e suas metamorfoses torna-se menos
uma ideia do que a iluso de uma fatalidade viva. A repro-
duo, e ela s, fez entrar na arte esses Superartistas ima-
ginrios que tem um confuso nascimento, uma vida, con-
quistas, concesses ao gosto da riqueza ou da seduo, uma
agonia e uma ressurreio,, e que se chamam estilos**."Se a
expresso criadora a respeito do que ela metamorfoseia* ,
22. O Museu Imaginrio, p. 52.
* N a margem: 1) A metamorfose (aquela l ou, em geral, a do pas-
sado pelo presente, do mundo pela pintura, do passado do pintor
por seu presente) no no entanto mascarada. Ela s possvel
porque o dado era pintura, porque h a um Logos do mundo sen-
svel (e do mundo social e da histria humana). A iluso ana-
ltica de Malraux e o fenmeno de mundo cultural, O nico mis-
trio est a: o do Nachvoltzug, Ele respousa sobre o mistrio do
mundo natural e de seu Logos. O homem ultrapassa o mundo sem
se dar conta e como naturalmente. Historicidade torrente sub-
terrnea e historicidade interior do homem ao homem e do homem
ao mundo. Historicidade profana ou prosaica e sagrada. 2) Tudo
isto, que verdade de pintura, o tambm de linguagem. (Descar-
cartes, Stendhal, nossa unidade com eles.) Contra a ideia de uma
ao da linguagem que (seja?) verdadeiramente nossa. 3) Reserva
a fazer (questo ltima a remeter lgica) : a sedimentao da arte
recai medida que ela se faz. Quase isso, devemos verdadeiramente
colocar em suspenso a linguagem significante, para deixar apare-
cer a linguagem pura, e a linguagem pintura como a pintura
linguagem. P recisamos desfazer-nos da iluso de ter possudo
dizendo.
81
e justamente se ela a ultrapassa sempre fazendo-a entrar
numa configurao onde muda de sentido, isso j era ver-
dade de atos de expresso anteriores, e mesmo em certa
medida de nossa percepo do mundo antes da pintura.J
que ela projeta no mundo a assinatura de uma civilizao,
o trao de uma elaborao humana, fossos atos de expres-
so ultrapassam seus dados de partida em direo de uma
outra arte. Mas esses prprios dados ultrapassavam tam-
bm os atos de expresso anteriores para um futuro que ns
somos, e nesse sentido chamavam a prpria metamorfose
que ns lhes impomos. No se pode mais fazer o invent-
rio de uma pintura dizer o que est nela e o que no est
como no se pode de um vocabulrio, e pela mesma ra-
zo: ela no uma soma de sinais, ela um novo rgo da
cultura humana que torna possvel, no um nmero finito
de movimentos, mas um tipo geral de conduta, e que abre
um horizonte de investigaes. Malraux disse: a metamor-
fose pela qual nos reencontramos nos clssicos, que estavam
convencidos de explorar uma reaildade, a pintura, no sen-
tido moderno de criao, no fortuita: o _ clssicos j
eram pintores no sentido moderno tambm. Quando o pen-
samento ateu faz reviver as obras que se acreditava a
servio de um sagrado ou de um absoluto, sem poder parti-
lhar a experincia religiosa qual elas estavam ligadas, ela
os confronta com a interrogao de onde nasceram. J que
achamos retomar nas artes que, historicamente, so ligadas
a uma experincia muito estranha nossa, porque elas '
tm alguma coisa a nos dizer, que seus artistas, acredi-
tando continuar simplesmente os terrores primitivos ou
os da sia e do Egito, inauguravam secretamente uma
outra histria que ainda a nossa, e que tornamos presen-
tes enquanto os imprios, as tribos, as crenas aos quais
pensavam pertencer desapareceram h muito tempo. Se um
plano de Georges de La Tour, um fragmento de um quadro
de nos fazem pensar na pintura do sculo XIX,
no certo, que La Tour tenha sido nem Manet, mas
assim mesmo que Latour e eram pintores no mesmo
sentido que Manet, que eles pertenciam ao mesmo univer-
so* . Malraux mostra com profundidade que o que faz para
ns "um Vermeer" no que a tela pintada um dia tenha
cado das mos do homem Vermeer, que ela realiza a
"estrutura Vermeer", ou que ela fala a linguagem de Ver-
* Os espaos em branco esto no texto.
82
Ml ' ri , ||||rill/.CI I|1 M< .-hl i.Ui'l VII II NlftlHIHt l l l < l >i|i|IVil l Pl trl it1
|nu llcilliir. ij iit- fn/ mm t|in< ItiiliiN nu iniuiiHilii* iln i|iini||ii,
rumo rrm li|',illluri Nulin* MUI <|lltllll fUlll>N, lllillljl i>
mo e Insubstituvel dr.svln. Mi vui m m* VC I MI I T I r i i vc l ho c l i t u
tivesse pintado com pciut r pcdn^o-s n t n ( ( i mi l m n rn i miMO n
riu, no seria "um verdadeiro Vermcer". K se I K I cnti trA rl n
fulsrio conseguisse retomar no somente a escrita, mas
o prprio estilo dos grandes Vermeer, ele no seria mais exa-
tumente um falsrio. Seria um desses pintores que traba-
lhavam no atelier dos clssicos e pintavam par eles* . ver-
dude que isso no possvel: para ser capaz de repetir o pr-
prio estilo de Vermeer aps sculos de outra pintura, e quan-
do o prprio problema da pintura mudou de sentido, seria
preciso que o falsrio fosse pintor, e ento ele no faria
"falsos Vermeer", faria, entre dois quadros originais, um
"estudo baseado em Vermeer" ou ainda uma "homenagem
a Vermeer" onde colocaria de si. Resta que, o que o denun-
cia como falsrio e o torna falsrio, no que seus quadros
se assemelhem aos de Vermeer, que eles no se parecem o
bastante. Que o quadro tenha ou no sado das mos do
indivduo Vermeer que habitava um organismo perecvel,
a histria da pintura no pode nunca sab-lo, no est
l o que distingue para ns o verdadeiro Vermeer e o falso,
no nem o que os distingue em verdade. Vermeer, porque
era um grande pintor, tornou-se algo como que uma insti-
tuio ou uma entidade, e como a histria tem por papel
descobrir o sentido do Parlamento sob o A ntigo Regime
ou sentido da Revoluo francesa, como ela deve, para faz-
lo, colocar em perspectiva, designar isto como essencial e
aquilo como acessrio ou contingente no Parlamento ou na
Revoluo, assim a histria da pintura deve definir atravs
da figura emprica das telas ditas de Vermeer, uma essn-
cia, uma estrutura, um estilo, um sentido de Vermeer, con-
tra o qual no podem prevalecer, se for o caso, os detalhes
discordantes arrancados ao seu pincel pelo cansao, a cir-
cunstncia ou o costume. O fato que o quadro tenha sido
secretamente fabricado por um de nossos contemporneos
s intervm secundariamente, e porque ele impede o quadro
de alcanar verdadeiramente o estilo de Vermeer. No pre-
ciso dizer somente que, por falta de informaes, os histo-
riadores da pintura no podem julgar da autenticidade a
no ser pelo exame do prprio quadro. Isto no uma im-
* Na margem: quase platonismo.
83
perfeio de nosso conhecimento e de nossa histria: a
prpria histria, quando chega a isso, como sua tarefa,
que deve compreender os fatos. Mesmo em Direito, um
catlogo completo da obra de um advogado no indis-
pensvel e no suficiente para saber o que verdadeira-
mente dele. Pois ele no passa, diante da histria, de uma
certa palavra dita no dilogo da pintura, e o que pode
dizer ao acaso no conta, como se lhe deve atribuir, se a
coisa possvel, o que outros disseram exatamente como
ele o teria dito. No contra a histria emprica, que s
atenta para os acontecimentos, e cega para os contedos,
mas assim mesmo alm dela, uma outra histria se escreve,
que distingue o que o acontecimento confundia, mas tam-
bm aproxima o que separava, que desenha a curva dos es-
tilos, suas mutaes, suas metamorfoses surpreendentes,
mas tambm e ao mesmo tempo sua fraternidade numa s
pintura.
Os primeiros desenhos nas paredes das cavernas defi-
niam um campo de pesquisas ilimitado, colocavam o mundo
como que a pintar ou a desenhar, chamavam um futuro
indefinido da pintura, e o que nos toca neles, o que faz
com que nos falem e que lhes respondamos por metamor-
foses em que eles colaboram conosco. H duas historicida-
des, uma, irnica ou mesmo derrisria, cheia de contra-
sensos, onde cada tempo luta contra os outros como contra
estrangeiros impondo-lhes suas preocupaes, suas pers-
pectivas. Ela esquecimento mais que memria, frag-
mentao, ignorncia, exterioridade. Mas a outra, sem a
qual a primeira seria impossvel, o interesse que nos
prende ao que no ns, a vida que o passado por uma
troca contnua encontra em ns e nos traz, sobretudo a
j vida que continua a levar em cada criador que reanima, re-
\ a e retoma a cada quadro o empreendimento inteiro
) do passado.
A esse respeito a funo do Museu, como a da Biblio-
teca, no unicamente benfeitora:""Rmos d bem o meio
de ver j unto, como obras, como momentos de um s esforo,
produes que se arrastavam atravs do mundo, enterradas
nos cultos ou civilizaes de que queriam ser o ornamento.
Nesse sentido o Museu funda nossa conscincia da pintura
como pintura. Mas vale mais procur-lo em cada pintura
que trabalha, pois ela o faz no estado puro, enquanto que
o Museu a associa a emoes de menor qualidade. Seria
preciso ir ao Museu como a ele vo os pintores, na alegria
84
' I n J lj U oj u) . r mi n r ui ni i V I I I I I U M I A HHH Hi nml nt i xi , mm num
ivvcrfincTu i|iui, no lnul < hi * mmUi, i i U u \ > I m i n u l v l t l
< > Museu nus d m uuiuu-lftirtii, uni u ni i mr lOi i r li i i ln l i ul i OM
A I deia nos vem de vns em ( j iiuiulo qm< PNNI I N ulimn ii n fu
rui afinal feitas para acabar entre C MMU N purcdr HC V I TI I H,/ /
paru o prazer dos que passeiam aos domingos, para a crl-f
ui ias em folga escolar, ou dos intelectuais de segunda-feira.
Hctimos vagamente que h desperdcio nisso e que esse
recolhimento de solteironas, esse silncio de necrpole, esse
respeito de pigmeus no o verdadeiro meio da arte, j j ue
tantos esforos, tantas alegrias e penas, tantas cleras, e
tantos trabalhos no estavam destinados a refletir um
dia a claridade triste do Museu do Louvre... O Mtisen
transforma as obras em obras, faz s aparecer os estilos,
mas acrescenta tambm, ao seu verdadeiro valor, um falso
prestgio, destacando-os dos acasos no meio em que nas-
ceram, fazendo-nos acreditar que Superartistas, fataltff-
des, guiavam a mo desses artistas desde sempre. En-
qnantn qnp n pstiln e*m Pf f Hf f pnfnr yjyia rnmO a pulsa- \ o mais secreta de seu corao, enquanto cada um deles,
enquanto palavra e estilo, se reencontrava em todas as l
outras palavras e todos os outros estilos e ressentia seu es-
foro como parente do seu* , Q MI I SPI I ron verteu assa his-
toricidade secreta, pudica, no deliberada, e como involun-
tria. mTusEoria oficial e pomposa: a iminncia de uma
regresso que tal pintor no suspeitava d nossa ami-
zade por ele uma nuana pattica que lhe era bem estra-
nha. Para ela trabalhou alegremente, toda uma vida de
homem, sem pensar que estivesse sobre um vulco, e ns
vemos sua obra como flores beira do precipcio. O Mu-
seu torna os pintores to misteriosos para ns quanto as
sanguessugas ou as lagostas. Essas obras que nasceram
no calor de uma vontade, ele q
um outro mundo, sopro que-as levava Jio4iassaj j ia_cla-
ridade pensativa do Museu, sob as vitrinas ou os vidros, de
uma j rraca palpitao na superfcie... Q MU RH mata a
veemncia da pintura como a Biblioteca, dizia Sartrfi,_lrans-
forma em ' m ensagens os escritos que eram os gestos de um
homem. . . Elg__a historicidade de j rirtS. Mas h a uma
htsTqrcidad rde__vida, da qual ele no passa" da imagem
decada: aquela que habita o pintor no trabalho, quando
ele ata com um s gesto a tradio que retoma e aquela
Sic.
85
\ e funda, aque la que , se m que e le de ixe se u lugar, se u
te mpo, se u trabalho abe noa e amaldioa, o^re ne de um
' afiQlpfi.a. j;udo Q que jamais foi Pintado no mundo. Ajye r-
dade ira histria da pintura no a <lue _coloca a pintura
V no passado e invoca os Supe rarustag ff pg tamiidad.^ ftg^
ria aque la que , a rnlnra toda nn prfspnte , habita os artis-
tas e re inte gra o pintor frate rnidade dos pintore s.
Pintore s some nte ? Me smo se o hote le iro de Cassis no
compre e nde a transmutao que Re noir ope ra do azul do
Me dite rrne o gua das Lavandires, e le quis ve r Re noir
trabalhar, isso o interessa tambm, e nada impe de afinal
que e le re e ncontre e sse caminho.qUe ..ps_habitante 3 das ca-
ve rnas abriram um dia se m transio, e que o mundpjvote
se r para e le tambm mundo a pintar. Re noir" te ria e rrado
e TgunTnSo ao hote le iro o que e le gostava, e te ntando agra-
d-lo. Ne sse se ntido, e le no pintava para o hote le iro. De -
finia e le me smo, por sua pintura, as condie s sob as quais
e nte ndia se r aprovado. Mas e nfim pintava para que um
quadro ficasse l, visvel. ao mundo, gua do mar, que
e le tornava a pe dir o se gre do da gua das Lavandires e o
caminho de um a nutro, g] ^ abria para aque le s que r com
e le , e stavam pre sas no mundo. Como diz Jule s Vuille min,
no e ra que sto de falar sua linguage m, mas e xprimi-la se
e xprimindo. A re spe ito de sua prpria vida, o se ntime nto
do pintor da me sma orde m: se u e stilo no o e stilo de
sua vida, mas e le a le va, e la tambm, e m dire o da e x-
pre sso^ Compre e nde -se que Malraux no gosta das expli-
caes psicanalticas e m pintura. A e xplicao nunca vai
muito longe : me smo se o manto de Santa Ana um abutre ,
me smo se admitimos que , e nquanto Vinci o pintava como
manto, um se gundo Vinci e m Vinci, a cabe a inclinada, o
de cifrava como abutre , mane ira de um le itor de adivinha-
e s (afinal no impossve l: h, na vida de Vinci, um gos-
to pe la mistificao assustadora que be m podia le v-lo a
e ncaixar se us monstros numa obra de arte ) ningum
falaria de sse abutre se o quadro de Vinci no tive sse um
outro se ntido. A explicao s d conta de de talhe s, no
mximo dos mate riais de uma obra. Me smo se o pintor
gosta de mane jar as core s, o e scultor a argila porque e le .
um anal, isso no nos diz se mpre o que pintar ou e sculpir23.
Mas a atitude oposta, a^de uoo^dosartistas que faz com
23. Tambm Fre ud nunca disse que e xplicava Vinci pe lo abutre , e disse
quase que a anlise parava onde come ava a pintura.
86
'l'"' no M I - qt i chM nnl unia i h< Niiit v l i h t , i | t ( t < ni|ui|iirnuiN
.u;i (i li i n rutnn Ul|| t lllli l|Ur I dlll t||l lllnlmlu | lllvi nlll ml |HI
lillcii, cowdulmmdi ). riu titnihrin miunini NI I I I v i >i t li i i t Hi n
Pois .se Lrommlo - oiil. ru mi - . i i nl nn dr v l l l i n n
Ur uma infncia infe liz, nuo que rir trnhu um p- no ul rm,
r que , de tudo o que vive u, conse guiu faze r um me lo de In-
trrprctar o mundo no que e le no tive sse tido corpo
ou viso, que sua situao corporal ou vital foi consti-
tu da por e le e m linguage m. Quando passamos da dime n-
ftun dos aconte cime ntos da e xpre sso, mudamos de orde m
mus no mudamos de mundo: os mesmos dados que e ram
sofridos tornam-se siste ma significante . Cavados do int^
rior, privados e nfim de sse impacto sobre ns que os tor-
nava dolorosos, tornados transpare nte s ou me smo lumi-
nosos, e capaze s de iluminar no some nte os aspe ctos do
inundo que se pare ce m com e le s, mas ainda outros, e le s
pode m se r me tamorfose ados, e le s no ce ssam de e star l.
O conhe cime nto que se toma disso jamais substituir a e 3?
pe rincia da prpria obra, mas ajuda a me dir a criao
e sttica. Aqui ainda a me tamorfose ultrapassa, mas con-
se rvando, e de cada coisa vivida (s ve ze s mnima) que
surge a me sma incansve l de manda: a de manda de se r e x-
primido.
Se e nto ns nos colocamos no pintor, no mome nto e m
que o que lhe foi dado vive r de de stino corporal, de ave n-
turas pe ssoais ou de aconte cime ntos histricos se organiza
no ato de pintar, e m volta de algumas linhas de fora que
indicam sua re lao fundame ntal ao mundo,, pre cisamos
re conhe ce r que sua obra, se no jamais o e fe ito disso,
se mpre uma re sposta a e sse s dados e que as" paisage ns, as
Escolas, as amante s, os cre dore s, e me smo as polcias, as re -
volue s que pode m confiscar o pintor e pe rd-lo para a
pintura, so tambm o po que e le consagrar, o alime nto
do qual sua pintura se nutrir. Assim o pintor ce ssa de se
isolar num laboratrio se cre to Vive r na pintura ainda
re spirar e sse mundo, e pre cisamos compre e nde r que o pin-
tor e o home m vive m sobre o te rre no da cultura to natu-
ralmente quanto SR fosse flarin ppla ^,^1^73
Pre cisamos conce be r sobre o mundo do natural as
prprias re lae s que o pintor e ntre tm com a histria da
pintura. Me ditando sobre as miniaturas ou sobre as moe -
das e m que a ampliao fotogrfica re ve la miraculosa-
me nte o me smo e stilo que manife sto nas obras de grande
tamanho, e sobre e ssas obras de arte das Este pe s de ste rra-
87
das alm dos limites da Europa, longe de qualquer influn-
c ia, e onde os modernos fic am estupefatos de reenc ontrar
o mesmo estilo que uma pintura c onsc iente inventou ou
reinventou em outro lugar, Malraux no evita a ideia de
uma torrente subterrnea de Histria que rene os pin-
tores mais distantes, de uma Pintura que trabalha atrs
das c ostas dos pintores, de uma Razo na histria de que
eles seriam os instrumentos. Esses monstros hegelianos
So a anttese e O nnmpIpmPTitn HP SPII Inrilvlflnalignnn;
qnard^s fec hou a arte do mais"sec reto do -indivduo^a
c onvergnc ia das obras independentes s se pode explic ar
por algum destino que_.as_ .domina. Mas quando, ao c ontr-
rio, rec oloc amos o pintor em presena do mundo, c omo ten-
tamos fazer, o que se tornam a Pintura em si ou o Esprito
da .Pintura?
Partamos do fato mais simples sobre o qual alis j
fornec emos alguns esc larec imentos. Ns que examinamos
c om lupa a medalha ou a miniatura, maravilhamo-nos de
nelas reenc ontrar esc ondido o mesmo estilo que os artistas
deliberadamente impuseram a obras de maior esc ala. Mas,
c omo dizamos antes, simplesmente que a mo leva a toda
parte seu estilo, que indivisa no gesto e no prec isa, para
marc ar a matria c om seu trao, seguir ponto por ponto o
c aminho infinito do buril. Nossa esc ritura se rec onhec e,
trac emos letras sobre o papel, c om trs dedos da mo, ou
c om giz, no quadro, c om todo nosso brao porque nosso
c orpo no a detm c omo poder de c irc unsc rever um c erto
espao absoluto, nas c ondies dadas uma vez por todas
e pelo meio de c ertos msc ulos exc luso de outros, mas
c omo uma potnc ia geral de formular um tipo c onstante
[de gestos?] mediante todas as transposies que poderiam
ser nec essrias. Ou melhor, no h mesmo transposio:
simplesmente ns no esc revemos no espao em si, c om
uma mo em si, um c orpo em si ao qual c ada nova situa-
o signific aria problemas de adaptao muito c omplic a-
dos. Ns esc revemos no espao perc ebido, onde os resulta-
dos de mesma forma so na hora anlogos, e onde as di-
ferenas de esc ala so imediatamente superadas, c omo as
melodias da mesma forma exec utadas em diferentes altu-
ras ali so imediatamente identific adas, re q p c om a
qual esc revemos uma mo-esprito, que possui, c om a
frmula de um movimento, c omo que um c onc eito natural
de todos os c asos partic ulares em que pode ter que se rea-
lizar. Todo o milagre de um estilo j presente nos elemen-
88
imllWUIVrtN (111 ilil (Ml (III UlIlllHllllH, MH MIIIMilii lllll
mano que ntm i c - vr l i mi n rfl i ni i nt I ni t l i i , n iitlriiw riplo nu
ii lupa, retomam c nliiu u U lu t pi n, i i Ml i n l l i i i i n l n hn nunnl o
humano das c oisus pi Tc Hi l i l n. - i , o arl.I nU piV mm nmi r t i nU *
no inundo inumano, que nos rc vc lum os aparelhou de- op
llc u, c omo o nadador sobrevoa sem querer todo um uni-
verso soterrado, que a luneta submarina lhe revela para seu
medo, ou c omo Aquiles efetua na simplic idade de um pas-
M> uma soma infinita de espaos e de instantes. ELc ertp
ivit a um grande milagre, c uja palavra de homem no
deve nos disfarar a estranheza. Pelo menos podemos ver
aqui que esse milagre habitual, que nos natural, que
c omea c om nossa existnc ia enc arnada e que no o
c aso de proc urar sua explic ao em algum Esprito do Mun-
do, que operaria em ns sem ns, e pensaria em nosso lu-
gar, aqum do mundo perc ebido, na esc ala mic rosc pic a:
aqui o esprito do mundo jjs, desde que sabemos TI OS
mover, desde que sabemosCoZftg> . Esses atos simples enc er-
ram j todo o mistrio da aao expressiva. Pois movo meu
c orpo sem mesmo saber quais msc ulos, quais trajetos ner-
vosos devem intervir, e onde seria prec iso proc urar os ins-
trumentos desta aao. .Como o artista faz irradiar seu
estilo, at os elementos i;pyipvpfe 4a mataria qi1f> trabalha.
Quero ir l, e eis-me aqui, sem que eu tenha entrado no
sec reto inumano da maquinaria c orporal, sem que a tenha
ajustado aos dados objetivos do problema, loc alizao do
objetivo definido em relao a algum sistema de c oordena-
das. Olho onde est o objetivo, sou aspirado por ele, e
toda a mquina do c orpo faz o que tem que fazer para
que eu c hegue a ele. Tudo se passa no mundo humano
da perc epo e do gesto, mas meu c orpo geogrfico ou
fsico obedec e s exignc ias desse pequeno drama, que no
c essa de produzir nele mil milagres naturais. Meu olhar
em direo do objetivo, j tem ele tambm seus prodgios:
pois, Jfambem, se instala c om autoridade no ser e ali se
c onduz c omo em pas c onquistado. No o objeto que age
sobre meus olhos e obtm deles os movimentos de ac omo-
dao e de c onvergnc ia; pudemos mostrar que, ao c on-
trrio, no veria jamais nada nitidamente e no haveria
objeto para mim se eu no dispusesse meus olhos de ma-
neira a tornar possvel a viso do nic o objeto. Para c mu-
lo do paradoxo, no se pode tambm dizer aqui que o es-
prito religa o c orpo e antec ipa o que vamos ver: no, so
nossos olhares eles mesmos, sua sinergia, sua explora-
89
co ou sua prospeco que colocam no ponto o objeto imi-
nente, e jamais as correes seriam bastante rpidas e bas-
tante precisas se se devessem apoiar num verdadeiro cl-
culo de efeitos. preciso ento reconhecer sob o nome de
olhar, de mo e em geral de corpo um sistema de sistemas
voltado inspeo de um mundo, capaz de abarcar as dis-
frp m a s tfe -tra-p spa ssar o futuro perceptivo, de desenharjia
' jfl,sipirip7 . inmnf ph vpi cio ser ocos e relevos, distncias e
afastamentos, um sentido... O movimento do artista tra-
I
ando seu arabesco na matria infinita explicita e prolon-
ga o milagre da locomoo dirigida ou dos gestos de toma-
da. No somente o corpo se volta a um mundo do qual .ele
carrega em si o esquema; ele o possui a distncia mais do
que possudo. Com mais forte razo, o gesto de expresso,
que se encarrega ele mesmo de desenhar e fazer parecer
alm do que ele visa, consome uma verdadeira recuperao
do mundo e o refaz para conhec-lo. Mas j, com nosso
primeiro gesto orientado, as relaes infinitas de algum
com sua situao tinham invadido nosso medocre planeta
e aberto nossa conduta um campo indefinido. Tdajper-
cepo, e toda ao que a supe, em suma, todo usTUe
nosso corpo, j expresso primordial, quer dizer, no o
trabalho segundo o derivado que substitui ao exprimido si-
nais dados por outras coisas com seu sentido e sua regra
de emprego, mas a operao que primeiro constitui os si-
nais em signos, iaz habitar neles o exprimido, no sob a con-
dio de alguma conveno prvia, mas pela eloquncia de
affli pripri" armmjo e te sua ronfignra ). .implanta um
sentido no que no tinha, e que ento, longe de se esgo-
I tar no instante em que tem lugar, abre um campo, inau-
/ gura uma ordem, funda uma instituio ou uma tradi-
V co...
. Ora, se a presena do estilo nas miniaturas que nin-\m havia jamais visto, e, em um sentido jamais feito, sei
confunde com o mistrio de nossa corporalidade e no ch- \a nenhuma explicao oculta, parece-nos que se pode
dizer outro tanto dessas convergncias singulares, que fa-/
zem com que de uma jionta a outra do mundo artistas que/
se jgnoravam produzam obras que se parecem. Pedimos
uma causa que explique essas semelhanas, e falamos de
uma Razo na Histria ou de um Esprito da Pintura ou
de um Superartista que conduz os artistas sem que eles
queiram. Mas primeiro colocar mal o problema falar de
semelhanas: elas so afinal pouca coisa em relao s
90
ImililiTlVrln (HfPlrllClUK A VlllUilIlIlll' lIliH> IlHlUllN, lll' III
i" na quu, quuinlu cnciuiliIIIIIOM uhinw IJIIK NI> |mu<ittin <li>
u diilio mi (Ir mu runl Inriilr M iiillm, it ii UNI
h i i n l a i l r de relnvcnguo .srm u n i u c aem t i nxl r l u 6
para dar conta dessa coincidenriu. O verdadeiro
r compreender no por que obras se parecem, mas por que
eulluras to diferentes se engajam na mesma procura, se
prope a mesma tarefa (sobre cujo caminho reencontraro,
na ocasio, os mesmos modos de expresso), por que o
que produz uma cultura sempre tem um sentido para. os
nulros, mesmo se no seu sentido de origem, por que ns
nos damos a pena de metamorfosear em arte os fetiches,
enfim por que h uma pintura_iu.um universo da pintura.
Mas isso s problema se comeamos por nos colocar no
inundo geogrfico ou fsico, e a colocar as obras como tan-
tos outros acontecimentos separados, cuja semelhana ou
somente aparentamento ento improvvel, e exige um
princpio de explicao. Propomos ao contrrio reconhe-
cer a ordem da cultura ou do sentido como uma ordm
original de advento, que no deve ser derivada daquele, se
existe, de puros acontecimentos, nem tratada como o sim-
ples efeito de certos encontros pouco provveis. Se admi-
timos que. o prprio..USfiSbLhumano significar alm de
sua simples existncia de fato, inaugurar um sentido, resul-
ta disso que todo gesto comparve^ a todo outro, que pro-
venham todos de uma s sintaxe, que cada deles seja um
comeo, comporte uma sequncia ou recomeos enquanto
no , como o acontecimento, opaco e fechado sobre si mes-
mo, e uma vez por todas findo, que vale alm de sua tm-_
pies presena de fato, e que nisso por adiantamento aliado ^_
ou cmplice denodas as outras tentativas de expresso.
Mais: no somente compatvel com elas, e se organiza com
elas num mundo da pintura, mas ainda, se o trao fica e
e se a herana transmitida, essencial ao gesto pictural,
uma vez feito modificar a situao da tentativa universal
em que estamos todos engajados. Pois a obra, uma vez
feita, constitui novos signos em signos, torna ento mane-
jveis novas significaes, aumenta a cultura como um
rgo acrescentado poderia aumentar os poderes de nosso
corpo, e abre ento um novo horizoiite,d_nfiaruifia. No
somente ento todos os gestos que fazem existir a cultura,
esto entre eles numa afinidade de princpio, que faz deles
os momentos de uma s tarefa, mas ainda um exige o outro
em sua diferena, j que dois entre eles no podem ser idn-
91
ticos, a no ser com a condio de se ignorar. E, tanto quan-
to, no nos espantemos mais de reencontrar a assinatura do
artista l onde seu olhar no podia atingir, quando admiti-
mos que o corpo humano se exprime ele mesmo em tudo o
que faz, assim as convergncias e as correspondncias entre
liobras de toda origem, fora de toda influncia expressa na
histria da arte, no surpreendem quando nos instalamos na
"ordem da cultura considerada como um campo nico. No
queremos dizer aqui que o corpo humano fornea uma ex-
plicao"' para isso e que nomens que se ignoravam e viviam
a imensas distncias no tempo e no espao retomem" ^ >
mesmo gesto, porque seu corpo o mesmo: pois justamente
o prprio do corpo humano no comportar natureza.
Certo o campo de pesquisas inaugurado por uma obra
pode ser abandonado se a obra for perdida, queimada ou
esquecida. O advento no dispensa o acontecimento; no
h, acima da dos acontecimentos, uma segunda casuali-
dade que faria do mundo da pintura um outro mundo su-
pra-sensvel, com suas leis prprias, como o mundo da Graa
de que falava Malebranche. A criao nuitnrai em pfir-
cia se no encontra um veculo nas circunstncias exterio-
res, ho pode nada contra elas. Mas verdade que, por
pouco que a histria a isso se preste, a obra conservada e
transmitida desenvolve em seus herdeiros consequncias
sem proporo com o que ela como pedao de tela pinta-
da, e uma histria nica da cultura se consolida acima das
v interrupes ou regresses porque desde o comeo da obra
(inicial signifra..alm de sua existncia emprica.
l O difcil e essencial aqui compreender que, colocando \ m universo do sentido ou um campo de significaes dis-
tinto da ordem emprica dos acontecimentos, no colocamos
uma eternidade, um Esprito da Pintura que se possuiria
v no inverso do mundo e ali se manifestaria pouco a pouco...
ordem ou o campo de significaes que faz a unidade da
pintura e abre por adiantamento cada obra sobre um futuro
de pesquisas comparvel quele que o corpo inaugura em
sua relao com o mundo e que faz participar cada mo-
* Na margem: E no tambm o esprito que explica por sua per-
manncia. O verdadeiro problema no o das semelhanas, mas da
possibilidade je metamorfose, de [retomada.] As semelhana&~&o
egf-p-rSn- O_prprio da cultura e nunca comear e no acabar no
instante.
mnito de seu grain m > raMIo do liiiln* pn nimn MMI
mmmjrrtima cm tudo o que fn/ .. nl r i n < t n i t l v i Ml i l i n l i > di<
\s partes que o tornu f r gl j e v ul nrr m- l , du i uipiu c l n
- reunir num gesto que domina sua disperso. Uu niesinu
maneira, alm das distncias do espao e do tempOj h urna
iinlUucle do estilo humano que rene os gestos de todos os
pintores numa s.tentativa; numa s histria cumi
r sua produo numa s arte ou numa s cultura.?*
ilude da cultura prolonga ajprn rins limit.pg ^
Individual o mesmo gnero de conexo que se estabelece
entre todos os seus momentos, quando uma vida instituda,
(mando uma conscincia, como se diz, selada num corpo
r que aparece ao mundo um novo ser, a quem advir no se
sabe o que, mas a quem a partir de ento alguma coisa
no deixaria de advir, no deixaria de ter uma ^ isfaSrin
breve ou curta. O pensamento analtico, cego para o mun-
do percebido, quebra a transio perceptiva- de uin lugar a
outro, de uma perspectiva a outra e procura do lado do
esprito a garantia de uma unidade que j est l quando
percebemos, quebra tambm a unidade da cultura e procura
reconstitui-la de fora. Afinal, diz ele, s h obras, indiv-
duos, de onde vem ento que eles se paream? ento que
se introduz o Esprito da Pintura. Mas como devemos re-
conhecer como um fato ltimo a possesso corporal do
espao, o abarcamento do diverso pelo corpo, como nosso
corpo enquanto vive e se faz gesto s repousa sobre si mesmo
e no poderia ter esse poder de um esprito separado, assim
a histria da pintura que corre de uma obra a outra, re-
pousa sobre si mesma e s levada por esses esforos que
se soldam um ao outro pelo nico fato que so esforos de
expresso. A ordem intrnseca das significaes no eter-~
na: se no segue cada ziguezague da histria emprica,
desenha, chama uma srie de dmarc hes sucessivas. Ela no
se define somente, como dissemos antes provisoriamente,
pelo parentesco de todos os seus momentos numa s tarefa:
precisamente porque so todos momentos da pintura, cada
* Na margem: A ordem dos significantes comparvel do corpo.
Os atos de significao so essencialmente histricos, o advento
acontecimento. O pintor toma a sequncia da percepo. E isto no
quer dizer explicao pelo corpo.
*\a margem: Naturalmente no insero de todos os pintores num
l s corpo: o corpo aqui a histria. O que queremos dizer que
' ela existe maneira do corpo, que ela est do lado do corpo.
Jf-
92 93
um deles, se_ ^nafTYarin p t.ransnmt.iHn, modifica a situa-
o do empreendimento, e exige que aqueles que viro em
seguida sejam justamente outros.
Quando se diz que cada obra [verdadeira?] abre um ho- ,
rizonte de pesquisas, isto quer dizer que ela torna possvel o
que no o era antes dela, e que ela transfigura o empreen-
dimento pictural ao mesmo tempo que o realiza. Dois gs-
' tgs culturais no podem ento ser idnticos a no ser qfle
se ignorem um ao outro. Sua eficcia, de que falvamos
\s acima, temjustamente por consequncia tornar im-'
' possvel em arte a pura e simples repetio. ento essefP
ciai arte desenvolver, quer dizer ao mesmo tempo mudar
e, como diz Hegel, "voltar em si mesma", ento de se apre-
sentar sob forma de histria, e o sentido do gesto expressivo
sobre o qual fundamos a unidade da pintura por prin-
cpio um sentido em gnese* O advento no um ultraps-
samento do tempo, uma promessa~3 acontecimentos. A
dominao de um sobre o mltiplo cuja historia da pintura
nos oferece o exemplo, como a que encontramos no exerc-
cio do corpo percebendo, no consome a sucesso numa
eternidade: ela a exige ao contrrio, ela precisa dela, ao
mesmo tempo que a funde em significao. E no se trata,
entre os dois problemas, de uma simples analogia. a ope-
rao expressiva do corpo, comeada pela mnima percep-
o, que se amplia em pintura e em arte. p campo das
significaes picturais est aberto desde que um homem
apareceu no mundo., E_n primeiro desenho na parede das
cavernas s^ fundava uma tradio porque recolhia nela
uma oulra: da,"percepo^ A quase eternidade da a r t e^
se confunde com a quase eternidade da existncia encar-
nada, e temos em nosso corpo antes de qualquer iniciao
arte a primeira experincia do corpo impalpvel da his-
tria.
^ Indiquemos para finalizar que, compreendida assim a
l histria, escaparia s vs discusses de que hoje objeto,,
e retornaria ao que deve ser para o filsofo: o centro de suas
reflexes, no como uma natureza simples^ -absolutamente
clara por si mesma, e_c|ue explicaria todo o resto, mas, ao
contrrio, como o lugar mesmo de nossas interrogaes e
de nossos espantos. Que seja para ador-la ou para odi-la,
concebe-se hoje a Histria e a dialtica histria como uma
Potncia exterior. Entre ela e ns, preciso ento escolher,
e escolher a Histria, isso quer dizer devotar-se de corpo e
alma ao advento de um homem futuro, renunciar em favor
desse f ut ur o a qualquer julgamento sobre os meios, em favor
dii eficcia a todas as consideraes de valor, ao "consenti-
mento de si mesmo a si mesmo". Rst.n fistftrin-Hnin secula-
rlzu as concepes mais rudimentares de Deus, e no por
ii-aso que nossas discusses contemporneas retornam to
voluntariamente a um paralelo entre o que chamamos a
transcendncia hnris>Aval^AsL w^ria fi p transffidn>
cia vertical de Deus. Na verdade 6 Rnlogar mtL\s vezes. Faz mais de vinte sculos que a Europa renun-
ciou transcendncia dita vertical e um pouco forte es-
quecer que p Cristianismo em boa parte o reconhecimento
de um mistrio na relao do homem e de Deus: justamente
o Deus cristo no quer relao vertical de subordinao,
ele no somente um princpio de que seramos as conse-
quncias, uma vontade de que seramos os instrumentos,
h como que uma espcie de impotncia de Deus sem ns, e
Claudel vai at a dizer que Deus no est acima de ns,
mas abaixo, querendo dizer que ns no o achamos como
um modelo supersensvel ao qual seria preciso nos subme-
termos, mas como um outro ns-mesmos, que esposa e au-
tentifica toda a nossa obscuridade. A transcendncia,
ento, no domina o homem, ele estranhamente seu por-
tador privilegiado. Por outro ladn nenhuma filnsnfia ria
Histria jamais reportou sobre o futuro toda a realidade do
presente e destruiu o si para lhe dar lugar. Essa neurose do
futuro seria exatamente a no-filpsofia, ,a recusa deliberada
de saber emque acreditamos. Hegel justamente no intro-
duz a Histria como uma necessidade bruta que oblitera o
julgamento e suprime o si, mas como uma realizao ver-
dadeira. Nenhuma filosofia consistiu jamais em escolher
entre transcendncias por exemplo, entre a de Deus e a
do futuro humano , elas esto todas ocupadas em media-
tiz-las, em compreender como Deus se faz homem ou como
o homem se faz Deus, em elucidar esse estranho envolvi-
mento dos fins e dos meios que faz com que a escolha de
um meio j seja a escolha de um fim que torna ento
absurda a justificao dos meios pelos fins que o si se
faz mundo, cultura, e que a cultura precisa ser animada
por ele. Em Hegel, como se repete em toda parte, tudo o
que real racional e ento justificado, mas justificado
ora como aquisio positiva, ora como pausa, ora mesmo
como um refluxo que promete um novo fluxo, em suma
justificado relativamente, a ttulo de momento da Histria
total, sob condio que essa Histria se faa, e consequen-
94
95
temente n ntido nn q i i n m dl / i | i m M I W M W prprios erros
varwtjtini / i c t / f i . s c q ue nm; tm pin| - . re. sM os ao nossos erros
c ompreendidos, c i t p i e imo up"K' 1 u di f er en a de c resc imen-
tos e de dc elmlos, de nasc imentos e de mortes, de regres-
ses c do progressos. . .
A c onc epo do Estado, em Hegel, no se atm a essa
sabedoria, mas assim mesmo no uma razo para esque-
c er que na Filosofia do Direito ele rejeita c omo erros do
entendimento abstraio tanto o julgamento da ao s pelos
ef eitos c omo o julgamento da ao s pelas intenes, e que
c oloc ou no c entro de seu pensamento esse lugar onde o
interior se f az exterior, essa volta ou essa transf ernc ia que
f az c om que passemos em outrem e outrem em ns. As pol-
mic as c ontra a transcendncia horizontal, em nome da
transcendncia vertical (admitida ou somente lamenta-
da) no so ento menos injustas a respeito de Hegel do
que a respeito do Cristianismo. a indignc ia do pensa-
mento marxista, mas tambm a preguia do pensamento
no-marxista, um c mplic e do outro, que ac abam hoje por
apresentar a diltica em ns ou f ora de ns c omo potn-
c ia de erro, de mentira e de f rac asso, transf ormao do bem
em mal, f atalidade da dec epo. No passava ai, em Hegel,
de uma suas f ac es, ela era outro tanto c omo que uma graa
que f az sair o bem do mal, que por exemplo nos atira no
universal quando s pensamos perseguir nosso interesse.
I
Ela no era, por si, nem f eliz, nem inf eliz, nem runa do
indivduo, nem adorao do f uturo; era, Hegel o dizia mais,
ou menos, uma marcha que cria ela prpria seu trajeto e
retorna em si mesma, um movimento ento sem outro guia
alm de sua prpria inic iativa, e que no entanto no esc a-
pava para f ora de si mesmo, rec ortava- se ou c onf irmava- se
de c ic lo em c ic lo era ento um outro nome para o f en-
de if vprpssh sobre o qual insistimos, que se retoma
de prximo em prximo e se relan_a c omo por um- mistrio
de rac ionalidade. reenc ontraramos sem dvida o c on-
Ceit de Histria em seu verdadeiro sentido se nos habi- ,
tilssemos a f orm- lo, c omo propomos, sobre o exemplo!
' das_artes ou da linguagem: pois a intimidade de toda ex-
presso a toda expresso, sua dependnc ia c omum a uma
s ordem que o primeiro ato de expresso instituiu, reali-
zam pelo f ato da juno do individual e do universal, e a
expresso, a linguagem por exemplo, e oem o que temos ue
mais individual, ao mesmo tempo que, dirigindo-se aos
outros, ela se f az valer c omo universal. O f ato c entral ao
96
(pi u l a diltic a de Hc gul retorna de c em maneiras q ue
ns no temos que esc olher entre o por si e o por outrem,
rnlrc o pensamento segundo ns mesmos e o pensamento
. segundo outrem que propriamente alienao, mas que, no
momento da expresso, o outro a quem me dirijo e eu que
me exprimo estamos ligados sem c onc esso de sua parte
nem da minha. Os outros tal qual so ou tal qual sero
no so os nic os juizes do que f ao: se eu me quisesse
negar em seu proveito, eu os negaria tambm c omo Eu;
eles valem exatamente o que eu valho, todos os poderes que
lhes dou, eu me dou ao mesmo tempo. Eu me submeto ao
julgamento de um outro que seja ele mesmo digno do que
tentei, quer dizer no f inal das c ontas de um par esc olhido
por mim mesmo. A Histria juiz mas no a Histria
c omo Poder de um momento ou de um sc ulo a Histria
c omo esse lugar onde se rene, se insc reve e se ac umula
alm dos limites dos sc ulos e dos pases tudo o que disse-
mos e f izemos de mais verdadeiro e mais vlido, levando
em c onta as situaes em que tivemos de dizer. Do que eu
f iz, os outros julgaro, porque pintei o quadro para que ele
seja visto, jaqraue minha ao c omprometeu o f uturo dos
outros, mas riem a arte nem a poltic a c onsistem em agra-
d-los ou Jisonje-los. O que esperam do artista c omo do
poltic o"? que ele os leve na direo de valores onde s em
seguida rec onhec ero seus valores. O pintor e o poltic o f or-
mam os outros bem mais que os seguem, o pblico que
eles visam no dado, o pblic o que sua obra susc itar;
os outros nos quais eles pensam no so os outros emp-
ric os, nem ento a humanidade c onc ebida c omo uma esp-
c ie; so os outros tornados tais que ele* possa viver c om eles,
a histria qual ele se assoc ia (e tanto melhor que no
pensa muito em fazer histrico e produz honestamente
sua obra, tal qual a quer) no um poder diante do qual
ele deva dobrar os joelhos, a entrevista perptua que se
ata entre todas as palavras, todas as obras e todas as aes
vlidas, c ada. uma,de seu lugar e em sua situao singular
c ontestando e c onf irmando a outra, c ada Uma rec riando
todas as outras. A histria verdadeira vive ento toda in-
teira de ns, em nosso presente que ela toma a f ora de
levar ao presente todo o resto, o outro que respeito vive de
mim c omo eu dele, uma f ilosof ia da Histria no me tira
nenhum de meus direitos, nenhuma de minhas inic iativas.
Sic.
97
verdade somente que ela acrescenta s minhas obriga-
es de solitrio aquela de compreender outras situaes
alm da minha, de criar um caminho entre meu querer e o
dos outros, o que me exprimir. De uma vida a outra as
passagens no so traadas adiantadamente. Pela aco_da
cultura, eu me instalo em vidas que no so a minha, eu_as
confronto, eu as manifesto uma a outra, eu as torno com
patveis numa ordem de verdade, eu me fao responsvel de
todas, eu suscito uma vidav universal como me _instalo
de um golpe no espao pela presena viva e espessa de~mu
corpo. E como a operao do corpo, a das palavras ou das
pinturas continua obscura para mim: as palavras, os traos,
as cores que me exprimem saem de mini como meus gestos,
so-me arrancados pelo que quero dizer como meus gestos
pelo que quero fazer. Nesse sentido, na em toda expresso,
e mesmo na expresso pela linguagem, uma espontaneidade
que no sofre ordens, e nem mesmo as ordens que eu gosta-
ria de dar a mim mesmo. As palavras, na arte da prosa,
transportam aquele que fala e aquele que as ouve num uni-
verso comum, mas s o fazem arrastando-nos com elas para
uma significao nojca, por uma potncia de designao que
ultrapassa sua definio ou sua significao recebida e que
se depositou nelas, pela vida que levaram todas juntas em
ns, por aquilo que Ponge chamava com felicidade sua
espessura semntica e Sartre seu hmus significante.
Essa espontaneidade da linguagem que nos livra de nossas
oposies no uma ordem. A histria que ela funda no
um dolo exterior: ela ns mesmos com nossas razes,'
nosso crescimento prprio e os frutos de nosso trabalho.
Histria, linguagem, percepo, s aproximando esses
trs problemas que se poder retificar em seu sentido pr-
prio as belas anlises de Malraux e tirar delas a filosofia
que comportam. Veremos ento que legtimo tratar a
pintura como uma linguagem: esse tratamento da pintura
desnuda nela um sentperceptivo, cativo da configurao
visvel, e no entanto, capaz de recolher em si mesmo numa
eternidade, sempre a refazer toda uma srie de expresses
anteriores sedimentadas , e que a comparao tem pro-
veito no somente em nossa anlise da pintura, mas tam-
bm para nossa anlise da linguagem: pois ela nos faz
discernir sob a linguagem falada, sob seus enunciados e seu
barulho, sabiamente ordenados a significaes todas feitas,
uma linguagem em operante ou falante cujas palavras vi-
vem de uma vida surda como os animais das grandes profun-
98
ilc/ ii.s, SP unem r m* Nr pui ni n ruinn i > n i t i i < NU M Mi i . nl Mi m. i i u I n
ir rui ou indireta. A trunapurucltt dit l l i i HU i t umi rul i ul n, ruim
hriivu claridade da palavra qiu- N o .som r do m* nU i1 u ( | i i n
n b sentido, a propriedade que tem aparentemente de ex-
tndr o sentido dos sinais, de isol-lo ao estado puro ( na
realidade simples presuno de encarn-lo em varias fr-
mulas em que permanece o mesmo) seu poder pretendido
de resumir e de encerrar realmente num s ato todo um
tornar-se expresso, esse poder cumulativo, em suma, s
t> mais alto ponto de uma acumulao tcita ou implcita
do gnero da pintura.
preciso comear admitindo que a linguagem na maio-
ria dos casos no procede distintamente da pintura. U jn
romance exprime como um quadro. Pode-se contar o assunto
| do romance como o do quadro, mas a virtude do romance,
como a do quadro, no est no assunto, O que conta
no tanto que Julien Sorel, sabendo que trado por Mme.
de Renal, v a Verrire e tente mat-la , aps a novela,
esse silncio, essa cavalgada de sonho, essa certeza sem
pensamento, essa resoluo eterna . . . Ora, isto no dito
em nenhum lugar. Nenhuma necessidade de Julien pen-
sava, Julien queria. Basta, para exprimir, que Stendhal
deslize em Julien, passe a um monlogo em Julien, e faa
circular sob nossos olhos, em velocidade de viagem, os obje-
tos, os obstculos, os meios, os acasos. Basta que ele decida
contar em trs pginas, em vez de contar em dez, e calar
aquilo mais que dizer isto. Nem mesmo que o romancista
exprime escolhendo e pelo que ele omite tanto quanto pelo
que menciona. Pois no se trata nem mesmo para ele de
escolher. Consultando os ritmos de sua prpria clerj} de
sua prpria sensibilidade a outrem, ele lhe d subitamente
um corpo imaginrio mais vivo que seu prprio, jcorpo, faz
como numa segunda vida a viagem de Julien segundo ui5
cadncia de paixo seca que escolhe para ele o visvel e
invisvel, o que tem a dizer e a calar. A yoixtade-djnQrte
no est em nenhum lugar nas palavras, est entretelas,
nos vcuos do espao, de tempo, de significao q 'delimi-
tam, como a do movimento no cinema est entre as i
imveis que se seguem, ou como as letras, em certos recla-
mes, so menos feitas por alguns traos negros do que
pelas praias brancas que indicam vagamente brancas,
mas cheias de sentido, vibrantes de vetores e to densas
quanto o mrmore . . . QjEmancista pptrftfT n no
tor e todo homem com. gnnignAr v^m^m -T. um.
99
gem de iniciados: iniciados ao mundo;ao universo de poss-
veis que so um corpo humano, uma vida humana. E o que
h a dizer, ele supe conhecido, instala-se na conduta de
um personagem e d ao seu leitor s a assinatura, o trao
nervoso e peremptrio que deposita no que o cerca. Se
escritor, quer dizer capaz de encontrar as elipses, as eli-
ses, as pausas da conduta, o leitor responde convocao
e o alcana no centro do mundo imaginrio que ele governa
ff anima, o romance como o relato de um certo nmero de
acontecimentos, como enunciado de ideias, teses ou con-
cluses, em suma, como significao direta, prosaica ou
manifesta, e o romance como inaugurao de um estilo?
significao oblqua ou latente so uma simples relao de
homonmia, e o que Marx bem compreendeu quando a_dp-
tou Balzac. No se tratava ali, podemos acreditar^de algum
retorno ao liberalismo. Marx queria dizer que uma certa
maneira de fazer ver o mundo do dinheiro e os conflitos
da sociedade moderna importava mais que as teses, e que
essa viso, uma vez adquirida, levaria s suas justas con-
sequncias com ou sem o consentimento de Balzac.
Temos bastante razo de condenar o 'Qrmalismo, mas
esquecemos geralmente que o que condenvel nele no
que estime demais a forma, que a estima pouco, demais,
ao ponto de ...destac-la do sentido. Np que ele no dife-
rente de uma literatura do assunto, que, ela tambm, des-
taca o sentido da obra da estrutura. O verdadeiro contr-
rio do formalismo uma boa teoria da palavra que a dis-
tingue de qualquer tcnica ou de qualquer instrumento
porque ela no e somente meio a servio de um fim exte-
rior, e que ela tem em si mesma sua moral, sua regra de
emprego, sua viso do mundo como um gesto revela toda
a verdade de um homem. E esse uso vivo da linguagem ,
ao mesmo tempo que o contrrio do formalismo, o de uma
literatura dos assuntos. JJma linguagem, em efeito, que
s procuraria exprimir as prprias coisas, esgotaria seu
poder de ensinamento nos enunciados de fato. Uma Un-
guagem, ao contrrio que d nossa perspectiva sobre as
coisas, que arranja nelas ura relevo, inaugura uma discus-
so sobre as coisas que no acaba com ela, suscita em si
mesma a pesquisa, torna possvel a aquisio. O aue
insubstituvel na obra.de arte o que faz dela no somen-
te uma ocasio de prazer, mas um rgo do esprito cujo
anlogo se encontra em todo pensamento filosfico ou po-
ltico se ela produtiva que ela contm melhor que
100
Ideias, matrizes de ideias; ela nos fornece emblemas dos
quuis jamais pararemos de desenvolver o sentido, e, justa-
mente porque se instala e nos instala num mundo do qual
no temos a chave, nos ensina a ver e nos faz pensar como
nenhuma obra analtica pode faz-lo, porgiip nenhuma an-
lise pode encontrar_.num.Qbjeto outra coisa alm do que
nele pusemos. O que h de ocasional na comunicao lite-
rria, o que h de ambguo o irredutvel tese em todas as
grandes obras de arte no urn defeito provisrio da litera-
tura, que poderamos esperar ultrapassar, o preo que
preciso pagar para ter uma linguagem rnnq^ j Dadora, que
no se limite a enunciar Q_que j ^Mpmog. ?g "* IP + -T*O-
duza a experincias estranhas^ a perspectivas que no sero
jamais as nossas e nos desfaa enfim d_e.
*,**. XT^ f
y "-""v-a*wnii iiira.wiu.ni-
ios. No veramos jamais nenhuma paisagem nova, se no
tivssemos, com nossos olhos, o meio de surpreender, de
interrogar e colocar em forma configuraes de espao e de
cor jamais vistas at ento. No faramos nada se no
tivssemos, com nosso corpo, o meio de saltar por cima
todos os meios nervosos e musculares do movimento para
nos levar ao objetivo antecipado, da mesma maneira, im-
periosa e breve, que o artista, sem transies nem prepiaa-
es, nos atira num mundo novo. E como nosso corpo no
pode reencontrar-se entre as coisas ou frequent-las a no
ser com a condio de renunciarmos a analis-lo para us-
lo a linguagem literria s pode dizer coisas novas com
a condio que faamos causa comum com" ela,' que ces-
semos de examinar de onde vem para segui-la onde for, que
deixemos as palavras, os meios de expresso do livro se
envolver nesse bafo de significao que devem ao seu arran-
jo singular, e todo o escrito virar em direo de um valor
segundo e tcito onde alcana quase a irradiao muda da
pintura. Tanto quanto o da pintura, o sentido prprio da
obra de arte no logo perceptvel como uma deformagol
coerente imposta ao visvel. E sempre assim o ser. Crticos
bem podero confundir o modo de expresso de um roman-
cista com o de um outro, fazer entrar a configurao esco-
lhida numa famlia de outras configuraes possveis
ou mesmo realizadas... Esse trabalho s legtimo se co-
loca as diferenas de tcnica em relao com as diferen-
as do projeto e do sentido, e se guardar sobretudo de ima-
ginar que Stendhal, para dizer o que tinha a dizer, pode
emprestar o estilo e o relato de Balzac. O pensamento cr-
tico nos explica a ns mesmos o que percebemos no ro-
101
r
rr
JL -*-* *-
mance, e porque o percebemos ali. linguagem do roman-
cista que mostra ou faz transparecer o verdadeiro e no o
toca, ele substitui uma outra linguagem que pretende pos-
suir seu objeto. Mas ele como essas descries de um
rosto sobre um passaporte que no nos permitem imagi-
n-lo. O sistema de ideias e de meios tcnicos que ele en-
contra nas obras de arte, retira-os dessa significao ines-
gotvel de que o romance se revestiu quando veio descen-
trar, distender, solicitar numa nova direo nosso imago
do mundo e as dimenses de nossa experincia. O romance
sobrevindo nela a transforma, antes de qualquer significa-
o, como a linha auxiliar introduzida numa figura abre o
caminho soluo.
Responder-se- talvez que em todo caso a linguagem
do crtico, e sobretudo a do filsofo, tem justamente a am-
bio de converter numa verdadeira possesso o ponto de
apoio deslizante que a literatura nos d sobre a experin-
cia. Restaria a saber ns nos perguntaremos adiante
se, mesmo nisso, crtica e filosofia no se limitam a exer-
cer, como na segunda potncia e numa espcie de reitera-
o, o mesmo poder de expresso elptico que faz a obra
de arte. Comecemos em todo caso por constatar que pri-
meira vista a filosofia no mais que a arte no investe seu
objeto, no o retm em mo de maneira a no deixar nada
mais a desejar. As metamorfoses da filosofia de Descar-
tes so clebres: ns a iluminamos com nossas luzes como
a pintura moderna ilumina Greco ou Tintoreto. Antes de
ns, Spinoza, Malebranche, Leibniz tinham, como se sabe,|
cada um sua maneira, acentuado, mudado as relaes^
de figuras e fundos e reivindicado cada um seu Des-
cartes. Descartes bem esse francs de h trs sculos que
escreveu as Meditaes e outros livros, respondeu a Hobbes,
a Mersenne, a outros, tomou por divisa larvatus prodeo e
lez aquela peregrinao a Notre-Dame-de-Lorette, . . . mas
tambm muito mais: como Vermeer, Descartes uma
dessas instituies que se esboam na histria das ideias
antes de nela aparecer em pessoa, como o sol se anuncia
antes de desvendar subitamente uma paisagem renovada
que, medida que duram, no cessam de crescer e de
transformar em si mesmas os acontecimentos com os quais
so confrontadas, at que, insensivelmente, o movimento se
inverte, e que o excesso de situaes e de relaes inassimi-
lveis para elas sobre aqueles que podem absorver as altera,
102
r Ni i ri rl l . u i i i i n i oi i l i u M M mu i [ i n - no mt.imlo no teria exis-
tido nem HiiN. Drm- i i i l rM f< l rucurU -a. N I M M 6 tumbm tudo
o ( { uo i l cpol f MI w purocu Lr I n uni i i i rl i ul u, nu que cie deu sen-
lido e milldudu hlalrlcu r e tuni bern tudo o que derivou
( U ilc, o ocasiona 1 1 smo de Mu 1 1 1 b nine l; escondido num canto
da Dioptrique, a substncia de Spinoza numa volta das
Respostas s objees. Como traar um limite entre o que
cie pensou e o que se pensou a partir dele entre o que
ns lhe devemos e o que nossas interpretaes lhe empres-
tam? Seus sucessores, verdade, apoiam l onde ele pas-
sava vivamente, deixam perecer o que ele explicava cuidado-
samente. um grande organismo onde eles transtornam
a distribuio dos centros vitais e funes. Mas enfim
ainda ele que os desperta aos seus mais prprios pensa-
mentos, que os anima em sua agresso contra ele, e no
se pode ento mais fazer um inventrio rigoroso dos pen-
samentos de Descartes como no se pode numa lngua fa-
zer o inventrio dos meios de expresso. Ele concebeu mais
vivamente que ningum a distino da alma e do corpo,
mas nisso mesmo viu melhor que ningum o paradoxo de
sua unio na utilizao da vida. Se quisermos mais do que
por seus escritos, desde o comeo zumbindo de enxames de
pensamentos que iam invadi-los, cercar Descartes pelo que
o homem Descartes tinha na cabea*, na soma de minu-
tos de sua vida, a contagem tambm no possvel: o cam-
po de nosso esprito, como nosso campo visual, no limi-
tado por uma fronteira, p"erde-se numa zona vaga onde os
objetos no se pronunciam a no ser fracamente, mas exis-
tem com uma espcie de presena. No somente falta de
informaes falta de um dirio datado de seus pensa-
mentos que nos coloca fora de condio para dizer se
Descartes, num momento de sua vida, sim ou no, con-
cebeu o idealismo, porque todo pensamento um pouco
profundo, no somente no escrito, mas ainda, no homem
vivo, coloca em movimento todos os outros. O movimento
n t.n- da Segunda Meditao .irfoaliqmn
mamos por verdade, num sentido no ultrapassvel como
toda verdade, e que paremos nisso algum tempo, como o
quer Descartes, para disso ser penetrado para todo sempre
* O texto trazia em primeiro lugar, "se queremos, mais que a seus
escritos . . . limitar Descartes ao que o homem Descar tes . . . ". O
autor substituiu limitar por cercar, mas no corrigiu o primeiro
membro da frase.
103
o u qmi mi n ml i A i l n I H < I I N I < U I I I N p i n l n l i mn l l i > C O I M O ver-
d ml c i piu rl iil i n i i n u voradi r i mU n i n p l i i r c o ntinu a-l o em
d l ri ^ u i i u u m t i l u t i l l vl i u i i l o mu n d o , c o mo Descartes o
q u rr l i m i l i r n i , N r p . i i i u t n l i i r i i r n m U M I n c l in ao natu ral u m
nino p i i rU ru h u ' ( I n I n / i t u t n u t l r in terio r, o u ao contrrio
( l u l u / . i m l u i n l u ma n p rn i c j u ) d o Deu s c riad o r sobre ns.
Jii mu i U c H c artrn d m ao meno s u ma vez a filo so fia como
meu il u efto s p i i l rml i u n o H : no u m mo vimento d o esprito
pm ( llrc c iio d o u n i u verd ad e exterior e imvel, mas u ma
I nmH fo nimc u o pulo exerccio do pensamento no sentido de
H I I I I . H rrrU v/ as e d a prpria verd ad e, ento Jjue ele ad mite
u verd ad e permanente de cada passo, que suas concluses
us to rnam todas vlidas e que ele no admite verdade que
no se tenha tornado. H ento nele, entre outras coisas,
o idealismo. M as o idealismo como momento no idea-
lismo, e no est ento em Descartes. M as est j que os
outros momentos, em que Descartes o ultrapassa, no so
legtimos, e que no passa adiante a no ser esquecendo
seu c o meo . . . Assim a discusso prossegue como deve en-
tre os comentadores. O inventrio dos pensamentos que
Descartes vivo fo rmo u impossvel para uma razo de prin-
cpio que que nenhu m pensamento se deixa separar O
idealismo estava e no estava nele, como, nas adivinhaes,
o coelho est na folhagem e no est enquanto no a olha-
mos de um certo ngulo. O pensamento de um filsofo
fora de qualquer equvoco dos escritos e tomado, se isso
tem um sentido, em si mesmo, no estado nascente, no
sendo uma soma de ideias, mas um movimento que arrasta
atrs de si um rasto e antecipa seu fu tu ro , a distino do
que ali se encontra e do que as metamorfoses a vir ali en-
contraro, no pode, por assim dizer, deixar de ser macros-
cpica. A comparar os prprios escritos de Desc artes - a
ordem de seus pensamentos, as palavras de que se serve,
o que ele diz claramente e o que nega com os escritos de
Spinoza, as diferenas saltam aos olhos. M as desde que se
entre bastante em seus escritos para que a forma exterior
seja ultrapassada, e que aparea no horizonte o problema
que lhes comum, os adversrios de antes aparecem enga-
jados um contra o outro na luta mais sutil, onde cada um,
o parricida e o infanticida, bate-se com as armas que so
tambm as do outro. prprio do gesto c u ltu ral desper-
tar em outro seno uma consonncia* pelo meno s_u m eco.
Enquanto que M alebranche escreve a Dortous de M airan
todo o mal que pensa de Spinoza e que se afro ntam dois
104
pensamentos opacos e teimosos, eis que repentinamente no
ponto em que eles se chocam, reencontramos mais dois es-
prito s singulares, cada um fec had o sobre si e estranho ao
o u tro : descobrimos que batendo no outro cada um se fere
tambm, no se trata mais de um combate singular, mas de
uma tenso, no mu nd o cartesiano, entre a essncia e a exis-
tncia. N o insinuamos aqui nenhuma concluso ctica:
6 s no interior de um mesmo mundo cartesiano que os
adversrios so irmos; e no o so sem querer: M alebran-
che s to severo com Spinoza porque Spinoza tem-o
meio de impulsion-lo bastante longe na estrada do spino-
zismo e que ele no quer nela ir. N o dizemos ento que
toda oposio seja v nem que alguma Providncia nas
coisas d razo a todo mundo. Dizemos que num mesmo
mu nd o de c ultura os pensamentos de cada um levam ao
outro uma vida escondida, ao menos a ttulo de obsesso,
que cada um move o outro como movido por ele, mistura-
se ao outro no momento mesmo em que o contesta: isto
no princpio de ceticismo mas, ao contrrio, de verd ad e.
porque, entre os pensamentos, se produz essa difuso,
essa osmose, porque a separao por compartimento dos
pensamentos impossvel, porque a questo de saber a
quem pertence um pensamento d espro vid a d e sentido que
habitamos verdadeiramente o mesmo mundo e que h nele
para ns uma verdade. E se, enfim, na falta de encontrar
nas obras que ele escreveu ou nos pensamentos que viveu
o absoluto de Descartes, procurvamos por ele na escolha
indivisvel que subentendiam no somente essas obras e
esses pensamentos favoritos mas tambm, no dia a dia,
essas aventuras e essas aes, c ertamente chegaramos assim
ao mais individual, ao que "mil anos de H istria no po-
dem destruir24". Dizendo sim ou no ao que lhe era dado
a ver, a conhecer ou a viver, as decises irrevogveis de
Descartes colocam um limite que nenhum outro fu tu ro
poder arrancar, e definem, acreditaramos, um absoluto
prprio de Descartes que nenhuma metamorfose pode mu-
dar. N o entanto, toda. a-. questo no saber se dizemos
sim ou no, mas por que o dizemos, que sentido damos a
esse sim on a esse no, o que ac eitamos exatamente dizendo
sim^ o_ que recusamos dizendo no. J para seus contem- j
poraneos, as decises de Descartes precisavam ser compreen- !
didas, e eles no o podiam fazer sem nisso colocarem algo
24. J. P. Sartre.
105
lll'M . . 1 1 I) |Hll|l||llM l>'HlUll<HMltll |i'iillil. M . i . , i- ll. |lHi] >r i<>- {
u n i u * , H I > i l M l h i l i N H i i i i - i i l i ' I M l i i i ) 1 " ' ' " - ' i ' 1 , i t e m N r esmagar
M U I N I I I I M i l c i - U i i K N , I N M I H I < i i n i i i / i i n r i n ; i ai n da e n i - l h c pr e-
i l i N i i . i i i h n i n e i i i f i n n c i | I I M | I ! M ( j i n - man i f estavam, o
i | i i i < l l i c N i l i i v u < ( u m e l h o r , c ada u m a del as s ti n h a
| i i n v l n i i i l i ) ' pr ec i sava de c o n ti n u aes par a se r
1 , o l i i l i i i r t i l r dr l r r m l m u i a. A c o n statao do se esse, qu e as
ttrj/uldt' c o l o c am n o n mer o das n atu r ezas simpl es, de-
vi a em Meditaes se i so l ar del as c o mo u ma pr i mei r a ver -
dade, c o mo u ma exper in c ia pr i vi l egi ada, O sen tido do
se esse de ac o r do c o m as Regulae f i c ava en to em sursis.
E c o mo se po de di zer a mesma c o isa de to das as o u tr as
o br as de Desc ar tes, e c o mo o f i l so f o c essa de esc r ever o u
mo r r e, n o po r qu e ac abo u su a o br a mas po r qu e, abaixo
de seu pr o j eto to tal de vi ver e de pen sar , al gu ma c o isa in o -
pi n adamen te se desf al c a c o mo to da mo r te pr ematu r a
ao o l h ar da c o nsc inc ia qu e el a ati n ge, a vida e a o br a
i n tei r a de Desc ar tes s to mam f i n al men te u m sentido i r r e-
vo gvel ao s o l h o s do s so br eviven tes, e pel a il u so do es-
pec tado r estr an h o . Par a Desc ar tes vi vo , e to e st r e i t ame n t e
qu e tivesse sido pr essi o n ado par a se pr o n u n c i ar em seu
h o r i zo n te h istr ic o , em f ac e de tal i n sti tu i o , de tal U To -
so f i a r ei n an t e, de tal r el igio , to r eso l u tamen te el e t e n h a
di to sim a isto n o aqu il o , c ada dec iso l o n ge de ser u m
abso l u to , po dia ser i n ter pr etada pel os o u tr o s. A qu esto
l r el i gi o de Desc ar tes n o f i c a dec i di da pel a per egr i n a-
o a N o tr e- Dame- de- Lo r ette n em pel o qu e el e disse do
c ato l i c i smo em su as o br as: r esta saber o qu e podia ser esse
si m, j u n t o ao c o n j u n to de pen samen to s qu e el e expr i mi u
al h u r es. N o se tr ata tan to de saber se ele f o i r el igio so mas
exa qu e sentido o f o i, qu e f u n o pr een c h i a a r el igio n o
c o n j u n to Desc ar n es. N o estava el a s pr esen te n el e de
I
man ei r a mar gi n al , an n i ma, c o mo u m el emen to do equ i -
pamen to h i str i c o de seu tempo e sem c o mpr o misso c o m
u m c en tr o pr pr i o de seu pen samen to , qu e c o l o c ar amo s
n a c l ar i dade n atu r al ? Ou , ao c o n tr r i o , i a el a at o c o r ao
do f i l so f o Desc ar tes, e c o mo al i se c o mpu n h a c o m o r esto ?
Essas qu estes, qu e c h amam n o ssa i n ter pr etao , n o ser ia
pr ec i so postular qu e el e mesmo as ten h a ar ti c u l ado e r e-
so l vido n o di a em qu e dec idiu f azer u ma per egr i n ao a
N o tr e- Dame- de- Lo r ette, e qu e el e c o n ser vo u em seu n ti mo a
so l u o n u m mago qu e ser ia o abso l u to de Desc ar tes. N o
men o s o bsc u r o ao s seus pr pr io s o l h o s do qu e ao s no sso s,
po de ac o ntec er qu e n o ten h a tido a c h ave de su a pr pr ia
106
vi da; qu e, n asc i do n u m tempo em qu e a r el i gi o estava es-
t abel ec i da, el e par ti c i passe si mpl esmen te dessa r el i gi o ge-
r al e u n i sse c r en as e u ma l u z n at u r al , qu e n o s par ec em
disc o r dan tes, sem l h es pr o c u r ar c en tr o c o mu m; qu e, f i n al -
men t e, el e n o tivesse ti do c h ave n ic a dessa vi da, qu e
el a s sej a en i gmti c a c o mo o o i r r ac i o n al , o f at o pu r o ,
a vi n c u l ao de u m pen samen to a u m tempo , qu er di zer ,
en i gmti c o em si , sem qu e em n en h u m l u gar h aj a u ma so -
l u o . . . Qu e sej a assim o u qu e, ao c o n tr ar i o , sej a a r el i-
gi o , sej a o pen samen to pu r o qu e d a c h ave Desc ar tes,
en qu an to o segr edo del e mesmo n o er a dado exatamen te
n el e; ?]f t j n h q, , n pn m^n o s qu e n s, qu e dec i f r a- 1 " n " i
t- l o e essa ten tati va de i n ter pr etao qu e
o br a e su a vi da. O abso l u to de Desc ar tes, o h o mem Desc ar -
tes em seu tempo , du r o c o mo u m di aman te, c o m su as ta- 1
1 r ef as c o n c r etas, su as dec ises, seu s empr een di men to s, n s J
qu e imagin amo s, po r qu e el e est mo r to , e h mu i to tempo .
Qu an to a el e, n o pr esen te, n o po de ac o n tec er qu e n o pr o -
du za, a c ada mi n u to , u ma si gn i f i c ao Desc ar tes, c o m tu do
o qu e as si gn i f i c aes c o mpo r tam de c o n testvel , n o po de
f azer u m gesto sem en tr ar n o l abi r i n to da i n ter pr etao de
1 si mesmo esper an do qu e o s o u tr o s n isso se metam. M al
to c ar i a el e n esse c o n c u r so si n gu l ar de c i r c u n stn c i as qu e
c o n sti tu em seu l u gar h i str i c o ao en sin o do c o l gio de
La Fl c h e, geo metr ia, f i l o so f i a tal qu al l h e dei xar am
seu s pr edec esso r es, a essa gu er r a qu e vai f azer , a essa ser -
va qu e l h e dar u ma f i l h a, aqu el a h o r r vel r ai n h a da Su -
c i a qu e pr ec isa i n str u i r tu do to ma so b seu s dedo s u m
sen tido Desc ar tes, qu e se po de c o mpr een der de vr i as ma-
n eir as, tu do se pe a f u n c i o n ar n u m mu n do Desc ar tes,
en igmtic o c omo to do indivduo ; sua pr pr ia vida se pe
a testemu n h ar de u ma man ei r a de tr atar a vi da e o mu n -
do e, c o mo to do s o s o u tr o s, esse testemu n h o pede i n ter pr e-
tac o . N o ac h amo s n em mesmo n o i n di vdu o to tal esse
, prprio de Descartes qu e em vo pr o c u r amo s em seu pen -
samen to , o u mel h o r , s o ac h amo s al i em enigij ,^sem a
c er teza de qu e o en i gma c o mpo r ta u ma r espo sta. O qu e f az
c o m qu e essa vi da, ac abada h tr ezen to s an o s, n o ten h a f i -
c ado en ter r ada n o t mu l o de Desc ar tes, qu e el a per man ea
embl ema e texto a l er par a to do s n s, e qu e el a c o n ti n u a l
embaixo , " desar mada e n o ven c i da, c o mo u m l imite" ,
j u stamen te po r qu e el a j er a si gn i f i c ao e qu e nesse sen -
ti do el a c h amava a n o etamo r f o se. Em vo en to pr o c u r a-
r amo s mesmo aqu i al gu ma c oisa que no sej a s de Des-
107
cartes. Ele no singular como uma pedrinhajju_como
uma essncia,: singular coma um tom, um estilo ou uma
linguagem, quer dizer participarei pelos outros, e mais, que
indivduo. Mesmo religado sua vida, o pensamento f io
filosofo, o mais decidido que exista a ser explicitado^ji
se definir, a se distinguir como o pensamento alusivg
do romancista no exprime sem ^subentendido.
Fica que a linguagem, mesmo se de f ato recaia na pre-
cariedade de f ormas de expresso mudas tem em princpio
outras intenes alm delas. QJiomem que f ala ou cpie
escreve toma em relao ao passado uma atitude que, s
dele. Todo o mundo, todas as civilizaes continuam p,pas-'
sado: os pais de hoje vem sua infncia na de seus pr-
prios filhos, retomam para com eles as condutas de seus
prprios pais, ou, ento, por rancor, passam ao extremo
oposto, praticam a educao libertria se sof reram a edu-
cao autoritria, mas, por esse desvio, alcanam f requen-
temente sua t_radio, j que a vertigem da liberdade le-
var a criana ao sistema da segurana e f ar dela em
vinte anos um pai autoritrio. Cada conduta que assumi-
mos em relao a um f ilho percebida por ele no somente
em seus efeitos mas ainda em seu princpio. Ele no a
sofre somente como f ilho criana, ele a assume como adulto
l f uturo, no somente objeto mas j sujeito, f ica cmplice
com as prprias severidades que sof re, porque seu pai um
^ outro ele mesmo. Da vem que a educao autoritria no
f az, como se poderia crer, verdadeiros revoltados: aps as
revoltas da juventude, v-se reaparecer no adulto a prpria
imagem de seu pai. talvez porque criana, com uma
sutileza extraordinria, no percebe somente a rigidez de
seus pais mas, por detrs, o f undo de angstia e incerteza
que f requentemente a motivam, que sofrendo com uma
aprende a sof rer com a outra e, quando vier a hora de
ser pai, no f ugir a nenhuma das duas, e entrar por sua
conta no labirinto da angstia e da agresso que faz os vio-
lentos. Assim, a despeito dos ziguezagues, que levam s
vezes ao ponto de partida, e porque cada homenzinho, atra-
vs de cada cuidado de que foi objeto, cada gesto que tes-
temunha, se identif ica f orma de vida dos pais, se estabe-
lece uma tradio passiva qual todo o peso da experin-
cia e das aquisies prprias no sero bastante para tra-
zer alguma mudana. Assim se faz a temvel e necessria
integrao cultural, a retomada de idade em idade de um
destino. Claro, as mudanas intervm nem que fosse
108
porque u nl um; henl n nme| um> ef l H cm ter vivido as pr-
MilH ttiiH r ( | i i r H M e o i u l i i h m n | > i r ml l t l n: ; , laolodns di i s experin-
cias ( j uc U M i i i o l i v i n u , podem H cr por riu investidas de um
novo sentido. Mius cm todo eu.so, es.sa.s mudanas se f azem na
obscuridade, raro que a criana compreenda sua raa,
compreenda as prof undas emoes pelas quais comeou a
viver, e tire disso um ensinamento em vez de deix-las agir
nela. Ela se contenta normalmente em continu-las, no
em sua verdade, mas no que elas tm de injurioso e into-
lervel. A tradio de uma cultura nf t .^i,pe.rfcie mono-
tonia e ordem, em profundidade tumulto e caos, e a prpria
rutura no , mais que a docilidade, uma liberao.
A imensa novidade da expresso que ela f az, enf im,
sair a cultura tcita de seu crculo mortal. Quando as
artes aparecem numa cultura, aparece tambm uma nova
relao ao passado. U m artista no se contenta em con-
tinu-lo, pela venerao ou pela revolta; ele o recomea;
no pode, como uma criana, imaginar que sua vida
f eita para prolongar outras vidas; se ele pega o pincel,
que num sentido a pintura est ainda por fazer. No en-
tanto, essa prpria independncia suspeita: justamente
se a pintura est sempre por fazer, as obras que ele pro-
duzir vo-se acrescentar s obras j feitas: elas no as
contm, no as tornam inteis, elas as recomeam; a pin-
tura aprpwita, n"qpnjf l f f S f pi pnssfvpl graaf l f l tn
passado de pintura, nega demasiado deliberadamente esse
passado para poder nit.raa-^-1" y prriaH pirgmpnf c Ela s
pode esquec-lo. E o preo de sua novidade que ela faz
parecer o que veio antes dela como uma tentativa f alha,
que uma outra pintura amanh a f ar parecer co_mo
uma outra tentativa f alha, e que, enf im, a pintura inteira
se d como um esforo abortado para dizer alguma coisa
que permanece sempre a. dizer. aaui que percebemos
o prprio da linguagem.
Pois o homem que escreve, se no se contenta em con-
tinuar a linguagem que recebeu, ou em redizer as coisas
j ditas, no quer.. -tambm substitu-la por um idioma
que, como o quadro, se baste e seja f echado sobre sua pr-
pria significao. Quer realiz-la e destru-la ao mesmo
tempo, realiz-la destruindo-a ou destru-la realizando-a.
Ele a destri como palavra toda f eita, que no revela mais
em ns do que significaes languescentes, e no torna
presente o que diz. Ele a realiza no entanto porque a
109
T.
-c-
V
lngua dada que o penetra de parlo cm parte e j d uma
figura geral aos seus pensamentos mula secretos, no est
l como uma inimiga, e qu no contrrio est inteiramente
pronta para converter um aquisio o que significa de
novo. como se ela tivesse sido feita para ele, mas tam-
B fim" ele feito puni Ha, como se o dever de falar que lhe
determina n lngua c a qual ele foi votado aprendendo-a,
fosse ri r i i u - N i i i o , u mais justo ttulo que a pulsao de sua
vida, ou qun a lngua instituda j comportasse o escritor
cm si mesma como um de seus possveis. Cada pintura nova
toma lugar no mundo inaugurado pela primeira pintura,
consome o voto do passado, tem dele procurao, age em
seu nome, mas no o contm em estado manifesto, ela
memria para ns se conhecemos alm a histria da pin-
tura, ela no memria para si, no pretende totalizar o
que a tornou possvel; a palavra, ao contrrio, no contente
de ir alm, pretende recapitular, recuperar, conter em_ subs-
tncia o passado e, como no saberia, a menos que o repe-
tisse textualmente, d-lo a ns em sua presena, ela o faz. 50-
frer uma preparao que o torna capaz de se manifestar
nela; ela quer nos dar a verdade dele. Ela se ata sobre si
mesma, se retoma e se reapodera. Ela no se contenta em
impulsionar o passado fazendo-se um lugar no mundo, ela
quer conserv-lo, em seu esprito ou em seu sentido. As pro-
priedades do nmero fracionrio no tornam falsas as do
nmero inteiro, nem as geometrias no euclidianas as de Eu-
clides, nem mesmo as concepes de Einstcin as da fsica
clssica: as novas formulaes fazem aparecer as antigas
como casos particulares especialmente simples, onde certas
possibilidades de variaes no foram empregadas, e que s i/
seriam enganadoras se as fizssemos medida do prprio '
ser. A geometria plana uma geometria no espao onde se
faz uma dimenso nula, o espao euclidiano um espao a
n dimenses onde se faz n 3 dimenses nulas. A verdade
das formulaes antigas no ento uma iluso: so falsas
no que negam, so verdadeiras no que afirmam e depois
bem possvel ver nisso uma tomada antecipada sobre as
explicitaes do futuro. ento propriedade do algoritmo
conservar as formulaes antigas medida que ele as mu-
da em si mesmas e em seu sentido legtimo, reafirm-las no
momento em que as ultrapassa, salv-las destruindo-as, e
consequentemente faz-las aparecer como partes de uma to-
talidade em construo, ou como esboos de um conjunto
110
i mo
Aqui U rtMlInu nlm.u.i iinii iinimuM mniirllir
nliiriiu. i - ln Inli^m MM pi liiicli nn il^iinu r/ii'.i
liinriim rtninrnir puni n hi lmo um vn^o npclo, M
r, n) i jur rir ivnll/.ii r ni ji i cl n Illt-Nlllll qur rhi i nmvn . |H qiir n
.salva , ela 6 a experincia da ni r . - umi vr nl ml r na qual
vir fundir-se. Da vem que nisso h aquisio da clncla,
ri i quant o que a pintura est sempre em suspenso, dai vcin
que o algoritmo torna disponveis as significaes que ele
conseguiu proferir, quer dizer que elas nos parecem ley a_ r,
alm de suas formulaes provisrias, uma existncia inde-
pendente. Ora, h alguma coisa de anlogo em toda lin-
guagem. O escritor s se concebe numa lngua estabeleci-
da, enquanto cada pintor refaz a .sua. E isto quer dizer | j
que a obra da linguagem, construda a partir desse bem co- /
mum que a lngua, pretende nela se incorporar. Isto quer
dizer tambm que ela se d de um s golpe como includa
na lngua, ao menos a ttulo de possvel; as prprias trans-
formaes que leva a ela nela permanecem reconhecveis
aps a passagem do escritor, enquanto a experincia de
um pintor, passando em seus sucessores, cessa de ser iden-
tificvel. Isto quer dizer que o passado da linguagem no
somente passado superado, mas tambm passado compre-
endido. A pintura T miffe
H um uso crtico, filosfico, universal da lngua, que
pretende recuperar as coisas como elas so, enquanto a pin-
tura as transforma em pintura que pretende recuperar
tudo, e a prpria linguagem, e o uso que dela fizeram outras
doutrinas. Scrates mata Permnides, mas os assassinatos
filosficos so ao mesmo tempo o reconhecimento de uma
filiao. Spinoza pensa exprimir a verdade de Descartes, e,
claro, Hegel a verdade de Spinoza, de Descartes e de todos
os outros. E evidente, sem outros exemplos, que o filsofo,
do momento em que visa verdade no pensa que ela o
tenha esperado para ser verdadeira, visa-a como verdade
desde sempre. essencial jrgrdade ser integral, enquanto
que nenhuma pintura vlida jamais pretendeu ser integral.
Se, como diz Malraux, a unidade dos estilos s aparece no
Museu, na comparao das obras, se ela est entre os qua-
dros ou atrs deles, ao ponto de o Museu faz-los aparecer
como super artistas, atrs dos artistas, e a histria da
pintura como uma onda subterrnea de que nenhum deles
esgota a energia, que o Esprito da Pintura um esprito
fora de si. , ao contrrio, essencial linguagem procurar
1 1 1
t N U , 1' Hl l l pl U U t | Ht l M 1 ' l l l l r i l n W^ I T i l c i i l r H I 1U S pr-
I H V ; O l ' N l l l ' M I I l>, ' l"1 f " l l t l Kn| ) l'P It pl l l l WI ' U , CHI VCZ
< ) M M i i i n i > i t t i > r m p i i r . i t l " . ' ' " i i i m o iv t plriL u d a llngu a gem _
M M p i i < h < i n l i < n i ' i r n p i i i i n pn m . M , qu ereria na d a t er a n o
M C I t l n I . A u U L u d u d u. lingu a gem e a d a pint ura a respeit o
d t p l. cinpo so quase opost as. Apesar d a s ro upa s d o s perso na -
gens, d a fo rm a d o s mveis e d o s ut enslios que nele figu-
ra m , a s circunst ncia s h ist ricas s qua is po d e a lud ir, o
quadro inst ala na mesma h o ra seu ch a rm e nu m a et ernid a -
de sonh adora onde, vrio s sculos mais t a rd e, no t emos
d ificuld a d e em alcan-lo, sem mesmo t er sido iniciados
na h ist ria d a civilizao em que ele nasceu. O escrit o, ao
co nt rrio , s comea a nos co munica r seu sent ido ma is du-
rvel aps nos t er iniciado nas circunst ncias, debat es h
m uit o pa ssa d o s: As Provinciais no no s diriam na d a se no
remet essem ao present e as disput as t eolgicas do sculo
XV II, em O Vermelho e o Negro a s t reva s d a Rest a ura o .
M as esse acesso imed ia t o ao d urvel que a pint ura se ou-
t orga, ela o paga curiosament e e sofre, muit o mais que a
lingua gem, o mo viment o d o t em po , a s prprias obras-pri-
ma s d e Leo nard o d a V inci no s fa zem pensar m a is nele d o
que em ns, na It lia ma is que no s h o mens. E, ao co nt r-
rio, a lit era t ura , na prpria med id a em que ela renu ncia
prud ncia h ipcrit a d a a rt e, em que ela a fro nt a bra v a m en-
t e, o t empo, em que ela mo st ra , em vez de evocar vagamen-
t e, o fundamento em significao pa ra sempre. Sfo -
cles, Tucd id es e Pla t o no reflet em a Grcia , eles a fa -
zem ver, mesmo a ns que est amos t o longe. As est t ua s
d e Olim pia , que fa zem o ut ro t a nt o o u mais pa ra no s liga r
a ela, a liment a m t a mbm no est ado em que ch ega ra m a
ns embra nquecid a s, quebra d a s, dest acadas da o bra t o-
t a l um m it o fra u d u lent o d a Grcia, no resist em a o
t empo como o pode fa zer um escrit o. M anuscrit os rasgados,
qua se ilegveis, e red uzid o s a a lgum a s fra ses, no s d o ma is
esclareciment os d o que est t ua a lguma em ped a o s o po-
d eria fa zer, po rque a significao est neles d epo sit a d a d e
o ut ra ma neira , co ncent ra d a d e o ut ra ma neira , po rque na -
d a iguala a maleabilidade d a pa la vra . A primeira pint ura
ina ugura um m u nd o , a primeira pa la vra a bre um universo.
Enfim a lingua gem diz e a s vo zes d a pint ura so a s vozes
do silncio. . . Se espremermos o sent id o dessa pequena
palavra dizer, se esclarecermos o que faz o preo da lin-
gua gem , ach aremos nela a int eno d e d esvend a r a prpria
1 1 2
coisa, d e ult ra pa ssa r o enuncia d o em d ireco . d o .que ele
significa . C ad a pa la vra pode reenvia r a t odas a s o u t ra s pa -
la v ra s possveis e t ira r d ela s seu sent ido, perm a nece que
no m o m ent o em que ela se pro d uz, a t a refa d e exprim ir no
ma is d iferencia d a , reenviada a o ut ra s palavras, ela est
feit a e ns co mpreend emo s a lgum a coisa. Dizamos m a is
a lt o co m Saussure que um a t o singula r d e pa la vra no d e
si significa nt e e s. vem a sej. como .modulao de um sist e-
ma geral de expresso, e d esd e qm? SR diferen.* ifo g out P"
gest os lingust icos que compem a lngua , t o bem que a ln-
gua s po d e, em sum a , ca rrega r d iferena s d e significaes
e pressupor uma co munica o geral, mesmo se vaga e ina r-
t icula d a . preciso agora a crescent a r: a m a ra vilh a P T1P *"-
t es de Saussure no sabamos nada disso, e que o esquece-
mo s a ind a ca d a vez que fa la m o s, po r exemplo qua nd o fa la -
mo s d e Saussure. A m a ra vilh a que, simples po d er d e d i-
ferencia r significaes, e no d e d-las a quem no a s t eria,
a pa la vra parece, no ent a nt o , cont -las e veicul-las. Ist o
quer dizer que no devemos deduzir o poder significant e
d e ca d a uma d o po d er d a s o ut ra s, o que fa ria crculo, nem
mesmo d e um po d er global d a lngu a : um t o d o pode t er o u-
t ra s propriedades alm d e suas pa rt es, no se po d e fa zer
ex-nihilo. C a d a a t o lingust ico , pa rcia l como pa rt e d e um
t odo e at o co mum d o t o d o d a lngua, no se lim it a a dis-
pender seu po d er, ele o recria po rque no s fa z verifica r,
na evid ncia d o sent ido d a d o e recebido, a ca pa cid a d e que
t m os sujeit os fa la nt es de ult ra pa ssa r os sinais em d ireco
do sent ido, do qual aps t ud o o que ch amamos lngua s
o result ad o visvel e o regist ro . ^) s sina is no evo cam so men-
t e pa ra ns o ut ro s sinais, e ist o sem fim , a lingua gem no
como uma priso o nd e est eja mo s, encerrados, o u um gu ia
cuja s indicaes devssemos seguir cega ment e, po rque em
seu uso at ual, na int egrao desses mil gest os, a pa rece,
enfim , o que eles querem d izer, e a o que eles no s pro po rcio -
na m um acesso t o fcil que no t eremo s nem m a is neces-
sidade deles pa ra a nos referirm o s. M esmo se, em seguid a ,
nos apercebssemos que no t ocamos ainda as prprias coi-
sas, que essa pa ra d a na vo lubilid a d e de nosso esprit o s exis-
t ia pa ra preparar uma no va pa rt id a , que o espao euclid ia -
no, longe de se oferecer com uma cla rid a d e lt ima , t inh a
a ind a a o pacid ad e d e um caso m uit o pa rt icula r e que sua
verdade s era verdade de segunda ordem, que precisava ser
fu nd a d a num a no va generalizao d o espao, permanece que
113
O m o v i m e n t o pe lo q u a l p n r t n a m o n d e n m n e v l d e n e l n
li um a i w l d e n e l a ( | n n o 6 m e i i o n e n l i d i e l e c e c n he um a e o u-
t r a n m n r e t ae uo t l e | i n pl l r u< ; i t o m i e r pr pr i a da coisas
( I l l i m O r r i m i l / n l i e i i l r i i . e o m o u r l I M o l o , e l i o r i L . se so br e O S
pa r a d o x o n d e x l N l e n e l a e um n o i d . r o e o i i H o m e m suas fo r -
l' i i n n N P 1 ' H p a n l a r , e m p e n ha m e , e qui se r m o s, um e o ut r o ,
u l e e i i p r n i r n m i p l r l m i i r i i l r o m un d o . M as n o ao m e sm o
po n t o O r r a e a i t m do e n qn l / . o r r fl n l c o so fr i do , e s se f az
c o n he c i d o po r i t l ^ n i n a M 1'ra. se. s e n i gm t i c as. O _ que c har n a-
n i o f* o fr ar a. H N o t i o fi lso fo deixa atrs r fpjp t n dn n m ~r aBt n
d r n l U M de e xpr e sso que n o s faze m re to m ar nossa condi-
r o . Quan d o e n t o c o m par am o s a lin guage m s fo r m as
m ud as da e xpr e sso ao gesto, pi n t ur a , preciso v e r
bem que ela no se contenta, como as outras, em desenhar,
n a supe r fc i e do m un do , v e to re s, direes, um a deforma-
o coerente, um se n so t c i t o . O c hi m pan z que apr e n de
a e m pr e gar um r am o de r v o r e par a atin gir se u o bje t i v o
s o f az co m um e n t e se os dois objetos pude r e m ser vistos
n um s o lhar, se esto e m contato visual. Ele n o v o
ram o de rv o re com o basto possvel a n o ser que ele
se oferea n o mesmo cam po v i sual o n de fi gur a tam bm o
o bjetiv o . dizer que esss^senUdjo. novo do r am o um fe ixe
de in te n e s pr t i cas que o r e n e m ao o bjetiv o , im in n -
cia de um gesto, ao n de x de um a m an i pulao . Ela n asce
sobre o circuito do desejo, entre o corpo e o que procura,
e o r am o de rv o re s se v e m i n t e r c alar nesse t r aje t o po r -
que o facilita, no conserva to das as suas pr o pr i e dade s de
r am o de rv o re. O s psiclogos m o st r am que um a caixa par a
um chim panz ou m eio de se se n t ar ou m eio de subir, m as
no os dois ao m e sm o tem po. Basta que um co n gn e r e es-
t e ja se n tado sobre a caixa par a o c hi m pan z par ar de
trat-la como meio de subir. dizer que a significao que
habita essas c o n dut as com o que viscosa; ade r e distr i-
buio fo r t ui t a do s objetos, s sign ificao par a um corpo
e n gajado e m t al m o m e n t o e m t al t ar e fa. A si gn i fi cao da
li n guage m , n o m o m e n t o e m que n s a apr e n de m o s, par e c e
ao co n trrio se liberar de qualque r tare fa. Quan do , par a
e n co n t r ar a supe r fcie do paralelogram a, e u o t r at o como
um retngulo possvel e enuncio aquelas suas proprieda-
de s que aut o r i zam po r princpio a t r an sfo r m ao , n o m e
lim ito a m ud-lo, pr e t e n do que essa m udan a o deixe inta-
to e que n o pr pr io parale lo gram a, se n do e le um r e t n gulo
possvel, a supe r fci e igual ao pro duto da base pela altura.
114
N o t e m o s so m e n t e subst i t ui o de um se n t i do a o ut r o , m as
subst i t ui o de se n tido s equivalentes, a n o v a e st r ut ur a n o s
apar e c e co m o j presente n a an t i ga, o u a an t i ga ai n da
pr e se n t e n a nova, o passado n o si m ple sm e n t e ultrapas-
sado , compreendido, o que exprim im os di ze n do que h
v e r dade e que aqui emerge o esprito. Antes, como n um ca-
leido scpio , um a n o v a paisagem e r a r e pe n t i n am e n t e dada
ao do an i m al, o fe r e ce n do -lhe algum as condies do
fat o que e le apro v e itaria, ago ra o m e sm o o bje to n o s revela
um a propriedade sua, que tinha antes de ns, que conser-
v ar depois. P assam os da o r de m das causas o r de m das
raze s, e de um t e m po que acum ula as m udan as a um tem -
po que as com preende.
O que preciso ver, n o e n t an t o , que n o sam os sem-
pr e do te m po , n e m de um c e r t o c am po de pen sam en to , que
aque le que co m pre e n de m esm o a geom etria n e m se m pre
um esprito sem situao no m un do n atural e na cultura,
que e le he r de i r o , n o m elho r do s casos o fun d ad o r , de um a
certa li n guage m , <ju~ a significao n o transcende a pre-
sena de fatos do s sinais, que com o i n st i t ui o est alm
das contingncias que a fi ze r am nascer. Ce rto , quan do
Galileu co n se guiu r e un i r so b um a si gn i fi c ao c o m um o s
m o v im e n to s un i fo r m e m e n t e acelerados, o s m o v im e n to s un i -
fo r m e m e n t e re tardado s, como o de um a pedra que se atira
par a o cu, e o m o v im e n to re tiln e o un i fo r m e de um co rpo
que n o subm e t i do ao de n e n hum a fo r a, as trs o r -
de n s de fat o s to rn am -se bem as v ar i an t e s de um a s din m i-
ca, e nos parece ter fixado um a essncia de que eles so s
exemplos. M as esta sign ificao s po de por prin cpio tran s-
parecer atr av s das fi gur as concretas que ela un e . Que ela
n o s apar e a a par t i r desses casos particulares, isto n o
um acide n te de sua gnese, que n o afe t ar i a a si pr pr i a,
isto est in scrito em seu co n te do e se quisssemos desta-
c-la das cir cun stn cias em que se m an ife sta, ela se an u-
laria sob nossos olhos. Ela no t an t o uma significao
alm do s fat o s que a sign ificam , m as sim o m eio pelo qual
podemos passar de um a o ut r o , o u o t r ao de sua ge rao
i n t e le ct ual. A v e r dade nica e co m um , de onde os vemo*
e m an ar depois, n o est atrs deles co m o a r e ali dade est
at r s da aparn cia, e la n o pode fun d ar n e n hum m ovi-
m e n t o progressivo pelo qual de duzi r am o s dela, e la n o
sua v e r dade a n o ser co m a condio de a m anterm os
se m pr e e m se u co n tato . Quan do Gauss n o t a que a soma
115
K | M l M t H l i i i M imiiiun-, r l. M iln n o t i m* purdn ls,
lHihiPi|llfi|iliitMPlitn n i n a r ) | ' . i i ; i l u / / ; l e chega
n *M n i ii r n i m l i i - (n | 1) , quando d esta significao
2
a toda sequncia contnua de nmeros, o que o assegura
de ter descoberto sua essncia e verdade, que v derivar
da srie de nmeros os pares de valor constantes que vai
n
contar, em vez de efetuar a soma. Afrmula - (n -f- 1)
no leva essncia desse fato matemtico, s demonstra-
da na medida em que compreendemos, sob o mesmo sinal n
dua_s vezes empregado, a dupla funo que ele preenche:
a da quantidade de nmeros a somar (n ordinal) e a do
nmero final da srie (n cardinal) . E qualquer outra frmu-
la, equivalente aos olhos do algebrista, que podemos tirar
n + l n (n + 1) (n2 + n)
dessa, tal qual - (n) ou - ou - ,
2 2 2
s tem valor expressivo por seu intermedirio, porque ela
s faz ver a relao entre o objeto considerado e sua ver-
dade. Claro permitido a um pensamento cego usar essas
ltimas frmulas e nos assegurarmos que os resultados que
se obter por esse meio sero verdadeiros tambm, somente
na medida em que tivermos podido constru-los a partir
dele, reiterando a operao que nos tinha permitido cons-
tru-la a partir da srie de nmeros. Assim nada, limita
nosso poder de formalizar, quer dizer de construir expres-
ses cada vez mais gerais de um mesmo fato, mas, por
mais longe que v a formalizao, sua significao perma-
nece como que em sursis, no quer atualmente dizer nada
e no tem nenhuma verdade enquanto no apoiarmos suas
superestruturas sobre uma coisa vista. Significar, signifi-
j car alguma coisa, este ato decisivo s consumado quando
l as construes se aplicam ao percebido como ao que tem
significao ou expresso, e o percebido com suas signifi-
caes viscosas fica em dupla relao com o compreendido:
de um lado ele s esboo e incio, chama uma retomada
que o fixa e o faz ser enfim; de outro ele seu prottipo e
acaba s de fazer do compreendido a verdade atual. Certo,
116
s preciso que o sensvel, se entendemos por isso a quali-
dade, contenha tudo o que pertence, e no h mesmo qua-
se nada na percepo humana que seja inteiramente sen-
svel, o sensvel inencon travei. M as no h nada tambmi
que possamos pensar efetivamente e atualmente sem relig-
lo ao nosso campo de presena, existncia atual de um/
percebido, e nesse sentido ele contm tudo. No h ver-
dade que possa somente se conceber fora de um campo de
presena, fora dos limites de uma qualquer situao e de
uma estrutura qualquer que seja. -nos dado sublimar essa
situao at chegar faz-Ta parecer como caso particular
de toda uma famlia de situaes, mas no de cortar as ra-
zes que nos implantam numa situao. Atransparncia
formal do algoritmo recobre uma operao de vaivm entre
as estruturas sensveis e sua expresso, e toda a gnese de
significaes mdias, mas preciso reativ-las para pensar
o algoritmo?
Embora o prprio da sedimentao nas cincias seja
contratar na evidncia de uma s tomada uma srie de
operaes, que no precisam mais ser explicitadas para
operar em ns, a estrutura assim definida s tem seu ple-
no sentido e se presta a novos progressos do saber se con-
serva alguma relao com nossa experincia, e se reco-
meamos, mesmo por uma via mais curta, a constru-la a
partir dela. Ns que dizemos que as teorias ultrapassadas
so conservadas pelas teorias ulteriores: elas s o so me-
diante uma transposio que converte em transparncia
aquilo que, nelas, era opaco como todo dado de fato; esses
erros s so salvos como verdade, no so ento salvos.
E talvez com eles nossa teoria deixe, fora de si mesma e
suas evidncias, uma franla de saber pressentido que a
cincia, em sua prxima curva, retomar. Acincia vlida
no feita de seu presente somente, mas tambm de sua
histria.
Se isso verdade do algoritmo, por razo mais fort e
o da linguagem. Hegel o nico a pensar que seu sistema
contm a verdade de todos os outros, e se algum os co-
nhecesse s atravs de sua sntese, no os conheceria nada.
M esmo se Hegel verdadeiro, do comeo an fi m , n ari a rifc-
pensa ler aqueles que vieram antes dele, . pois ele no os
pode conter a no ser "no que eles afirmam". Conhecidos \ o que negaftv, o ferecem ao leito r uma o utra situao de
pensamento," "que no est em Hegel eminentemente, que /
117
no est absolutamente nele, de ondo Hcgcl 6 visvel num
ngulo que ele mesmo Ignora. Hugol c o nico a pensar
que ali no est para ou trem c seja aos olhos dos outros
exatamente o que ele sabe ser. Mesmo se ele representa
um progresso em relao s outras filosofias, pode .haver
aj.em tal passagem de Descartes ou de Plato, em tal mo-
vimento das Meditaes ou dos Dilogos, e justamente por
causa das ingenuidades que as mantinham ainda afas-
tadas da verdade hegeliana, um contato cnm as coisas,
uma fasca de significao que s passariam eminentemente
na sntese hegeliana, e s quais seria preciso sempre ,yoj-
tar, nem que fosse para compreender Hegel. Hegel . o
museu, todas as filosofias, se quisermos, ma.s privarias
de sua zona de sombra, de sua finitude, de seu impacto
vivo, embalsamadas, "transformadas, acredita ele, nelas
mesmas, mas para dizer a verdade transformada nele.
Basta ver como uma verdade deperece quando cessa de
ser sozinha e quando integrada a outra verdade mais
ampla como por exemplo o cogito, quando ele passa
de Descartes a Malebranche, a Leibniz ou mesmo a Spino-
sa, cessa de ser um pensamento e torna-se um conceito,
um ritual que se rediz na ponta dos lbios para com-
preender que a sntese no pode, sob pena de morte, ser
uma sntese objetiva, que contivesse efetivamente todos
os pensamentos terminados, ou ainda uma sntese real que
seria tudo o que eles foram, ou, enfim, uma sntese em e
para si que, no mesmo tempo e sob a mesma relao, seja
e conhea, seja o que conhea, conhea o que , conserve
e suprime, realize e destrua.
Hegel nos diz que a sntese conserva o passado "em
sua profundidade presente". Mas como tem ela profundi-
' dade e qual essa profundidade? a profundidade do que
ela no mais, a profundidade do passado, e o pensamento
verdadeiro no o engendra, ela nele foi iniciada s pelo
fato do passado ou pela passagem do tempo. Se Hegel quer
dizer que essa passagem no simples destruio e que o
passado, medida que se afasta, se transforma em seu
sentido, se quer dizer que, a igual distncia entre uma or-
dem de imutveis naturezas e a circulao dos momentos
do tempo que se expulsam um ao outro, podemos depois
retraar um encaminhamento de ideias, uma histria in-
teligvel e retomar todo o passado em nosso presente vivo,
ele tem razo. Mas com essa condio que essa sntese,
118
como aquela que nos d o mundo percebido, permanece
da ordem do pr-objetivo e seja contestada por cada um
dos termos que une, ou sobretudo com a condio que
cada um deles permanea, como foi no presente, igual ao
todo, o todo do mundo na data considerada e que o enca-
deamento das filosofias numa histria intencional perma-
nea na confrontao de significaes abertas, uma troca
de antecipaes e de metamorfoses. certo num sentido
que o menor estudante de filosofia hoje pense com menos
preconceitos que Descartes, e no sentido que ele est mais
perto do verdadeiro, e essa pretenso postulada por todo
homem que se ponha a pensar depois de Descartes. Mas
ainda Descartes que pensa atravs de seus sobrinhos-netos,
e o que podemos dizer contra ele ainda o eco de sua pa-
lavra breve e decidida. pelos outros que compreendemos
Hegel, no tanto que ele os ultrapassa, tanto quanto com-
preendemos os outros por ele. Um presente que contivesse
realmente o passado em todo o seu sentido de passado e,
em particular, -Q passado-de-. todos- os passados, & jnundo
em todo o seu sentido de mundo, seria tambm um presen-
te sem futuro, j que nisso no haveria mais nenhuma re-
serva de ser de' onde alguma coisa pudesse lhe vir. O dolo
cruel do em si para si hegeliano exatamente a definio
da morte. A sedimentao no o fim da Histria. No h
Histria se nada permanece do que passa e se cada pre-
sente, justamente em sua singularidade, no se inscreve
uma vez por todas no quadro do que foi e continua a ser.
Mas no h tambm Histria se este quadro no se cava
segundo uma perspectiva temporal, se o sentido que nele
aparece no o sentido de uma gnese, acessvel somente
a um pensamento aberto como a gnese o foi. Aqui o cmu-
lo da sabedoria e da manh uma ingenuidade profunda.
Q uanto literatura, aceita nmyiumente mais resoluta-
nunca ser--total, e P" nng ri ggnificflT ^ g? ffierJRfi? O
prprio Mallarm sabe bem que nada sairia de sua pena se
ele no permanecesse absolutamente fiel a seu voto de di-
zer tudo, que s pode escrever livros renunciando ao Livro,
ou melhor, que o Livro s escrito em vrios. Cada escritor
sabe bem que, se a lngua nos d mais do que saberamos
encontrar por ns mesmos, no h a idade de ouro da lin-
guagem. Q uando recebeu a lngua que escrever, tudo est j
ainda por fazer, -lhe preciso refazer sua lngua no interior J
dessa lngua; ela s lhe fornece uma sinalizao exterior das
119
coisas; o contato pretendido com elas no est no comeo da
lngua, mas no final de seu esforo, e nesse sentido a existn-
cia de uma lngua dada nos mascara mais do que nos mostra
a verdadeira funo da palavra. Quando colocamos em
contraste a eloquncia da linguagem e o silncio da pintu-
ra, comum compararmos a linguagem clssica e a cin-
tura moderna. Se comparssemos a linguagem do escritor
moderno e a aparente eloquncia da pintura clssica, tal-
vez o resultado fosse inverso ainda, ou sobretudo, reen-
contraramos sob a estreiteza dos pintores clssicos sua
profundidade tcita e de novo pintura e linguagem apare-
ceriam iguais no prodgio da expresso.
Todos os homens no pintam, verdade, no lugar de
/todos os pintores falarem, e bem alm das necessidades
f da vida, e mesmo de sua pintura. O homem sente-se em casa
' na linguagem como jamais se sentir na pintura. A lin-
guagem comum ou os dados da lngua lhe proporcionam
a iluso de uma expresso absolutamente transparentejs
que atingiu seu objetivo. Mas aps tudo a arte, tambm,
passa nos costumes, capaz da mesma evidncia menor,
aps um tempo se generaliza, e o que pode permanecer de
surrealismo na frente de nossas lojas vale mais ou menos
o que pode restar da verdadeira filosofia ou da verdadeira
cincia na linguagem do senso comum, e mesmo o que pode
restar de Plato em Aristteles, ou de Descartes em Hegel.
Se legtimo colocar ao ativo da linguagem no somente
as lnguas, mas tambm a palavra, seria preciso, para ser
equitativo, contar ao ativo da pintura, no somente os atos
de expresso registrados, quer dizer os quadros, mas ainda
a vida contnua de seu passado no pintor trabalhando. A
inferioridade da pintura estaria relacionada ento ao faT "
dela s se registrar em obras e no poder fundar as rela-
es cotidianas dos homens, enquanto que a vida da lin-
guagem, porque usa palavras feitas e uma matria sonora
rfc qnp todos SQmos_xicos, se_d o comentrio [perptuo]
da lngua falada. No contestamos o prprio da sedimen-
tao linguajeir: o poder, prprio s formas crticas da
linguagem, seno de destacar as significaes dos sinais,
o conceito do gesto lingustico, pelo menos de encontrar,
para a mesma significao, vrios corpos expressivos, de
recortar e retomar uma pela outra suas operaes sucessi-
vas ou simultneas e assim relig-las todas numa s con-
figurao, numa s verdade. Dizemos somente que esse
sistema, se desloca o centro de gravidade de nossa vida,
institui para tudo o que podemos ler uma instncia de
verdade cuja mola no pode ser limitada, e faz assim apa-
recer a pintura como um modo de expresso muda e su-
bordinada, no franqueou no entanto limites prprios
expresso sensvel, s faz lev-los mais para longe, e que
a luz natural que o descobre para ns aquela mesma
que torna visvel o sentido do quadro e no mais que ele
recupera o mundo sem resto; de maneira que, quando a
linguagem tornou-se bastante consciente de si para per-
ceber isso, quando quer paradoxalmente designar e no-
mear a significao sem nenhum sinal, o que acredita ser
o cmulo da claridade e que seria seu desaparecimento,
enfim o que Claudel chama Sig Vbime, -lhe preciso
renunciar a ser a esfera de Parmnides ou a transparncia
de um cristal cujos lados so visveis a um s tempo e vol-
tar a ser um mundo cultural, com suas facetas identific-
veis, mas tambm suas fissuras e lacunas.
Precisamos ento dizer da linguagem em relao ao
sentido o que Simone de Beauvoir diz do corpo em rela-
o ao esprito: que no primeiro, nem segundo. No se
gosta por princpios e se houve filsofos para fazer, con-
tra o amor, o elogio do casamento, pelo menos eles no
pretenderam definir o amor pelo casamento. Ningum en-
to ousou jamais colocar verdadeiramente a alma no cor-
po como o piloto em seu navio, nem fazer do corpo um ins-
trumento. E como no alm disso s o corpo que ama
(ele arranca queles que s quereriam viver dele gestos
de ternura que vo alm dele), ele ns e ele no ns,
faz tudo e no faz nada. Nem fim, nem meio, ele est sem-
pre misturado a empreendimentos que o ultrapassam,
sempre ciumento de sua autonomia, bastante poderoso
para se opor a qualquer fim que no fosse deliberado, no
tem nenhum a nos propor se enfim nos voltamos para ele
e o consultamos. s vezes, e ento que temos o senti-
mento de ser ns mesmos, ele se presta verdadeiramente
ao que queremos, se deixa animar, toma por sua conta uma
vida que no somente a sua; ento, feliz e espontneo,
e ns o somos. A linguagem, ela tambm, no est a servi-
o do_senticjQ, e no governa o sentido; de um ao outro no
M_subQrdinaco Jieja (ilatino .que, .secunde. Aqui nin-
gum comanda e ningum obedece: falando ou escreven-
do no nos refermos._a^algu_ma coisa a dizer que esteja
120 121
diante fo r>ng^Higt.int,a palavr a. /* que temos a di- .
zer s uinexcessO- do que vivemos sobre o que ia foi Tto.
Ns nos insTaiamos, com nosso aparelho de linguagem, nu-
ma certa situao de saber e de histria qual ela sen-
svel, e nossos enunciados s so o levantamento final des-
sas trocas. O pensamento poltico, a despeito das aparn-
cias, da mesma ordem: sempre a elucidao de uma
percepo histrica onde entram todos os nossos conheci-
mentos, todas as nossas experincias, todos os nossos va-
lores e do qual nossas teses so a formulao esquemtica.
Toda ao e todo conhecimento que no passam por essa
elaborao, que quereriam posar ex-nihilo dos valores que
no tenham tirado de nossa histria individual e coletiva,
o que faria do clculo dos meios um procedimento de pen-
samento todo tcnico, traz de volta o conhecimento e a
prtica aqum dos problemas que queriam resolver. Avi-
4a_pessoal, o conhecimento e a Histria R O aY fr P fi3 nh1i-
quamente. e no reio e imediatamente em dirern de fins
OTTconctos. O que procuramos demasiado deliber adamen-
te no obtemos, e as ideias, os valores so, ao conirauo,
dados por acrscimo quele que soube libertar a fonte, quer
dizer, compreender p que vive. Eles s se oferecem primei-
ro nossa vida sigri!ticnt'e falante como ncleos resis-
tentes num meio difuso, no se definem e no se circuns-
crevem, como as coisas percebidas, a no ser jpela cumpli-
cidade de um fundo, e supem tanto de sombra quanto
de luz. Nem preciso dizer que os fins aqui preservem os
meios; no so nada mais que seu estilo comum, so o sen-
tido total dos meios de cada dia, so a figura momentnea
desse sentido. E jnesmo as mais puras verdades supem
vistas marginais, no estaco inteiras no centro de viso
clara, e devem seu sentido aoTi"rizont~q"propicia sua
volta a sedimentao e a linguagem.
Talvez o leitor dir aqui que o deixamos com fome e
que nos limitamos a um " assim" que no explica nada.
Mas que a explicao consiste em tornar claro o que era
obscuro, a justapor o que estava implicado: ela tem en-
to seu lugar prprio no conhecimento da Natureza em
seus comeos, quando acredita justamente ter que ver com
uma Natureza pura. Mas quando se trata da palavra ou
do corpo ou da Histria, sob pena de destruir o que ela
procura compreender, e de achatar por exemplo a lingua-
gem sobre o pensamento ou o pensamento sobre a lngua- ;
122
gem, s se poder fazer ver o jjara^qxo da expresso. A fi-
losofia o inventrio dessa dimenso verdadeiramente uni-
versal, onde princpios e consequncias, meios e fins fazem
l crculo. Ela s pode, no que toca linguagem, mostrar com
o dedo como, pela deformao coerente dos gestos e dos
sons, o homem chega a falar uma lngua annima, e pela
deformao coerente dessa lngua exprimir o que s exis-
tia para ele.
123
O Algoritmo
e o Mistrio da Linguagem
Vrias vezes contestamos que a linguagem no esti-
vesse ligada ao que significa a no ser pelo hbito e a con-
veno: bem mais prximo e bem mais afastado. Num
sentido ela d as costas significao, no se preocupa
com ela. menos uma tabela de enunciados satisfatrios
para pensamentos bem concebidos do que uma profuso
de gestos inteiramente ocupados em se diferenciar um do
outro e de se recortar. Os fonlogos viram admiravelmen-
te essa vida sublingustica cuja indstria toda diferenciar
e colocar em sistema sinais, e isso no verdade somente
de fonemas antes das palavras, verdade tambm de pa-
lavras e de toda a lngua, que no primeiro sinal de cer-
tas significaes, mas poder regulado de diferenciar a ca-
deia verbal segundo dimenses caractersticas de cada ln-
gua. Num sentido, a linguagem s tem que ver consigo
mesma: no monlogo interior como no dilogo no h
pensamentos: so palavras que as palavras suscitam e,
na medida mesmo em que pensamos mais plenamente,
as palavras preenchem to exatamente nosso esprito que
nele no deixam um canto vazio para pensamentos puros
e para significaes que no sejam linguajeiras. O mist-
rio que, no momento mesmo em que a linguagem est
assim obsedada por si mesma, lhe dado, como que por
acrscimo, nos abrir a uma significao. Dir-se-ia que
uma lei do esprito de s achar o que ele no procurou.
Num instante esse fluxo de palavras se anula como baru-
125
lho, nos atira em cheio ao que quer dizer, e, se a isso res-
pondemos por palavras ainda, sem querer: no pensamos
mais nas palavras que dizemos ou que nos dizem do que
na mo que apertamos: ela no passa de um pacote de
osso e carne, no mais do que a prpria presena de ou-
trem. H ento uma singular significao da linguagem,
tanto mais evidente quanto mais nos abandonamos mais
a ela, tanto mais equvoca quanto menos pensamos nela,
rebelde a qualquer tomada direta, mas dcil ao encanta-
mento da linguagem, sempre l quando nos pomos a evo-
c-la, mas sempre um pouco mais longe que o ponto onde
acreditamos atingi-la. Como Paulhan o diz perfeitamente,
ela consiste em "clares sensveis a quem os v, escondi-
dos a quem os olha", e a linguagem feita de "gestos que
no se consumam sem alguma negligncia".1 Ele o pri-
meiro a ter visto que a palavra em exerccio no se con-
tenta em designar pensamentos como um nmero, na rua,
designa a casa de meu amigo Paul, mas verdadeiramente
se metamorfoseia neles como eles se metamorfoseiam ne-
la: "metamorfose pela qual as palavras cessam de ser aces-
sveis aos nossos sentidos e perdem seu peso, seu barulho,
e suas linhas, seu espao (para se tornar pensamentos).
Mas o pensamento de seu lado renuncia (para se tornar
palavras) sua rapidez ou sua lentido, sua surpresa,
sua invisibilidade, ao seu tempo, conscincia interior
que dele tomamos".2 Tal bem o mistrio da linguagem.
Mas o mistrio no nos condena ao silncio? Se a lin-
guagem comparvel a esse ponto do olho de que falam
os fisiologistas, e que nos faz ver todas as coisas, no sa-
beria, evidentemente, se ver a si mesma e no podemos
observ-la. Se se furta a quem a procura e se d a quem a
ela renunciara, no se pode consider-la em face, s resta
pens-la enviesado, mimar ou manifestar seu mis-
trio3, s resta ser linguagem, e Paulhan parece resignar-
se a isso. No entanto, isto no possvel, e segundo seus
prprios princpios. No se pode mais ser simplesmente a
linguagem aps t-la colocado em questo: cientemente
que se retornaria a ela e, Paulhan o disse, ela no admite
essas homenagens medidas. Ao ponto de reflexo em que
Paulhan chegou, ele s pode reencontrar o uso inocente
1. Ls Fleurs de Tarbes, p. 177.
2. Cie} de Ia Posie, 2.a ed., N. R. F., 1944, p. 86.
3. Ibid., p. 11.
126
da linguagem num segundo grau da linguagem, e, em fa-
lando dela, o que se chama filosofia. Mesmo se for s para
mimar ou manifestar a linguagem, falaremos dela, e
aquilo de que falaremos no sendo aquele quem dela fala,
o que diremos no ser a definio suficiente. No momento
em que acreditamos apreender o mundo, como sem ns,
no mais ele que apreendemos j que estamos l para
apreend-lo. Da mesma maneira, permanecer sempre,
atrs de nossos propsitos sobe a linguagem, mais lingua-
gem viva do que eles conseguiro imobilizar sob nosso
olhar. No entanto a situao no seria sem sada, esse mo-
vimento de regresso no seria vo e v com ele a filosofia,
a no ser que se tratasse de explicar a linguagem, decom-
p-la, deduzi-la, fundi-la, ou de qualquer outra operao
que dela fizesse derivar a claridade prpria de uma fonte
estranha. Ento, a reflexo se daria sempre, sendo refle-
xo, ento palavra, o que ela pretende tomar por tema, e
seria por princpio incapaz de obter o que procura. Mas h
uma reflexo e h uma filosofia que no pretende cons-
tituir seu objetivo, ou rivalizar com ele, ou clare-lo com
uma luz que j no seja sua. Falam-me e eu compreendo.
Quando tenho o sentimento de s ter a ver com palavras
que a expresso falhou, e, ao contrrio, se bem suce-
dida, parece-me que penso l, em voz alta, nessas pala-
vras que eu no disse. Nada mais convincente do que essa
experincia, e no se trata de procurar em outro lugar a
no ser nela o que a torna incontestvel, substituir a ope-
rao da palavra por alguma pura operao de esprito.
somente questo e toda a filosofia de tirar partido
dessa evidncia, confront-la com as ideias feitas que te-
mos da linguagem, da pluralidade dos espritos, de resta-
belec-la justamente em sua dignidade de evidncia, que
ela perdeu pelo prprio uso da linguagem e porque a co-
municao nos parece ir por si, de devolver-lhe, fornecen-
do-lhe um fundo conveniente sobre o qual se possa desta-
car, o que ela tem de paradoxal e mesmo de misterioso
enfim de conquist-la como evidncia, o que no somen-
te exerc-la, o que mesmo o contrrio... O melhor meio
de conservar linguagem o sentido prodigioso que encon-
tramos para ela no cal-la, renunciar filosofia e re-
tornar prtica imediata da linguagem: ento que o mis-
trio sossobraria na familiarizao. A linguagem s perma-
nece enigmtica para quem continua a interrog-la, quer
127
ti/.cr u f ul ur c l r l n . O pr opi l o 1 ' n i i l l i n i i por 1 1 : 1 vr/,rs o dedo
nr.HNIl i ' n i ' . l i - 1 1 1 1 1 ' . r m Kl r l n l u r i u n l | ' . i l t i i l l L^l i r 1 i l r i n i KL pro-
J f vi n t dr mi n i mi u n h em n u i i r u n i r em cm mi n i q ue se
f ur l u pi - i a i i M | > i i i i | ' . m i M I I N ui | H t mul ta filosofia . A peque-
n u pi i l uvn i dr projecto nos umista r a uma teoria de re-
l ii( ,-oi' H do H cn l l du c da s pa la vra s. Tenta remos bem enten-
d-la como um ra ciocn io a na lgico que me fa ria reencon-
tra r meus pensa mentos na s pa la vra s de outrem. M a s s
empurra r o problema pa ra ma is longe, j que sou ca pa z
de compreender isto mesmo que nunca exprimi. Seria pre-
ciso ento vir a uma outra ideia da projeo, segundo a
qua l a pa la vra de outrem no somente desperta em mim
pensa mentos j forma dos, ma s a inda me a rra sta num mo-
vimento de pensa mento de que eu no teria sido ca pa z so-
zinho, e me a bre fin a lmen te a significa es estra nha s.
preciso ento a qui que eu a dmita que no vivo somente
meu prprio pensa mento ma s que, no exerccio da pa la vra ,
eu me t orne a quele que escuto. E preciso que compreen-
da fin a lmen te como a pa la vra pode ser plena de um sen-
tido. Tra temos, ento, no de explica r isso, ma s de cons-
ta ta r ma is precisa mente a potncia fa la n te, de cerca r essa
significa o que no na da ma is do que o movimen to ni-
co cujos sina is so o tra o visvel.
Ta lvez a veremos melhor, se conseguirmos reencon-
tr-la a t no ca os onde a lingua gem se retringe a na da
ma is dizer a lm do que tenha sido volunta ria mente e exa -
ta mente definido, a na da designa r a lm do que tenha j
toma do possesso, nega seu prprio pa ssa do pa ra se re-
construir como a lgoritmo, e onde, em princ pio, a verda de
no ma is esse esprito flutua n te, presente em toda pa rte
e ja ma is loca lizvel que ha bita a lingua gem da litera tura
e da filosofia , ma s uma esfera imutvel de rela es que
no era m menos verda deira s a ntes de nossa s formula es
e no o seria m menos se todos os homens e sua lingua gem
viessem a desa pa recer. Desde que os nmeros inteiros a pa -
recem na histria huma na , eles se a nuncia m por certa s
proprieda des que deriva m cla ra mente de sua definio: to-
da proprieda de nova que ns lhes encontra mos, j que ela
deriva ta mbm da s que servira m primeiro pa ra circuns-
crev-los, nos pa rece to a ntiga qua nto ela s, contempor-
nea do prprio nmero; en fim, de toda proprieda de a inda
desconhecida que o futuro desvenda r, nos pa rece que se
4. Ls Fleit rs de Tarbes, pp. 115 e seguinte.
128
deve dizer que j pert ence a o n mero in teiro; mesmo qua n -
do no se sa bia a inda que a soma dos n primeiros n me-
n
ros inteiros igua l a o produto de por n + l, esta re-
2
la o no existia entre eles? Se o a ca so tivesse feito com
n
que multiplicssemos por n -f- l, no tera mos en-
2
centra do um resulta do igua l soma dos n primeiros n-
meros inteiros, e esta coincidncia no resulta ria a pa rtir
de ento da estrutura mesma da srie, que devia em se-
guida fund-la em verda de? Eu no tinha a inda nota do5
que a srie dos 1 0 primeiros nmeros inteiros composta
de 5 pa res de nmeros cuja soma consta nte e igua l a
10 + 1 . N o tinha a inda compreendido que isto mesmo
exigido pela na tureza da srie, em que o crescimento
de l a 5 obedece exa ta mente a o mesmo ritmo que o de-
crescimento de 1 0 a 6. M a s, en fim, a ntes que tivesse re-
conhecido essa s rela es, o 1 0 a umenta do de uma unida -
de era igua l a o 9 a umenta do do 2, a o 8 a umenta do do 3,
a o 7 a umenta do do 4, a o 6 a umenta do do 5, e a soma des-
sa s soma s dos dez primeiros nmeros inteiros. Pa rece
que a s muda na s de a specto que in troduzo nessa srie
considera ndo-a sob esse novo vis esto a ntecipa da mente
contida s nos prprios nmeros, e que, qua ndo exprimo a s
rela es despercebida s a t ento, me limito a prelev-la s
sobre uma reserva de verda de que o mundo inteligvel
dos nmeros. Qua ndo introduzo num desenho um tra o
novo que muda sua significa o que, por exemplo, me-
ta morfoseia um cubo visto em perspectiva num piso de co-
zinha , no ma is o mesmo objetivo que est na minha
frente. Qua ndo o chimpa nz que quer a tingir um objetivo
fora de seu a lca nce colhe um ra mo de rvore pa ra se ser-
vir dele como um ba sto ou empresta um esca belo pa ra
dele se servir como uma esca da , sua conduta mostra su-
ficientemente que o ra mo em sua nova fun o no perma -
nece ma is ra mo pa ra ele, que o esca belo cessa definitiva -
mente de ser um a ssento pa ra se torna r uma esca da : a
tra nsforma o irreversvel, e no a qui o mesmoobjeto
que tra ta do vez por vez segundo dua s perspectiva s, um
5. O exemplo da do e a na lisa do nesses termos por Wertheimer, in
Product ive Thinking, H a rper a nd Brothers ed., N ew York a nd
London, 1 945.
129
ramo que se torna um b i i H l ui i , r um mrul H n ni i r s torna
uma escada como um movi mento m> h i r o cal ei doscpi o faz
aparecer um raprl Arul n novn N U M ( | i i r ru possa nel e re-
conh ecer o ti ntl | { < > . M ut rr I I M ( H tni ti i nn. - cs percepti vas ou
as da I ntol l K onrl i i pnU I ru c H M construes do conh eci men-
to que ab rem aob rr uni u verdade, h essa di ferena que as
pri mei ras, mesmo quando resol vem um prob l ema e res-
pondem u uma i nterrogao do desejo, s reconh ecem ce-
gamente no resul tado aqui l o mesmo que preparavam. Elas
procedem do eu posso, a verdade procede de um eu penso.
de um reconh eci mento i nteri or que atravessa segundo seu
compri mento a sucesso dos acontecimentos conh ecedo-
res, o fundo em val or, a ati tude como exempl ar e como
rei tervel por princpio para toda conscincia colocada na
mesma situao de conh ecimento. M as se a verdade, para
permanecer verdade, supe esse consenti mento de si a si,
essa i nteri ori dade atravs do tempo, a operao expressiva
n
que ti ra de Sn a frmul a - (n -J- 1) deve ser garanti da
2
pela i mannci a do novo no antigo. N o b asta mais que o
matemti co trate as relaes dadas segundo certas recei-
tas operatrias para transform-l as no senti do das rela-
es procuradas, como o ch impanz trata o ramo de r-
vore segundo l h e til faz-l o para ati ngi r o ob jeti vo; se
el a deve escapar conti ngnci a do aconteci mento, e des-
vendar uma verdade, preciso que a prpri a operao seja
l egi ti mada pela natureza do ser matemti co sobre o qual
produz. Parece ento que no se pode dar conta do sab er
exato a no ser com a condi o de admi ti r, ao menos nesse
domnio, um pensamento que de si a si abolisse toda a dis-
tnci a que envolve a operao expressiva de sua cl ari dade
sob erana e reab sorve no al gori tmo a ob scuri dade cong-
nita da l i nguagem. Ao menos aqui a si gni fi cao cessa de
ter com os sinais a relao suspeita de que fal amos: na
l i nguagem, el a fusi onava na juno dos si nai s, a um s
tempo ligada ao seu agenci amento carnal e misteriosa-
mente comparti mentado atrs deles; ela b rilh ava alm dos
sinais e no era no entanto que sua vi b rao, como o grito
transporta fora e torna presente por todos o prprio so-
pro e a dor daquele que grita. N a pureza do algoritmo, el a
se destaca de todo compromisso com o desenrolar dos si-
nais que comanda e legitima, e, do mesmo golpe, eles lh e
correspondem to exatamente que a expresso no deixa
130
nada a desejar e nos parece conter o prpri o senti do; as
relaes emaranh adas da transcendnci a do l ugar s re-
laes prpri as de um sistema de sinais que no tm vi da
i nteri or e de um sistema de significaes que no descen-
dem da existncia animal.
N o temos a i nteno de contestar o carter de ver-
dade que di sti ngue os enunciados da cincia exata, nem
o que h de i ncomparvel no momento em que, reconh e-
cendo uma verdade, toco em alguma coisa que no come-
ou e no acab ar de si gni fi car comigo. Essa experincia
de um acontecimento que sub i tamente se cava perde sua
opacidade, revela uma transparnci a e se faz senti do para
sempre, constante na cul tura e na pal avra, e, se quiser-
mos contest-la, no se sab eria mais o que procuramos.
Trata-se somente de descob rir suas implicaes e de pro-
curar em parti cul ar se ela , em relao pal avra, origi-
nri a ou deri vada mai s precisamente: se no h , at
na cincia exata entre os sinais institudos e as si gni fi ca-
es verdadeiras que eles denotam, uma pal avra i nsti tui n-
te que produz tudo. Quando dizemos que as propri edades
novamente descob ertas de um ser matemti co so to ve-
lh as quanto ele, esses prprios termos de propriedade e de
ser contm j toda uma i nterpretao de nossa experin-
cia de verdade. A rigor, se vemos somente que certas re-
laes supostas dadas acarretam necessariamente outras
relaes, porque escolh emos as pri mei ras para princpio
e para defi ni o do ob jeto que as outras nos aparecem j
como suas consequncias. Tudo o que temos o direito de
dizer que h solidariedade de princpio entre elas, que
h laos indestrutveis, que, se tais relaes so supostas,
tais outras o so tamb m, que tais e tais relaes so si-
nnimas. I sto faz b em entre elas uma equivalncia que
no depende de sua mani festao, isto permite b em dizer
que elas constituem um sistema que ignora o tempo, mas
as novas relaes s podem ter outro sentido de ser na-
quelas de que deri vam, e, destas, no sabemos ai nda se
existem de outra maneira a no ser uma existncia ma-
temtica, isto , como puras relaes que nos agrada con-
si derar. Sabemos a parti r de agora que, livres de propor a
nosso exame di ferentes ob jetos, di ferentes espaos, por
exemplo, no o somos, uma vez o ob jeto sufi ci entemente
determinado, de dizer dele qual quer coisa. E b em a uma
necessidade que nosso esprito encontra, mas a fi gura sob
131
a qual ela lhe aparece depende d ponto t lr purtlda que
escolheu: o que e constunlo no o que tul ser matemtico
nos impe tais propriedades qu m- rium suas, somente
que preciso um ponto de partida e que, tul ponto de par-
tida uma v/, escolhido, I I O H H O arbtrio termina a, e en-
contra seu limito no encadeamento das consequncias.
Nada nos mostra que essa resistncia ao arbitrrio sob di-
ferentes formas de que se pode revestir se dirige opera-
o de uma essncia que desenvolve suas propriedades. Em
vez de dizer que constatamos certas propriedades dos seres
matemticos, diramos mais exatamente que constatamos
a possibilidade de princpio de enriquecer e de precisar as
relaes que serviram para definir nosso objetivo, de pros-
seguir a construo de conjuntos matemticos coerentes
somente esboados por nossas definies. E certo, esta pos-
sibilidade no nada, esta coerncia no fortuita, essa
validade no ilusria, mas ela no permite dizer que as
relaes novas fossem verdadeiras antes de serem reve-
ladas, nem que as primeiras relaes estabelecidas trazem
na existncia as seguintes. S se pode faz-lo se fizermos
a hipstase dos primeiros em alguma realidade fsica: o
crculo traado sobre a areia j tinha raios iguais, o trin-
gulo uma soma de ngulos iguais a duas retas... e todas
as outras propriedades que a geometria devia destacar. Se
pudssemos subtrair de nossa concepo do ser matem-
tico todo suporte desse gnero, ele no nos pareceria co-
mo intemporal; mas sobretudo como um vir a ser de co-
nhecimento.
Esse vir a ser no fortuito. Cada uma das dmarches
que o marcam legitima, no um acontecimento qual-
quer, prescrita, em todo caso justificada aps pelas d-
marches precedentes, e se a essncia no est no princ-
pio de nossa cincia, est nela presente em todo caso como
seu objetivo, e o vir a ser do conhecimento dirige-se para
a totalidade de um sentido. verdade, mas a essncia co-
mo futuro de saber no uma essncia, o que chamamos
uma estrutura. Sua relao com o conhecimento efetivo
aquela da coisa percebida percepo. A . percepo, que
acontecimento, abre sobre uma coisa percebida que lhe
aparece como anterior a ela, como verdadeira antes dela.
E se ela reafirma sempre a preexistncia do mundo, justa-
mente porque ela acontecimento, porque o sujeito que
percebe j est enganjado no ser por campos perceptivos de
132
sentidos, mais geralmente um corpo que feito para ex-
plorar o mundo. O que vem estimular o aparelho percepti-
vo desperta entre ele e o mundo uma familiaridade pri-
mordial, que exprimimos dizendo que o percebido existia
antes da percepo. De um s golpe, os da"dos atuais signi-
ficam bem alm do que trazem, encontram no sujeito que
percebe um eco desmesurado, e o que lhes permite nos
aparecer como perspectivas sobre uma coisa atual, enquan-
to que a explicitao dessa coisa iria ao infinito e no se-
ria acabada. A verdade matemtica, trazida ao que consta-
tamos verdadeiramente, no de outra espcie. Se somos
quase irresistivelmente tentados, para pensar a essncia
do crculo, a imaginar um crculo traado na areia que j
tem todas as suas propriedades, que nossa prpria no-
o da essncia formada ao contato e imitao da coi-
sa percebida tal qual a percepo no-la apresenta: mais
velha que a prpria percepo, em si, ser puro antes do
sujeito. E como no se trata, na percepo, de uma con-
tradio, mas ao contrrio sua prpria definio, de ser
um acontecimento e de abrir sobre uma verdade, preciso
compreendermos tambm que a verdade, a servio das ma-
temticas, se oferece a um sujeito j engajado nela, e tira
proveito dos laos carnais que o unem a ela.
I sto no reduzir a evidncias da matemtica a da
percepo. No negamos certamente, vamos ver, a origi-
nalidade da ordem do conhecimento a respeito da ordem
do percebido. Tentamos somente desfazer o tecido inten-
cional que religa uma a outra, reencontrar as vias da su-
blimao que conserva e transforma o mundo percebido
no mundo falado, e isto s possvel se descrevemos a ope-
rao de palavra como uma retomada, uma reconquista
da tese do mundo, anloga em sua ordem percepo e
diferente dela. O fato que toda ideia matemtica se apre-
senta a ns com o carter de uma construo posterior,
de uma reconquista. Jamais as construes da cultura
tm a solidez das coisas naturais, jamais esto l como elas;
h a cada manh, aps a ruptura da noite, um contato a
retomar com elas; elas permanecem impalpveis, flutuam
no ar da cidade, mas o campo no as contm. Se, no en-
tanto, em pleno pensamento, as verdades da cultura nos
parecem medida do ser e se tantas filosofias fazem re-
pousar o mundo sobre elas, que o conhecimento conti-
nua sobre o arremesso da percepo, que ele utiliza a tese
133
do mundo que o seu som fundamental. Acreditamos que
a verdade eterna porque ela exprime o mundo percebi-
do e que a percepo implica num mundo que funcionava
antes dela segundo princpios que reencontra e que no
coloca. de um s movimento que o conhecimento se en-
raza na percepo e que dela se distingue. um esforo
para reapreender, interiorizar, possuir verdadeiramente
um sentido que foge atravs da percepo ao mesmo tem-
po que ali se forma, porque s tem interesse para o eco
que o ser tira dela mesma, no para o ressoador, esse seu
outro, que torna possvel o eco. A percepo nos abre a um
mundo j constitudo, e s pode reconstitu-lo. Esse redo-
bramento significa ao mesmo tempo que o mundo se ofe-
rece como anterior percepo e que ns nos limitamos a
registr-lo, que queramos engendr-lo. J o sentido do
percebido sombra levada das operaes que nos apron-
tamos a executar sobre as coisas, no nada mais que
nosso levantamento sobre elas, nossa situao a respeito
delas. Cada vetor do espetculo percebido coloca, alm de
seu aspecto do momento, o princpio de certas equivaln-
cias nas variaes possveis do espetculo, inaugura por
sua parte um estilo da explicao dos objetos e um estilo
de nossos movimentos em relao a eles. Essa linguagem
muda o operacional da percepo e pe em movimento um
procedimento de conhecimento que no basta para com-
plet-la. To firme que seja minha tomada perceptiva so-
bre o mundo, ela toda dependente do movimento cen-
trfugo que me atira para ele, e no o retomarei jamais
a no ser com a condio de colocar eu mesmo e espon-
taneamente dimenses novas de sua significao. Aqui co-
mea a palavra, o estilo de conhecimento, a verdade no
sentido dos lgicos. Ela chamada, desde seu primeiro mo-
mento, pela evidncia perceptiva, ela a continua, no se
reduz a isso.
Uma vez colocada em evidncia a referncia tese do
mundo sempre subentendida pelo pensamento matem-
tico, e que lhe permite se dar como o reflexo de um mundo
inteligvel -, como podemos ns compreender a verdade
matemtica e sobretudo nosso objetivo a expresso
algortmica que ela se d? claro primeiro que as proprie-
dades da srie de nmeros inteiros no esto contidas
nesta srie. Uma vez destacada da analogia perceptiva que
faz dela alguma coisa (etwas uberhaupt) ela no passa
134
a cada momento de ser o conjunto de relaes que foram
estabelecidas a seu respeito, mais um horizonte aberto de
relaes a construir. Esse horizonte no o modo de apre-
sentao de um ser matemtico em si acabado: a cada
momento, no h verdadeiramente nada mais no cu e so-
bre a terra a no ser as propriedades conhecidas do n-
mero inteiro. Pode-se dizer, se quisermos, que as proprie-
dades desconhecidas j so operantes nos conjuntos de
objetos que encarnam os nmeros, mas a s uma ma-
neira de falar: quer-se exprimir assim que tudo o que
revelar como nmeros ser to logo verdade das coisas
enumeradas, o que bem certo, mas no implica em ne-
n
nhuma preexistncia do verdadeiro. A relao nova
2
(n -f- 1), esta significao nova da srie de nmeros in-
teiros a aparece com a condio que reconsideremos e que
reestruturemos Sn. preciso que eu note que o progresso
de l a 5 exatamente simtrico da regresso de 10 a 5,
que assim chego a conceber um valor constante das somas
10 + I, 9 + 'J, 8 -f 3, etc., e que, enfim, decomponho a
srie em pares cada vez iguais a n + l e cujo nmero s
n
saberia ser igual a . Claro, essas transformaes que
2
so, no interior de um objeto aritmtico, o equivalente de
uma construo em geometria, so sempre possveis; eu
me asseguro que elas no se devem a algum acidente, mas
aos elementos de estrutura que definem a srie de nmeros
e nesse sentido dele resultam. Mas elas no fazem parte,
s aparecem diante de uma certa interrogao que fao
estrutura da srie dos nmeros, ou melhor, que ela me
prope enquanto situao aberta e a acabar, enquanto
se oferece como a conhecer. A operao pela qual exprimo
n
Sn nos termos (n -[ 1) s possvel se na frmula
2
final percebo a dupla funo de n, primeiro como nmero
cardinal, em seguida como nmero ordinal. No uma
dessas transformaes cegas pelas quais eu poderia em se-
n + l n2 -f n
guida passar a n ou a . Percebo que
135
n
( 1 1 \) r r M i l l i t t l < > ; I M M i / u c i ( i i i r sl r u l u r u de Sn,
i - n i l i i i ) ( | i i r i i | i n m i n o i | i i t < < i i t t n t v r nl u d r m at em t i ca. E,
n i f i i i i i i N t < t m r | ' . u i i l i i expl o r o n t i n i d o :i l u ni i nl a o bt i da
p H i m p i o i T H N o f M i r i - n r i i r o M i l r cf U r u l o , s s t r at ar a de
u ni u npn m ; uo i ' | ' .undi i r m eno r , que na no s ens i na o que
C i i t v r nl i u l r . N ai l u ser i a m udado ao que adi ant am o s l se
f ( m ar po ss vel co nst i t ui r um al go r i t m o que expr i m i sse po r
r el aes l gi cas as pr o pr i edades da est r ut ur a da sr i e do s
nm er o s i nt ei r o s: do m o m ent o que essas r el aes f o r m ai s
f o r necessem e a hi pt ese um equi val ent e exat o da
est r ut ur a do nm er o , el as ser i am , co m o est a l t i m a, a
o casi o de co nst r ui r a r el ao no va, m ai s que a co nt er i am .
N o sso o bjet i vo aqui no m o st r ar que o pensam ent o m a-
t em t i co se apo i a so br e o sens vel , m as que cr i ado r e que
po dem o s f azer o ut r o t ant o a pr o psi t o de um a m at em t i ca
f o r m al i zada. J que a co nst r uo da co nsequnci a um a
dem o nst r ao e s se apo i a so br e o que def i ne o nm er o
i nt ei r o , eu bem po der i a di zer , quando el a est acabada,
que a f r m ul a o bt i da exi gi da pel as f r m ul as i ni ci ai s, o u
a si gni f i cao no va da sr i e pel a pr pr i a sr i e. M as um a
i l uso r et r o spect i va. assi m que m eu co nheci m ent o pr e-
sent e v seu pr pr i o passado , no assi m que el e f o i , m es-
m o no i nver so das co i sas. As co nsequnci as no er am i m a-
nent es hi pt ese: s er am pr - t r aadas na est r ut ur a
co m o si st em a aber t o e engajado no vi r a ser de m eu pen-
sam ent o , e quando r em anejo essa est r ut ur a segundo seus
pr pr i o s vet o r es, so br et udo a no va co nf i gur ao que r e-
t o m a e sal va a ant i ga, a co nt m em i nent em ent e, se i den-
t i f i ca co m el a o u a r eco nhece co m o i ndi scer n vel de si . de
m eu m o vi m ent o de co nheci m ent o que r esul t a a s nt ese
que o t o r na po ss vel . As geo m et r i as no eucl i di anas co n-
t m i st o de Eucl i des co m o caso par t i cul ar , m as no o i n-
ver so . O essenci al do pensam ent o m at em t i co ent o nest e
m o m ent o em que um a est r ut ur a se descent r a, se abr e a
um a i nt er r o gao e se r eo r gani za segundo um sent i do no vo
que no ent ant o o sent i do dessa pr pr i a est r ut ur a. A ver -
dade do r esul t ado , seu val o r i ndependent e de aco nt eci m en-
t o vem de que no se t r at a de um a mudana o nde as r el a-
es i ni ci ai s per ecem par a ser em subst i t u das po r o ut r as
nas quai s no ser i am r eco nhec vei s, m as de um a r eest r u-
t ur ao que, de um a po nt a a o ut r a, se sabe, est em co n-
co r dnci a co nsi go , que er a anunci ada pel o s vet o r es da es-
t r ut ur a dada, po r seu est i l o , t o bem que cada m udana
ef et i va vi nha pr eencher um a i nt eno , cada ant eci pao
r ecebe da co nst r uo a co nsum ao que esper a. T r at a- se a
de um ver dadei r o vir a ser do sentido, o nde o vir a ser no
m ai s sucesso o bjet i va, t r ansf o r m ao de f at o , m as um
vi r a ser si m esm o , um vi r a ser sent i do . Quando di go que
h aqui ver dade, i st o no si gni f i ca que exper i m ent o , ent r e
a hi pt ese e a co ncl uso , um a r el ao de i dent i dade que
no dei xar i a nada a desejar , o u que vejo um a der i var da
o ut r a num a t r anspar nci a abso l ut a: s h si gni f i cao que
se cer ca de um ho r i zo nt e de co nvi ces i ngnuas e ent o
no cham a o ut r as expl i ci t aes, nenhum a o per ao expr es-
si va que esgo t e seu o bjet o , e as dem o nst r aes de Eucl i des
t i nham seu r i go r em bo r a f o ssem sem pr e gr avadas co m um
co ef i ci ent e de f act i ci dade, apo i adas num a i nt ui o m aci a
do espao que s devi a ser t em at i zado m ai s t ar de. Par a que
haja ver dade ni sso pr eci so e bast a que a r eest r ut ur ao
que d o sent i do no vo r et o m e ver dadei r am ent e a est r ut ur a
i ni ci al , apesar de suas l acunas o u de suas o paci dades. N o vas
t em at i zaes, em segui da, vi r o pr eencher as l acunas e
di sso l ver as o paci dades, m as al m de que ser o el as pr -
pr i as par ci ai s, no f ar o co m que, supo st o um t r i ngul o
eucl i di ano , el e no t enha as pr o pr i edades que sabem o s, as
t r ansf o r m aes l eg t i m as que co nduzem do uni ver so eu-
cl i di ano s suas pr o pr i edades no cessar o de ser al gum a
co i sa que se co m pr eende, e que f al t a so m ent e t r aduzi r num a
l i nguagem m ai s ger al . O l ugar pr pr i o da ver dade , ent o ,
est a r et o m ada do o bjet o de pensam ent o em sua si gni f i cao
no va, mesmo se o o bjet o co nser va ai nda, em suas do br as,
r el aes que ut i l i zam o s sem per ceber . O f at o que nest e
m o m ent o al gum a co i sa est adqui r i da, h ver dade, a es-
t r ut ur a se pr o pul sa par a essas t r ansf o r m aes. E a co ns-
ci nci a de ver dade avana co m o o l ago st i m , vi r ado par a
seu po nt o de par t i da, em di r eo dessa est r ut ur a da qual
el a expr i m e a si gni f i cao . T al a o per ao vi va que sus-
t ent a o s si nai s do al go r i t m o . Se s co nsi der am o s seu r esul -
t ado , po de- se acr edi t ar que el a no cr i o u nada: na f r m ul a
n
( n + 1) s ent r am t er m o s em pr est ado s hi pt ese,
r el i gado s pel a o per ao da l gebr a. A si gni f i cao no va
r epr esent ada pel o s si nai s e as si gni f i caes dadas, sem
136 137
m i n i n i i n . i i i i i n i i i r o i i i i v i - n u li n gu agem , sejam desv iado s
i l r ' < n ' . c n t u i i i I n i c i al . A expr esso algo r t m ic a cxata po r
n i i i f i u du u xu t a equ iv alnc ia qu e est abelec e ent r e as r ela-
V > r s dadas e as qu e c o nc lu mo s. Mas a f r m u la no v a s
f r m u la da n o v a signif ic ao , s a expr ime v er dadei r a-
m en t e c o m a c o ndio de dar mo s, po r exemplo , ao t er mo
n pr imeir o o sent ido o r dinal, em segu ida o sent ido c ar dinal,
e ist o s po ssv el se no s r ef er ir m o s c o n f i gu r ao da
s r ie do s nm er o s so b o aspec t o no v o qu e no ssa int er r o ga-
o ac aba de lhe dar . Or a, aqu i r eapar ec e o movido da
r eest r u t u r ao qu e c ar ac t er st ic a da lingu agem. Ns o
esqu ec emo s em segu ida, lo go qu e c o nsegu imo s enc o nt r ar
a f r m u la, e ac r edit amo s en t o na pr eexist nc ia do v er -
dadeir o . Mas ele est sempr e l, ele s d sent ido f r m u la.
A expr esso algo r t mic a ent o segu ndo . u m c aso par -
t ic u lar da palav r a. A c r edi t am o s qu e o s sinais aqu i r ec o -
br em exat am en t e a int eno , qu e a signific ao c o nqu ist a-
da sem mais, e qu e en f i m o est ilo qu e pr esc r ev ia est r u t u -
r a as t r ansf o r maes qu e lhes demo s int eir am ent e do -
m i n ado po r ns. Mas po r qu e o mit imo s de menc io nar o
u lt r apassam ent o da est r u t u r a em dir eo de su as t r an sf o r -
maes. E, c er t o , sempr e po ssv el po r pr in c pio , j qu e
s c o nsider amo s as inv ar iant es da est r u t u r a est u dada,
no as par t ic u lar idades c o nt ingent es de u m t r aado o u
de u m a f i gu r a. Mas u m u lt r apassament o , n o u m a
iden t idade imv el, e aqu i, c o mo a lingu agem, a v er dade
no adequ ao , mas ant ec ipao , r et o m ada, deslizament o
de sent ido , e s se t o c a n u m a espc ie de dist nc ia. O pen-
sado no o per c ebido , o c o nhec im ent o no a per c epo ,
a palav r a no u m gest o en t r e t o do s o s gest o s, mas a
palav r a o v ec u lo de no sso m o v im ent o em dir eo da
v er dade, c o mo o c o r po o v ec u lo do ser no mu ndo .
138
A Percepo de Outrem
e o Dilogo
O algo r it m o e a c inc ia exat a f alam das coisas, s
su pem no seu int er lo c u t o r ideal o c o nhec iment o das de-
finies, no pr o c u r am sedu zi- lo , no esper am dele nenhu -
ma c u mplic idade, e, em pr inc pio , o c o ndu zem c o mo qu e
pela mo do qu e ele sabe ao qu e dev e apr ender , sem qu e
t enha de deixar a ev idnc ia int er io r pela sedu o da pa-
lav r a. Se mesmo nessa o r dem das pu r as signific aes e
do s pu r o s sinais, o sent ido no v o s sai do sent ido ant igo
po r u ma t r an sf o r m ao qu e se faz f o r a do algo r it mo , qu e
sempr e su po st a po r ele, se ent o a v er dade mat emt ic a
s apar ec e a u m su jeit o par a qu em h est r u t u r as, sit u a-
es, u ma per spec t iv a, a mais f o r t e r azo dev emo s admit ir
qu e o c o nhec iment o linguajeiro su sc it a nas signific a-
es dadas t r ansf o r maes qu e s ali er am c o nt idas c o mo
a lit er at u r a fr anc esa c o nt ida na lngu a f r anc esa, o u as
o br as f u t u r as de u m esc r it o r em seu est ilo e definir
c o mo a pr pr ia f u n o da palav r a seu po der de dizer no
t o t al mais do qu e diz palav r a po r palav r a, e se u lt r apassar
ela mesma, qu e se t r at e de lanar o u t r em em dir eo do
qu e sei e qu e ainda no c o mpr eendeu , o u de lev ar a mini
mesmo em dir eo do qu e v o u c o m pr een der .
Est a ant ec ipao , est e pi so t eam en t o , est a t r ansgr es-
so , est a o per ao v io lent a pela qu al c o nst r u o na f i gu r a,
t r ansfo r mo a o per ao , fao - as t o r nar em- se o qu e so ,
mu do - as nelas mesmas na li t er at u r a o u na f ilo so f ia,
a palav r a qu e c o nsu ma. E, c lar o , no mais qu e na geo -
139
i n r h i i t n f a l o (t al co de um n ovo t r aado n o uma cons-
I . I I K ; U O , i mo mai s que n as artes da palavra a existn cia
fsi ca dos sons, o t r aado das letras sobre o papel, ou
mesmo a presena de fat o de tais palavr as segundo o sen-
tido que lhes d o dicion rio, de tais fr ases fei t as, basta a
lhes dar sentido: a operao tem seu in terior, e toda a
sequncia de palavr as no passa de seu rasto, s indica
os pon tos de passagens. Mas as si gn i fi caes adquiridas
s contm a significao nova no estado de trao ou de
h or izon te, ela que se reconhecer neles e mesmo reto-
mando-os os esquecer no que tinham de parcial e ingnuo,
ela s r ei lumi n a reflexos instantneos na pr ofun deza do
saber passado, s o toca a distncia. Dele a ela h invo-
cao, dela a ele resposta e aquiescimento, e o que religa
num s movimento a sequncia das palavras de que feito
um livro, um mesmo imperceptvel desvio em r elao ao
uso, a constncia de uma cer t a extravagn cia. Pode-se,
en t r an do n um cmodo, ver que alguma coisa foi mudada,
sem saber dizer o qu. Novi dade de uso, defi n i da por um
certo e con stan te desvio de que no sabemos logo nos dar
conta, o sen tido do livro li n guajei r o. As con figur aes
de nosso mun do so todas mudadas por que uma den tre
elas foi ar r an cada sua simples existncia par a repre-
sentar todas as outras e se tornar chave ou estilo deste
mun do, meio geral de i n t er pr et -lo. Fr equen t emen t e fa-
lamos desses pensamentos cartesianos que vagavam em
Santo Agostinho, em Aristteles mesmo, mas que ali s
levavam uma vida morna e sem fut ur o, como se toda a
significao de um pen samen to, t odo espr ito de uma ver-
dade viesse de seu relevo, de seus con t or n os, de sua ilumi-
nao. San t o Agost i n h o cai u sobre o Cogito, Descartes da
Dioptrique sobre o ocasionalismo, Balzac en con t r ou uma
vez o t om de Gi r audoux mas n o o vi r am e Descartes
resta a ser fei t o aps San to Agostin h o, Malebr an ch e aps
Descartes, Giraudoux aps Balzac. O mais alto pon t o de
ver dade n o passa en t o ain da de perspectiva e consta-
tamos, ao lado da verdade de adequao que seria a do
algoritmo, se jamai s o algor i t mo pudesse se destacar da
vida pensante que o contm, uma verdade por transpa-
rncia, con fr on t o e r et omada, qual participamos n o
porque pensamos a mesma coisa, mas porque, cada um
nossa man ei r a, somos por ela concernidos e atingidos. O
escritor fala bem do mun do e das coisas, ele tambm, mas
no fi n ge dirigir-se em todos a um s esprito pur o, dirige-
140
se neles just amen t e man ei r a que t em de se i n st alar n o
mun do, diante da vida e diante da mor t e, toma-os on de
esto, e ar r an jan do en t r e os objetos, os acontecimentos,
os homens, intervalos, planos, iluminaes, toca n eles as
mais secretas instalaes, se ataca aos seus laos fun da-
men tais com o mun do e tran sforma em meio de ver dade
sua mais profun da parcialidade. O algoritmo fala das
coisas e atinge por acrscimo os homens. O escrito fala aos
homens e alcana atravs deles a verdade. No compreen-
demos totalmen te esse salto das coisas para seu sentido,
essa descontinuidade do saber, que est em seu mais alto
pon to n a palavra, a n o ser que o compreendamos como
pisoteamento do eu sobre outrem e de outrem sobre mi m. . .
Entremos, ento, um pouco n o dilogo e primeiro
na relao silenciosa com outrem , se queremos com-
preender o poder mais prprio da palavra.
No n otamos o sufi ci en t e que out r em n un ca se apre-
senta de face. Mesmo quando, no auge da discusso, eu
enfrento o adversrio, n o nesse rosto violento, amea-
ador, no nem mesmo nessa voz que vem para mim
atravs do espao que se en con tra ver dadeir amen te a in-
teno que me atinge. O adversrio jamai s totalmente
localizado: sua voz, sua gesticulao, seus tiques, no pas-
sam de efeitos, uma espcie de encenao, uma cerimnia.
O organizador est to bem mascarado, que fi co inteira-
mente surpreso quando minhas respostas funcionam: o
porta-voz se embaraa, solta algun s suspiros, alguns sons
trmulos, alguns sinais de inteligncia; preciso acreditar
que havia algum l. Mas on de? No nessa voz cheia de-
mais, no nesse rosto zebrado de traos como um objeto
gasto. No mais atrs desse apar elh o: bem sei que l s
h trevas repletas de rgos. O corpo de out r em est
n a mi n h a fr en t e mas, quan t o a ele, leva uma singular
existn cia: entre eu que penso e esse corpo, ou sobretudo
perto de mim, ao meu lado, ele como uma rplica de
mim mesmo, um duplo erran te, obseda o que me cerca
mais do que a aparece, a resposta inopinada que recebo
de alhures, como se por milagre as coisas se pusessem a
dizer meus pensamentos, sempre para mim que seriam
pensantes e falantes, j que so coisas e que eu sou eu*.
* O texto da frase est manifestamente in acabado. Aps dizer meus
pensamentos, o aut or esboou duas subor di n adas que riscou, e de-
pois, na releitura, sem dvida, inscreveu por cima um ou como, que
deixou sem sequn cia.
141
m i n i D ! i n r i i . - i n i i u i M . u r a en to sempr e m ar gem d o
i | i u < v r j u r r sci i to, est ao m eu lado, d o m eu lado ou atr s
do m lm , no est nesse lu gar qu e m eu olhar esmaga e
esvazia de todo interior. Todo ou tr o u m ou tr o eu
mesmo. como esse du plo qu e o doente sempr e sente ao
seu lado, qu e se lhe assemelha como u m ir mo, qu e n u n ca
saber ia fixar sem faz- lo desapar ecer , e qu e visivelmente
s u m pr olongamento alm dele mesmo, j qu e u m pou co
de ateno basta par a r edu zi- lo. Eu e ou tr em somos como
dois cr cu los quase concntr icos, e qu e s se di sti n gu em
por u ma leve e mister iosa deslocao. Esse apar en tam en to
talvez o qu e n os per m i ti r com pr een der a r elao a ou -
tr em , qu e por ou tr o lad o 6 i n con cebvel se ten to abor dar
n u tr em cio face, c por seu lad o escar pado. Fica qu e ou tr em
n Ao 6 eu , c qu e 6 bem pr eciso chegar oposio. Fao o ou tr o
m i n ha i m agem , m as como pode ele nisso ter para mim
uma imagem de mim? No sou at o fim do u niver so, no
sou , sozinho, co- extensivo a tu do o qu e posso ver , ou vir ,
compr eender ou fi n gi r ? Como, sobr e essa totalidade qu e
sou haver i a u ma vista exter ior ? D e onde ser ia ela tomada?
bem isso no entanto o qu e acontece qu ando ou tr em me
apar ece. Nesse in fin ito qu e eu er a algu ma coisa ainda se
acr escenta, u m r eben to cr esce, eu me desdobr o, dou lu z,
esse ou tr o fei to de minha su bstncia, e no entanto no
mais eu . Como isto possvel? Como o eu penso poder ia
emigr ar for a de mim, j qu e eu ? Os olhar es qu e eu
passeava sobr e o m u n do como o cego tateia os objetos
com seu basto, algu m os apr eendeu pela ou tr a ponta,
e os volta con tr a mim par a me tocar por minha vez. No
me contento mais em sentir : sinto qu e me sentem, e qu e
me sentem qu an do estou sentindo, e sentindo esse fato
mesmo qu e m e sen tem . . . No pr eciso dizer somente qu e
habito a par ti r de ento u m ou tr o cor po: isso s far i a u m
segu ndo eu - mesmo, u m segu ndo domiclio par a mim. M as
h um eu que outro, qu e est instalado alhu r es e me
destitu i de minha posio centr al, embor a, de toda evi-
dncia, s possa ti r ar de su a filiao su a qu alidade de
mim. Os papis do su jeito e do qu e ele v se tr ocam e
se inver tem: eu acr editava dar ao qu e eu via seu sentido
de coisa vista, e u ma dessas coisas r epentinamente se fu r ta
a essa condio, o espetcu lo vem a se dar a si mesmo
u m espectador qu e no sou eu , e qu e copiado sobr e mim.
Como isso possvel? Como posso ver algu ma coisa qu e
se pe a ver ?
142
D issemos, no compr eender emos j am ai s qu e ou tr em
apar ea di an te de ns; o qu e est diante de ns objeto.
pr eciso compr eender bem qu e o pr oblema no este.
compr eender como me desdobr o, como me descentr alizo.
A exper incia de ou tr em sempr e a de u ma r plica de
mim, de u ma r plica a mim. A solu o deve ser pr ocu r ada
do lado dessa estr anha filiao qu e par a sempr e faz de
ou tr em m eu segu ndo, mesmo qu an d o o pr efir o a m im e
me sacr ifico a ele. no mais secr eto de mim mesmo qu e
se faz a estr anha ar ticu lao com ou tr em; o mistr io de
ou tr em no passa do mistr io de mim mesmo. Qu e u m
segu ndo espectador do m u n do possa nascer de mim, no
est exclu do, est ao contr r io fei to possvel por mim
mesr no, se pelo menos r econheo meu s pr pr ios par adoxos.
O qu e faz qu e eu sou nico, m i n ha pr opr iedade fu n d a-
mental de me sentir , ela* ten de par adoxalm en te a se di-
fu n d i r ; por qu e sou totali dade qu e sou capaz de pr no
m u n d o ou tr em e de me ver limitado por ele. Pois o milagr e
da per cepo de ou tr em est pr imeir o nisto qu e tu do o
qu e pode jamais valer como ser aos m eu s olhos s o faz
acedendo, dir etamente ou no, ao meu cam po, apar ecendo
no balano de minha exper incia, en tr an do em meu m u n -
do, o qu e qu er dizer qu e o qu e meu ver dadeir o e r ei-
vindica como su a testemu nha no somente eu mesmo no
qu e tenho de limitado, mas ainda u m ou tr o X, e fi n al-
mente u m espectador absolu to se u m ou tr o, se u m
espectador absolu to fossem concebveis. Tu do est pr onto
em mim par a acolher esses testemu nhos. Resta saber como
se poder o i n tr odu zi r at m i m . Isso ser ainda por qu e o
meu m eu , e por qu e meu campo vale par a mim como
meio u niver sal do ser . Olho esse hom em imvel no sono,
e qu e r epentinamente desper ta. Ele abr e os olhos, faz u m
gesto par a seu chapu cado ao seu lado e o toma par a
se gar antir contr a o sol. O qu e finalm ente me convence
qu e meu sol tambm dele, qu e ele o v e sente como
eu , e qu e, en fim , somos dois a per ceber o m u n do, pr eci-
samente o qu e, pr imeir a vista, me pr obe de conceber
ou tr em: a saber qu e seu cor po faz par te de meu s objetos,
* O au tor modificou su a fr ase inicial qu e comeava por minha pro-
priedade primordial; no cor r igiu ela qu e r eenviava ao pr imeir o
su jeito.
143
que um deles, que figura em meu mundo. Quando o
homem adormecido entre meus objetos comea a lhes di-
rigir gestos, us-los, no posso duvidar um instante que
o mundo ao qual se dirige seja verdadeiramente o mesmo
que percebo. Se ele percebe alguma coisa, ser bem meu
prprio mundo j que nele est nascendo. Mas por que o
perceberia, como poderia eu conceber que ele o faa? Se
o que ele vai perceber, inevitavelmente, o mesmo que
percebido por mim, pelo menos essa percepo sua do
mundo que estou supondo no tem lugar em meu mundo.
Onde a colocaria eu? Ela no est nesse corpo, que s
tecidos, sangue e ossos. No est sobre o trajeto desse
corpo s coisas pois s h, sobre esse trajeto, coisas ainda,
ou raios luminosos, vibraes, e eis muito tempo que re-
nunciamos s imagens esvoaantes de Epicuro. Quanto ao
espirito, eu, no posso, ento, colocar nisso outra per-
cepo do mundo. Outrem ento no est nas coisas, no
est em seu corpo e no eu. No podemos coloc-lo em
nenhum lugar e efetivamente ns no o colocamos em ne-
nhum lugar, nem no em si, nem no por si, que eu. S
h lugar para ele em meu campo, mas esse lugar pelo
menos est pronto para ele desde que comecei a perceber.
Desde o primeiro momento em que usei meu corpo para
explorar o mundo, soube que essa relao corporal com o
mundo podia ser generalizada, uma nfima distncia esta-
beleceu-se entre mim e o ser que reservava os direitos
de uma outra percepo do mesmo ser. Outrem no est
em nenhum lugar no ser, por detrs que ele desliza em
minha percepo: a experincia que fao de minha tomada
sobre o mundo o que me torna capaz de nele reconhecer
uma outra e de perceber um outro eu mesmo, se somente,
no interior de meu mundo, se esboa um gesto semelhante
ao meu. No momento em que o homem desperta ao sol
e estende a mo para seu chapu, entre esse sol que me
queima e faz piscar meus olhos, e o gesto que l de longe
ameniza minha fadiga, entre essa fronte consumada l e
o gesto de proteo que chama de minha parte, um lao
atado sem que eu nada tenha que decidir, e se sou in-
capaz para todo sempre de viver efetivamente a queima-
dura que o outro sofreu, a mordida do mundo tal qual a
sinto sobre meu corpo ferimento para tudo que a est
exposto como eu, e particularmente para esse corpo que
comea a se defender contra ele. ele que vai animar o
adormecido antes imvel, e que vai ajustar-se aos seus
gestos como sua razo de ser.
Na medida em que adere ao meu corpo como a tnica
de Nessus, o mundo no somente para mim, mas para
tudo o que, nele, faz sinal para ele. H uma universalidade
do sentir e sobre ela que repousa nossa identificao,
e generalizao de meu corpo, a percepo de outrem. Per-
cebo comportamentos imergidos no mesmo mundo que eu,
porque o mundo que percebo arrasta ainda com ele minha
corporeidade, que minha percepo impacto do mundo
sobre mim e tomada de meus gestos sobre ele, de maneira
que, entre as coisas que os gestos do adormecido visam e
esses prprios gestos, na medida em que uns e outros fazem
parte de meu campo, h no somente a relao exterior
de um objeto a um objeto, mas, como do mundo a mim,
impacto, como de mim ao mundo, tomada. E se pergun-
tarmos ainda como esse papel do sujeito encarnado, que
o meu, sou levado a confi-lo a outros, e porque, enfim,
movimentos de outrem me aparecem como gestos, o aut-
mato se anima, e outrem est l, preciso responder, em
ltima anlise, que porque nem o corpo de outrem, nem
os objetos que ele visa, nunca foram objetos puros para
mim, que so interiores ao meu campo e ao meu mundo,
que so ento de um s golpe variantes dessa relao fun-
damental (mesmo das coisas digo que uma olha para a
outra ou lhe d as costas). Um campo no exclui um
outro campo como um ato de conscincia absoluta, por
exemplo, uma deciso, exclui uma outra, tende mesmo, de
si, a se multiplicar, porque a abertura pela qual, como
corpo, sou exposto ao mundo, que no tem ento essa
absoluta densidade de uma pura conscincia que torna
impossvel para ela toda outra conscincia, e que, gene-
ralidade ele mesmo, no se apreende como um de seus
semelhantes... dizer que no haveria outros para mim,
nem outros espritos, se no tivesse um corpo e se eles no
tivessem um corpo pelo qual pudessem deslizar em meu
campo, multiplic-lo de dentro, e me aparecer cata do
mesmo mundo, s voltas com o mesmo mundo que eu.
Que tudo o que para mim seja meu e s valha para mim
com a condio de vir a se enquadrar em meu campo, isto
no impede, isto ao contrrio torna possvel a apario de
144 145
I , | n i i i | i i i - n i i i i i i i t i r i i n ; : i ( i a u i i i n mesmo j gen e-
n i l i i l a i l r K di sso vem que, como di zamos comean do, ou-
t r em se I n ser e sempr e n a j un o do mun do e de n s mes-
mos, que est eja sempr e aqum das coi sas, e mai s de n osso
lado do que n elas; que el e um eu gen er al i zado, que
t em seu l ugar , n o n o espao objet i vo, que, como Des-
car t es di sse bem, sem espr i t o, mas n essa localidade
an t r opol gi ca, mei o t ur vo on de a per cepo i r r efl et i da se
pe von t ade, mas sempr e mar gem da r efl exo, i mpos-
svel do coi i H l l l u l r , scmpr i ; J ft con st i t uda : en con t r amos ou-
t r r i n como r i i r oul r umos n osso cor po. Desde que o olhamos
do fr r n l r , r i r sr ml usa modest a con di o de alguma coi sa
i n ocen t e e que se pode man t er a di st n ci a. at r s de n s
que el e exi st e, como as coi sas assumem sua i n depen dn ci a
absol ut a mar gem de n osso campo vi sual . Fr equen t e-
men t e, e com r azo, pr ot est amos con t r a o expedi en t e dos
psi clogos que, t en do que compr een der , por exemplo, como
a n at ur eza par a n s an i mada, ou como h out r os esp-
r i t os, se safam r al an do de uma projeo de n s mesmos
n as coi sas, o que dei xa a quest o i n t ei r a, j que r est a a
saber quai s mot i vos n o aspect o mesmo das coi sas ext er i o-
r es n os con vi dam essa pr ojeo, e como as coi sas podem
se comunicar ao espr i t o. No n os pr eocupamos aqui
com essa pr ojeo dos psi clogos que faz t r an sbor dar n ossa
exper i n ci a de n s mesmos ou do cor po sobr e um mun do
ext er i or que n o t er i a com ela n en huma r el ao de pr i n -
cpi o. Ten t amos, ao con t r r i o, desper t ar uma r el ao car -
n al com o mun do e com out r em, que n o um aci den t e
sobr evi n do de for a a um pur o sujei t o de con heci men t o
( como poder i a ele r eceb- lo n el e?), um contedo de ex-
per i n ci a en t r e mui t os out r os, mas n ossa i n ser o pr i mei -
r a n o mun do e n o ver dadei r o.
Talvez at ual men t e est amos apt os a compr een der com
just eza que con sumao a pal avr a r epr esen t a par a n s,
como ela pr olon ga e t r an sfor ma a r elao muda com
out r em. Num sen t i do, as pal avr as de out r em n o t r an s-
passam n osso si ln ci o, n o podem dar - n os n ada mai s que
seus gest os: a di fi cul dade a mesma de compr een der como
pal avr as ar r an jadas em pr oposi es podem- n os si gn i fi car
out r a coi sa alm de n osso pr pr i o pen samen t o e como
os movi men t os de um cor po or den ados em gest os ou em
con dut as podem- n os apr esen t ar al gum mai s al m de n s
146
, como podemos en con t r ar n esses espet culos out r a col su
ul m do que al i colocamos. A sol uo aqui e al i a mesma.
Con si st e, n o que di z r espei t o a n ossa r el ao muda com
out r em, a compr een der que n ossa sen si bi li dade ao mun do,
n ossa r el ao de si n cr on i zao com ele ou seja, n osso
cor po t ese suben t en di da por t odas as n ossas exper i n -
ci as, r et i r a n ossa exi st n ci a a den si dade de um at o abso-
l ut o e n i co, faz da corporeidade uma si gn i fi cao t r an s-
fer vel , t or n a possvel uma situao comum, e fi n al men t e
a per cepo de um out r o n s mesmos, sen o n o absolut o
de sua exi st n ci a efet i va, pelo men os n o desen ho ger al
que dela n s acessvel. Da mesma man ei r a, n o que di z
r espei t o a esse gest o par t i cul ar que a pal avr a, a soluo
con si st i r em r econ hecer que, n a exper i n ci a do di logo,
a pal avr a de out r em vem t ocar em n s n ossas si gn i fi ca-
es, e n ossas pal avr as vo, como o at est am as r espost as,
t ocar n ele suas si gn i fi caes, pi sot eamo- n os um ao out r o
n a medi da em que per t en cemos ao mesmo mun do cul t ur al ,
e pr i mei r o mesma l n gua, e que meus at os de expr esso
e os de out r em t m or i gem n a mesma i n st i t ui o. Todavi a
esse uso geral da pal avr a supe um out r o, mai s fun da-
men t al como mi n ha coexi st n ci a com meus semelhan -
t es supe que eu os t en ha pr i mei r o r econ heci do como se-
mel han t es, em out r os t er mos que meu campo se t en ha
r evel ado fon t e i n esgot vel de ser , e n o somen t e de ser
par a mi m, mas ai n da de ser par a out r em. Como n ossa
depen dn ci a comum a um mesmo mun do supe que mi n ha
exper i n ci a, a t t ul o ger al, seja exper i n ci a do ser , da
mesma man ei r a n ossa vi n cul ao a uma l n gua comum ou
mesmo a um un i ver so comum da li n guagem supe uma
r el ao pr i mor di al de mi m a mi n ha pal avr a que l he d o
val or de uma di men so do ser , par t i ci pvel por X. Por
essa r elao, o out r o eu mesmo pode- se t or n ar out r o e
pode- se t or n ar eu mesmo n um sen t i do mui t o mai s r adi cal.
A l n gua comum que fal amos al guma coi sa como a cor -
por ali dade an n i ma que par t i lho com os out r os or gan i s-
mos. O si mples uso dessa l n gua, como os compor t amen t os
i n st i t udos de que sou o agen t e e a t est emun ha s me do
um out r o em ger al, di fuso at r avs de meu campo, um
espao an t r opolgi co ou cul t ur al , um i n di vduo de espci e,
por assi m di zer , e, em suma, mai s uma n oo do que uma
pr esen a. Mas a oper ao expr essi va e em par t i cular a
palavr a, t omada n o est ado n ascen t e, est abelece uma si -
147
l i i u c u o comum que no mais somente comunidade de
. v c; mas comunidade de fazer*. aqui que tem v erdadeira-
mente lugar o empreendimento da comunicao, e que o
silncio parece rompido. Entre o gesto natural (se jamais
podemos encontrar um s que no suponha ou crie um
edifcio de significaes) e a palav ra, h esta diferena
que ele mostra os objetos dados por alhures aos nossos
sentidos, enquanto que o gesto de expresso, e em parti-
cular a palav ra, encarregada de rev elar no somente
relaes entre termos dados cm outro lugar, mas at os
pn i pr i n N L ermo s (Ir. s. ms relaes. A sedimentao da cultura,
< pi r da u M O H H O . H gestos c s nossas palav ras um fundo
c o mu m qu e v ul de si, foi preciso primeiro que fosse con-
mi ml do por esses gestos e essas palav ras mesmas, e basta
uni pouco de cansao para interromper esta mais pro-
fu nda comunicao. Aqui, no podemos mais, para expli-
car a comunicao, inv ocar nossa v inculao a um mesmo
mundo: pois essa v inculao que est em questo e da
qual se trata justamente de dar conta. N o mximo pode-
mos dizer que nosso enraizamento sobre a mesma terra,
nossa experincia de uma mesma natureza o que nos
lana no empreendimento: elas* no saberiam garanti-lo,
no bastam para consum-lo. N o momento em que a pri-
meira significao humana expressa, um empreendi-
mento tentado que dispensa nossa pr-histria comum,
mesmo se ela prolonga seu mov imento: esta palav ra
conquistadora que nos interessa, ela que torna possvel
a palav ra instituda, a lngua. preciso que ensine ela
* Na margem: Isto dev ido a que a palav ra no v isa mundo natural
mas mundo de espontaneidade no sensvel. Que se torna, nesse
nv el, o outrem inv isv el? Ele sempre inv isv el, de meu lado, atrs
de mim, etc. M as no na medida em que pertencemos a uma mesma
pr-histria: na medida em que pertencemos a uma mesma palavra.
Esta palav ra como outrem em geral, inapreensv el, intematizv el,
e, nessa medida, generalidade, no indiv idualidade. M as como
se a indiv idualidade do sentir fosse sublimada at a comunicao.
Est a a palav ra que v isamos, e que ento no repousa sobre a
generalidade s. preciso que ela seja superobjetv a, supersentida.
N ela no h mais diferena entre ser singular e sentido. N enhuma
oposio entre minha lngua e minha obra, particular e univ ersal.
Aqui o outro enxertado sobre o mesmo. Falar e ouv ir i ndi sc c rnv ei s
To speak to e to be spoken to. Continuamos . E, ao mesmo tempo,
v iolncia da palav ra. Supersignificante. Simpatia das totalidades.
* Sic.
148
prpria seu sentido, e quele que fala e quele que cscutn,
no basta que assinale um sentido j possudo pelas duas
partes, preciso que o faa ser, -lhe ento essencial se
ultrapassar como gesto, o gesto que se suprime como tal
e se ultrapassa em direo de um sentido. Anterior a todas
as lnguas constitudas, sustento de sua v ida, ela , em
contrapartida, lev ada por elas na existncia, e, uma v ez
institudas de significaes comuns, lev a mais longe seu
esforo. preciso ento conceber sua operao fora de
toda significao j instituda, como ato nico pelo qual
o homem falante se d um ouv inte, e uma cultura que
lhes seja comum. Certo, ela no est v isv el em nenhuma
parte; como a outrem, no lhe posso assinalar lugar; como
outrem, ela est mais ao meu lado que nas coisas, mas
nem posso dizer que esteja em mim j que ela est outro
tanto no ouvinte; ela o que tenho de mais prprio,
minha produtiv idade, e no entanto s tudo isso para
disso fazer sentido e comunic-lo; o outro, que ouv e e
compreende, me alcana no que tenho de mais indiv idual:
como se a univ ersalidade do sentir, de que falamos, ces-
sasse enfim, de ser univ ersalidade para mim, e se redo-
brasse de uma univ ersalidade reconhecida. Aqui as pala-
v ras de outrem ou as minhas nele no se limitam naquele
que ouv e e faz v ibrar, como cordas, o aparelho das signifi-
caes adquiridas, ou a suscitar alguma reminiscncia:
preciso que seu desenrolar tenha o poder de me lanar
por minha v ez para uma significao que nem ele nem eu
possuamos. Da mesma maneira que, percebendo um orga-
nismo que dirige aos que o cercam gestos, v enho a per-
ceb-lo percebendo, porque sua organizao interna
aquela mesma de minhas condutas e me falam de minha
prpria relao ao mundo, como, quando falo a outrem
e o ouo, o que escuto vem-se inserir nos interv alos do que
digo, minha palav ra recortada lateralmente pela de ou-
trem, me escuto nele e ele fala em mim, aqui a mesma
coisa to speak to e to be spoken to. Tal o fato irredutv el
que encerra toda expresso militante, e que a expresso
literria nos tornaria presente se fssemos tentados a
esquec-lo.
Pois ela renov a sem cessar a mediao do mesmo e
do outro, ela nos faz v erificar perpetuamente que s h
significao por um mov imento, primeiro v iolento, que
dispensa toda significao. M inha relao com um liv ro
149
p c l u , ; L i n i l i a r i d a d e fcil das palavras de nossa
l n gu a , das ideias que fazem parte de nosso equipamento,
como minha percepo de outrem primeira vista aquela
dos gestos ou dos comportamentos da espcie humana.
Mas, se o livro me ensina verdadeiramente alguma coisa,
se outrem verdadeiramente um outro, preciso que num
certo momento eu seja surpreendido, desorientado, e que
ns nos reencontremos, no mais no que temos de seme-
lhante, mas no que temos de d i fe r e n te , e isto supe uma
transformao de mi m mesmo e de outr em outro tanto;
preciso qu e nossas d i fe r e n a s no sejam mais como quali-
dades pacas, 6 preciso que se tenham tornado sentidos.
Na percepo de outrem, isto se produz quando o outro
organi smo, cm vez de se comportar como eu, usa a res-
peito das coisas de meu mundo um estilo que primeiro
me misterioso, mas que pelo menos me aparece na hora
como estilo, porque responde a certas possibilidades das
quais as coisas de meu mundo estavam aureoladas. Da
mesma forma, na leitura, preciso que num certo mo-
mento a inteno do autor me escape, preciso que ele
se entrincheire; ento volto atrs, retomo impulso, ou
ento passo e, mais tarde, uma palavra feliz me fa r al-
canar, me conduzir ao centro da nova significao, ace-
derei a ela por aquele de seus lados que j faz parte de
minha experincia. A racionalidade, o acordo dos espritos
no exigem que nos encaminhemos todos mesma ideia
pela mesma via, ou que as significaes possam ser fecha-
das n uma definio, exige somente que toda experincia
comporte pontos de acionamento para todas as ideias e
que as ideias tenham uma configurao. Esta dupla pos-
tulao a de um mundo, mas, como no se trata aqui
da unidade atestada pela universalidade do sentir, como
aquela de que falamos invocada mais que constatada,
como quase invisvel e construda sobre o edifcio dos
nossos sinais, ns a chamamos mundo cultural e chama-
mos palavra o poder que temos de fa ze r servir certas coisas
convenientemente organizadas o preto e o branco, o
som da voz, os movimentos da mo , a colocar em relevo,
a diferenciar, a conquistar, a entesourar as significaes
que erram no horizonte do mundo sensvel, ou ainda de
insuflar na opacidade do sensvel esse vazio que o tornar
transparente, mas que ele mesmo, como o ar insuflado na
garrafa, nunca fica sem alguma realidade substancial. Da
150
mesma maneira ento que nossa percepo dos outros vivos
depende fi n a l me n te da evidncia do mu n d o sentido, que
se oferece a condutas outras e no entanto compreensveis
da mesma for ma a percepo de um ver dadei r o alter ego
supe que seu discurso, no momento em que o compreen-
demos e sobretudo no momento em que se entrincheira
de ns e ameaa tornar-se no-sentido, tenha o poder de
nos refazer sua imagem e nos abrir a um outro sentido.
Esse poder, ele no o possui diante de mim como consci-
ncia: uma conscincia no saberia encontrar nas coisas
a no ser o que nelas colocou. Ele pode fazer-se valer diante
de mim enquanto sou eu tambm palavra, quer dizer ca-
paz de me deixar conduzir pelo movimento do discurso
para uma nova situao de conhecimento. Entre eu como
palavra e outrem como palavra, ou mais geralmente eu
como expresso e outrem como expresso, no h mais
essa alternativa que faz do relacionamento das conscin-
cias uma rivalidade. No sou somente ativo quando falo,
mas precedo minha palavra no ouvinte; no sou passivo
quando ouo, mas falo a partir d o... que diz o outro. Falar
no somente uma iniciativa minha, ouvir no sofrer a
iniciativa do outro, e isto, em ltima anlise, porque como
sujeitos falantes continuamos, retomamos um mesmo es-
foro, mais velho que ns, sobre o qual somos enxertados
um e outro, e que a manifestao, o vir a ser da verdade.
Dizemos que o verdadeiro sempre foi verdadeiro, mas
uma maneira confusa de dizer que todas as expresses
anteriores revivem e recebem seu lugar neste presente, o
que faz com que possamos, se quisermos, l-la nelas depois,
mas, mais justamente, reencontr-las nela. O fundamento
da verdade no est fora do tempo, est na abertura de
cada momento do conhecimento queles que o retomaro
e mudar o em seu sentido. O que chamamos palavra no
passa dessa antecipao e essa retomada, esse tocar a dis-
tncia, que no se conceberiam eles prprios em termos
de contemplao, esta profunda conivncia do tempo com
ele mesmo. O que mascara a relao viva dos sujeitos
falantes que tomamos sempre por modelo da palavra o
enunciado ou o indicativo, e o fazemos porque acreditamos
que s h, fora dos enunciados, balbucios, derriso. es-
quecer tudo o que entra de tcito, de informulado, de no-
tematizado nos enunciados da cincia, que contribuem para
determinar seu sentido e que justamente do cincia de
151
f i m r i m i p o do Investi gaes. esquecer toda a
i < x | i M * N H t i o 1 1 lurari a em que terem os justam ente que locali -
zar o que se poderi a cham ar a super significao, e a di s-
ti ngui -la do no-senti do. Fundi ndo a si gni f i cao sobre a
palavra, querem os di zer que o prpri o da si gni f i cao
nunca aparecer seno com o conti nuao de um di scurso
j com eado, i ni ci ao a um a lngua j i nsti tuda. A si gni -
f i cao parece preceder os escri tos que a m ani f estam , no
que eles f aam descer sobre a terra i dei as que preex i sti -
ram num cu i nteli gvel, ou na N atureza ou nas Coisas,
m as porque o f ato de cada palavra no ser som ente ex -
presso di sso, m as de se dar na hora com o f ragm ento de um
di scurso uni versal, de anunci ar um si stem a de i nterpre-
tao. So os af si cos que preci sam , para conduzi r um a
conversao, de pontos de apoio, escolhidos anteri or-
m ente, ou para escrever sobre um a pgi na branca algum a
Indi cao li nha traada anteri orm ente ou som ente
m ancha de ti nta sobre o papel , que os arranca verti -
gem do vazi o e lhes perm i te comear. E, se podem os rea-
prox i m ar o ex cesso de i m pulso e o def ei to, M allarm , na
outra ex trem i dade do cam po da palavra, quem f asci nado
pela pgi na branca, porque ele quereri a di zer o tudo, que
di f ere i ndef i ni dam ente de escrever o Li vro, e que nos dei x a,
sob o nom e de sua obra, escritos que as ci rcunstnci as lhe
arrancaram que a f raqueza, que sua f eli z f raqueza, f ur -
-ti vam ente perm i ti u. O escri tor f eli z, o hom em f alante no
tm tanta ou to pouca consci nci a. N o se perguntam ,
antes de f alar, se a palavra possvel, no se detm na
pai x o da li nguagem que ser obri gado a no di zer tudo
se querem os di zer algum a coisa. Eles se colocam com f eli -
ci dade som bra dessa grande rvore, conti nuam em voz
alta o m onlogo i nteri or, seu pensam ento germ i na em
palavra, so com preendidos sem procur-lo, f azem -se ou-
tros di zendo o que tm de m ai s prpri o. Esto bem em si
m esm os, no se sentem ex i lados de outrem , e, porque esto
plenam ente convenci dos que o que lhes parece evi dente
verdadei ro, o di zem si m plesm ente, f ranquei am as pontes de
neve sem ver com o elas so f rgei s, gastam at o f i m esse
poder i naudi to que dado a cada conscincia, se ela
se acredi ta coex tensi va ao verdadei ro, de convencer os ou-
tros, e entrar em seu reduto. Cada um , num senti do, para
si a totali dade do m undo e, por urna graa de Estado,
quando di sso est convenci do que isso se torna verdadei ro:
pois cntuo ci e l u l a , r < > . - ; o utr us o com pr eendem r tota-
li dade pri vada f raterni za com a totali dade soci al. N a pala-
vra se reali za o im possvel acordo das duas totali dades
ri vai s, no que ela nos f aa entrar em ns m esm os e reen-
contrar algum esprito ni co ao qual parti ci param os, m as
porque ela nos di z respeito, nos ati nge de travs, nos seduz,
nos arrasta, nos transf orm a no outro, e ele em ns, porque
ela abole os li m i tes do m eu e do no-m eu e f az cessar a
alternati va do que tem senti do para m i m e do que no-
senti do para m i m , de m i m com o sujei to e de outrem com o
objeto. bom que alguns tentem obstacular a i ntruso
desse poder espontneo e a ele oponham seu ri gor e sua
m vontade. M as seu silncio acaba por palavras ai nda, e
em bom di rei to: no h si lnci o que seja pura ateno, e
que, com eado nobrem ente, perm anea i gual a si m esm o.
Com o dizia M auri ce Blanchot, Ri m baud passa alm da
palavra e acaba por escrever ainda, m as essas cartas da
Abi ssni a que reclam am , sem trao de hum or, um a hones-
ta f aci li dade, um a f am li a e a consi derao pbli ca... Acei -
tam os sem pre ento o m ovi m ento da ex presso; no ces-
sam os de ser seu tri butri o por t-lo recusado. Com o cha-
m ar f i nalm ente esse poder ao qual som os votados e que
ti ra de ns, bem ou m al, si gni f i caes? N o , certo, um
deus, j que sua operao depende de ns; e no um
gnio m ali gno, j que traz a verdade; no a condio
humana ou, se humano, no senti do em que o
hom em destri a generali dade da espci e, e f az adm i ti r
outras em sua si ngulari dade m ai s recuada. ai nda cha-
m ando-o palavra ou espontanei dade que desi gnarem os m e-
lhor esse gesto am bguo que f az o uni versal com o si ngular,
e o senti do com nossa vi da.
1 52
153
A Expresso e o
Desenho Infantil
Nosso tempo privilegiou todas as formas de expresso
elusivas e alusivas, ento bem primeiro a expresso pic-
tural, e nela a arte dos primitivos, o desenho das crian-
as e dos loucos. Depois todos os gneros de poesia invo-
luntria, o testemunho, ou a lngua falada. Mas, salvo
entre aqueles de nossos contemporneos cuja neurose faz
todo o talento, o recurso expresso bruta no se faz contra
a arte dos museus ou contra a literatura clssica. Ao con-
trrio, de natureza a tornarem-nos vivos lembrando-nos
o poder criador da expresso que traz to bem quanto os
outros a arte e a literatura objetiva, mas que cessamos
de sentir neles precisamente porque estamos instalados,
como sobre um solo natural, sobre as aquisies que nos
deixaram. Aps a experincia dos modos de expresso no
cannicos, a arte e a literatura clssica se apresentam como
a conquista at aqui a mais realizada de um poder de
expresso que no se fundou naturalmente, mas que nelas
se mostrou bastante eloquente para que sculos inteiros
tenham podido cr-lo coextensivo ao mundo. Para ns, en-
to, tornaram a ser o que nunca tinham deixado de ser:
uma criao histrica com tudo o que isto implica de
risco, mas tambm de parcialidade ou de estreiteza. O que
chamamos arte e literatura significante s significa numa
certa rea de cultura, e deve ser ento religada a um poder
mais geral de significar. A literatura e a arte objetivas,
154
que s crem apelar para significaes j presentes em todo
homem e nas coisas, so, forma e fundo, inventadas, e s
h objetividade porque primeiro um poder de expresso
superobjetivo abriu para sculos um campo comum de lin-
guagem, s h significao porque um gesto supersigni-
ficante se ensinou, se fez compreender ele mesmo, no risco
e na parcialidade de toda criao. Antes de procurar, no
captulo seguinte, o que podem ser as relaes de operao
expressiva com o pensador que supe e que forma, com
a histria que continua e recria, recoloquemo-nos diante
dela, de sua contingncia e de seus riscos.
A iluso objetivista est bem instalada em ns. Esta-
mos convencidos de que o ato de exprimir, em sua forma
normal ou fundamental, consiste, levando em conta uma
significao, em construir um sistema de sinais tal que a
cada elemento do significado corresponde um elemento do
significante, isto , a representar. com esse postulado
que comeamos o exame das formas de expresso mais
elpticas que do mesmo golpe so desvalorizadas por
exemplo da expresso infantil. Representar, ser aqui, le-
vando em conta um objeto ou um espetculo, transpor-
t-lo e dele fabricar sobre o papel uma espcie de equiva-
lente, de tal maneira que, em princpio, todos os elementos
do espetculo estejam assinalados sem equvoco e sem con-
fuso. A perspectiva planimtrica sem dvida a nica
soluo do problema colocado nestes termos, e descrevere-
mos o desenvolvimento do desenho da criana como uma
marcha para a perspectiva. Fizemos ver antes que em
todo caso a perspectiva planimtrica no poderia ser dada
como uma expresso do mundo que percebemos, nem ento
reivindicar um privilgio de conformidade ao objeto, e esta
observao nos obriga a reconsiderar o desenho da criana.
Pois no temos mais agora o direito nem a necessidade de
defini-lo, somente em relao ao momento final em que ele
alcana a perspectiva planimtrica. Realismo fortuito,
realismo falho, realismo intelectual, realismo visual, enfim,
diz Luquet, quando quer descrever seus progressos1. Mas
a perspectiva planimtrica no realista, vimos, uma
construo, e, para compreender as fases que a precedem,
no nos basta mais falar de inateno, de incapacidade
sinttica, como se o desenho perspectivo j estivesse l, sob
1. Luquet, O Desenho Infantil, Alcan, 1927.
155
os olhos da criana, e que todo o problema fosse explicar
porque ela no se inspira com ele. Precisamos, ao contr-
rio, compreender, por eles mesmos e como consumao
positiva, os modos de expresso primordiais. No se obri-
gado a representar um cubo por um quadrado e dois losan-
gos associados a cada um de seus lados e a sua base a no
ser se resolvemos projetar o espetculo sobre o papel, ou
seja, fabricar um relevo onde possam figurar, com o obje-
to, a base sobre a qual repousa, os objetos vizinhos, suas
orientaes respectivas segundo a vertical e a horizontal,
seu escalonamento em profundidade, onde os valores nu-
mricos dessas diferentes relaes possam ser reencontra-
dos e lidos segundo uma escala nica em suma, onde
pudssemos reunir o mximo de informaes no tanto
sobre o espetculo como sobre as invariantes que se reen-
contram na percepo de todo espectador qualquer que
seja seu ponto de vista. De maneira que s paradoxal
em aparncia, a perspectiva planimtrica tomada de um
certo ponto de vista, mas para obter uma notao do
mundo que seja vlida para todos. Ela fixa a perspectiva
vivida, ela adota, para representar o percebido, um ndice
de deformao caracterstica de meu ponto de estao,
mas, justamente, por esse artifcio, constri uma imagem
que imediatamente traduzvel na ptica de todo outro
ponto de vista, e que, nesse sentido, imagem de um mun-
do em si, de um geometral de todas as perspectivas. Ela
d subjetividade uma satisfao de princpio pela defor-
mao que admite nas aparncias, mas como essa defor-
mao sistemtica e se faz segundo o mesmo ndice em
todas as partes do quadro, ela me transporta nas prprias
coisas, me mostra como Deus as v, mais exatamente, me
d no a viso humana do mundo, mas o conhecimento
que pode ter de uma viso humana um deus que no mer-
gulhe na finitude. Est a um objetivo que podemos pro-
por-nos na expresso do mundo. Mas podemos ter uma
outra inteno. Podemos procurar tornar nossa relao
com o mundo, no o que ela ao olhar de uma intelign-
cia infinita, e ao mesmo tempo o tipo cannico, normal,
ou verdadeiro da expresso cessa de ser a perspectiva
planimtrica, eis-nos livres das imposies que ela fazia
ao desenho, livres, por exemplo, de exprimir um cubo por
seis quadrados dissociados e justapostos sobre o papel,
livres de a fazer figurar as duas faces de uma bobina e de
156
reuni-las por uma espcie de cano de aquecedor soldado,
livres de representar a morte por transparncia em seu
caixo, o olhar por olhos separados da cabea, livres de no
marcar os contornos objetivos da alia ou do rosto, e, em
compensao, de indicar as faces por uni redondo. o que
faz a criana. tambm o que faz Claude Lorrain quando
d a presena da luz por sombras que a cercam, mais elo-
quentemente que o faria tentando desenhar o facho lu-
minoso. que o objetivo no mais aqui construir uma
sinalizao objetiva do espetculo, e comunicar com
aquele que olhar o desenho dando-lhe a armadura de re-
laes numricas que so verdadeiras para toda a percep-
o do objeto. O objetivo marcar sobre o papel um trao
de nosso contato com esse objeto e esse espetculo, na
medida em que eles fazem vibrar nosso olhar, virtualmen-
te nosso tocar, nossos ouvidos, nosso sentimento do acaso
ou do destino ou da liberdade. Trata-se de deixar um
testemunho, e no de fornecer informaes. O desenho no
dever mais se ler como antes, o olhar no o dominar
mais, ns ali procuraremos mais o prazer de envolver o
mundo; ele ser recebido, nos dir respeito como uma
palavra decisiva, despertar em ns o profundo arranjo
que nos instalou em nosso corpo e por ele no mundo, car-
regar o selo de nossa finitude, mas assim, e por a mesmo,
nos conduzir substncia secreta do objeto de que pouco
antes s tnhamos o envelope. A perspectiva planimtrica
nos dava a finitude de nossa percepo, projetada, achata-
da, tornada prosa sob o olhar de um deus, os meios de
expresso da criana, quando forem deliberadamente re-
tomados por um artista num verdadeiro gesto criador nos
daro, ao contrrio, a ressonncia secreta pela qual nossa
finitude se abre ao ser do mundo e se faz poesia. E seria
preciso dizer da expresso do tempo o que acabamos de
dizer da expresso do espao. Se, em suas narraes gr-
ficas, a criana rene numa s imagem as cenas sucessi-
vas da histria, e s faz ali figurar uma nica vez os ele-
mentos invariveis do cenrio, ou mesmo ali desenha uma
s vez cada um dos personagens tomados na atitude que
convm a tal momento do relato de maneira que con-
tenha sozinho toda a histria no momento considerado, e
que todos juntos dialoguem atravs da espessura do tem-
po e marquem de longe em longe a histria ao olhar do
adulto razovel, que pensa o tempo como uma srie de
pontos temporais justapostos, esse relato pode parecer
157
cheio de lacunas e obscuro. Mas, segundo o tempo que vi-
vemos, o presente toca ainda, tem ainda em mo o passa-
do, est com ele numa estranha coexistncia, e as elipses
da narrao grfica podem sozinhas exprimir esse movi-
mento da histria que abarca seu presente em direao de
seu futuro, como o rebatimento exprime a coexistncia
dos aspectos invisveis, e dos aspectos visveis do objeto ou a
presena secreta do objeto mvel em que o fechamos. E certo
h bem diferena entre o desenho involuntrio da criana,
resduo de uma experincia indivisa, ou mesmo tomado com
os gestos plsticos, falsos desenhos como h uma falsa
escrita, e a falsa palavra da tagarelice e a verdadeira ex-
presso das aparncias, que no se contenta em explorar o
mundo todo feito do corpo e a ele acrescenta o de um princ-
pio de expresso sistemtica. Mas o que est antes da obje-
tividade simboliza como o que est acima, e o desenho in-
fantil substitui o desenho objetivo na srie de operaes ex-
pressivas que procuram, sem nenhuma garantia, recuperar o
ser do mundo, e nos faz perceb-lo como caso particular dessa
operao. A questo com um pintor nunca saber se ele
usa ou no usa a perspectiva planimtrica: saber se ele
a observa como uma receita infalvel de fabricao
ento que esquece sua tarefa e que no pintor ou se
a reencontra sobre o caminho de um esforo de expresso
com o qual acontece ela ser compatvel ou mesmo onde ela
representa o papel de um auxiliar til, mas do qual no
d o sentido inteiro. Czanne renuncia perspectativa pla-
nimtrica durante toda uma parte de sua carreira; porque
quer exprimir pela cor e a riqueza expressiva de uma ma
a faz transbordar seus contornos, e no se pode conten-
tar do espao que lhe prescrevem. Um outro ou o pr-
prio Czanne em seu ltimo perodo observa as leis
da perspectiva, ou melhor, no precisa infringi-las porque
procura a expresso pelo traado, e no tem mais necessi-
dade de encher sua tela. O importante que a perspectiva,
mesmo quando est l, s esteja presente como as regras
de gramtica esto presentes num estilo. Os objetos da
pintura moderna sangram, espalham sob nossos olhos
sua substncia, interrogam diretamente nosso olhar, co-
locam prova o pacto de coexistncia que conclumos com
o mundo por todo nosso corpo. Os objetos da pintura cls-
sica tm uma maneira mais discreta de nos falar, e as
vezes um arabesco, um trao de pincel quase sem mat-
158
ria que apela nossa encarnao, enquanto que o resto da
linguagem se instala decentemente distncia, no findo
ou no eterno, e se abandona s convenincias da perspec-
tiva planimtrica. O essencial que, num caso como no
outro, jamais a universalidade do quadro resulte das re-
laes numricas que ele possa conter, jamais a comunica-
o do pintor conosco se funda sobre a objetividade pro-
saica, e que sempre a constelao dos sinais nos guie para
uma significao que no estava em nenhum lugar antes
dela.
Ora, essas observaes so aplicveis linguagem.
%
139
Você também pode gostar
- Apostila Panorama Biblico 2013Documento43 páginasApostila Panorama Biblico 2013Ederson FélixAinda não há avaliações
- Exercícios ResolvidosDocumento16 páginasExercícios ResolvidosLilian Cilza100% (1)
- Venha o Teu ReinoDocumento1 páginaVenha o Teu Reinomsnascimento8890100% (1)
- Cronologia Historica Do Estado Do PiauíDocumento220 páginasCronologia Historica Do Estado Do PiauíWemerson Silva100% (1)
- Apostila Português 1Documento508 páginasApostila Português 1Bea pAinda não há avaliações
- Daniel PDFDocumento114 páginasDaniel PDFTiago de Moraes KiefferAinda não há avaliações
- Estudos Sobre EspartaDocumento263 páginasEstudos Sobre EspartaNeganLucille100% (1)
- #Hinos E Canções MilitaresDocumento2 páginas#Hinos E Canções Militaresvolvo0310Ainda não há avaliações
- 8º ANO - RecuperaçãoDocumento7 páginas8º ANO - RecuperaçãoJussara Souza Soares100% (1)
- Plano de Aula de Trilha - Karolaine Nicole HélioDocumento3 páginasPlano de Aula de Trilha - Karolaine Nicole HélionicolescarlettAinda não há avaliações
- Por Lit 07 07Documento20 páginasPor Lit 07 07Thiago AndradeAinda não há avaliações
- Congresso MágicoDocumento6 páginasCongresso MágicoLuciane100% (1)
- Proposta de Conto MaravilhosoDocumento2 páginasProposta de Conto MaravilhosoMelissa CalderaroAinda não há avaliações
- Norma APA para Refrencias BibliográficasDocumento14 páginasNorma APA para Refrencias BibliográficasBlimunda SaramagoAinda não há avaliações
- CabeçalhoDocumento4 páginasCabeçalhoElga Amarante CamposAinda não há avaliações
- Texto 9 e 19 - ANTOLOGIA 16.05Documento101 páginasTexto 9 e 19 - ANTOLOGIA 16.05Vitoria Ribeiro NascimentoAinda não há avaliações
- Revisão Das Figuras de Linguagem Atividades 1 AnoDocumento1 páginaRevisão Das Figuras de Linguagem Atividades 1 AnoleilaAinda não há avaliações
- Aparição - O EsquecimentoDocumento2 páginasAparição - O EsquecimentoMisael NetoAinda não há avaliações
- Adaptação Entre Poema e Música: Algumas Reflexões À Base Da Intermidialidade Da Obra "Vaca Estrela e Boi Fubá"Documento14 páginasAdaptação Entre Poema e Música: Algumas Reflexões À Base Da Intermidialidade Da Obra "Vaca Estrela e Boi Fubá"reginaldaAinda não há avaliações
- COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO Slides de Aula - Unidade IIDocumento49 páginasCOMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO Slides de Aula - Unidade IIkendo konamiAinda não há avaliações
- Goethe Trilogia Da PaixaoDocumento3 páginasGoethe Trilogia Da PaixaocvwedgwoodAinda não há avaliações
- Formas de Apresentação Do Trabalho Acadêmico - Técnicas de Estudo e PesquisaDocumento10 páginasFormas de Apresentação Do Trabalho Acadêmico - Técnicas de Estudo e PesquisaMarco Aurélio Barbosa de SouzaAinda não há avaliações
- Projeto Folclore Berçario IiDocumento15 páginasProjeto Folclore Berçario IiMilka MotaAinda não há avaliações
- Atividade Sujeito e PredicadoDocumento2 páginasAtividade Sujeito e PredicadoLaíseAinda não há avaliações
- Epopeia CamonianaDocumento48 páginasEpopeia CamonianaElisabete Gomes AntunesAinda não há avaliações
- Ativ. de Português Do 1ºano EMDocumento2 páginasAtiv. de Português Do 1ºano EMCilene Lopes MarinhoAinda não há avaliações
- Atividades Sobre VerbosDocumento5 páginasAtividades Sobre VerbosVanemoremaffeAinda não há avaliações
- O Que É TextoDocumento6 páginasO Que É TextoOtávio FinkAinda não há avaliações
- Nogueira - SátiraDocumento20 páginasNogueira - SátiraPaulo CorreiaAinda não há avaliações
- Gênesis 1 - ACF - Almeida Corrigida Fiel - Bíblia OnlineDocumento2 páginasGênesis 1 - ACF - Almeida Corrigida Fiel - Bíblia OnlineErnesto PalhaAinda não há avaliações