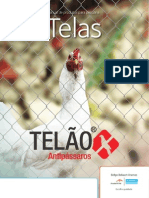Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Agriculturas JUN 2013
Agriculturas JUN 2013
Enviado por
joiceggpDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Agriculturas JUN 2013
Agriculturas JUN 2013
Enviado por
joiceggpDireitos autorais:
Formatos disponíveis
EXPERINCIAS EMAGROECOLOGIA
Leisa Brasil JUN 2013 vol. 10 n. 2
Construo
Social dos
Mercados
2 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
ISSN: 1807-491X
Revista Agriculturas: experincias em agroecologia, v.10, n.2
(corresponde ao v. 29, n 2 da Revista Farming Matters)
Revista Agriculturas: experincias em agroecologia uma publicao da
AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia, em parceria com a
Fundao Ileia Holanda.
Rua das Palmeiras, n. 90
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 22270-070
Telefone: 55(21) 2253-8317 / Fax: 55(21) 2233-8363
E-mail: revista@aspta.org.br
www.aspta.org.br
Fundao Ileia
PO Box 90, 6700 AB Wageningen, Holanda
Telefone: +31 (0)33 467 38 75 / Fax: +31 (0)33 463 24 10
www.ileia.org
CONSELHO EDITORIAL
Claudia Schmitt
Programa de Ps-graduao de Cincias Sociais em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
CPDA/UFRRJ
Eugnio Ferrari
Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, MG CTA/ZM
Ghislaine Duque
Universidade Federal de Campina Grande UFCG e Patac
Jean Marc von der Weid
AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia
Maria Emlia Pacheco
Federao de rgos para a Assistncia Social e Educacional Fase RJ
Romier Sousa
Instituto Tcnico Federal Campus Castanhal
Slvio Gomes de Almeida
AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia
Tatiana Deane de S
Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuria Embrapa
EQUIPE EXECUTIVA
Editor Paulo Petersen
Editor convidado para este nmero Paulo Andr Niederle
Produo executiva Adriana Galvo Freire
Base de dados de subscritores Analu Cabral
Copidesque Rosa L. Peralta
Reviso Jair Guerra Labelle
Traduo Rosa L. Peralta
Foto da capa Ita Porto. Feira Livre de Afogados da Ingazeira (PE)
Projeto grfco e diagramao I Grafcci Comunicao & Design
Impresso: Gol Grfca
Tiragem: 1.500
A AS-PTA estimula que os leitores circulem livremente os artigos aqui
publicados. Sempre que for necessria a reproduo total ou parcial de
algum desses artigos, solicitamos que a Revista Agriculturas: experincias
em agroecologia seja citada como fonte.
EXPERINCIAS EMAGROECOLOGIA
Editorial
A
A convergncia entre novas tecnologias da
informao, novas estruturas para o trans-
porte de longa distncia e mudanas nos
marcos institucionais reguladores dos mercados nacionais e
internacionais pavimentou o caminho para que corporaes
transnacionais conquistassem, a partir da dcada de 1990, um
poder sem precedentes sobre a confgurao dos sistemas
agroalimentares ao exercer crescente controle sobre os fu-
xos que vinculam a produo, a transformao, a distribuio e
o consumo de alimentos. Entretanto, essa rpida massifcao
da comida de lugar nenhum proporcionada pela liberalizao
dos mercados agrcolas no pode ser encarada como uma
tendncia nica. Em paralelo, e como forma de resistncia a
esse processo dominante, cujos efeitos perversos se alastram
em cadeia sobre as sociedades contemporneas, verifca-se o
surgimento de movimentos criativos voltados relocalizao
dos sistemas agroalimentares, o que implica a reconexo dos
mesmos com a sua base ecolgica e sociocultural.
sob essa perspectiva que os mercados devem ser en-
carados como uma arena de disputa, na qual coexistem ten-
dncias contrastantes na intermediao entre a produo e
o consumo alimentar. De um lado, o poder das corporaes
do agronegcio e sua infuncia poltica e ideolgica sobre os
Estados nacionais e os organismos multilaterais; de outro, pro-
cessos sociais emergentes que buscam reconstruir, diversifcar
ou revitalizar circuitos mercantis que promovem uma distri-
buio mais equnime da riqueza gerada na agricultura, ao
mesmo tempo em que alteram o metabolismo dos sistemas
agroalimentares em favor da sustentabilidade dos fuxos de
matria e energia envolvidos na produo econmica do setor.
Nesse sentido, ganha relevncia a ideia de que a relocali-
zao dos mercados agroalimentares uma construo social
ativamente orientada para conferir a famlias agricultoras e
consumidores crescentes graus de autonomia. No se trata
apenas de acessar canais j existentes, mas de criar e contro-
lar novos circuitos de comercializao cujo funcionamento
rompe com a total subordinao s redes agroalimentares
transnacionais. Para ressaltar o fato de que so segmentos
especfcos de mercados mais amplos, esses novos canais vm
sendo denominados de mercados aninhados ou mercados en-
caixados, que se diferenciam por sua capacidade de autorregu-
lao a partir das interaes estabelecidas diretamente entre
produtores, distribuidores e consumidores e suas organiza-
es locais.
Ao colocar em evidncia essa temtica, esta edio da
Revista Agriculturas apresenta um conjunto de experincias e
debates relacionados revitalizao e/ou reorganizao de
mercados agroalimentares locais/regionais, espaos fecundos
para a realizao de trocas econmicas que valorizam a pro-
duo biologicamente diversifcada e culturalmente contextu-
alizada tpica da agricultura camponesa.
O editor
Editor convidado Paulo Andr Niederle
ARTIGOS
A diversidade dos circuitos curtos de alimentos
ecolgicos: ensinamentos do caso brasileiro e francs
Moacir R. Darolt, Claire Lamine e Alfo Brandemburg
08
04
Inovaes organizacionais para a construo de
mercados locais e solidrios em Espera Feliz (MG)
Marcio Gomes da Silva e Paulo Csar Gomes Amorim Junior
14
Inovao e controle social na produo e
comercializao de alimentos ecolgicos:
institucionalizando a confana?
Cludio Becker, Fabiana da Silva Andersson e
Paulo Mielke de Medeiros
18
Rede Ecovida de Agroecologia: articulando trocas
mercantis com mecanismos de reciprocidade
Oscar Jos Rover e Felipe Martins Lampa
22
Sistemas alimentares locais: um caso de sucesso
entre consumidores urbanos do Equador
Ross M. Borja, Pedro Oyarzn, Sonia Zambrano,
Francisco Lema1
26
08
14
18
26
32
Publicaes
38
Antigas tradies, novas prticas
Katrien vant Hooft
32
Sumrio
22
4 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Editor convidado
Construo social de
mercados e novos regimes
de responsabilizao no
sistema agroalimentar
Paulo Andr Niederle
N
os ltimos meses, dois alimentos roubaram
a cena das commodities agrcolas no notici-
rio econmico e poltico nacional. As adul-
teraes na composio do leite e o aumento do preo do
tomate evidenciaram duas faces de um mesmo problema: a
incapacidade do sistema agroalimentar em garantir segurana
e soberania alimentar para a moderna sociedade do consumo.
A fraude no processamento do leite pela adio indevida
de formol no foi apenas o resultado da ao criminosa de
determinados agentes econmicos. Foi, antes de tudo, conse-
quncia da prpria incapacidade das empresas, cujos sistemas
peritos e mecanismos de rastreabilidade falharam em assegu-
rar o abastecimento regular e a qualidade dos alimentos. O
problema generalizado, sendo o leite apenas a expresso
mais recente de uma srie de crises que se tornaram cada
vez mais recorrentes no ramo alimentar (s este ano, de-
tectou-se detergente industrial nos sucos de soja e carne de
cavalo nos hambrgueres). Entretanto, o que se tornou par-
ticularmente perturbador nesses eventos foi o modo como
eles foram retirados da agenda pblica, no exatamente em
virtude da resoluo dos crimes, mas pela desresponsabiliza-
o dos agentes envolvidos em verdadeiros atentados sa-
de pblica, cujos piores efeitos ainda sero potencialmente
percebidos pelos consumidores dentro de alguns anos. Em
nenhum momento a mdia hegemnica foi capaz de discutir as
causas mais profundas dessas crises alimentares. Nada foi dito,
por exemplo, sobre a inexistncia de uma agncia pblica com
capacidade efetiva de regular a produo e a distribuio dos
alimentos no Brasil. Mas como falar em regulao estatal em
tempos de incessante ataque aos exagerados gastos pblicos?
Gastos supostamente ainda mais culpados que os tomates
pelo descontrole da economia nacional.
Condenado at a alma pela imprensa, o tomate no pas-
sou de bode expiatrio de uma famigerada campanha que fez
do aumento da infao a principal bandeira de uma guer-
ra contra a poltica econmica (qui a favor dos rentistas).
Obviamente, seria ingnuo desprezar os efeitos do aumento
generalizado dos preos sobre a renda da populao, sobre-
tudo aquela de menor poder aquisitivo. Igualmente, seria um
erro desconsiderar os impactos da elevao do preo dos ali-
mentos na composio dos ndices infacionrios no perodo
recente. No entanto, a rigor, essas questes no constituem
a raiz dos problemas. So apenas consequncias superfciais
(embora importantes) dos equvocos de uma poltica que
preteriu a produo de alimentos em prol da exportao de
commodities que sustentam nossa balana comercial. Para
alm da incompreenso das especifcidades da agricultura en-
quanto setor econmico especialmente no que diz respeito
infuncia da sazonalidade sobre os preos agrcolas , o
que espantou na crise dos tomates foi a indisposio dos ana-
listas em falar de algumas razes bsicas da infao alimen-
tar, dentre elas, a disparidade entre o montante de recursos
concedido para ampliar a produo de commodities, fbras e
matrias-primas e aquele destinado ao investimento em sis-
temas ecologicamente intensivos de produo de alimentos.
Ao mesmo tempo, nenhuma referncia incisiva foi feita
irracionalidade dos modernos sistemas de abastecimento e
proviso alimentar, responsveis por volumes alarmantes de
perda e desperdcio de alimentos (um crime que ocasiona a
morte de milhes de pessoas anualmente). Relatrio da Or-
ganizao das Naes Unidas para Alimentao e Agricultura
(FAO, na sigla em ingls) publicado em 2011 sustenta que um
tero dos alimentos produzidos no mundo para consumo
humano perdido ou desperdiado, o que representa 1,3
bilhes de toneladas por ano. Nesse sentido, basta lembrar
que, em 2012, vrios agricultores do interior de So Paulo
viram suas produes de tomate apodrecer nas lavouras e
nas caixas porque o preo reduzido no cobria os custos de
colheita, transporte e comercializao. A inexistncia de po-
lticas adequadas para dar destinao ao produto e cobrir os
prejuzos da safra desestimulou os produtores, que decidiram
diminuir a rea plantada e a produo. O aumento conside-
5 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
rvel do preo era uma tragdia anunciada, que poderia ter sido evitada com o uso
de instrumentos simples de poltica agrcola que garantissem preos adequados e a
reduo dos custos de produo e benefciamento dos alimentos.
1
Na origem de ambos os eventos, envolvendo o leite e o tomate, est um im-
portante fenmeno que se confgurou ao longo das ltimas dcadas, qual seja, uma
mudana nos regimes de responsabilizao (accountability) no sistema agroalimentar.
Resumidamente, a responsabilidade pelo aprovisionamento alimentar, que outrora
era das famlias e comunidades, com o processo de urbanizao e industrializao
foi transferido para o Estado (com suas imensas centrais de abastecimento). J nos
anos 1990, com a ascenso neoliberal, esse encargo passou para as mos de oligop-
lios globais controlados pelo capital fnanceiro.
Para quem tem alguma dvida a esse respei-
to, basta observar a expanso dos imprios do
setor de varejo alimentar: em 2013, a rede Wal-
-Mart alcanou o segundo lugar no ranking das
maiores empresas do mundo, publicado pela
Revista Fortune.
2
As consequncias desse fen-
meno so diversas, afetando no s o aumento
da volatilidade dos preos dos alimentos, mas
tambm questes como soberania e segurana
alimentar; sade pblica, sanidade e qualidade
nutricional; sociobiodiversidade e preservao
do patrimnio natural e cultural; e sobrevivn-
cia dos agricultores familiares e das comunida-
des rurais, com suas prticas, costumes e
saberes alimentares tradicionais.
Em oposio aos processos de desterritorializao, artifcializao, padroniza-
o e oligopolizao da produo e do consumo alimentar, uma srie de movimen-
tos sociais se constituiu nos ltimos anos. Apesar dos diversos matizes polticos,
esses movimentos compartilham a reivindicao por mudanas mais ou menos ra-
dicais nos sistemas de aprovisionamento alimentar. A construo de redes alternati-
vas passou a ser o foco privilegiado da ateno de grupos sociais propondo que as
pessoas, as famlias, as comunidades, os territrios e o prprio Estado reassumam
a responsabilidade pelas prticas de produo, distribuio e consumo. Atualmente,
o crescimento de um conjunto de novos mercados a expresso das estratgias
que permitem a esses grupos retomar o direito de deciso soberana sobre o tipo de
alimentao e de vida que valorizam. isso, afnal, que diferentes movimentos tm
1
Tardiamente, aps o lanamento do Plano Agrcola e Pecurio 2013-2014, o Comit de Poltica Mone-
tria (Copon) decidiu, em reunio extraordinria no dia 18 de junho de 2013, anunciar um conjunto de
medidas para o crdito rural, dentre as quais limites extras de fnanciamento para produtores de batata
inglesa, cebola, feijo, mandioca, tomate, verduras e legumes.
2
Para uma anlise histrica desse processo, ver McMichel (2009), Ploeg (2008) e Friedmann (2004).
proposto sob o signo de distintos me-
canismos de requalifcao dos alimen-
tos (agroecolgicos, orgnicos, natu-
rais, tradicionais, caseiros, coloniais, de
origem, comrcio justo e solidrio, da
reforma agrria, da agricultura urbana,
etc.): retomar para si a responsabilidade
pela alimentao enquanto prtica so-
ciocultural, desenvolvendo formas ino-
vadoras de produo e consumo mais
adequadas s aspiraes de uma nova
relao sociedade-natureza.
Ao mesmo tempo, esses movi-
mentos sabem que preciso cobrar do
Estado um papel mais ativo na garantia
desse direito. Primeiramente, so ne-
cessrias polticas que regulamentem o
funcionamento dos mercados alimen-
tares. Isso envolve desde a coero a
fraudes e adulteraes no processa-
mento alimentar at o controle de cer-
tas prticas abusivas de empresas que
se apropriam de valores sociais para
vender alimentos caseiros e coloniais
produzidos em gigantescas estruturas
industriais. importante haver tambm
um controle mais efetivo sobre o co-
meo da cadeia produtiva, a agricultura.
Neste caso, a agenda de reivindicaes
recai sobre o uso indiscriminado de
agrotxicos e os riscos ecolgicos e
sociais da transgenia, associados ainda
aos ndices assustadores de eroso ge-
ntica e perda de biodiversidade global
ocasionada pela agricultura industrial
(NODARI et al., 2011). Em segundo lu-
gar, o Estado deve garantir as condies
para que esses grupos e movimentos
construam seus prprios projetos de
vida. Para tanto, so necessrias pol-
ticas pblicas que incentivem sistemas
alternativos de produo e consumo
alimentar. A construo da Poltica
Nacional de Agroecologia e Produo
Orgnica (PNAPO) caminha apenas ti-
midamente nesse sentido, uma vez que,
mesmo reconhecendo a contribuio
estratgica da Agroecologia segurana
e soberania alimentar, acaba ratifcando
um enfoque voltado primeiramente
ampliao de um segmento econmico
6 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
emergente, a agricultura orgnica. Finalmente, o Estado pode
agir de maneira proativa por meio da ampliao dos mer-
cados institucionais para produtos da agricultura familiar, in-
corporando de forma mais efetiva alimentos agroecolgicos,
da sociobiodiversidade, regionais e tradicionais em programas
como o Programa de Aquisio de Alimentos (PAA) e o Pro-
grama Nacional da Alimentao Escolar (PNAE) e na prpria
Poltica de Garantia de Preos Mnimos (PGPM) (SCHMITT;
GRISA, 2013).
A partir de diferentes abordagens,
essas questes esto ilustradas no
conjunto de artigos que compe
esta edio da Revista Agriculturas,
dedicada ao tema da construo so-
cial de mercados. O foco recai sobre
uma gama de iniciativas que pro-
movem a aproximao entre pro-
dutores e consumidores por meio
da revitalizao de redes alimen-
tares alternativas, as quais tm se
revelado mecanismos importantes
para a realizao econmica dos
sistemas agroecolgicos de produ-
o, ao mesmo tempo em que fa-
vorecem a reproduo das culturas
alimentares regionais. Mediadores
da emergncia de novos padres
de produo e consumo, esses
mercados tm merecido crescente
ateno por parte dos movimentos
sociais, pesquisadores e formulado-
res de polticas pblicas.
A redao dos artigos para esta edio foi orientada
por algumas questes centrais: Quais estratgias esto sendo
desenvolvidas pelas famlias agricultoras e suas organizaes
para enfrentar os novos desafos impostos pela dominao
dos mercados agrcolas por grandes corporaes? O que os
agricultores fazem para se tornar mais resilientes s ameaas
decorrentes da futuao dos preos, das mudanas climticas
e da ao de instituies hostis aos seus modos de produo?
Como o desenvolvimento de mercados locais e circuitos cur-
tos de comercializao pode catalisar a construo de meios
de vida sustentveis para os agricultores familiares? Como a
construo de novos mercados pode fortalecer a autonomia
dos agricultores familiares? Qual papel o Estado vem desem-
penhando nesse contexto de mudanas nos circuitos de pro-
duo e consumo alimentar?
Inicialmente, o texto assinado por Moacir Darolt, Claire
Lamine e Alfo Brandenburg discute a proliferao de distintos
formatos de circuitos curtos de comercializao de alimentos
ecolgicos. A partir de evidncias buscadas em casos do Bra-
sil e da Frana, os autores demonstram como esses novos
mercados convergem para uma transformao das relaes
de poder no mbito dos sistemas alimentares, conferindo um
maior peso e participao de consumidores e produtores. Nes-
ses termos, demonstram como o processo de construo de
mercados favorece o aprendizado de novas prticas democr-
ticas que se tornam fontes de empoderamento e formao de
consumidores politizados.
Em seguida, Marcio Gomes da Silva e Paulo Csar Go-
mes Amorim Jnior analisam uma das experincias mais
exitosas de construo social e poltica de circuitos de co-
mercializao para a agricultura familiar no Brasil, a saber,
os chamados mercados institucionais. A partir do caso da
Cooperativa da Agricultura Familiar Solidria de Espera Feliz
(Coofeliz), em Minas Gerais, os autores discutem as mudan-
as organizacionais necessrias para promover um intrinca-
do processo de intercompreenso entre diferentes agentes
envolvidos na dinmica do mercado: agricultores, tcnicos,
professores, nutricionistas, gestores pblicos. O primeiro
exemplo analisado refere-se construo de ambientes de
interao agroecolgica como espaos de troca de conheci-
mentos entre os agentes do mercado acerca das prticas
de manejo agroecolgico, qualidade do produto e formas de
armazenamento. Trata-se de um modelo singular de dilogo
que busca estabelecer entendimentos e compromissos co-
muns entre os atores sociais com vistas a viabilizar a expan-
so do mercado. O segundo exemplo do vale solidrio, uma
moeda social implementada pela cooperativa em parceria
com estabelecimentos comerciais locais. Inicialmente criado
como soluo para os atrasos no pagamento das compras
governamentais, o sistema produziu uma importante din-
mica de desenvolvimento local com efeitos que envolvem
desde a redinamizao do pequeno varejo local at o forta-
lecimento das relaes sociais de confana.
Outro texto que explora as interfaces entre a produo
agroecolgica e a construo dos mercados institucionais
aquele assinado por Cludio Becker, Fabiana da Silva Ander-
son
e Paulo Mielke de Medeiros. A partir do caso da Coopera-
tiva Sul Ecolgica, no Rio Grande do Sul, os autores discutem
as inovaes institucionais e organizacionais necessrias para
a operao de programas como o PAA e o PNAE. Um dos
aspectos abordados diz respeito certifcao da produo
orgnica por meio da formalizao de uma Organizao de
Controle Social (OCS). Trata-se de um dispositivo legalmente
constitudo que permite aos agricultores familiares atuar de
maneira proativa na construo do mercado ou, mais espe-
cifcamente, nos processos de avaliao da conformidade e
garantia da qualidade orgnica. Como defnem os autores, o
sistema participativo de certifcao institucionaliza a confana
7 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
estabelecida entre os produtores e destes com os consumi-
dores. Ao mesmo tempo, o artigo no se furta a analisar as
inmeras difculdades para os agricultores familiares atuarem
nos mercados institucionais: Este mercado, ora em construo,
desafa a capacidade organizativa e de articulao com os demais
segmentos sociais envolvidos, visando consolidar esta via singular
de abastecimento e consumo.
O artigo de Oscar Rover e Felipe Lampa explora a
experincia de construo social de mercados pela Rede
Ecovida de Agroecologia, um dos exemplos mais complexos
de articulao de atores e organizaes sociais construdo
no Brasil meridional ao longo das ltimas dcadas. Com um
foco de ao voltado transformao dos sistemas de pro-
duo e aprovisionamento alimentar, a Ecovida constituiu-se
primeiramente a partir das experincias das feiras-livres, as
quais se tornaram espaos sociais privilegiados de trocas
econmicas e socioculturais. Nos anos recentes, contudo,
a Ecovida viu sua ao se expandir para novos circuitos de
comrcio, em particular os mercados institucionais criados
pelo Estado. Nesse artigo, os autores tambm abordam a
emergncia de algumas experincias ainda mais recentes e
inovadoras, como o caso do Box de Produtos Orgni-
cos, inaugurado junto Ceasa/SC, na Grande Florianpo-
lis. Ao mesmo tempo, apontam para os riscos decorrentes
da insero em mercados mais abrangentes, algumas vezes
por meio de atacadistas e varejistas convencionais, os quais
podem imprimir uma lgica mercantil corrosiva s relaes
de reciprocidade que sempre estiveram muito presentes na
organizao da rede. Assim, segundo Rover e Lampa, se, por
um lado, essas iniciativas refetem o pioneirismo da Ecovida
em relao abertura de possibilidades comerciais para o
fortalecimento da agricultura familiar agroecolgica, por ou-
tro, a necessidade de responder s demandas do mercado, [...]
pressiona a organizao na medida em que exige nveis cada vez
mais altos de efcincia e coordenao da cadeia.
Esta edio de Agriculturas traz ainda dois artigos re-
latando experincias internacionais de construo social
de mercados. Ross Mary Borja e colaboradores discutem
a constituio de sistemas agroalimentares localizados na
Serra Central do Equador. O artigo analisa o processo de
construo das cestas comunitrias enquanto mecanismos
de compra coletiva por meio dos quais se produz uma im-
portante reconexo entre produtores e consumidores. Se-
gundo os autores, a criao das cestas permitiu fortalecer
as organizaes comunitrias, estabilizar o mercado, reduzir
custos de produo e defnir preos justos. Mas h efeitos
ainda mais importantes decorrentes do aprendizado dinmi-
co que se estabeleceu a partir das interaes entre produ-
tores e consumidores, provocando inovaes em direo a
modelos mais sustentveis de agricultura. Exemplo disso a
diversifcao e a introduo de variedades tradicionais de
alimentos nas cestas comunitrias.
Finalmente, o artigo de Katrien vant Hooft demonstra
que as mudanas em curso no Brasil e na Amrica Latina no
que diz respeito emergncia de redes alimentares alterna-
tivas encontram congneres na agricultura europeia. A partir
do caso holands, a autora apresenta o potencial inovador
dos mercados diretos para produtos de qualidade diferencia-
da, como orgnicos ou variedades e raas tradicionais. Esses
produtos tm atrado crescente ateno de novos grupos de
consumidores politizados adeptos do local e do sustentvel.
Como descrito pela autora, local for local a nova tendncia
de um modelo emergente que incentiva as pessoas a consu-
mir alimentos produzidos nas suas prprias regies.
Todas essas experincias compartilham a crtica ao
modelo agroalimentar predominante, mas tambm o anseio
de diferentes grupos sociais em construir novas redes de
produo e consumo, retomando para si mesmos (e para o
Estado) a responsabilidade (e o direito) de fazer as escolhas
alimentares que defnem seus modos de vida. Se tais expe-
rincias tm condies de confuir para uma mudana radi-
cal no modo como a sociedade contempornea se relaciona
com a comida, com a natureza e com os mercados, somente
o tempo poder responder. Contudo, a cada nova crise que
desponta, seja infacionria ou sanitria, restam menos dvi-
das de que a quebra de paradigmas uma precondio para
nosso futuro comum.
Paulo Andr Niederle
doutor em Cincias Sociais,
professor do PPGMADE/URPR
paulo.niederle@yahoo.com.br
Referncias bibliogrfcas:
FRIEDMANN, H. Feeding the Empire: the pathologies of glo-
balized agriculture. In: MILIBAND, R. (Ed.). The socialist
register. London: Merlin Press, 2004. p. 124-143.
McMICHEL, P. A food regime genealogy. Journal of Peasant
Studies, v. 36, n. 1, p. 139-169, 2009.
NODARI, R. O. ; TENFEN, S.Z.A. ; DONAZZOLO, J. Biodiver-
sidade: ameaas e contaminao por transgenes. Revista
Internacional de Direito e Cidadania, Biodiversidade,
p. 1-13, 2011. Edio Especial.
Organizao das Naes Unidas para Alimentao e Agricul-
tura (FAO). Global food losses and food waste: ex-
tent, causes and prevent. Roma: FAO, 2011. Disponvel em:
<http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf>.
Acesso em: 30 de junho 2013.
PLOEG, J.D. van der. Camponeses e Imprios Alimenta-
res: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da glo-
balizao. Porto Alegre: UFRGS, 2008.
SCHMITT, C.; GRISA, C. Agroecologia, mercados e polticas
pblicas: uma anlise a partir dos instrumentos de ao go-
vernamental. In: NIEDERLE, P.; ALMEIDA, L.; VEZZANI, F.M.
(Org.). Agroecologia: prticas, mercados e polticas para
uma nova agricultura. Curitiba: Kairs, 2013. p. 215-265.
8 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
A
partir dos anos 1990, os
supermercados, cones
dos circuitos longos, su-
plantaram os canais curtos de comercia-
lizao, inclusive no setor de alimentos
de base ecolgica (GUIVANT, 2003).
Nas principais capitais do Brasil, a maio-
ria dos consumidores de produtos or-
A diversidade dos circuitos
curtos de alimentos
ecolgicos: ensinamentos
do caso brasileiro e francs
Moacir R. Darolt, Claire Lamine e Alfo Brandemburg
gnicos (72%) ainda compra em supermercados, mas boa parte j complementa suas
compras em pequenos varejos: 42% recorrem a lojas especializadas e 35% a feiras do
produtor (KLUTH et al., 2011). Na Frana, 47% das vendas de alimentos orgnicos
(bio) acontecem em supermercados, 36% em lojas especializadas e 17% em canais de
venda direta (AGENCE BIO, 2011).
J existem sinais de crescimento da comercializao em circuitos curtos no Bra-
sil. Pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec) identifcou 140 feiras ecolgicas certifcadas em 22 das 27 capitais brasileiras.
Feira Orgnica no Passeio Pblico - Curitiba-PR
F
o
t
o
s
:
M
o
a
c
i
r
D
a
r
o
l
t
9 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
O estudo aponta que onde a agricultura familiar est presen-
te as vendas diretas so mais pronunciadas. A mesma pesquisa
mostra ainda que os consumidores comprariam mais alimentos
ecolgicos se houvesse um maior nmero de feiras prximas
s suas residncias.
No Brasil ainda no h uma defnio ofcial para circui-
tos curtos (CC), mas o conceito aponta para uma proximida-
de entre produtores e consumidores. Na Frana, o termo CC
utilizado para caracterizar os circuitos de distribuio que
mobilizam at, no mximo, um intermedirio entre produtor e
consumidor (CHAFFOTE; CHIFFOLEAU, 2007). Dois casos de
CC podem ser distinguidos: a venda direta (quando o produtor
entrega diretamente a mercadoria ao consumidor) e a venda
indireta via um nico intermedirio (que pode ser outro pro-
dutor, uma cooperativa, uma associao, uma loja especializada,
um restaurante ou at um pequeno mercado local). Trata-se de
uma defnio til institucionalmente, mas discutvel na medi-
da em que um supermercado tambm poderia comprar dire-
tamente de um produtor, sem oferecer uma comercializao
justa. por isso que outras denominaes, como circuitos de
proximidade (AUBRI; CHIFFOLEAU, 2009) ou circuitos locais
(MARECHAL, 2008), tm sido utilizadas, reforando a noo de
proximidade geogrfca e aludindo ao aspecto social/relacional
presente na ligao entre consumidor e produtor, nos proces-
sos de desenvolvimento local e na territorializao da alimen-
tao. Alguns autores preferem utilizar ainda o termo circuitos
alternativos (DEVERRE; LAMINE, 2010), numa perspectiva de
questionar o modelo convencional, propor novos princpios de
troca e relaes mais justas entre produtores e consumidores.
Independente da denominao, esses tipos de circuito de
comercializao reforam a noo de autonomia e conferem
um maior peso e participao de consumidores e produtores
na defnio dos modos de produo, troca e consumo. Para
Dubuisson-Quellier et al. (2011), os movimentos sociais po-
dem adotar diferentes estratgias para tornar os cidados mais
ativos, como a construo de formas alternativas de compra
e troca; investimentos em educao do consumidor; campa-
nhas de conscientizao; e lobby poltico. Da mesma maneira, o
aprendizado proporcionado pelos sistemas alternativos, consi-
derando os benefcios sociais e ambientais trazidos por essas
prticas agrcolas e culinrias, enquanto expresses democr-
ticas envolvendo pessoas e instituies, constitui fonte de em-
poderamento (empowerment), tornando-os cidados conscien-
tes de sua alimentao ou consumidores cidados (WILKINS,
2005; LEVKOE, 2006).
Mesmo tendo conscincia dos limites das defnies, uti-
lizaremos o termo circuitos curtos (CC) para designar, com
base em experincias brasileiras e francesas, modos de troca e
circulao de mercadorias de forma justa e solidria para am-
bas as partes: produtores e consumidores. O objetivo deste
texto analisar algumas questes relativas aos circuitos curtos,
como: Quais as modalidades de circuitos curtos? Como fun-
cionam? Quais as caractersticas e benefcios de cada tipo de
CC? Os CC so viveis para as propriedades familiares? Em
que condies?
Tipologia, caractersticas e benefcios dos
principais circuitos curtos
No Brasil e na Frana, j existe uma diversidade de ex-
perincias de vendas de alimentos ecolgicos em circuitos
curtos (Figura 1).
Segundo Darolt (2012), a maioria dos produtores de
base ecolgica com bons resultados de comercializao tem
utilizado dois a trs canais de venda (feiras do produtor, en-
trega de cestas em domiclio e, mais recentemente, compras
governamentais), embora exista uma gama de alternativas,
que so descritas no Quadro 1.
Figura 1. Tipologia de circuitos curtos de comercializao de produtos ecolgicos no Brasil (Br) e na Frana (Fr)
Circuitos Curtos (CC)
Venda indireta
(interveno de um nico intermedirio
entre produtor e consumidor)
Venda direta
(relao direta entre produtor e
consumidor)
Na propriedade
*Cestas para grupos ou indivduos
*Venda direta na propriedade
*Colheita na propriedade
(Br e Fr)
Acolhida na propriedade (Br) /
Accueil paysan (Fr)
*Agroturismo, gastronomia, pousada,
esporte, lazer e atividades
pedaggicas
Fora da propriedade
*Feiras ecolgicas (Br) / Marchs paysans
(Fr): compra direta do produtor
*Lojas de associaes de produtores
(Br e Fr)
*Venda para grupos de consumidores
organizados (Br e Fr)
*Cestas em domicilio e para empresas
(Br e Fr)
*Venda em beira de estrada (Br e Fr)
*Feiras agropecurias, sales, eventos
(Br e Fr)
*Lojas especializadas independentes
(Br e Fr)
*Lojas de cooperativas de produtores e
consumidores ecolgicos (Br e Fr)
*Restaurantes coletivos e individuais
(Br e Fr)
*Pequenos mercados de produtos
naturais (Br e Fr)
*Lojas virtuais (encomendas por
Internet) (Br e Fr)
*Venda para programas de governo (Br e
Fr): alimentao escolar, populao em
geral
10 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Essa multiplicao dos circuitos curtos e de formas ino-
vadoras de acolhida na propriedade pode potencializar a agri-
cultura de base ecolgica, aproximar agricultores e consumi-
dores e reconectar o mundo rural e o urbano.
Caractersticas e organizao das unidades
produtivas em circuitos curtos (CC)
Nos dois pases, um dos pilares de sustentao das uni-
dades produtivas de pequena escala o trabalho familiar, que
tem uma carga intensa e deve aliar diferentes competncias
(produo, transformao e comercializao) no intuito de di-
minuir custos e agregar valor aos produtos. Nesses sistemas,
a autonomia do agricultor em termos de gesto, planejamen-
to e comercializao maior quando comparada dos circui-
tos longos. Segundo Lamine (2012), a autonomia no signifca
isolamento, sendo baseada na troca formal ou informal entre
produtores e sua rede de contatos, tanto no mbito da pro-
duo como da transformao e da comercializao.
As propriedades em CC so mais diversifcadas, traba-
lhando simultaneamente com uma ampla gama de produtos
vegetais (olericultura e fruticultura, na maioria) e de origem
animal (ovos, queijo, leite e derivados, embutidos, mel). Se, por
um lado, essa alta diversifcao desejada, por ser coerente
com os princpios do manejo agroecolgico, por outro, torna
o planejamento produtivo mais complexo. Observa-se ainda
que essas unidades produtivas tendem pluriatividade, com
investimentos em agroturismo, gastronomia, lazer, alojamen-
tos e atividades pedaggicas (DAROLT, 2012).
Venda* Tipo Defnio Caractersticas e benefcios
VD Venda na propriedade Venda no local de produo de forma direta ao consumidor fnal sem intermedirios
Venda direta no local de produo (produtos brutos ou transformados da propriedade) pelo produtor em espao prprio.
Venda no sistema colha-e-pague, no qual os produtos so colhidos pelo prprio consumidor.
Venda de servios em circuitos de turismo rural (gastronomia, pousada, lazer, esporte, visitas pedaggicas).
VD Cestas em domiclio
Cestas ou sacolas com uma grande diversidade de produtos ecolgicos entregues com
periodicidade diria, semanal ou mensal.
Embalagens na forma de cestas, engradados ou sacolas com diferentes tamanhos e preos (produtos como verduras e legu-
mes, frutas, carnes, queijos, ovos, pes, leite e derivados e outros transformados).
Comodidade e praticidade, com preos de venda intermedirios entre feira e supermercado.
Entregas em domiclio ou em locais previamente acertados com os consumidores.
VD Feiras do produtor
A feira ecolgica vende diretamente ao consumidor produtos somente do agricultor ou
de sua rede de comercializao. A presena do produtor ou de um representante da fam-
lia uma exigncia. Normalmente, no permitida a presena de atravessadores.
As feiras so normalmente administradas por uma parceria entre o poder pblico local (prefeituras), as organizaes de
produtores e de consumidores e instituies de apoio agricultura ecolgica (ONGs, universidades, institutos de pesquisa e
extenso).
As feiras so baseadas num regulamento que exclui atravessadores e valoriza os produtos regionais.
A maioria dos produtos so certifcados de forma participativa.
Constitui espao social, cultural e educativo, que promove a diversidade, resgata valores e crenas e possibilita a troca de
informaes sobre alimentao, sade e qualidade de vida.
VD Beira de estrada Barracas para venda direta ao longo de rodovias com movimento constante de turistas. Barracas/estandes que vendem produtos regionais destacadamente durante perodos de frias escolares ou feriados.
VD/VI
Programas de governo
(voltados para a alimen-
tao escolar e para
pessoas em situao de
risco alimentar)
Trata-se de produtos ecolgicos entregues para programas de governo, como o Programa
Nacional de Alimentao Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisio de Alimentos (PAA),
que benefciam alunos da rede pblica de ensino e pessoas assistidas por entidades de
assistncia social.
O trabalho de organizao dos produtores normalmente feito via uma associao de produtores em parceria com o
governo municipal.
Os produtos certifcados recebem um adicional de 30% no valor fnal pago ao produtor.
VD / VI Feiras, sales, eventos
Eventos organizados por instituies pblicas e privadas para divulgao de um determina-
do produto ou processo.
Eventos espordicos em datas predeterminadas que permitem boa divulgao e venda de produtos ecolgicos.
VI Lojas especializadas Empreendimentos particulares para venda de produtos orgnicos (certifcados) / ecolgicos.
Predominam em cidades grandes e mdias.
Dependem de um nmero signifcativo de fornecedores.
VI / VD
Restaurantes coletivos
e convencionais
Restaurantes coletivos pblicos ou empresas que incluem produtos ecolgicos no cardpio.
Normas de vigilncia sanitria dos produtos so rgidas.
Quantidade escoada signifcativa.
Os restaurantes pblicos atendem creches, escolas, casas de repouso, hospitais, asilos.
Empresas privadas atendem funcionrios de instituies pblicas, privadas e consumidores em geral.
VI
Lojas de cooperativas
de consumidores e
associaes de produ-
tores
Lojas que vendem produtos ecolgicos (via certifcao participativa, na maior parte) e
produtos coloniais (produtos transformados, mas sem certifcao) de uma regio, tra-
balhando em rede na forma de pequenas cooperativas e/ou associaes de produtores e
consumidores locais.
Possuem um estatuto e um regulamento, oferecendo benefcios e estimulando a participao dos associados.
Predominam em cidades mdias e pequenas.
VI
Lojas virtuais para
venda de produtos
ecolgicos
um site ou blog de internet que permite a comercializao de alimentos e produtos
ecolgicos, oferecendo a descrio dos itens, geralmente com fotos, diferentes formas de
pagamento e condies de entrega rpida.
A maioria das lojas virtuais originria de estabelecimentos que tambm possuem um
ponto de venda fsico.
Lojas que trabalham com diferentes produtos (orgnicos, naturais, light, diet, sem glten), nas diversas categorias (alimentos, beleza,
limpeza), com pedidos programados feitos pela internet com antecedncia (dois dias antes da entrega, normalmente).
Cada vez mais comuns nas grandes cidades.
Oferecem facilidade de pagamento via internet e entregas programadas para diferentes regies.
P.S.: Cabe destacar que em muitos casos de venda pela internet, no h garantia de preos justos aos produtores e consumidores.
Legenda:* VD = venda direta; VI = venda indireta (mximo de um intermedirio)
Quadro 1. Tipo de venda, defnio e caractersticas dos principais circuitos curtos de comercializao
de produtos ecolgicos no Brasil
11 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Venda* Tipo Defnio Caractersticas e benefcios
VD Venda na propriedade Venda no local de produo de forma direta ao consumidor fnal sem intermedirios
Venda direta no local de produo (produtos brutos ou transformados da propriedade) pelo produtor em espao prprio.
Venda no sistema colha-e-pague, no qual os produtos so colhidos pelo prprio consumidor.
Venda de servios em circuitos de turismo rural (gastronomia, pousada, lazer, esporte, visitas pedaggicas).
VD Cestas em domiclio
Cestas ou sacolas com uma grande diversidade de produtos ecolgicos entregues com
periodicidade diria, semanal ou mensal.
Embalagens na forma de cestas, engradados ou sacolas com diferentes tamanhos e preos (produtos como verduras e legu-
mes, frutas, carnes, queijos, ovos, pes, leite e derivados e outros transformados).
Comodidade e praticidade, com preos de venda intermedirios entre feira e supermercado.
Entregas em domiclio ou em locais previamente acertados com os consumidores.
VD Feiras do produtor
A feira ecolgica vende diretamente ao consumidor produtos somente do agricultor ou
de sua rede de comercializao. A presena do produtor ou de um representante da fam-
lia uma exigncia. Normalmente, no permitida a presena de atravessadores.
As feiras so normalmente administradas por uma parceria entre o poder pblico local (prefeituras), as organizaes de
produtores e de consumidores e instituies de apoio agricultura ecolgica (ONGs, universidades, institutos de pesquisa e
extenso).
As feiras so baseadas num regulamento que exclui atravessadores e valoriza os produtos regionais.
A maioria dos produtos so certifcados de forma participativa.
Constitui espao social, cultural e educativo, que promove a diversidade, resgata valores e crenas e possibilita a troca de
informaes sobre alimentao, sade e qualidade de vida.
VD Beira de estrada Barracas para venda direta ao longo de rodovias com movimento constante de turistas. Barracas/estandes que vendem produtos regionais destacadamente durante perodos de frias escolares ou feriados.
VD/VI
Programas de governo
(voltados para a alimen-
tao escolar e para
pessoas em situao de
risco alimentar)
Trata-se de produtos ecolgicos entregues para programas de governo, como o Programa
Nacional de Alimentao Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisio de Alimentos (PAA),
que benefciam alunos da rede pblica de ensino e pessoas assistidas por entidades de
assistncia social.
O trabalho de organizao dos produtores normalmente feito via uma associao de produtores em parceria com o
governo municipal.
Os produtos certifcados recebem um adicional de 30% no valor fnal pago ao produtor.
VD / VI Feiras, sales, eventos
Eventos organizados por instituies pblicas e privadas para divulgao de um determina-
do produto ou processo.
Eventos espordicos em datas predeterminadas que permitem boa divulgao e venda de produtos ecolgicos.
VI Lojas especializadas Empreendimentos particulares para venda de produtos orgnicos (certifcados) / ecolgicos.
Predominam em cidades grandes e mdias.
Dependem de um nmero signifcativo de fornecedores.
VI / VD
Restaurantes coletivos
e convencionais
Restaurantes coletivos pblicos ou empresas que incluem produtos ecolgicos no cardpio.
Normas de vigilncia sanitria dos produtos so rgidas.
Quantidade escoada signifcativa.
Os restaurantes pblicos atendem creches, escolas, casas de repouso, hospitais, asilos.
Empresas privadas atendem funcionrios de instituies pblicas, privadas e consumidores em geral.
VI
Lojas de cooperativas
de consumidores e
associaes de produ-
tores
Lojas que vendem produtos ecolgicos (via certifcao participativa, na maior parte) e
produtos coloniais (produtos transformados, mas sem certifcao) de uma regio, tra-
balhando em rede na forma de pequenas cooperativas e/ou associaes de produtores e
consumidores locais.
Possuem um estatuto e um regulamento, oferecendo benefcios e estimulando a participao dos associados.
Predominam em cidades mdias e pequenas.
VI
Lojas virtuais para
venda de produtos
ecolgicos
um site ou blog de internet que permite a comercializao de alimentos e produtos
ecolgicos, oferecendo a descrio dos itens, geralmente com fotos, diferentes formas de
pagamento e condies de entrega rpida.
A maioria das lojas virtuais originria de estabelecimentos que tambm possuem um
ponto de venda fsico.
Lojas que trabalham com diferentes produtos (orgnicos, naturais, light, diet, sem glten), nas diversas categorias (alimentos, beleza,
limpeza), com pedidos programados feitos pela internet com antecedncia (dois dias antes da entrega, normalmente).
Cada vez mais comuns nas grandes cidades.
Oferecem facilidade de pagamento via internet e entregas programadas para diferentes regies.
P.S.: Cabe destacar que em muitos casos de venda pela internet, no h garantia de preos justos aos produtores e consumidores.
Legenda:* VD = venda direta; VI = venda indireta (mximo de um intermedirio)
A organizao do trabalho para quem escolhe vender via
circuitos curtos se torna mais ou menos complexa em funo
dos recursos humanos e econmicos disponveis na proprieda-
de (DEDIEU et al., 1999). Em unidades familiares de pequeno
porte, fundamental agregar valor ao produto (com a trans-
formao), vender sempre que possvel de forma direta e po-
tencializar os servios na propriedade (vendas no prprio local,
acolhida com restaurante e alojamento, turismo rural).
J a forma de comercializao mais adequada para cada
tipo de produtor pode variar em funo da organizao do sis-
tema de produo e da disponibilidade de trabalho e infraestru-
tura. Em CC, as prticas agrcolas utilizadas, a organizao do
trabalho, os volumes de produo e os tipos de produtos devem
ser adaptados para responder s demandas dos consumidores.
Venda em eventos na propriedade
12 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Um modelo de distribuio alimentar sustentvel
A crise do modelo agroalimentar dominante
abre espao para a discusso de novas proposi-
es de desenvolvimento local que incorporem
no apenas variveis tcnico-produtivas, econ-
micas e ambientais, mas tambm valores so-
ciais, ticos e culturais. Princpios como autono-
mia, solidariedade, segurana alimentar, justia
social, respeito cultura e tradio locais, assim
como a reconexo entre produtores e consumi-
dores, so observados nos circuitos curtos.
As iniciativas bem sucedidas em CC acontecem, normalmente, em locais onde
se verifca a formao de uma rede com estreita parceria entre o poder pblico,
entidades no governamentais, organizaes de agricultores e consumidores. Isso
nos levou a pensar um conceito de sistema agroalimentar territorial, que podemos
defnir como um conjunto de todos os atores de um territrio e das estruturas
do setor de produo, processamento, distribuio e consumo, incluindo ainda a
pesquisa, assistncia tcnica, ensino, polticas governamentais, rgos reguladores,
consumidores e sociedade civil (LAMINE, 2012).
As polticas pblicas podem tambm ser direcionadas para a criao de campa-
nhas informativas permanentes que enfatizem as qualidades intrnsecas do alimento
ecolgico, valores ticos e processos produtivos envolvidos, bem como os impactos
positivos de sua produo para o meio
ambiente e para a sade dos consumi-
dores, o que pode ajudar a infuenciar
atitudes e percepes dos consumido-
res. As experincias brasileiras e fran-
cesas mostram que um sistema alter-
nativo de comercializao em CC pode
contribuir para a adoo de hbitos de
consumo mais saudveis e um melhor
conhecimento das difculdades na pro-
duo agrcola.
Tem-se demonstrado que a combi-
na o de circuitos curtos com as carac -
tersticas da produo ecolgica (pequ-
enas reas, trabalho familiar, produo
diversifcada em menor escala, autono-
mia dos agricultores, ligao forte com
o consumidor, preservao da biodiver-
sidade, valorizao da paisagem, qualida-
de alimentar e sade dos produtores e
consumidores) est em sintonia com o
conceito de sustentabilidade. Existem
algumas controvrsias em relao sus-
tentabilidade ambiental, sobretudo em
funo dos baixos volumes transpor-
tados. J a sustentabilidade social qu-
estionada pelo baixo nmero de pessoas
atingidas (REDLINGSHOFER, 2006).
Venda em loja de associao de produtores
Venda direta para alimentao escolar
Venda em feira ecolgica Curitiba/PR
13 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
guisa de concluso
A cada ano, inovaes em circuitos curtos criam diferen-
tes formas de distribuio (cestas diversifcadas; feiras de pro-
dutores noturnas; lojas virtuais por internet; vendas e degus-
tao na propriedade; restaurantes com cardpios orgnicos;
merenda escolar ecolgica; acolhida na propriedade), o que
demanda cada vez mais treinamento e informao qualifcada
para produtores e consumidores.
Essa multiplicao de formas de comercializao direta
em circuitos alternativos deve ser constantemente acompa-
nhada e avaliada para que sejam garantidos os princpios de
equidade, solidariedade e sustentabilidade das propriedades.
Na Frana, proliferam sistemas de cestas ecolgicas entregues
para os consumidores, mas em muitos casos no existe uma
aproximao entre produtores e consumidores, assim como
no h garantia de maior sustentabilidade para os produtores.
O desafo de manter os princpios de um comrcio justo e
solidrio pressupe, portanto, o desenvolvimento de ferra-
mentas de monitoramento e anlise que permitam avaliar a
conformidade dos produtos ecolgicos comercializados em
circuitos curtos.
Cada vez mais o consumidor consciente busca nos mer-
cados locais produtos ecolgicos, de poca e com preos
justos, mas tambm quer adquirir produtos com a cara do
produtor, em que sejam ressaltadas as caractersticas locais
das comunidades, como as tradies, o modo de vida, a va-
lorizao do saber-fazer, o cuidado com a paisagem, etc. Esse
conjunto de caractersticas singulares pode ser a marca local
que os consumidores procuram. No se trata apenas de um
ganho em escala (quantidade), mas em qualidade. Isso cria no-
vas relaes sociais e novos valores, promovendo o resgate
da autonomia dos agricultores. Nesse sentido, as polticas p-
blicas tm um papel fundamental para formar e informar os
consumidores menos esclarecidos.
Moacir R. Darolt
Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Agrnomo do Instituto Agronmico do Paran (Iapar)
darolt@iapar.br
Claire Lamine
Doutora em Sociologia pela cole des Hautes
tudes en Sciences Sociales (Ehess)
Pesquisadora do Institut National de la Recherche
Agronomique (Inra), Avignon, Frana
claire.lamine@avignon.inra.fr
Alfo Brandenburg
Doutor em Cincias Sociais
Professor do Departamento de Cincias Sociais da
Universidade Federal do Paran (UFPR)
alfo@onda.com.br
Referncias bibliogrfcas:
AUBRI, C.; CHIFFOLEAU, Y. Le dveloppement des circuits
courts et lagriculture priurbaine: histoire, volution en
cours et questions actuelles. Innovations Agronomi-
ques, v. 5, p. 53-97, 2009.
CHAFFOTTE, L. ; CHIFFOLEAU, Y. Vente directe et circuits
courts : valuations, dfnitions et typologie. Cahiers de
lObservatoire CROC, Montpellier, n. 1-2, fev.-mar.
2007. 8 p.
DAROLT, M.R. Conexo Ecolgica: novas relaes entre
agricultores e consumidores. Londrina: IAPAR, 2012. 162 p.
DEDIEU,B.; LAURENT, C.; MUNDLER, P. Organisation du
travail dans les systmes dactivits complexes: intrt et
limites de la mthode BT. Economie rurale, n. 253, p. 28-
35, set.-out. 1999.
DEVERRE, C.; LAMINE, C. Les systmes agroalimentaires al-
ternatifs: Une revue de travaux anglophones en sciences
sociales. Economie Rurale, n. 317, p. 57-73, mar. 2010.
DUBUISSON-QUELLIER, S; LAMINE, C.; LE VELLY, R. Is the
consumer soluble in the citizen? Mobilization in alternative
food systems in France. Sociologia Ruralis, v. 51, n. 3, p.
304-323, 2011.
GUIVANT, J. S. Os supermercados na oferta de alimentos or-
gnicos: apelando ao estilo de vida ego-trip. Ambiente e
Sociedade, Campinas, v. 4, n. 2, p. 62-82, 2003.
IDEC. Rota dos Orgnicos. Revista do IDEC, So Paulo, n.
162, p. 20-23, fev., 2012.
KLUTH, B.; BOCCHI JR., U.; CENSKOWSKY, U. Pesquisa
sobre o comportamento e a percepo do con-
sumidor de alimentos orgnicos no Brasil 2010.
Mnchen: Organic Services/ Jundia: Vitalfood, 2010. 38 p.
LAMINE, C. Les Amaps: un nouveau pacte entre produc-
teurs et consommateurs? Gap: Ed. Yves Michel, 2008. 140 p.
LAMINE, C. Changer de systme: une analyse des transitions
vers lagriculture biologique lechelle des systmes agri-
-alimentaires territoriaux. Terrains et Travaux, v. 20, p.
139-156, 2012.
LEVKOE, C. Learning democracy through food justice move-
ments. Agriculture and Human Values, v. 23, p. 89-98,
2006.
MARECHAL, G. Les circuits courts alimentaires: bien
manger dans les territoires. Frana: Ed. Educagri, 2008.
216 p.
MUNDLER, P. (Org.). Petites exploitations diversifes en cir-
cuits courts. Soutenabilit sociale et conomique.
Lyon: Isara Lyon, 2008. 34 p.
REDLINGSHOFER, B. Vers une alimentation dura-
ble? Ce quenseigne la littrature. Le courrier de
lenvironnement de lINRA, n. 53, p. 83-102, 2006.
WILKINS, J. Eating Right Here: Moving from Consumer to
Food Citizen. Agriculture and Human Values, v. 22, n.
3, p. 269-273, 2005.
14 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Inovaes organizacionais
para a construo de
mercados locais e solidrios
em Espera Feliz (MG)
Marcio Gomes da Silva e Paulo Csar Gomes Amorim Junior
A
s polticas recentes de compras governa-
mentais de produtos da agricultura familiar
trouxeram oportunidades signifcativas para a
garantia da viabilidade econmica de empreendimentos cole-
tivos da agricultura familiar. A Lei n. 11.947/09, que instituiu o
Programa Nacional da Alimentao Escolar (PNAE), especif-
camente em seu Artigo 14, incluiu um novo agente benefcirio
do programa por meio da determinao de que: do total dos
recursos fnanceiros repassados pelo FNDE, no mbito do PNAE, no
mnimo 30% (trinta por cento) devero ser utilizados na aquisio
de gneros alimentcios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizaes, priorizan-
do-se os assentamentos da reforma agrria, as comunidades tra-
dicionais indgenas e comunidades quilombolas. Considerando o
Ambientes de interao agroecolgica processos de discusso de manejo e organizao produtiva
F
o
t
o
:
C
e
n
t
r
o
d
e
T
e
c
n
o
l
o
g
i
a
s
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
s
d
a
Z
o
n
a
d
a
M
a
t
a
15 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
total de recursos disponibilizados para
a alimentao escolar em 2011 (cerca
de R$ 3,1 bilhes), esse percentual re-
presenta algo prximo a R$ 1 bilho.
J o Programa de Aquisio de
Alimentos (PAA), institudo em 2003
no incio da primeira gesto do presi-
dente Lula, foi concebido para ser uma
das principais aes estruturantes do
Programa Fome Zero, com atuao
prevista para a formao de estoques
estratgicos e a distribuio de produ-
tos da agricultura familiar para pessoas
em situao de vulnerabilidade social
ou de insegurana alimentar. Confor-
me dados da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), entre os anos
de 2003 e 2010, foram executados por
esse programa cerca de R$ 2,5 bilhes,
totalizando mais de 2 milhes de tone-
ladas de alimentos adquiridos.
Apesar das possibilidades que o
PNAE e o PAA oferecem para a agricultu-
ra familiar e suas organizaes, eles tam-
bm apresentam uma srie de desafos,
na medida em que envolvem diferentes
agentes no processo de aquisio de ali-
mentos, cada qual com particularidades,
demandas e expectativas prprias. Para
atender ao mercado institucional, os
em preendimentos coletivos da agricul-
tura familiar precisam incorporar ml-
tiplas capacidades gerenciais associadas
ao mundo dos negcios, tais como o pla-
nejamento e a organizao da produo;
gesto efciente; viso estratgica; dentre
outras. E, ao se adaptar aos ditames des-
se mercado, a agricultura familiar precisa
se mobilizar para colocar em cena um
novo conjunto de padres mais compa-
tveis com as suas condies tcnicas e
econmicas.
Este artigo discute como esses
desafos vm sendo enfrentados pela
Cooperativa da Agricultura Familiar
Solidria de Espera Feliz (Coofeliz), lo-
calizada em Minas Gerais. O objetivo
apresentar a trajetria dessa coopera-
tiva na construo do mercado institu-
cional, especifcamente ao que se refere
insero da produo agroecolgica
no PNAE e no PAA.
Coofeliz: origem e objetivos
O municpio de Espera Feliz est localizado na Zona da Mata mineira e possui
20.835 habitantes, dos quais 40% residem na zona rural. Situado no entorno do Par-
que Nacional do Capara, faz divisa com os municpios de Capara, Divino e Caiana,
em Minas Gerais, e Alto Capara e Dores do Rio Preto, no estado do Esprito Santo.
A cafeicultura a principal atividade desenvolvida no municpio, com 9.735 hectares
de rea plantada.
A populao de Espera Feliz essencialmente composta pela agricultura fami-
liar, cujo nmero de aproximadamente 3,5 mil famlias. A Coofeliz foi constituda
em 2006, com o objetivo de promover a comercializao dos agricultores familiares
locais que, at ento, era realizada pela Associao Intermunicipal da Agricultura
Familiar (Asimaf). Seu processo de constituio se deu em meio a uma mudana
jurdica no Cdigo Civil, em 2002, a partir da qual as associaes passaram de as-
sociaes sem fns lucrativos para associaes sem fns econmicos. Essa mudana legal
imps limitaes para que a Asimaf realizasse operaes comerciais.
1
Outra motivao para a criao da cooperativa
foi a possibilidade de acessar o PAA. Em Espera
Feliz, o primeiro acesso aconteceu em 2006, na
modalidade Compra Direta para Doao Simul-
tnea, envolvendo cerca de 30 famlias associa-
das Coofeliz. O valor do primeiro projeto foi
de aproximadamente R$ 40 mil. J o segundo
projeto envolveu 110 famlias, atingindo um
valor de R$ 373 mil. O acesso ao programa foi
fundamental para a organizao dos agricul-
tores com vistas a buscar novas estratgias de
comercializao de seus produtos. A cesta de
produtos da cooperativa possui 42 itens, com
destaque para o feijo, a mandioca, o inhame e
a banana, alm de polpa de frutas e quitandas.
Para fazer parte do quadro de scios da cooperativa, necessrio ser conside-
rado agricultora ou agricultor agroecolgico.
2
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais
o principal parceiro da Coofeliz, mas a cooperativa tambm estabeleceu parcerias
com a Cooperativa de Crdito Rural com Interao Solidria (Cresol), o Centro
1
No existe um consenso conceitual entre as agncias fazendrias municipais sobre a permisso de
relaes comerciais por meio de associaes, muito menos sobre a liberao de inscrio estadual para
emisso de nota fscal. No caso de Espera Feliz, a Asimaf no obteve a autorizao para operaes eco-
nmicas aps a mudana do Cdigo Civil, em 2002.
2
A cooperativa no possui certifcao orgnica. A condio de agricultora ou agricultor agroecolgico
atribuda a partir de alguns critrios defnidos pela cooperativa. O principal deles no usar agrotxicos.
Mas tambm se considera o desenvolvimento de outras prticas, como cuidar das nascentes ou proteger
o solo. So esses os elementos que a cooperativa utiliza para caracterizar a condio agroecolgica. A
certifcao social, ou seja, os prprios agricultores e as organizaes parceiras monitoram, visitam e
fazem o controle de quem utiliza as prticas agroecolgicas em suas propriedades.
16 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
de Tecnologias Alternativas da Zona da
Mata Mineira (CTA-ZM) e a Universi-
dade Federal de Viosa (UFV). Nessas
relaes, so desenvolvidas aes co-
munitrias de fortalecimento da Agroe-
cologia, principalmente a consolidao
de experincias produtivas e a comer-
cializao da diversidade produzida pela
agricultura familiar.
Construindo novos padres
de mercado
Novos padres de mercado, que
atribuem qualidade aos produtos em
funo de sua origem, ou seja, pelas re-
laes tcnicas, sociais e culturais que
caracterizam o processo produtivo, so
construdos pela cooperativa a partir
dos ambientes de interao agroecolgica,
realizados em parceria com o CTA-ZM
e a UFV. Trata-se de espaos de trocas
de experincias e conhecimentos que
abordam questes relacionadas ao manejo agroecolgico, qualidade do produto,
forma de armazenamento, entre outros aspectos que se referem entrega de um
produto de qualidade.
Os ambientes de interao agroecolgica, no
entanto, trabalham apenas com a parte dos
agentes econmicos responsveis por essa
construo social do mercado institucional. Ou-
tros agentes so merendeiras, professoras, nu-
tricionistas e gestores pblicos que tm relao
direta com a formao da
demanda de produtos.
A cooperativa estabeleceu estratgias de interao com esses agentes de
modo que todos participassem na defnio dos critrios de qualidade dos pro-
dutos tendo por referncia a perspectiva agroecolgica. Com as merendeiras e
nutricionistas, por exemplo, foram realizadas atividades nas propriedades dos agri-
cultores para discusso do conceito de qualidade com base na procedncia do
produto e foram elaboradas receitas que aproveitavam os produtos da agricultura
Loja de material de construo conveniada que aceita o Vale Solidrio como forma de pagamento
F
o
t
o
:
C
o
o
f
e
l
i
z
17 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
familiar produzidos no municpio. Com professoras e gestores
pblicos responsveis pela aquisio dos alimentos, a discus-
so abordou a alimentao escolar sob a tica da soberania
e segurana alimentar, com alimentos livres de agrotxicos.
A mudana nos sistemas produtivos das famlias envol-
vidas com a cooperativa evidente, com a diversifcao da
produo sendo impulsionada pelos processos organizativos
e de mediao com os mercados estabelecidos pela Coofeliz.
A mudana na paisagem, a insero de outras atividades eco-
nmicas (criao animal, por exemplo) e a integrao destas
com determinados cultivos foram alguns dos principais im-
pactos gerados nas unidades produtivas a partir do acesso ao
mercado institucional.
O Vale Solidrio como moeda social
Todo o trabalho realizado pela cooperativa provocou a
expanso do nmero de scios, modifcou a estrutura pro-
dutiva dos agricultores e promoveu adequaes tcnicas nas
embalagens e estruturas de benefciamento da cooperativa.
Esse processo veio acompanhado da ampliao das movi-
mentaes econmicas e dos mercados. A partir da Demons-
trao do Resultado do Exerccio da Coofeliz entre 31 de
dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2012, possvel
observar essa expanso, com a receita de vendas de merca-
dorias dos associados passando de R$ 118.101,88 em 2010,
para R$ 193.670,00 em 2011 e para R$ 335.000,00 em 2012.
Uma difculdade apontada pelos agricultores referia-se
demora para receber o pagamento pelos produtos entre-
gues. Na venda para programas governamentais, existe uma
srie de procedimentos (emisso de nota fscal, prestao de
contas e, fnalmente, a liberao do recurso) que faz com que
os agricultores recebam o pagamento apenas 30 a 60 dias
aps a entrega dos produtos. A ausncia de capital de giro na
cooperativa para adiantar o recurso ao agricultor no ato da
entrega do produto um dos maiores problemas apontados
pelos diretores da cooperativa.
Para garantir a viabilidade das movimentaes econmi-
cas, a Coofeliz criou, em 2011, o vale solidrio. Atualmente,
essa estratgia tem sido usada pelos agricultores scios da
cooperativa nos comrcios conveniados, como supermerca-
dos, lojas de roupas, lojas de materiais de construo, postos
de combustvel, farmcias, lojas de produtos agrcolas, pape-
larias e padarias.
O vale funciona da seguinte maneira: o agricultor entre-
ga seu produto no dia determinado pela cooperativa. Aps a
conferncia do produto, o agricultor recebe uma nota com a
relao e o valor dos produtos entregues. O vale solidrio
elaborado nesse valor, que pode ser sacado em determinada
data na cooperativa de crdito ou repassado pelo agricultor
como moeda em um dos comrcios conveniados.
O recurso sacado na Cooperativa de Crdito Rural
com Interao Solidria (Cresol), na data do vencimento do
vale. Esse vencimento de 30 a 60 dias, tempo necessrio
para todos os procedimentos burocrticos de liberao do
recurso tanto do PNAE quanto do PAA. Durante esse pe-
rodo, a moeda movimentada no municpio. O vale no
um cheque, mas sim um valor movimentado entre as duas
cooperativas e que tem como lastro as relaes de confana
construdas localmente. Dos R$ 335 mil movimentados pela
cooperativa em 2012, R$ 277 mil foram pagos diretamente
aos agricultores na forma de moeda social. Dessa forma, o
vale solidrio aqueceu a economia local, injetando aproxima-
damente R$ 300 mil na circulao de produtos e servios ao
longo do ano. O convnio feito com as empresas locais e com
a cooperativa de crdito baseia-se na crena de que o pro-
jeto de desenvolvimento da Coofeliz no municpio de Espera
Feliz traz benefcios para todos, no apenas para agricultores
e agricultoras.
A estratgia do vale solidrio garantiu a ampliao das
relaes comerciais da cooperativa, bem como levou ao au-
mento do nmero de scios. Em 2011, a cooperativa apresen-
tava 76 scios e, em 2012, passou a contar com 105, demons-
trando potencial de elevar ainda mais esse nmero e expandir
os mercados.
Consideraes fnais
O mercado institucional proporcionou a estruturao
das cooperativas e associaes da agricultura familiar. Essa
estruturao estabelecida na medida em que agricultores e
agricultoras tecem inovaes organizacionais para garantir a
viabilidade do negcio. A interao entre organizaes coo-
perativas de diferentes setores (crdito e produo), como
o caso de Espera Feliz, cumpre um papel importante no
acesso aos mercados.
O caso de Espera Feliz emblemtico na comprovao
de que o mercado um processo de construo social. Nes-
se sentido, os diferentes agentes econmicos passam a ser
mobilizados para a defnio de novos padres mercantis, ba-
seados em processos mais justos e solidrios. A economia
vista como parte das relaes entre esses agentes. E nessa
perspectiva que o enfoque agroecolgico vem descortinando
novos caminhos para que novos mercados para a agricultura
familiar sejam construdos em Espera Feliz.
Marcio Gomes da Silva
bacharel em Gesto de Cooperativas, Mestre em Extenso
Rural pela UFV e tcnico do CTA-ZM.
marcio@ctazm.org.br
Paulo Csar Gomes Amorim Junior
estudante de Cooperativismo na UFV
paulo.c.junior@ufv.br
18 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Inovao e controle social
na produo e comercializao
de alimentos ecolgicos:
institucionalizando a confana?
Cludio Becker, Fabiana da Silva Andersson e Paulo Mielke de Medeiros
J
houve quem dissesse que o termo mercado ja-
mais deveria ser empregado no singular, ao menos
no sob o ponto de vista sociolgico. Os mercados
so construes sociais e, portanto, possuem uma eminen-
te dimenso sociocultural. A partir dessa afrmao, o artigo
se prope discutir uma experincia em curso no sul gacho,
desenvolvida por agricultores familiares da microrregio de
Pelotas que comercializam sua produo ecolgica
1
por meio
de mecanismos de autogesto localmente desenvolvidos.
1
Temos plena cincia das discusses e disputas acerca do uso do termo
ecolgico, assim como sabemos que a legislao brasileira que trata do tema
privilegia o adjetivo orgnico. No entanto, como mero recurso para a elabo-
rao textual, utilizaremos neste trabalho as expresses ecolgico e orgnico
como sinnimos.
18
F
o
t
o
:
C
l
u
d
i
o
B
e
c
k
e
r
18 18 18 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
19 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Ao lado: Agricultores familiares (famlia Bartz) preparando seus pro-
dutos orgnicos para a destinao ao PAA
Reconstruindo mercados
O sul gacho marcado por uma agricultura dual, na
qual grandes propriedades dedicadas produo de cereais
(arroz e soja) e criao extensiva de gado coexistem com
um expressivo e diversifcado segmento agrcola familiar. Nes-
se territrio, o auge do processo de modernizao da agricul-
tura provocou os mesmos efeitos nefastos que nas demais re-
gies brasileiras. O carter segregacionista desse modelo de
desenvolvimento ocasionou um intenso xodo rural e gerou
um contingente de famlias que, embora se mantivessem na
agricultura, viam limitadas suas possibilidades de insero so-
cioprodutiva. A atuao de instituies ligadas s igrejas lute-
rana e catlica trouxe novas perspectivas a partir do trabalho
associativo, representando o incio das experincias agroeco-
lgicas. Todavia, foi o surgimento das primeiras cooperativas
de agricultores familiares que alterou a relao das famlias
rurais com os mercados.
At a dcada de 1990, prevalecia o consenso de que no
havia mercado para os produtos cultivados na agricultura tra-
dicional (batata inglesa, cebola, alho, etc.). Entretanto, com a
organizao cooperativa, a lgica se inverteu: no h produ-
o sufciente para atender o mercado. Ou seja, percebeu-
se que havia efetivamente um espao para a construo de
novos canais de comercializao e abastecimento. No obs-
tante, esses processos precisam de uma slida organizao
social da produo. As cadeias curtas e os mercados face a
face aparecem como alternativas e instigaram o incio das pri-
meiras experincias de feiras livres ecolgicas.
2
Todavia, outras
estratgias de comercializao da produo seguem coexis-
tindo e sendo promovidas, como, por exemplo, a realizao
de tratativas para o fornecimento de produtos orgnicos a
supermercados regionais.
3
A ampliao do nmero de famlias rurais que aderiram
produo orgnica e sua progressiva e dinmica incluso nos
circuitos de comercializao resultaram na criao, em 2001,de
uma organizao regional de agricultores familiares ecologistas:
a Cooperativa Sul Ecolgica de Agricultores Familiares Ltda. De
atuao microrregional, a cooperativa surgiu com mais de 100
2
Em 1995, foi criada a primeira feira livre ecolgica no municpio de Pelotas
(RS), promovida pela Associao Regional de Produtores Agroecologistas da
Regio Sul (Arpa-Sul).
3
Porm, cabe destacar que o prdigo comeo da iniciativa logo se deparou
com o carter predatrio e unilateral do sistema de governana utilizado
pelo setor varejista para com os seus fornecedores. Tentativas recentes pas-
saram pelas mesmas difculdades, invariavelmente culminando na interrupo
do fornecimento dos produtos por parte dos agricultores.
famlias associadas
4
, sendo seu principal objetivo a organizao
da produo ecolgica visando o acesso aos mercados.
Naquele perodo, o fornecimento de alimentos ecolgi-
cos para as escolas da rede pblica de ensino
5
foi a grande no-
vidade, apresentando novas perspectivas, mas tambm desafos
para aqueles que aderiam agricultura de base ecolgica. Se,
por um lado, era um mercado que se abria, de outro, exigia novos
arranjos organizacionais (logstica de abastecimento, adequa-
o dos produtos, etc.), que demandavam um elevado grau de
inovao por parte das famlias rurais, bem como dos demais
agentes envolvidos (assistncia tcnica, diretores de escolas,
nutricionistas, merendeiras, alunos, etc.). Aquilo que posterior-
mente denominou-se mercados institucionais, sobretudo, o atual
Programa Nacional de Alimentao Escolar (PNAE), teve seu
incio no sul gacho sob as seguintes bases: insero sociopro-
dutiva dos agricultores familiares ecolgicos por meio da des-
tinao de seus produtos s crianas da rede pblica de ensino.
Essa experincia pioneira forneceu os alicerces para a
construo de canais de comercializao para os alimentos
orgnicos produzidos pela agricultura familiar na regio. O
xito foi tanto que nessa poca o volume de produo sofreu
um incremento exponencial.
6
Com o surgimento do Progra-
ma de Aquisio de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA),
em 2003, estabeleceu-se um novo patamar de relaes entre
produtores e consumidores. Foram criados comits gestores
locais, nos quais os distintos segmentos discutem acerca da
constituio e operacionalizao das aquisies de alimentos
e sua destinao s pessoas em situao de insegurana ali-
mentar nas reas urbanas alimento ecolgico para quem
no tem condies de oferecer a si e a sua famlia uma dieta
alimentar adequada. Reforma ou revoluo? Difcil dizer, mas
a questo que esse novo mercado, naquele momento, repre-
sentou uma quebra de paradigma.
Entretanto, com o passar do tempo, apareceram algumas
imperfeies nessa indita forma de proviso agroalimentar
e, novos desafos foram postos quanto normatizao da
produo orgnica no pas. Paradoxalmente, o mesmo Esta-
do que, por meio de suas polticas pblicas, promove o de-
senvolvimento rural cria dispositivos legais que o bloqueiam.
Trataremos dessas questes a seguir, especialmente tomando
como referncia a obrigatoriedade de certifcao dos ali-
mentos orgnicos e os dispositivos adotados pelas organi-
4
Atualmente, a Sul Ecolgica conta com cerca de 250 famlias cooperadas,
distribudas em 23 ncleos produtivos, em oito municpios do sul gacho.
5
Destaca-se o Projeto Piloto de Alimentao Escolar Ecolgica, implantado
em escolas pblicas estaduais no municpio de So Loureno do Sul (RS) no
ano 2000.
6
Dados coletados junto s organizaes que atuam na produo ecolgica na
microrregio de Pelotas mostram que, de 2000 a 2004, houve um aumento
da ordem de 10 vezes no volume produzido e comercializado, passando de
cerca de 100 toneladas para quase 1.000 toneladas anuais.
20 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
zaes da agricultura familiar ecologista frente a esse desafo
legal para a manuteno e a ampliao de seus mercados.
Inovaes sociais para atender
s novas exigncias legais
Um representativo nmero de famlias agricultoras no
Brasil, por razes diversas, vm adotando os princpios agroe-
colgicos em suas unidades produtivas. A insero diferenciada
dessas famlias nos mercados uma necessidade, e no ape-
nas uma opo, haja vista que os circuitos convencionais de
comercializao subordinam os agricultores aos complexos
agroindustriais e aos grandes conglomerados do varejo ali-
mentar. Nesse sentido, o arcabouo jurdico e os instrumentos
operacionais estabelecidos pelo Estado brasileiro voltados
promoo da segurana alimentar e nutricional representaram
grandes avanos institucionais para a ampliao e a consolida-
o da produo de base agroecolgica. Isso se verifca no
somente no plano da produo de alimentos, mas na prpria f-
losofa que orienta os programas de compra institucional (PAA
e PNAE), cuja premissa bsica propiciar concertaes indi-
tas visando construo social dos mercados, baseando-se em
valores como a proximidade, a confana e a autorregulao.
Entretanto, os mercados vm sendo cada vez mais con-
formados por normas restritivas, estabelecidas pelo prprio
Estado. A certifcao da produo orgnica um desses me-
canismos compulsrios colocados para agricultores ecolgi-
cos.
7
Nesse campo, a maior inovao em nosso pas foi o re-
7
No Brasil, a certifcao da produo orgnica regulamentada pela Lei
10.831/2003 e pela instruo normativa 19/2009. Esses dispositivos legais es-
tabelecem trs mecanismos possveis para atestar a qualidade orgnica: Or-
ganismo de Avaliao de Conformidade (OAC), Organismo Participativo de
Avaliao de Conformidade (Opac) e Organizao de Controle Social (OCS).
O reconhecimento ofcial dos sistemas participativos de garantia represen-
tou uma conquista das organizaes sociais que trabalham com a produo
ecolgica no Brasil, tendo, inclusive, signifcativa repercusso internacional.
conhecimento ofcial dos sistemas participativos de garantia
SPGs (MEIRELLES, 2007), por meio dos quais os agriculto-
res organizados podem constituir um mecanismo de controle
social que ateste a origem e a adequao dos alimentos por
eles produzidos s normas da produo orgnica.
No caso dos agricultores familiares ecologistas, especial-
mente aqueles vinculados Cooperativa Sul Ecolgica, a op-
o
8
de regularizao frente obrigatoriedade da certifcao
foi a formalizao de uma Organizao de Controle Social
(OCS). Esse dispositivo foi constitudo a partir da prpria
conformao da Cooperativa, que se organiza em ncleos
produtivos de no mnimo cinco famlias, nos quais os agricul-
tores familiares efetivam o controle social da sua produo
mediante a realizao de reunies e visitas itinerantes nas
unidades produtivas, das quais podem participar tcnicos e
consumidores. A organizao social da produo e a transpa-
rncia no processo, bem como o devido registro documental,
legitimam as suas prticas e certifcam os produtos para serem
comercializados como orgnicos nos mercados em que ocor-
re a venda direta. Nesse caso, a inovao social representada
pela criao da OCS evidencia que os agricultores familiares
organizados no apenas tm capacidade para fazer frente a
um dispositivo de lei, mas tambm demonstram habilidade
para responder s exigncias dos mercados.
Julgamos que esse processo, em ltima anlise, marcou a
institucionalizao da confana. Todavia, apesar dos avanos e
inovaes observados na construo dos mercados para os
agricultores familiares ecologistas, persistem diversos desa-
fos para a consolidao das experincias em curso.
8
Tratamos a escolha feita pelos cooperados como uma opo, pois havia a
possibilidade de aderir ao modelo convencional de certifcao, que implica
em elevados custos, ou mesmo instituir uma Opac. A escolha pela constitui-
o da OCS foi devida ao fato de que esse dispositivo atendia plenamente
demanda dos agricultores no que tange forma de comercializao da sua
produo, maiormente realizada via venda direta.
Figura 1. Disposio geogrfca e organizao socioespacial da
Cooperativa Sul Ecolgica, ressaltando um de seus ncleos produtivos
Fonte: Elaborao dos autores (2010)
F
o
t
o
:
A
n
t
n
i
o
L
e
o
n
e
l
S
o
a
r
e
s
(
G
r
u
p
o
L
a
Q
u
i
n
t
i
n
i
e
)
21 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Avanos polticos, retrocessos formais
Parece ser indiscutvel que os mercados institucionais
foram os grandes impulsionadores da ampliao da escala de
produo dos alimentos orgnicos pela agricultura familiar do
sul gacho, bem como da constituio de novos canais de co-
mercializao e abastecimento.
9
Entretanto, ocorre que, aps
um perodo de crescimento vertiginoso, algumas modalidades
acessadas pelos agricultores familiares comearam a apresentar
indcios de esgotamento.
10
No caso do PAA, a defasagem dos
valores recebidos pelos produtores apontada como a causa
do declnio no fornecimento para esse mercado por parte dos
cooperados. Igualmente, o engessamento burocrtico
11
pelo qual
o programa sistematicamente vem passando praticamente in-
viabiliza o seu acesso por parte das cooperativas da agricultura
familiar. Alm disso, algumas famlias rurais especializaram-se no
fornecimento ao PAA, o que de certa maneira criou uma de-
pendncia em relao a esse mercado. Sendo assim, apesar dos
ganhos, a questo que, em virtude das difculdades operacio-
nais e da baixa remunerao, crescente o descrdito por par-
te de agricultores ecologistas em relao ao programa. Cremos
que novamente ser preciso lanar mo da habilidade social
na busca de solues criativas para os novos impasses criados.
Oferecer produtos saudveis para as crianas no uma
questo somente de mercado para os agricultores familiares
de base ecolgica, mas tambm de princpios. E, com o ad-
vento da lei que estipula a obrigatoriedade de aquisio de
produtos da agricultura familiar local para a alimentao es-
colar, dando prioridade aos produtos orgnicos, parecia que
os mercados para esses gneros novamente teriam uma am-
pliao substancial. Contudo, o que se observa regionalmente
um quadro bastante heterogneo, mesmo incipiente, nas
aquisies de alimentos ecolgicos. Esse contexto desafa a
capacidade organizativa e de articulao dos produtores com
os demais segmentos envolvidos na consolidao desse mer-
cado singular de abastecimento e consumo.
possvel seguir em frente?
Pode-se dizer que o fortalecimento de dinmicas locais
de cooperao e associativismo representa um elemento de-
terminante para a insero da agricultura familiar ecologista
nos mercados. O reconhecimento ofcial dos sistemas partici-
pativos de garantia para a produo orgnica e a valorizao
dos mercados institucionais como canais para escoamento
dessa produo sem dvida so avanos importantes. Con-
tudo, esse processo que denominamos de institucionalizao
9
Prova disso o elevado percentual de alimentos orgnicos adquiridos anual-
mente (aproximadamente 50%) nas operaes do PAA em Pelotas e So
Loureno do Sul.
10
O perodo de ascenso ocorreu nos primeiros anos de operao do PAA
na microrregio de Pelotas, mas, aps 2009, observou-se um franco descenso
em todos os quesitos que conformam o programa (nmero de fornecedores,
quantidade de benefcirios, etc).
11
Exemplo do que estamos tratando o processo de renovao dos pro-
jetos, que raras vezes coincide com o tempo previsto nos planejamentos
realizados pelos agricultores ou mesmo com o perodo constante na prpria
Proposta de Participao.
da confana nem sempre regido pela horizontalidade nas
relaes. A assimetria de poder nas tomadas de deciso colo-
ca o Estado como um ente imperioso. Os constrangimentos
impostos s associaes da agricultura familiar ecologista se
expressam em uma infnidade de protocolos, formulrios, ma-
nuais, atestados, ofcios e tantas outras exigncias de ordem
burocrtica. No caso em questo, tais constrangimentos des-
locaram o foco da atuao da cooperativa, que originalmente
estava empenhada na organizao social da produo e no
trabalho de base e depois passou a concentrar seus esforos
para atender s exigncias legais dos mercados institucionais
e da produo orgnica, conformando um quadro que pode-
ramos chamar de confnamento normativo.
Apesar das adversidades, acreditamos ser possvel seguir
em frente, sendo que preciso entender que a qualifcao e
a consolidao dos mercados para a produo ecolgica dos
agricultores familiares, a partir de princpios e normas social-
mente construdas, passam necessariamente pela superao
dessas e de outras barreiras.
Cludio Becker e Fabiana da Silva Andersson
agrnomos, Mestres em Cincia e bolsistas de Doutorado
do Programa de Ps-Graduao em Sistemas de Produo
Agrcola Familiar,
Universidade Federal de Pelotas
cldbecker@gmail.com e fabiandersson@gmail.com
Paulo Mielke de Medeiros
agricultor ecologista e atual presidente da Cooperativa Sul
Ecolgica
sulecologica@gmail.com
Referncias bibliogrfcas:
MEIRELLES, L. Sistemas Participativos de Garantia: origem, de-
fnio e princpios. Revista Agricultura Ecolgica de
AGRECOL, Cochabamba, n. 7, p. 1-5, 2007.
Agricultor familiar em sua rea de produo de morangos, exibindo
sua Declarao de produtor orgnico, vinculado OCS-RS-03
F
o
t
o
:
F
a
b
i
a
n
a
d
a
S
i
l
v
a
A
n
d
e
r
s
s
o
n
22 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Rede Ecovida de Agroecologia:
articulando trocas mercantis com
mecanismos de reciprocidade
Oscar Jos Rover e Felipe Martins Lampa
O
s mercados provoca-
ram alteraes signif-
cativas na maneira de
produzir e consumir alimentos e nos
modos de vida dos agricultores. Todavia,
esse processo no signifcou a elimina-
o total das bases sobre as quais se
assenta o campesinato, uma vez que
possvel identifcar no s pontos de
ruptura, mas tambm elementos de
continuidade em sua organizao socio-
cultural (WANDERLEY, 2009). Sabourin
(2009) utiliza a noo de relaes de re-
ciprocidade para explicar a capacidade
do campesinato de se reproduzir na
sociedade contempornea, entenden-
do-as como trocas de responsabilida-
des mtuas, promovidas a prestaes
e geradoras de vnculos sociais mais
amplos do que aqueles gerados pelas
trocas mercantis. Essas relaes, que
tm origem no patrimnio sociocultu-
ral do campesinato, tiveram sua lgica
profundamente transformada com o
advento da modernizao da agricultu-
ra. Contudo, para Sabourin (2009), esse
processo no seria uniforme e unilinear,
e as sociedades camponesas se carac-
terizariam pela capacidade de articular
relaes de reciprocidade com relaes
mercantis. Nesse sentido, o autor afr-
ma que se estabeleceu uma coexistn-
cia dialtica entre essas duas lgicas,
sendo que a permanncia de relaes
de reciprocidade seria um elemento
chave para entender a resistncia da
cultura camponesa no interior das re-
laes e trocas mercantis.
No que tange comercializao
de alimentos da agricultura familiar de
base ecolgica, fundamental analisar
as suas estratgias para se posicionar
nos mercados. A produo em unidades Box de Produtos Orgnicos em Florianpolis
F
o
t
o
s
:
F
e
r
n
a
n
d
o
A
n
g
e
o
l
e
t
t
o
23 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
familiares diversifcadas e a comercializao em cooperativas,
visando gerar ganhos de escala por cooperao, representam
continuidades histricas com a cultura camponesa.
De um ponto de vista mais amplo, na esfera do mercado
agroalimentar, verifcamos profundas mudanas no ambiente
concorrencial nas ltimas dcadas, elevando os nveis de ef-
cincia, pressionando os custos e acelerando o ritmo de ino-
vaes e modernizaes tecnolgicas. O resultado imediato
dessas novas condies seria a fragilizao da agricultura de
base familiar, bem como de suas organizaes econmicas. Essa
tendncia acabou por transformar radicalmente os padres de
coordenao entre os atores ao longo das cadeias agroalimen-
tares. Alm da maior exigncia de escala para suprir e custear
logsticas de forma planejada e contnua, h a imposio de pa-
dres de qualidade e aparncia (WILKINSON, 2008). Contudo,
esses movimentos dominantes no avanam sem resistncias.
A abertura de mercados por meio da articulao de atores
sociais que compartilham vises comuns de desenvolvimento e
buscam fortalecer as economias locais tem representado uma
contratendncia de construo social de mercado.
A Rede Ecovida como uma inovao social
A Rede Ecovida de Agroecologia foi criada em 1998,
como resultado de um processo de articulao de organiza-
es e movimentos sociais, visando construir uma alternativa
ao modelo de agricultura dominante no pas. A rede organi-
zada em ncleos regionais espalhados pela regio Sul do Bra-
sil. Cada ncleo rene membros de uma microrregio com
caractersticas semelhantes (um territrio rural). Em sua p-
gina na internet, consta: Atualmente, a Rede Ecovida conta com
23 ncleos regionais, abrangendo em torno de 170 municpios. Seu
trabalho congrega, aproximadamente, 200 grupos de agricultores,
20 ONGs e 10 cooperativas de consumidores.
Desde a sua origem, a Rede Ecovida tem como pressupos-
to estabelecer formas de comercializao que priorizem a venda
direta e/ou que reduzam ao mximo as intermediaes (SANTOS;
MAYER, 2007). sob essa tica, aproximando produtores e
consumidores, que foram construdas as mais de 100 feiras e
lojas de varejo. Porm, com o passar do tempo e o aumento de
nmero de produtores (abrangendo cerca de 2,5 mil famlias) e
do volume de produtos, as opes de mercados locais e regio-
nais se tornaram restritivas. Mesmo assim, a Ecovida mantm
uma resistncia entrada em grandes mercados de atacado e
varejo, o que confgurou um gargalo para a expanso e o es-
coamento da produo dos agricultores ligados a ela (ROVER,
2011). Foi diante desse desafo que um conjunto de organiza-
es vinculadas rede criou o Circuito Sul de Circulao de
Alimentos da Ecovida, iniciativa que vem desde 2006 integran-
do comercialmente alguns ncleos regionais.
O circuito funciona com base em seis estaes-ncleos,
cada qual equivalendo a um ncleo da Ecovida. As estaes
so pontos de reunio e distribuio dos produtos para a co-
mercializao.
1
Para cumprirem essas funes, existem alguns
princpios que orientam suas organizaes e que diferem sig-
nifcativamente dos mecanismos convencionais de acesso aos
mercados (ROVER, 2011): a) para integrar o circuito, os produ-
1
Para conhecer as estaes e rotas do Circuito Sul de Circulao da Ecovida,
ver Magnanti (2008).
tos devem ser necessariamente oriundos da agricultura fami-
liar e ser produzidos em sistemas diversifcados que priorizem
o autoabastecimento alimentar, tanto das famlias produtoras
como dos mercados locais; b) as organizaes que vendem
devem tambm comprar produtos no circuito, para garantir
o intercmbio de produtos entre as regies e a ampliao da
diversidade de mercadorias ofertadas em cada regio; c) h re-
defnies coletivas peridicas sobre os critrios para a forma-
o dos preos, buscando assegurar que o trabalho das famlias
agricultoras seja justamente remunerado e, ao mesmo tempo,
que os produtos sejam acessveis aos consumidores.
Alm das mais de 100 feiras, das lojas de venda direta
e do Circuito Sul de Circulao de Alimentos, novas iniciati-
vas surgem para qualifcar as dinmicas comerciais da Ecovi-
da. Um exemplo recente a criao, em janeiro de 2013, do
Box de Produtos Orgnicos, junto Ceasa/SC, na Grande
Florianpolis. Esse Box articula vrias organizaes e alguns
ncleos regionais da Ecovida e, assim como as estaes do
Circuito Sul, constitui um ponto de reunio e distribuio de
produtos agroecolgicos na Grande Florianpolis. Como um
espao de atacado, integrado por organizaes de agricultores
familiares, sua proposta otimizar a logstica de comercializa-
o, ampliar os ganhos de escala por cooperao das famlias
do ncleo regional que o sedia e facilitar as trocas de produtos
entre diferentes ncleos.
Todas essas iniciativas demons-
tram o esforo da Ecovida em
criar mecanismos comerciais que
promovam a diversidade pro-
dutiva, a proximidade entre os
agricultores e os consumidores,
a valorizao local/regional dos
territrios onde feita a produ-
o agroalimentar e a construo
de relaes comerciais que visam
gerar vnculos sociais mais amplos
que os mercantis, fortalecendo
relaes de reciprocidade.
Inaugurao do Box de Produtos Orgnicos
no Ceasa de Santa Catarina
24 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Perspectivas e desafos
A experincia da Ecovida representa um caso concreto
de reinsero de agricultores familiares nos mercados alimen-
tares com base em inovaes organizacionais e tecnolgicas
que levam abertura de um nicho no convencional para a
produo agroecolgica. Isso pode ser verifcado nas feiras,
no Circuito Sul de Circulao, nas lojas de venda direta e no
Box de Produtos Orgnicos.
Contudo, maior insero e reconhecimento comercial in-
duzem ao aprofundamento de contradies, como a possibili-
dade de atingir mercados distantes, algumas vezes por meio de
atacadistas e varejistas convencionais, afastando-se de seus ob-
jetivos e princpios. E com a experincia da Rede Ecovida no
seria diferente. O fato de ser uma organizao descentralizada,
que garante signifcativa autonomia aos ncleos regionais quan-
to adoo de estratgias comerciais, pode mesmo acentuar
essa contradio entre reciprocidade e troca mercantil. Assim,
o acesso a mercados mais distantes, bem como processos de
centralizao comercial no interior da organizao, no deixam
de existir na Rede Ecovida. Exemplo disso so infraestruturas
comerciais de seleo, classifcao e embalagem que em alguns
ncleos regionais so centralizadas, restringindo a participao
dos agricultores na coordenao dos processos comerciais. H
tambm casos em que algum agente comercial, apesar de ligado
Ecovida, promove dinmicas que pouco diferem das conven-
cionais, com baixo grau de controle de preos e ganhos por
parte dos agricultores e suas organizaes. Nesse sentido, a
necessidade de responder s demandas do mercado, condio
para se manter no mesmo, pressiona a organizao na medida
em que exige nveis cada vez mais altos de efcincia e coorde-
nao da cadeia.
Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) em quatro capitais do Brasil, foram
levantados os preos de sete alimentos orgnicos
2
, em trs
canais de distribuio: grandes supermercados, feiras de or-
gnicos e entregas em domiclio. Constatou-se que os preos
podem variar em at 463%, dependendo do canal de venda.
Outro dado signifcativo o fato de que, em 100% dos casos,
os preos mais baixos foram os praticados pelos feirantes
2
Repolho verde, berinjela, pimento verde, chuchu, tomate, cebola e alface
americana.
que, em geral, correspondem aos prprios produtores (IDEC,
2010). Os resultados da pesquisa reforam a importncia do
fortalecimento dos circuitos curtos de comercializao, so-
bretudo no que se refere sua capacidade de oferecer ali-
mentos a um preo mais barato e garantir ao produtor uma
maior apropriao do valor fnal de seu produto.
Outra pesquisa, realizada por Rover,
Lampa e Pacheco Luiz (2012) a par-
tir de entrevistas a 55 produtores
agroecolgicos, demonstrou que a
abertura de espaos de comerciali-
zao um dos principais entraves
para a ampliao da produo de
base ecolgica. Dessa forma, a cons-
truo social de mercados, tal como
a promovida pela Ecovida, com con-
tedos polticos que fundamentam
a sua organizao, corresponde a
uma disputa no interior de cadeias
de produo, pois traz consigo a
bandeira de outro paradigma de
organizao (da produo
e do comrcio).
Uma das caractersticas destacadas por Ploeg (2006) re-
lativas ao modo de produo campons justamente o per-
manente empenho no sentido de distanciar o processo de
produo do sufocante circuito mercantil, sem deixar de ter
interfaces com ele, ao ingressar e criar processos especfcos e
diferenciados de comercializao. Nas continuidades e rupturas
com sua cultura camponesa, os produtores ligados Ecovida
constroem conjuntamente mercados locais, integrando grupos
que pertencem a uma mesma regio, o que no impede que
alguns membros acessem canais mais distantes, como redes
Inaugurao do Box de Produtos Orgnicos
Reunio no Box de Produtos Orgnicos de
Florianpolis com agricultores e suas organizaes
25 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
de varejo e lojas especializadas longe da regio de origem dos
produtos. Assim, as estratgias de comercializao adotadas
pelos membros dos diferentes ncleos, apesar de assumirem
princpios comuns que as orientam, mostram-se bastante he-
terogneas. Ainda no que diz respeito ao posicionamento nos
mercados, e considerando a escassez recorrente de recursos
entre os agricultores, iniciativas de compartilhamento de vecu-
los e infraestrutura sugerem a imprescindibilidade de ampliar
estratgias coletivas para enfrentar os desafos dos mercados.
Uma rede fundada no princpio
da cooperao
A organizao social da Ecovida procura privilegiar rela-
es de reciprocidade, tais como a troca de produtos, semen-
tes e experincias, assim como incentiva outras formas de
cooperao no interior da rede. Alm disso, a construo de
feiras, a reunio de grupos e a participao em encontros re-
gionais de articulao so fundamentais para a construo da
identidade comum e de seu projeto de autonomia. Suas estra-
tgias cooperativas para a construo de mercados caminham
no mesmo sentido. Assim, a rede desenvolve dispositivos co-
merciais que se fundamentam em princpios da economia
solidria, buscando uma justa distribuio de resultados, a
melhoria das condies de trabalho e o compromisso com
o meio ambiente e o bem-estar dos envolvidos no processo,
inclusive consumidores. Isso no impede, entretanto, que na
sua relao com agentes econmicos externos, assim como
diante da falta de coordenao interna, alguns de seus agentes
se posicionem de maneira competitiva.
A lgica camponesa e a experincia da Ecovida apre-
sentam um grande diferencial em relao a outros setores
socioprodutivos da agricultura: a valorizao de princpios
de reciprocidade, conjugando-os com prticas da troca mer-
cantil. Essa uma marca histrica desde a criao da rede,
reconstruindo a autonomia dos agricultores e de suas orga-
nizaes, buscando convert-la em dinmicas alternativas de
desenvolvimento rural. Mas, como em todo processo histri-
co, a relao que a rede estabelecer com os mercados de-
pender tambm das escolhas feitas, que podem tender mais
para o domnio das transaes mercantis ou para a ampliao
da relevncia de princpios de reciprocidade. Nesse sentido,
concordamos com Sabourin quanto necessidade de dese-
nhar polticas pblicas que fomentem prticas de reciproci-
dade, para evitar que experincias como a da Rede Ecovida
permaneam marginais ou simplesmente sejam totalmente
dominadas pelas regras dos mercados.
Oscar Jos Rover
agrnomo, Mestre em Sociologia Poltica,
Doutor em Desenvolvimento Rural e professor da UFSC
oscar.rover@ufsc.br
Felipe Martins Lampa
cientista social e Mestrando em Agroecossistemas da UFSC
lampabr@yahoo.com
Referncias bibliogrfcas:
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrrio em
questo. So Paulo: Edusp, 2012.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA
(IBGE). Censo agropecurio, 2006.
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(IDEC). Quer pagar quanto? Revista do Idec, abr. 2010.
MAGNANTI, Natal J. Circuito Sul de Circulao de Alimentos
da Rede Ecovida de Agroecologia. Revista Agriculturas,
v. 5, n. 2, p. 26-29, mai. 2011.
PLEIN, C; SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e mercantiliza-
o. In: CASTILHO, M.L; RAMOS, J.M. (Ed.). Agroneg-
cio e desenvolvimento sustentvel. Francisco Beltro:
Calgan Editora Grfca, 2009.
PLOEG, J. D van. O modo de produo campons revisitado.
In: SCHNEIDER, S (Org.). A diversidade da agricultura
familiar. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2006.
REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA. Disponvel em:
<www.ecovida.org.br>. Acesso em: 23 de abril de 2013.
ROVER, O. Agroecologia, mercado e inovao social: o caso
da Rede Ecovida de Agroecologia. Revista de Cincias
Sociais UNISINOS, jan.-abr. 2011.
ROVER, O; LAMPA, F; PACHECO LUIZ, F. As polticas pblicas
e a promoo da agroecologia junto a agricultores fami-
liares do sul do Brasil. In: SEMINRIO NACIONAL DE
SOCIOLOGIA E POLTICA, 4, 2012, Curitiba. Anais...
Curitiba, 2012.
SABOURIN, E. Camponeses do Brasil: entre a troca mercantil
e a reciprocidade. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2009.
SANTOS, L.C.R. dos; MAYER, P.H. A experincia da Rede Eco-
vida de Agroecologia no sul do Brasil. Revista Brasileira
de Agrocologia, v. 2, n. 2, out. 2007.
SINGER, P. Introduo economia solidria. So Paulo:
Editora Perseu Abramo, 2002.
WANDERLEY, M. de N. B. O mundo rural como um espao
de vida: refexes sobre a propriedade da terra, agricultura
familiar e ruralidade. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2009.
WANDERLEY, M. de N. B. A sociologia do mundo rural e as
questes da sociedade no Brasil contemporneo. Revista
Ruris, v. 4, n. 1, mar. 2010.
WILKINSON, J. Mercados, redes e valores. Porto Alegre:
Editora UFRGS/Programa de ps-graduao em desenvol-
vimento rural, 2008
26 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013 26
F
o
t
o
s
:
E
k
o
R
u
r
a
l
26 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
27 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Sistemas
alimentares locais:
um caso de sucesso entre
consumidores urbanos
do Equador
Ross M. Borja, Pedro Oyarzn, Sonia Zambrano, Francisco Lema
1
1
Os autores agradecem a Carlos Perez e Claire Nicklin por seus conselhos
e Fundao McKnight por seu apoio. Reconhecem ainda os valiosos comen-
trios de Jason Donovan, do Centro Mundial de Agroforesteria (Icraf, na sigla
em ingls), e de Steve Brescia, da Groundswell Internacional.
A
o longo das ltimas dcadas, empresas do
ramo alimentar tm adquirido crescente po-
der para infuenciar a forma com que as fa-
mlias urbanas no Equador se alimentam. Como parte desse
processo, a populao urbana vem progressivamente perden-
do a noo dos diferentes signifcados e relaes envolvidos
na aquisio de alimentos. Ao mesmo tempo, a produo agr-
cola refete cada vez menos o contexto e a cultura locais.
Esse cenrio expressa distncia crescente entre produtores
e consumidores. De um lado, os consumidores perderam o
contato com as unidades de produo agrcola ou a regio
de onde vem a comida, e, do outro, os produtores no sabem
quem vai comer seus produtos. O fato que ambos os grupos
esto a cada dia mais vulnerveis aos interesses de grandes
empresas. O desenvolvimento de cadeias mais longas uma
das principais caractersticas do sistema agroalimentar mo-
derno. Consumidores e produtores no se conhecem mais, os
rendimentos dos agricultores esto decaindo, as opes para
os consumidores so limitadas e as dietas so menos variadas
e menos saudveis.
O conceito de redes alimentares locais se baseia em uma
renovada forma de relacionamento entre produtores e con-
A noo de Desenvolvimento 3.0 foi concebida para ressaltar a diferena com
relao aos enfoques at hoje predominantes centrados na transferncia de
tecnologia (1.0) ou em regimes participativos (2.0). O Desenvolvimento 3.0
funda-se nas iniciativas comunitrias como fonte de inspirao para a mudan-
a social. O movimento Canastas Comunitarias (Cestas Comunitrias, traduo
livre), criado por famlias para lidar com a volatilidade dos preos dos alimen-
tos, ilustra bem essa nova abordagem. Hoje, o movimento se expandiu para
seis cidades no Equador e se diversifcou para enfrentar novas questes, mas
continua a ser um excelente exemplo dos benefcios obtidos por meio de
sistemas alimentares locais, em iniciativas de auto-organizao local.
Ao lado: Redes alimentares locais: melhores rendas, alimentos
saudveis e organizaes locais fortalecidas
28 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
sumidores e est se tornando cada vez mais relevante. Vrios
exemplos de acesso direto aos mercados, ou de atalhos para
comercializao, surgiram como uma reao ao crescente po-
der exercido pelos intermedirios e pelo setor de supermer-
cados, mostrando que as famlias, quando se organizam, tm o
potencial de mudar uma situao adversa. Um dos melhores
exemplos o das Canastas Comunitarias, que tiveram incio na
dcada de 1980 como grupos de consumidores urbanos. Seus
membros arrecadam fundos para fazer compras em grandes
quantidades (no atacado) que so depois divididas entre as
famlias do grupo, resultando em uma economia substancial.
Hoje, as Canastas Comunitarias formam uma rede nacional de
famlias urbanas de baixa renda que buscaram um modelo al-
ternativo para economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, pos-
sibilitar o acesso a alimentos de qualidade.
Assim, o que comeou como um mecanismo de compra
coletiva para economizar dinheiro acabou lentamente levan-
do os participantes a questionar as origens e as formas de
produo dos alimentos que consomem. Muitos consumido-
res comearam a reavaliar a vantagem de poupar dinheiro
comprando alimentos produzidos sem o emprego de insumos
qumicos. Isso os encorajou a procurar os agricultores para
obter respostas e estabelecer laos mais estreitos, o que fez
com que as Canastas Comunitarias se tornassem uma ferra-
menta de fortalecimento da relao entre consumidores e
produtores.
Venda direta como mecanismo para a revalorizao da agrobiodiversidade
29 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
O caso da comunidade rural
de Tzimbuto
Com cerca de 250 habitantes,
Tzimbuto uma pequena comunidade
rural localizada na provncia de Chim-
borazo, no planalto central do Equador.
uma das reas onde a organizao de
desenvolvimento local EkoRural vinha
apoiando uma iniciativa conduzida por
agricultores. Os agricultores possuem
seus lotes dispersos por toda a rea,
onde cultivam grande variedade de cul-
turas. A uma altitude mdia de 3 mil metros acima do nvel do mar, esses lotes
produzem vrios tipos de culturas, plantas medicinais e rvores frutferas, formando
um mosaico de biodiversidade.
No incio de 2010, a Associao da Nova Gerao, formada sobretudo por
mulheres de Tzimbuto, reuniu-se com as lideranas da Canasta Comunitaria Utopa,
uma das mais antigas do Equador, que tem sede na vizinha cidade de Riobamba. A
EkoRural, que havia trabalhado anteriormente com ambos os grupos, facilitou as pri-
meiras reunies, ao vislumbrar a oportunidade de conciliar os objetivos em torno
do consumo e da produo de alimentos. Nosso empenho em construir vnculos
mais fortes entre consumidores e produtores teve como principal motivao dar
uma resposta recorrente demanda dos produtores em relao ao seu limitado
poder de barganha, aos baixos preos recebidos por seus produtos e aos injustos
benefcios econmicos que as famlias urbanas e rurais acabavam concedendo
aos intermedirios.
Trs anos mais tarde, cerca de 50 agricultores
entregam regularmente os seus produtos para
o grupo da canasta, que os leva para os consu-
midores em Riobamba. Hoje, esses produtores
fornecem aproximadamente 25% das compras
feitas pela Canasta Utopa (e cerca de 50% dos
legumes). Os agricultores de Tzimbuto obtm
um lucro mdio de 80% cerca do dobro do
que eles conseguem quando vendem os mes-
mos produtos para o revendedor atacadista.
Sua associao tambm mais forte do que
antes, e eles incluram novos mecanismos para
incentivar outros vizinhos a participar.
Ao mesmo tempo, as vantagens para os membros da canasta em Riobamba
so evidentes: eles pagam metade do que teriam que pagar a supermercados ou
varejistas da cidade; e pagam aos agricultores de Tzimbuto o mesmo que pagavam
aos atacadistas no passado, mas recebem produtos de melhor qualidade (produtos
ambientalmente corretos, livres de agrotxicos e outros produtos qumicos) pelo
mesmo preo.
Estabelecendo vnculos
Ainda que o fortalecimento dos vnculos entre consumidores e produtores
traga muitas vantagens, a construo dessas novas relaes nem sempre um pro-
cesso simples. Verifcamos algumas difculdades iniciais em funo das diferenas cul-
turais entre as famlias rurais e urbanas. Tambm houve o fato de alguns produtores
acharem difcil deixar de usar agrotxicos e outras prticas de produo nocivas a
que estavam acostumados. Isso criou alguns obstculos s tentativas de coordenar
os esforos de ambas as partes, garantir a qualidade de todos os produtos e cons-
truir um relacionamento baseado na confana.
30 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Apesar desses problemas, todos os participan-
tes descobriram que o trabalhar em conjunto
para gerar mudanas abriu novas e empolgan-
tes possibilidades, a comear pelas relaes
de reciprocidade que haviam sido perdidas, e
as quais todos queriam reconstruir. Ambos os
grupos buscavam um negcio vantajoso: os
consumidores queriam ter acesso a alimentos
saudveis, enquanto os agricultores estavam
interessados em saber mais sobre quem adqui-
ria seus produtos, seus gostos e preferncias. Os
membros da associao comearam a planejar
em detalhe o que iriam cultivar e quando,
elaborando uma maneira mais efciente de
fornecer os produtos requisitados.
Um processo de diversifcao da produo foi desencadeado, o que levou
introduo de novas espcies e variedades, incluindo variedades nativas de batata
e de outras culturas, como mashua (Tropaeolum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa),
arracha (Arracacia xantorrhiza) e melloco (Ullucus tuberosus) aos poucos todas se
tornaram disponveis para venda e consumo. Alm disso, os agricultores comearam
a prestar mais ateno s suas prprias prticas agrcolas, s vantagens evidentes
da rotao de culturas, dos consrcios e da utilizao de adubo. Olhando para trs,
essas prticas tm tido um grande impacto sobre a introduo de novos alimentos
na dieta das famlias, tanto em Tzimbuto como em Riobamba.
Defnir como alcanar tudo isso era essencial para gerar mudanas duradouras.
Os agricultores concordaram que era necessrio fortalecer sua prpria organiza-
o, por meio da defnio clara de papis e responsabilidades. Eles tambm con-
cordaram em capitalizar sua organizao, dando ao grupo o dobro do que recebem
em funo dele (na forma de insumos, sementes e outros materiais). Para garantir
a origem e a qualidade da produo, a associao criou um comit que supervisio-
na todas as operaes e nomeou uma liderana comunitria que assegura que os
produtos cumpram com os critrios estabelecidos. Existe agora tambm um siste-
ma coordenado de produo e distribuio que permite que todos os membros
tenham a mesma chance de participar e se benefciar. Sem dvida, o sucesso visto
foi resultado dos esforos de lideranas agricultoras como Elena Tenelema e da
inspirao e motivao de Roberto Gortaire, Lupe Ruiz e todos aqueles por trs
das canastas.
A fora da mudana
A ligao entre a Canasta Comunitria Utopa e os agricultores de Tzimbuto
demonstra que a criao de novos e mais saudveis relacionamentos entre famlias
urbanas e rurais traz benefcios claros e diretos, que no se limitam criao de
um mercado mais estvel, ao pagamento de preos mais justos para os agricultores
e possibilidade de consumo de produtos de melhor qualidade. Ambos os grupos
tambm aprenderam sobre a importncia de ter uma organizao forte e promo-
ver uma abordagem sustentvel para a agricultura. Passaram a valorizar ainda o
papel e a contribuio de voluntrios, a
necessidade de planejar e coordenar as
atividades em detalhe e tambm a qua-
lidade dos alimentos algo que os con-
sumidores sem rosto nunca demandam.
Esses esforos esto mostrando como
a comercializao de produtos agrco-
las pode se tornar uma grande fora
para ter uma vida mais saudvel, com
consequncias imediatas (e altamen-
te positivas) de natureza econmica,
social e ambiental. Tudo isso fca ainda
mais claro quando levamos em conta
os custos reais dos sistemas alimenta-
res modernos.
31 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
H um enorme potencial para o
fortalecimento dessas prticas que so
baseadas na interdependncia e na ili-
mitada criatividade do povo. A riqueza
existente que j investida na produ-
o e no consumo de alimentos pode
ser usada para fortalecer as organiza-
es rurais e urbanas, bem como pode
ajudar a mudar o cenrio de excluso
de certos setores de nossas comuni-
dades e sociedades. Deve-se tambm
atentar para a importncia de abrir es-
pao para mais pluralismo e democra-
cia, ao envolver, por exemplo, escolas,
hospitais e organizaes comunitrias.
Comer talvez seja a nossa atividade mais b-
sica, mas seu potencial como ferramenta para
a mudana tem sido negligenciado e esque-
cido. Os recursos j esto disponveis. Eles s
precisam ser reinvestidos e realocados
para novos fns sociais.
Ross Borja, Pedro Oyarzn, Sonia Zambrano
e Francisco Lema
Equipe da Fundao EkoRural, Quito, Equador
rborja@ekorural.org
Venda direta: os benefcios no so s econmicos, mas tambm sociais e ambientais
32 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
F
o
t
o
:
J
a
w
s
M
e
d
i
a
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
32 32 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
33 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Antigas tradies,
novas prticas
Katrien vant Hooft
H
apenas 60 anos, a paisagem agrcola na Holanda era muito semelhante
que existe hoje em muitos pases: um grande nmero de pequenas pro-
priedades familiares combinando vrios cultivos com diferentes tipos de
gado para leite, carne, estrume ou trao e tambm se apresentando como manifes-
taes culturais. A comercializao era feita diretamente na porteira da propriedade ou
em pequenas vendas nas redondezas. Hoje, porm, mais de 90% dos cidados holandeses
vo ao supermercado para adquirir os produtos bsicos para sua alimentao. O que
aconteceu nesse meio tempo?
33 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
34 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Desde os anos 1960, a agricultura holandesa passou por uma metamorfose
completa. Aps sofrer com uma grave escassez de alimentos durante a Segunda
Guerra Mundial (1939 -1945), as polticas agrcolas na Europa foram projetadas para
impedir qualquer possibilidade de uma situao semelhante acontecer no futuro.
O governo concedeu grande apoio no sentido de proteger os mercados internos,
proporcionando fcil acesso ao crdito e subsdios para o uso de insumos qumicos.
O objetivo era maximizar a produo de alimentos: gerar os maiores rendimentos
possveis por hectare ou obter o mximo de litros de leite por vaca por ano. A
implementao dessas polticas levou a um perodo de crescimento fenomenal: em
quase 50 anos, a produo de leite de uma propriedade leiteira mdia aumentou 14
vezes: de 37 mil litros anuais em 1960 para mais de 500 mil litros em 2007.
As unidades agrcolas se tornaram maiores e
se especializaram, tanto em termos de culturas
como de gado, com altos nveis de mecaniza-
o. O pas ento ganhou fama pelos seus ren-
dimentos, exportaes e efcincia. Os impactos
sociais foram igualmente fenomenais, mas no
positivamente: o emprego no setor agrcola
decaiu 18 vezes. Ou seja, em 2007, apenas uma
pessoa era necessria para produzir a mesma
quantidade de leite produzida por 18 pesso-
as em 1960. Alm disso, mais de 90% das pro-
priedades tiveram que fechar fenmeno que
ainda vem acontecendo. Esse processo no s
infuenciou a agricultura e o desenvolvimento
rural, mas tambm implicou uma mudana no
padro de comercializao, que deixou de ser
local para fcar sob o domnio de poucos gran-
des varejistas e supermercados.
Escndalos e cadeias nebulosas
Outra tendncia est gradativamente ganhando terreno. Desde a virada do s-
culo, um nmero crescente de cidados holandeses a grande maioria deles viven-
do em reas urbanas quer estreitar os laos com quem produz seus alimentos. Os
pais querem mostrar aos flhos que o leite vem da vaca e no do reservatrio dos
supermercados. Comprar comida annima nos supermercados no mais a nica
opo, e ligaes diretas entre agricultores e consumidores esto crescendo, tanto
em nmero como em formatos. Hoje, um cidado urbano pode, por exemplo, adotar
uma vaca, divertir-se acampando em uma fazenda ou se envolver em inmeras ou-
tras atividades que proporcionam uma renda extra para os agricultores.
A edio de agosto de 2012 da
revista De Boerderij, publicao bastante
popular entre os agricultores holande-
ses, mostrou como agricultores inova-
dores cada vez mais esto conseguindo
identifcar seus consumidores. Mais de
35 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
3,3 mil agricultores (de um total de 67 mil em todo o pas)
esto vendendo seus produtos diretamente aos consumido-
res sobrepondo-se aos supermercados. E esse nmero est
crescendo rapidamente. A antiga prtica de comercializao
direta est retornando Holanda, e os consumidores esto
desempenhando um papel importante nesse contexto.
Durante os ltimos anos, diversos fatores tm alimen-
tado o interesse dos consumidores em saber a origem ou as
origens de seus alimentos. H, por exemplo, um movimen-
to crescente contra os chamados mega-estbulos unida-
des de produo pecuria industrial em grande escala que
vm dominando as paisagens do interior da Holanda. Esse
Estreitamento dos vnculos entre produtores e consumidores por meio da visitao a propriedades de produo leiteira
F
o
t
o
:
K
o
o
s
&
M
o
n
i
q
u
e
v
a
n
d
e
r
L
a
a
n
36 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
movimento, que teve grande cobertura da mdia, est focado
principalmente no bem-estar dos animais e em questes am-
bientais. Mais recentemente, a ameaa crescente da presena
de microrganismos multirresistentes em carne de aves, por
exemplo, tambm foi amplamente documentada pela mdia.
As pessoas esto cada vez mais conscientes de que preciso
estar bastante atento qualidade e sanidade dos alimentos.
O escndalo mais recente foi a descoberta da presena
de carne de cavalo em refeies prontas rotuladas como fei-
tas de carne bovina. De repente, as pessoas perceberam que
dezenas de empresas de toda a Europa envolvidas na produ-
o de seus alimentos utilizam ingredientes que viajam milha-
res de quilmetros e passam por diferentes mos e mltiplas
transformaes. No de se espantar que cultivar hortalias
em seu prprio jardim seja um hbito que vem se populari-
zando. O estabelecimento de laos diretos com os agriculto-
res outra expresso dessa mudana comportamental. Pa-
lavras como local e sustentvel atraem os consumidores e os
incentivam a comprar produtos diretamente dos agricultores,
em vez de adquiri-los em supermercados. Produto local para
gente local a mais nova tendncia ainda incipiente, mas
em ascenso. Tudo isso tem a ver com o desejo de consumir
produtos de sua prpria regio.
Um relatrio recente estima que atualmente 40% dos
agricultores holandeses diversifcam suas rendas com ativida-
des secundrias. Mas os agricultores tambm esto testando
outras iniciativas para comercializar os seus produtos, e esto
sendo seguidos por um nmero crescente de consumidores.
Exemplos de iniciativas dos agricultores
Alguns agricultores tm sabido rapidamente aproveitar
a oportunidade e esto desenvolvendo formas inovadoras
de interagir diretamente com os consumidores. Muitas vezes,
eles oferecem produtos de qualidade especial tais como
alimentos orgnicos ou variedades vegetais esquecidas para
atrair grupos de clientes especiais. Outras iniciativas inovado-
ras de comercializao direta so:
Lojas nas propriedades. Cerca de 5% de todos os agri-
cultores tm uma pequena loja em sua proprieda-
de, onde vendem seus produtos, bem como outros
itens produzidos localmente que muitas vezes no
esto disponveis em supermercados. Esse nmero
est crescendo e, desde 2006, essas propreidades
trabalham em conjunto sob o nome de landwinkels
(ou lojas do campo). As mdias sociais desempenham
um papel importante nesse novo empreendimento:
verifca-se que os agricultores que tm um site ven-
dem duas vezes mais do que aqueles sem.
Sistemas de distribuio direta administrados por coo-
perativas de agricultores. o caso da cooperativa de
agricultores em Altena Biesbosch, onde os membros
esto vendendo batatas, queijo, legumes e frutas di-
retamente para grupos de consumidores ou restau-
rantes. Essa cooperativa conta com a adeso de 100
agricultores e 160 consumidores e esse nmero
s cresce.
Loja na propriedade: uma nova tendncia e uma alternativa ao grande varejo
F
o
t
o
:
W
a
n
d
d
e
n
g
o
u
d
37 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Sistemas de distribuio direta dirigidos por agricultores
individuais. Mecanismo que est se tornando muito
popular, principalmente no caso da carne bovina:
cada agricultor conquista um grupo de clientes para
o qual entrega seus produtos direta e regularmen-
te. comum que raas locais de duplo propsito
como a Brandrode Rund sejam usadas, levando
promoo da diversidade animal. Alguns dos exem-
plos dessa forma de comercializao incluem Na-
tuurboer uit de Buurt (ou Agricultor natural do nosso
bairro) e Hemels Vlees (ou Carne do Cu).
De um modo geral, os agricultores obtm um melhor
preo pelos produtos vendidos diretamente aos consumido-
res s vezes conseguem at 200% a mais. Mas essa no
a nica vantagem. O agricultor Berrie Klein Swormink, que
fornece carne diretamente aos seus clientes, enfatiza: Eu re-
cebo mais feedback e reconhecimento por aquilo que produzo.
Isso requer um maior esforo e nem sempre compensa fnancei-
ramente, mas pelo menos voc est diretamente envolvido com
seus clientes. importante para mim, no s pelo dinheiro, mas
tambm pela valorizao do meu trabalho.
O poder do consumidor
Ao mesmo tempo, em todo o pas, os consumidores e
suas organizaes esto tomando a iniciativa. Cada vez mais
consumidores deixam de ir aos supermercados para comprar
seus alimentos em outros lugares e, dessa forma, colocam em
prtica suas ideias para construir um mundo melhor. Como
resultado, uma grande variedade de iniciativas tem se desen-
volvido nos ltimos anos, envolvendo vrios tipos de grupos,
tanto em nvel local quanto nacional.
A Semana do Sabor um evento anual que acontece
em todo o pas, reunindo produtores e consumidores
para a degustao de boa comida e apresentao de
novos produtos. Como parte dessa srie de even-
tos, realizado um concurso para eleger os heris do
sabor. Os vencedores so aqueles que, por exemplo,
produzem o melhor queijo ou cerveja local.
Versvokos: cooperativas de consumidores sem fns
lucrativos que compram seus legumes e frutas dire-
tamente de um agricultor das proximidades. Grupos
de consumidores fazem as encomendas e a comida
fresca ento entregue diretamente a eles.
Webshops: diversos sites apresentam uma viso ge-
ral de todas as lojas de agricultores na Holanda.
Algumas delas, como a www.thegreenbee.nl, so
visitadas por milhares de pessoas todos os dias. Os
consumidores podem fazer pedidos e receber os
pacotes de alimentos em suas casas. Esse servio
tambm inclui atualizaes via Twitter sobre novos
produtos.
Os consumidores esto apoiando os agricultores ao
comprar seus produtos, mas tambm desempenham um
papel maior. Em muitos casos, eles pagam adiantado, o que
permite que os agricultores cubram parte de seus custos de
produo. H tambm casos em que eles investem em novas
tecnologias, como um programa que ajuda os agricultores a
instalar painis solares. Igualmente importantes so as infor-
maes valiosas fornecidas pelos consumidores. Os partici-
pantes do programa adote uma vaca so convidados a visitar
a fazenda duas vezes por ano e tambm a se tornarem ami-
gos em redes sociais. Dessa forma, os agricultores se man-
tm informados sobre as ideias e prioridades das pessoas e,
s vezes, adaptam suas prticas de gesto em funo delas.
Koos e Monique van der Laan da fazenda orgnica Beekhoe-
ve, por exemplo, comearam a deixar os bezerros fcarem
junto s vacas, porque descobriram que era uma questo
que inquietava os seus amigos.
O maior poder que os consumidores tm, no entanto,
sua capacidade de infuenciar as polticas aquelas em
nvel nacional e at mesmo aquelas que enquadram as aes
dos supermercados. Isso fcou claro em setembro de 2012,
quando a maior rede de supermercados da Holanda, a Al-
bert Heijn, decidiu unilateralmente pagar aos agricultores
2% a menos por seus produtos, apesar dos acordos anterio-
res. O Youth Food Movement (Movimento Alimentar Jovem,
em traduo livre) o brao holands do segmento jovem
da rede Slow Food (em oposio ao conceito de Fast Food)
imprimiu milhares de etiquetas com o dizer 2% de desconto
e as distribuiu em frente s lojas da rede de supermercados
para que as pessoas as colassem em produtos frescos e, em
seguida, tentassem pagar 2% a menos. Esse gesto atraiu gran-
de ateno da mdia.
O nmero de iniciativas de comercializao mencio-
nado est crescendo a cada dia. Muitas dessas iniciativas
incluem formas tradicionais que pareciam esquecidas, mas
que esto mais uma vez mostrando seu valor. Em vez de
dependncia, elas inspiram um sentimento de orgulho e ino-
vao tanto nos agricultores como nos consumidores. As
preferncias destes ltimos e as mudanas nos padres de
comercializao atreladas a essas preferncias esto provan-
do ser um caminho vivel para um sistema agrcola verda-
deiramente sustentvel.
Katrien vant Hooft
veterinria da Dutch Farm Experience
katrienvanthooft@gmail.com
www.dutchfarmexperience.com
38 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Conexo Ecolgica: novas
relaes entre agricultores
e consumidores. 1.ed.
DAROLT, M. R. Londrina:
IAPAR, 2012.
Reconectar agricultores e
consumidores como meio de di-
namizar as mudanas necessrias
para construir sistemas alimen-
tares de base ecolgica: essa a
temtica do novo livro publicado
por Moacir Darolt, pesquisador
do Instituto Agronmico do Pa-
ran (Iapar) com extensa traje-
tria de trabalho no movimento
agroecolgico. Conexo Ecolgica
aponta caminhos e desafos para a
construo de circuitos curtos de
comercializao. A partir de rela-
tos de experincias de grupos de consumidores do Brasil e de outros pases,
o autor discute o potencial das cadeias curtas no apenas do ponto de vista
econmico, mas tambm considerando o empoderamento de produtores e
consumidores, a revalorizao de identidades sociais e culturais e o resgate
de tradies e hbitos alimentares regionais.
Agroecologia: prticas, merca-
dos e polticas para uma nova
agricultura. 1. ed.
NIEDERLE, P. A.; ALMEIDA, L.;
VEZZANI, F. M. (Orgs.). Curiti-
ba: Kayrs, UFPR, 2013.
Um conjunto substancial de trans-
formaes societrias tem alterado nos-
sas formas de produo e consumo de
alimentos. Em toda parte, consolidam-se
movimentos e organizaes que buscam
dar conta de uma crescente demanda
por alimentos no apenas mais saudveis
e livres de agrotxicos, mas que tambm
expressem valores de justia e equidade
social. Uma das faces desse processo revela-se no desenvolvimento da Agroe-
cologia associado revalorizao da agricultura familiar. O livro oferece uma
coletnea de textos que analisam os diversos fatores que tm dinamizado a
expanso das agriculturas de base ecolgica. Para tanto, discute desde os limites
dos modelos convencionais de agricultura, as novas formas de organizao de
agricultores e consumidores at os mecanismos que permitem a estruturao
de redes alimentares alternativas, as quais defnem circuitos curtos e diretos
de comercializao. Ademais, o livro aborda a regulamentao da produo or-
gnica no Brasil, a institucionalizao dos sistemas de certifcao e o papel do
Estado na articulao de mercados e polticas pblicas.
A verso digital do livro est disponvel para download em http://aspta.org.
br/2013/07/livro-agroecologia-praticas-mercados-e-politicas-para-uma-nova-agri-
cultura-2/ ou pode ser solicitada aos autores (paulo.niederle@ufpr.br).
Indicaes Geogrfcas: quali-
dade e origem nos mercados
alimentares. 1. ed.
NIEDERLE, P. A. (Org.). Porto
Alegre: UFRGS, 2013.
Indicaes geogrfcas (IGs) so
sinais distintivos do vnculo entre um
produto e seu territrio de origem.
Utilizadas no mundo inteiro como
dispositivos de reconhecimento entre
produtores e consumidores, elas tam-
bm so comumente referidas como
mecanismos de organizao dos mer-
cados, modernizao dos processos
tecnolgicos, agregao de valor aos
produtos e valorizao do patrim-
nio cultural imaterial. No Brasil, as IGs
vm despertando interesse entre os
mais distintos segmentos de produ-
o e consumo, especialmente no que
tange aos mercados alimentares. Hoje,
nenhum produtor ou regio que visa
construir alternativas de diferenciao
no interior dos chamados mercados
de qualidade pode desconsiderar o po-
tencial desse instrumento. Os captulos
que compem essa coletnea analisam
o recente desenvolvimento das indica-
es geogrfcas no Brasil.
Reunindo alguns dos principais
especialistas no tema, o livro conci-
lia aportes tericos multidisciplinares
acerca dos mercados de qualidade com
a perspectiva dos gestores pblicos e
tcnicos diretamente implicados na
construo desses mercados.
Publicaes
39 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
Lagrocologie en Argentine et en France: regard croiss.
GOULET, F.; MAGDA, D.; GIRARD, N.; HERNANDEZ, V. Paris:
LHarmattan, 2012.
Impresso em 2012, este livro resultado de um seminrio realizado em Bue-
nos Aires em 2011, intitulado Actividad agropecuaria y desarrollo sustentable: que
nuevos paradigmas para una agricultura agroecolgica?. A agroecologia aparece
nos artigos como uma alternativa sendo construda aos modelos de desenvolvimen-
to agrcola ora hegemnicos. Dentre as questes exploradas, muitas so pertinen-
tes ao contexto brasileiro e latino americano: O que entendemos por agroecologia?
Quais so os atores que a defendem, a concebem e a implementam? A agroecologia
atualmente invocada em todos os continentes e por um amplo espectro de or-
ganizaes internacionais, mas pode-se dizer que ela se desenvolve nos mesmos
termos e envolve as mesmas problemticas em toda parte? A ambio desse livro
discutir essas questes a partir de um olhar cruzado entre Argentina e Frana.
Sete estudos sobre a agricultura familiar do Vale do
Jequitinhonha.
RIBEIRO, E.M. Porto alegre: UFRGS, 2013.
Recm-lanado pela Srie Estudos Rurais da UFRGS, o livro rene resul-
tados de dez anos de pesquisas junto organizaes sociais e camponeses do
Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Como aponta o autor, os lavradores
dessa regio, uma das mais emblemticas do interior brasileiro, construram
extraordinria capacidade para conviver com adversidades do clima, da terra
e da poltica. Ao mesmo tempo, foram capazes de arquitetar estratgias ino-
vadoras de reproduo social, aproveitando-se dos recursos sociais e naturais
disponveis. Dentre os temas em foco no livro esto as formas de produo
de autonomia na agricultura familiar, o uso de recursos naturais, a entrada nos
mercados e as contradies entre as singularidades do territrio e a ao dos
programas de desenvolvimento.
Mercados, redes e valores: o novo mundo da agricultura
familiar
WILKINSON, J. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
Diante do conjunto de transformaes que atingem o sistema agroali-
mentar, o autor analisa as opes estratgicas da agricultura familiar, abordan-
do sua especifcidade e resilincia, assim como a conquista de seu espao tanto
nas novas regras polticas quanto na nova dinmica dos mercados. As refe-
xes so realizadas no contexto da desregulamentao e da globalizao dos
mercados agrcolas, da transnacionalizao dos atores dominantes nas cadeias
agroalimentares e das mudanas nos padres de consumo alimentar.
40 Agriculturas v. 10 - n. 2 junho de 2013
ACESSE: www.aspta.org.br/agriculturas
O Congresso Brasileiro de Agroecolo-
gia (CBA-Agroecologia) o principal even-
to acadmico em Agroecologia do Brasil,
confgurando-se como espao fundamental
para a consolidao do conhecimento cien-
tfco nessa rea do conhecimento e para a
construo paradigmtica de um novo mo-
delo de desenvolvimento rural.
Na prxima edio do CBA-Agroe-
cologia, completa-se um ciclo de dez anos
de sua realizao. Por essa razo, retorna a
Porto Alegre, onde a Associao Brasileira
de Agroecologia (ABA-Agroecologia), junta-
mente com um conjunto amplo de organiza-
es governamentais e no governamentais,
promovero a sua oitava edio.
O VIII CBA-Agroecologia acontecer
de 25 a 28 de novembro de 2013 no Cen-
tro de Eventos da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul (PUC-RS),
tendo como tema central Cuidando da Sade
do Planeta.
As atividades sero distribudas nos se-
guintes eixos temticos: 1) Agroecologia e
sade humana; 2) Reinventando a economia;
3) Diversidade para a sade do planeta; 4)
Agroecologia como base para a educao; e
5) Sade do Agrossistema. Alm disso, debate-
remos os 10 anos de CBA: evoluo e pers-
pectivas da Agroecologia.
De forma integrada ao VIII CBA ocor-
rero o XII Seminrio Internacional, XIII Se-
minrio Estadual sobre Agroecologia, bem
como o V Encontro Nacional de Grupos de
Agroecologia.
Convidamos todos e todas para acompa-
nhar e participar desse processo de constru-
o e promoo do conhecimento tcnico-
cientfco e de intercmbio de experincias no
campo da Agroecologia. Agende-se e participe!
EXPERINCIAS EMAGROECOLOGIA
Você também pode gostar
- Enviando Apostila ARQUITETURA SAUDÁVEL PDFDocumento266 páginasEnviando Apostila ARQUITETURA SAUDÁVEL PDFfmescape100% (1)
- Aula 1 - Introdução À EcologiaDocumento45 páginasAula 1 - Introdução À EcologiaAlessandro Oliveira SilvaAinda não há avaliações
- Livro Unidades de Conservacao No Brasil 536 Pags PDFDocumento536 páginasLivro Unidades de Conservacao No Brasil 536 Pags PDFAllex MendonçaAinda não há avaliações
- Arquitetura SustentávelDocumento31 páginasArquitetura SustentávelRavi Motta Stoutz100% (2)
- Apostila de Ciências 8º e 9º Eja 2021Documento8 páginasApostila de Ciências 8º e 9º Eja 2021Jose Messias Ribeiro OliveiraAinda não há avaliações
- PAChA MAMA Os Direitos DA NAturezA e o Novo ConstituCionAlisMoDocumento24 páginasPAChA MAMA Os Direitos DA NAturezA e o Novo ConstituCionAlisMoDaniogAinda não há avaliações
- Atividade de Geografia 8ºano-4ºbimestreDocumento2 páginasAtividade de Geografia 8ºano-4ºbimestreLucimar RodriguesAinda não há avaliações
- Propesp Portfólio: Vol 1 - Grupos de PesquisaDocumento183 páginasPropesp Portfólio: Vol 1 - Grupos de PesquisaRodrigo SevalhoAinda não há avaliações
- Avaliação Do Risco de Extinção Do Cateto Pecari Tajacu No BrasilDocumento10 páginasAvaliação Do Risco de Extinção Do Cateto Pecari Tajacu No BrasilEduardo ChuéAinda não há avaliações
- 1 Constituição Art.225Documento2 páginas1 Constituição Art.225WagnerGarridoAinda não há avaliações
- Silvicultura SustentávelDocumento180 páginasSilvicultura SustentávelFernando HenriqueAinda não há avaliações
- RESUMO Do Artigo Concepções Da Economia Ecológica: Suas Relações Com A Economia Dominante e A Economia Ambiental de Clóvis CavalcantiDocumento2 páginasRESUMO Do Artigo Concepções Da Economia Ecológica: Suas Relações Com A Economia Dominante e A Economia Ambiental de Clóvis CavalcantiJosé Edson Gomes FilhoAinda não há avaliações
- A Historia Ambiental e A Crise Ambiental PDFDocumento17 páginasA Historia Ambiental e A Crise Ambiental PDFJefferson Rodrigo Fernandes PereiraAinda não há avaliações
- Clotilde PerezDocumento17 páginasClotilde PerezLaura B. VieroAinda não há avaliações
- (CBPAT2018) ANAIS Páginas 145 155,1460 1470,1764 1775Documento34 páginas(CBPAT2018) ANAIS Páginas 145 155,1460 1470,1764 1775Ana CruzAinda não há avaliações
- Princípios Do Código Florestal BrasileiroDocumento5 páginasPrincípios Do Código Florestal BrasileiroTanise GodinhoAinda não há avaliações
- Dissertativas UEGDocumento36 páginasDissertativas UEGLucileyAinda não há avaliações
- Interações Entre Os Seres Vivos PDFDocumento35 páginasInterações Entre Os Seres Vivos PDFDanielaAinda não há avaliações
- Aula 4.2 - Historia de Vida PDFDocumento61 páginasAula 4.2 - Historia de Vida PDFPhabloDiasAinda não há avaliações
- A RECONCILIAÇÃO COM A FLORESTA - Arno KayserDocumento128 páginasA RECONCILIAÇÃO COM A FLORESTA - Arno KayserBruno GlathardtAinda não há avaliações
- Arturo Escobar 2011 Ecologías Políticas PostconstructivistasDocumento15 páginasArturo Escobar 2011 Ecologías Políticas PostconstructivistasRania Del ValleAinda não há avaliações
- Resolucao de Exercicios-1Documento5 páginasResolucao de Exercicios-1alberto ernesto TaelaAinda não há avaliações
- Indicadores PublicarDocumento11 páginasIndicadores PublicarLuis Amadeu PungulanheAinda não há avaliações
- Programa Resgate FloraDocumento32 páginasPrograma Resgate FloraAnderson CarvalhoAinda não há avaliações
- Como Fazer Cerca de ArameDocumento34 páginasComo Fazer Cerca de AramewilliamcssAinda não há avaliações
- EF2 REGULAR 7ano PF Corrigido 31 07 2020Documento141 páginasEF2 REGULAR 7ano PF Corrigido 31 07 2020wesley.maceloAinda não há avaliações
- MAIRIPORÃDocumento24 páginasMAIRIPORÃLucas KarmannAinda não há avaliações
- Módulo 04Documento44 páginasMódulo 04Helton MontechesiAinda não há avaliações
- Agroecologia Reconciliando Agricultura e NaturezaDocumento9 páginasAgroecologia Reconciliando Agricultura e NaturezaFabio MoraisAinda não há avaliações
- Balim Mota Oliveira Da Silva - Complexidade AmbientalDocumento24 páginasBalim Mota Oliveira Da Silva - Complexidade AmbientalRejane CutrimAinda não há avaliações