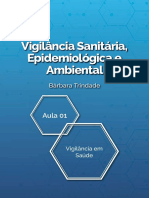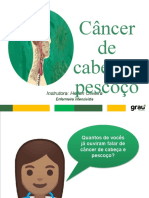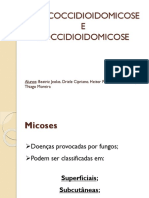Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pacto Saude Volume13
Pacto Saude Volume13
Enviado por
Carolina Poblete Urrutia HarmbacherTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pacto Saude Volume13
Pacto Saude Volume13
Enviado por
Carolina Poblete Urrutia HarmbacherDireitos autorais:
Formatos disponíveis
9 7 8 8 5 3 3 4 1 7 0 6 9
ISBN 978-85-334-1706-9
D
I
R
E
T
R
I
Z
E
S
N
A
C
I
O
N
A
I
S
D
A
V
I
G
I
L
N
C
I
A
E
M
S
A
D
E
V O L U M E 1 3
Disque Sade
0800 61 1997
www.saude.gov.br/svs
www.saude.gov.br/bvs
www.saude.gov.br/dab
Diretrizes Nacionais
da Vigilncia em Sade
Ministrio da Sade
Braslia 2010
Governo
Federal
Ministrio
da Sade
Diretrizes Nacionais
da Vigilncia em Sade
MINISTRIO DA SADE
Secretaria de Vigilncia em Sade
Secretaria de Ateno Sade
Srie B. Textos Bsicos de Sade
Srie Pactos pela Sade 2006, v. 13
Braslia DF
2010
1
a
edio
Elaborao, distribuio e informaes
MINISTRIO DA SADE
Secretaria de Vigilncia em Sade
Departamento de Apoio Gesto de
Vigilncia em Sade
Esplanada dos Ministrios, Bloco G,
Edifcio Sede, sobreloja, sala 110
CEP: 70058-900 Braslia/DF
E-mail: svs@saude.gov.br
Home page: http://www.saude.gov.br/svs
Secretaria de Ateno Sade
Departamento de Ateno Bsica
Esplanada dos Ministrios, bloco G,
Edifcio Sede, 6 andar, sala 655
CEP: 70.058-900 Braslia DF
Home page: http://www.saude.gov.br/dab
Superviso geral
Gerson Penna Secretrio de Vigilncia em Sade
Coordenao-geral
Gilvnia Westin Cosenza Diretora do Dept
de Apoio Gesto da Vigilncia em Sade
Elaborao
Aide Campagna SVS/MS
Elaine Mendona dos Santos SVS/MS
Fernando Ribeiro de Barros SVS/MS
George Santiago Dimech SVS/MS
Gilvnia Westin Cosenza SVS/MS
Kassandra de Freitas Rodrigues Anvisa/MS
Liliana Fava SVS/MS
Musa Morena Silva Dias Anvisa/MS
Samia Nadaf SVS/MS
Sonia Maria Feitosa Brito SVS/MS
Vanessa Pinheiro Borges SVS/MS
Wender Antonio de Oliveira SVS/MS
Colaboradores
Angela Pistelli SVS/MS
Carolina Carvalho SVS/MS
Christiane Domingues Visa/SES/SC
Claudia Rezende Medeiros SVS/MS
Dolly Cammarota Anvisa/MS
Edlamar Pereira SVS/MS
Edmundo Costa Gomes Conasems
Edna Maria Covem Anvisa/MS
rika de Oliveira Moraes Rego Visa/SES/TO
Estanislene Oliveira SVS/MS
Glauco Henry Leibovich SVS/MS
Heloiza Machado de Souza SVS/MS
Ivenise Leal Braga SVS/MS
Josemir da Silva SVS/MS
Kassandra de Freitas Rodrigues Anvisa/MS
Luis Antonio Silva Conass
Luis Armando Erthal Anvisa/MS
Marcos da Silveira Franco Conasems
Musa Morena Silva Dias Anvisa/MS
Nereu Henrique Mansano Conass
Pedro Lucena SVS/MS
Rodrigo Lacerda Conasems
Sylvria de Vasconcelos Milhomem Visa/SES/GO
Tatiana Pino Gomes Visa/SES/SC
Vagner Souza Luciano SE/MS
Viviane Rocha Luiz Conass
Normalizao
Adenilson Flix Editora MS
Reviso
Luciene de Assis Nucom/SVS
Projeto grfco
Gilberto Tom
Diagramao
Sabrina Lopes Nucom/SVS
2010 Ministrio da Sade.
Todos os direitos reservados. permitida a reproduo parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que
no seja para venda ou qualquer fm comercial.
A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra da rea tcnica.
A coleo institucional do Ministrio da Sade pode ser acessada, na ntegra, na Biblioteca Virtual em Sade do
Ministrio da Sade: http://www.saude.gov.br/bvs
Srie B. Textos Bsicos de Sade
Srie Pactos pela Sade 2006, v. 13
Tiragem: 1. edio 2010 20.000 exemplares
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Ficha catalogrfca
Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia Sade. Secretaria de Ateno Sade.
Diretrizes Nacionais da Vigilncia em Sade / Ministrio da Sade, Secretaria de Vigilncia em Sade,
Secretaria de Ateno Sade. Braslia : Ministrio da Sade, 2010.
108 p. : (Srie F. Comunicao e Educao em Sade) (Srie Pactos pela Sade 2006; v. 13)
ISBN 978-85-334-1706-9
1. Promoo da Sade. 2. Assistncia Sade. 3. Planejamento em Sade. 4. Doena Crnica. I. Ttulo. II. Srie.
CDU 614.39
Catalogao na fonte Coordenao-Geral de Documentao e Informao Editora MS OS 2010/0474
Ttulos para indexao
Em ingls: Directives and Recommendations to the Integral Health Care
Em espanhol: Directrices y Recomendaciones para el Cuidado Integral de Enfermedades
Sumrio
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Captulo I: Poltica e Gesto da Vigilncia em Sade . . 11
O Sistema nico de Sade . . . . . . . . . . . . . . . 13
Como fazer a gesto local do SUS? . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Diretrizes do SUS: o que Pacto pela Sade? . . . . . . . . . . . . 14
Vigilncia em Sade: do que estamos falando? . . . 16
Quais so os componentes da vigilncia em sade? . . . . . . . . . 16
Onde devem ser desenvolvidas as aes da vigilncia em sade?. . . 16
Como buscamos a integralidade da vigilncia com
a ateno sade? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Como fortalecer as aes de vigilncia em sade junto
s equipes de sade da famlia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Como ser realizada a formao do nvel mdio de vigilncia
em sade e dos agentes de combate s endemias? . . . . . . . . . 18
Quais so as aes de cada componente da vigilncia em sade? . . . 19
Como o SUS se organiza para enfrentar as emergncias
em sade pblica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A vigilncia em sade e o planejamento . . . . . . . 22
Planejamento e programao em sade . . . . . . . 23
Que diretrizes norteiam o planejamento? . . . . . . . . . . . . . . 23
Quais so os instrumentos do planejamento? . . . . . . . . . . . . 24
Como ocorre a programao das aes da vigilncia em sade? . . . 25
Sistema Nacional de Vigilncia em Sade
e Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria . . . . . . 27
Quais so as responsabilidades dos entes
federativos dos sistemas de vigilncia?. . . . . . . . 28
Em relao ao Sistema Nacional de Vigilncia em Sade . . . . . . . 28
Em relao ao Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria. . . . . . . . 28
Como compartilhar a gesto da vigilncia
em sade entre os municpios e o estado? . . . . . . 29
Caracterizao de uma regio de sade . . . . . . . . . . . . . . . 29
Servios que devem ser disponibilizados em escala regional . . . . . 30
Levantamento de prossionais e da infraestrutura existentes . . . . . 30
Financiamento do Sistema nico de Sade . . . . . . 31
Quais so os seus pressupostos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Quais so os blocos de nanciamento e seus componentes? . . . . . 31
Como gerenciar os recursos nanceiros
do Bloco da Vigilncia em Sade? . . . . . . . . . . . 33
O que limite nanceiro da vigilncia em sade? . . . . . . . . . . 33
Quais so os componentes do limite nanceiro da vigilncia
em sade? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Quais so os pisos nanceiros dos componentes do Bloco
da Vigilncia em Sade? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Como constitudo o piso nanceiro do Componente
de Vigilncia e Promoo da Sade? . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Como constitudo o piso nanceiro do Componente
de Vigilncia Sanitria? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mecanismo de pactuao das aes de vigilncia sanitria . . . . . . 36
Como utilizar os recursos do Bloco da Vigilncia em Sade? . . . . . 39
Como utilizar os recursos previstos nos pisos nanceiros
do Componente de Vigilncia em Sade? . . . . . . . . . . . . . . 40
A que se destinam os recursos previstos no piso nanceiro
do Componente de Vigilncia Sanitria? . . . . . . . . . . . . . . . 42
Impedimentos para a utilizao dos recursos do Bloco
de Vigilncia em Sade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Como so nanciadas as aes de sade
do trabalhador? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Como so nanciadas as aes de promoo
da sade? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Bloqueio de repasse de recursos do Bloco
da Vigilncia em Sade. . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Captulo II: Emergncias em Sade Pblica . . . . . . 47
Introduo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Regulamento Sanitrio Internacional (RSI 2005) . . . . . 50
O que o Regulamento Sanitrio Internacional? . . . . . . . . . . . 50
Qual o propsito do RSI (2005)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Quais so as razes que justicam a vigilncia internacional
em sade pblica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Qual a origem do RSI (2005)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
O que o RSI (2005) incorpora no sistema de sade internacional?. . . 53
Quem responsvel por promover o RSI? . . . . . . . . . . . . . . 53
Qual o Ponto Focal Nacional do RSI (2005) no Brasil? . . . . . . . 54
Quais so as capacidades bsicas de sade institudas pelo RSI
para vigilncia e respostas s emergncias? . . . . . . . . . . . . . 55
Como se aplica o RSI (2005) no Brasil?. . . . . . . . . . . . . . . . 55
O que a Rede Cievs e quais so as suas nalidades? . . . . . . . . 56
Quais so as autoridades competentes para a execuo do RSI? . . . 57
Quais so os tipos de eventos que devem ser comunicados
AMR/Cievs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Como o processo de monitoramento, avaliao e noticao
da AMR/Cievs OMS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Qual o apoio que o Ministrio da Sade pode oferecer,
em situaes de ESPIN e/ou ESP II, via AMR/Cievs? . . . . . . . . . . 60
Quais so os prazos para aplicao integral do RSI (2005)?. . . . . . 61
O que Comunicao de Risco? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Qual o objetivo da Comunicao de Risco? . . . . . . . . . . . . . 61
Quais so as diretrizes da Comunicao de Risco? . . . . . . . . . . 62
Qual o papel da Comunicao de Risco em uma emergncia
de sade pblica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Quais medidas de sade pblica devem ser realizadas
nos pontos de entrada do pas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Quais so os documentos exigidos pelas autoridades porturias? . . . 64
Anexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Anexo A Leitura recomendada . . . . . . . . . . . . 67
Anexo B Portaria n 3.252, de 22 de dezembro
de 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Lista de siglas
Anvisa Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
Cerest Centro de Referncia de Sade do Trabalhador
CIB Comisso Intergestores Bipartite
Cievs Centro de Informaes Estratgicas e Resposta em Vigilncia
em Sade
AMR Unidade Nacional de Alerta, Monitoramento e Operaes de
Resposta em Sade
CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade
Conasems Conselho Nacional de Secretrios Municipais de Sade
Conass Conselho Nacional de Secretrios Estaduais de Sade
DST/Aids Doenas Sexualmente Transmissveis/Aids
ESPII Emergncia de Sade Pblica de Importncia Internacional
Espin Emergncia de Sade Pblica de Importncia Nacional
EPI Equipamentos de Proteo Individual
Faec Fundo de Aes Estratgicas e Compensao
Finlacen Financiamento para o custeio de aes laboratoriais
FNS/SE/MS Fundo Nacional de Sade/Secretaria Executiva/Ministrio
da Sade
IBGE Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica
LOA Lei Oramentria Anual
LVE Lista de Vericao de Emergncias
MAC Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
OMS Organizao Mundial de Sade
PAB Fixo Piso da Ateno Bsica Fixo
PAB Varivel Piso da Ateno Bsica Varivel
PAVS Programao das Aes de Vigilncia em Sade
PDI Plano Diretor de Investimento
PDR Plano Diretor de Regionalizao
PFVisa Piso Fixo de Vigilncia Sanitria
PFVPS Piso Fixo de Vigilncia e Promoo da Sade
PlanejaSUS Sistema de Planejamento do Sistema nico de Sade
PPA Plano Plurianual
PPI Programao Pactuada e Integrada da Ateno em Sade
PVVisa Piso Varivel de Vigilncia Sanitria
PVVPS Piso Varivel de Vigilncia e Promoo da Sade
RSI Regulamento Sanitrio Internacional
SES Secretaria de Estado da Sade
SIA-SUS Sistema de Informao Ambulatorial do Sistema nico de Sade
SIM Sistema de Informao sobre Mortalidade
Sinasc Sistema de Informao sobre Nascidos Vivos
Sinan Sistema de Informao de Agravos de Noticao
SMS Secretaria Municipal de Sade
SUS Sistema nico de Sade
SVS/MS Secretaria de Vigilncia em Sade/Ministrio da Sade
TFVS Teto Financeiro de Vigilncia em Sade
Vigisus Modernizao do Sistema Nacional de Vigilncia em Sade
VS Vigilncia em Sade
VISA Vigilncia Sanitria
9
Apresentao
A Portaria n 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, trata das
diretrizes para execuo e nanciamento das aes de Vigilncia em
Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e municpios, sistemati-
zando os conceitos que orientam o Sistema Nacional de Vigilncia em
Sade no Sistema nico de Sade.
Destaque-se que nesta Portaria a Vigilncia em Sade (VS) insere-se
normativamente no Pacto pela Sade, trazendo reexes a respeito
da participao da VS no planejamento do Sistema nico de Sade
(SUS), colocando-a como parte desse processo e integrando instru-
mentos e prazos; denindo estratgias de integrao com a ateno,
em especial com a ateno primria sade. Prope maior presena
nos espaos de discusso e negociao regionais de forma articulada
com os Colegiados de Gesto Regional CGR.
Apresenta tambm as competncias das trs esferas de governo para
o desenvolvimento do Sistema e traz mudanas no nanciamento
federal.
A Portaria foi elaborada pela Secretaria de Vigilncia em Sade do
Ministrio da Sade, Agencia Nacional de Vigilncia Sanitria Anvi-
sa, Conselho Nacional de Secretrios Estaduais de Sade Conass e
Conselho Nacional de Secretrios Municipais de Sade Conasems,
em uma demonstrao clara do exerccio do consenso na construo
das Polticas Pblicas de Sade no Brasil.
O caderno est dividido em dois captulos: o primeiro trata das di-
retrizes gerais e estratgicas da Vigilncia em Sade, e o segundo
aborda questes relativas ao enfrentamento das Emergncias em
Sade Pblica.
A publicao deste caderno da srie Pactos pela Sade busca a capi-
larizao das novas diretrizes estratgicas para a Vigilncia em Sade
para todos os envolvidos na construo, elaborao e execuo das
polticas de sade, em particular da vigilncia em sade, incentivando
as discusses e o aprimoramento do tema.
10
Captulo I:
Poltica e Gesto
em Vigilncia em Sade
12
13
O Sistema nico de Sade
Como fazer a gesto local do SUS?
O Sistema nico de Sade (SUS), em construo desde 1990, orienta
os sistemas de sade a se organizarem em bases territoriais.
A organizao em territrios reete a riqueza e complexidade das
relaes humanas que neles interagem socialmente e suas carac-
tersticas polticas, econmicas e culturais e signica mais do que
uma populao que vive dentro de determinados limites geogrcos.
Pressupe, tambm, uma distribuio dos servios de sade que aten-
dam a reas de abrangncia delimitadas.
Esse tipo de organizao facilita o acesso das pessoas aos servios
mais prximos de sua residncia e faz com que os gestores desenvol-
vam uma responsabilizao sanitria pela populao local.
A participao da sociedade organizada ressignica a gesto local,
municipal e distrital, propondo uma articulao de polticas interseto-
riais voltadas melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A territorializao a base do trabalho das equipes de ateno
bsica para a prtica da vigilncia em sade, caracterizando-se
por um conjunto de aes, no mbito individual e coletivo, que
abrangem a promoo e a proteo da sade, a preveno de
agravos, o diagnstico, o tratamento, a reabilitao e a manu-
teno da sade.
14
Diretrizes do SUS: o que o Pacto pela Sade?
Em 2006, os gestores do SUS assumiram o compromisso pblico da
construo do Pacto pela Sade 2006, com base nos princpios cons-
titucionais do SUS e nfase nas necessidades de sade da populao.
O Pacto pela Sade dene prioridades articuladas e integradas em
trs componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto
de Gesto do SUS.
O Pacto pela Vida constitudo por um conjunto de compromissos sa-
nitrios, traduzidos em objetivos de processos e resultados, derivados
da anlise da situao de sade do pas e das prioridades denidas
pelos governos federal, estadual e municipal.
O Pacto pela Vida pressupe:
denir e pactuar as metas locais;
denir estratgias para alcanar as metas;
instituir um processo de monitoramento.
As prioridades atuais do PACTO PELA VIDA so:
I ateno sade do idoso;
II controle do cncer de colo de tero e de mama;
III reduo da mortalidade infantil e materna;
IV fortalecimento da capacidade de respostas s doenas emergen-
tes e endemias, com nfase na dengue, hansenase, tuberculose,
malria, inuenza, hepatite, aids;
V promoo da sade;
VI fortalecimento da ateno bsica;
VII sade do trabalhador;
VIII sade mental;
IX fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de sade
s pessoas com decincia;
X ateno integral s pessoas em situao ou risco de violncia; e
XI sade do homem.
15
O Pacto em Defesa do SUS passa por um movimento de repolitizao
da sade, com clara estratgia de mobilizao social vinculada ao
processo de instituio da sade como direito de cidadania, tendo o
nanciamento pblico da sade como um de seus pontos centrais.
O Pacto em Defesa do SUS pressupe:
discutir nos conselhos municipais e estaduais as aes e estra-
tgias para a concretizao desta proposta;
priorizar espaos com a sociedade civil para realizar as aes
previstas;
lutar por um adequado nanciamento.
O Pacto de Gesto estabelece as responsabilidades de cada ente fede-
rado, de forma a tornar mais claro quem deve fazer o qu, contribuin-
do, assim, para o fortalecimento da gesto compartilhada e solidria
do SUS. Prope, ainda, avanar na regionalizao e descentralizao
do SUS, respeitando-se as especicidades regionais.
O Pacto de Gesto pressupe:
assumir de maneira efetiva as responsabilidades sanitrias
inerente a cada esfera de gesto;
reforar a territorializao da sade como base para a organi-
zao dos sistemas, estruturando-se as regies sanitrias;
instituir colegiados de gesto regional;
buscar critrios de alocao equitativa dos recursos nanceiros;
reforar os mecanismos de transferncia fundo-a-fundo entre
gestores.
Os gestores estaduais e municipais, ao denirem a aplicao dos re-
cursos, devem considerar as aes relacionadas Vigilncia em Sade
que esto destacadas como prioridades no Pacto pela Sade.
16
Vigilncia em sade:
do que estamos falando?
A vigilncia em sade tem por objetivo a observao e anlise per-
manentes da situao de sade da populao, articulando-se em
um conjunto de aes destinadas a controlar determinantes, riscos e
danos sade de populaes que vivem em determinados territrios,
garantindo-se a integralidade da ateno, o que inclui tanto a abor-
dagem individual como coletiva dos problemas de sade.
Quais so os componentes da vigilncia
em sade?
So as aes de vigilncia, promoo, preveno e controle de doen-
as e agravos sade, devendo-se constituir em espao de articulao
de conhecimentos e tcnicas.
O conceito de vigilncia em sade inclui: a vigilncia e o controle
das doenas transmissveis; a vigilncia das doenas e agravos no-
transmissveis; a vigilncia da situao de sade, vigilncia ambiental
em sade, vigilncia da sade do trabalhador e a vigilncia sanitria.
Onde devem ser desenvolvidas as aes
da vigilncia em sade?
A vigilncia em sade deve estar cotidianamente inserida em todos os
nveis de ateno da sade. A partir de suas especcas ferramentas as
equipes de sade da ateno primria podem desenvolver habilidades
de programao e planejamento, de maneira a organizar os servios
com aes programadas de ateno sade das pessoas, aumentan-
do-se o acesso da populao a diferentes atividades e aes de sade.
17
Como buscamos a integralidade da vigilncia com
a ateno sade?
A Vigilncia em Sade, visando a integralidade do cuidado, deve
inserir-se na construo das redes de ateno sade, coordenadas
pela Ateno Primria Sade.
A integrao entre a Vigilncia em Sade e a Ateno Primria
Sade condio obrigatria para a construo da integralidade na
ateno e para o alcance dos resultados, com desenvolvimento de um
processo de trabalho condizente com a realidade local, que preserve
as especicidades dos setores e compartilhe suas tecnologias, tendo
por diretrizes:
I compatibilizao dos territrios de atuao das equipes, com a
gradativa insero das aes de vigilncia em sade nas prticas
das equipes da Sade da Famlia;
II planejamento e programao integrados das aes individuais e
coletivas;
III monitoramento e avaliao integrada;
IV reestruturao dos processos de trabalho com a utilizao de
dispositivos e metodologias que favoream a integrao da vigi-
lncia, preveno, proteo, promoo e ateno sade, tais
como linhas de cuidado, clinica ampliada, apoio matricial, projetos
teraputicos e protocolos, entre outros;
V educao permanente dos prossionais de sade, com abordagem
integrada nos eixos da clnica, vigilncia, promoo e gesto.
As aes de Vigilncia em Sade, incluindo-se a promoo da sade,
devem estar inseridas no cotidiano das equipes de Ateno Primria
Sade da Famlia, com atribuies e responsabilidades denidas
em territrio nico de atuao, integrando os processos de trabalho,
planejamento, monitoramento e avaliao dessas aes.
18
Como fortalecer as aes de vigilncia em sade
junto s equipes de sade da famlia?
Uma das estratgias indutoras a incorporao do agente de com-
bate s endemias (ACE), ou dos agentes que desempenham essas
atividades, mas com outras denominaes, na ateno primria junto
s equipes de sade da famlia, sendo agregadas aes como controle
ambiental, endemias, zoonoses e controle de riscos e danos sade.
A incorporao do ACE nas equipes de sade da famlia pressupe a
reorganizao dos processos de trabalho, com integrao das bases
territoriais dos agentes comunitrios de sade e do agente de com-
bate s endemias, com denio de papis e responsabilidades, e a
superviso dos ACE pelos prossionais de nvel superior da equipe de
sade da famlia.
A Portaria n 1.007/GM/MS, de 4 de maio de 2010, dene critrios
para regulamentar a incorporao do Agente de Combate s En-
demias ACE ou dos agentes que desempenham essas atividades,
mas com outras denominaes, na ateno primria sade para
fortalecer as aes de vigilncia em sade junto s equipes de Sade
da Famlia.
Como ser realizada a formao do nvel mdio
de vigilncia em sade e dos agentes de combate
s endemias?
A ordenao da educao prossional tcnica de nvel mdio para a
rea de vigilncia em sade ser ofertada no segundo semestre de
2010 aos prossionais de sade, atravs das Escolas Tcnicas de Sade
ETSUS, com cursos de no mnimo 1.200 horas/aula, com itinerrio
formativo para prossionais que trabalham na rea da vigilncia em
sade e que tenham educao formal de nvel mdio completo.
Para os prossionais com educao de nvel elementar as ETSUS de-
vem ofertar, a partir do segundo semestre de 2010, cursos para agen-
tes de vigilncia em sade, com uma carga horria de 400 horas/aula.
19
O mapeamento das competncias do pessoal de nvel mdio em
vigilncia em sade atende s atividades que o profissional deve
desempenhar em seu territrio, com eixos estruturantes como orga-
nizao e gesto do processo de trabalho em vigilncia em sade,
no mbito da ateno bsica; execuo de aes e procedimentos
tcnico-operacionais; e educao e comunicao.
Quais so as aes de cada componente
da vigilncia em sade?
A vigilncia epidemiolgica um conjunto de aes que propor-
ciona o conhecimento, a deteco ou preveno de qualquer mudan-
a nos fatores determinantes e condicionantes da sade individual ou
coletiva, com a nalidade de se recomendar e adotar as medidas de
preveno e controle das doenas ou agravos.
Seu propsito fornecer orientao tcnica permanente para os que
tm a responsabilidade de decidir sobre a execuo de aes de con-
trole de doenas e agravos.
Tem como funes, dentre outras: coleta e processamento de dados;
anlise e interpretao dos dados processados; divulgao das infor-
maes; investigao epidemiolgica de casos e surtos; anlise dos
resultados obtidos; e recomendaes e promoo das medidas de
controle indicadas.
A vigilncia da situao de sade desenvolve aes de monitora-
mento contnuo do pas/estado/regio/municpio/territrio, por meio
de estudos e anlises que revelem o comportamento dos principais
indicadores de sade, priorizando questes relevantes e contribuindo
para um planejamento de sade mais abrangente.
A vigilncia em sade ambiental visa ao conhecimento e detec-
o ou preveno de qualquer mudana nos fatores determinantes
e condicionantes do ambiente que interferiram na sade humana;
recomendar e adotar medidas de preveno e controle dos fatores de
risco, relacionados s doenas e outros agravos sade, prioritaria-
mente a vigilncia da qualidade da gua para consumo humano, ar
20
e solo; desastres de origem natural, substncias qumicas, acidentes
com produtos perigosos, fatores fsicos, e ambiente de trabalho.
A vigilncia em sade do trabalhador caracteriza-se por ser um
conjunto de atividades destinadas promoo e proteo, recupera-
o e reabilitao da sade dos trabalhadores submetidos aos riscos
e agravos advindos das condies de trabalho.
A vigilncia sanitria entendida como um conjunto de aes ca-
pazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos sade e de intervir nos
problemas sanitrios decorrentes do meio ambiente, na produo e
circulao de bens e na prestao de servios de interesse da sade.
Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente,
se relacionem com a sade, compreendidas todas as etapas e proces-
sos, da produo ao consumo; e o controle da prestao de servios
que, direta ou indiretamente, se relacionam com a sade.
Outro aspecto fundamental da vigilncia em sade o cuidado in-
tegral com a sade das pessoas por meio da promoo da sade.
Essa poltica objetiva a promover a qualidade de vida, empoderando
a populao para reduzir a vulnerabilidade e os riscos sade rela-
cionados aos seus determinantes e condicionantes modos de viver,
condies de trabalho, habitao, ambiente, educao, lazer, cultura
e acesso a bens e servios essenciais.
As aes especcas so voltadas para: alimentao saudvel, prtica
corporal/atividade fsica, preveno e controle do tabagismo, redu-
o da morbimortalidade em decorrncia do uso de lcool e outras
drogas, reduo da morbimortalidade por acidentes de trnsito, pre-
veno da violncia e estmulo cultura da paz, alm da promoo
do desenvolvimento sustentvel.
21
Como o SUS se organiza para enfrentar
as emergncias em sade pblica?
Para o enfrentamento das emergncias em sade pblica nas dife-
rentes esferas de gesto, o sistema de sade conta com uma rede
integrada de unidades de alerta e resposta, denominada Rede de
Alerta e Resposta s Emergncias em Sade Pblica (Rede Cievs), e
tem como objetivo a deteco das emergncias, a avaliao contnua
de problemas que possam constituir emergncias de sade publica
e o gerenciamento, coordenao e apoio s respostas desenvolvidas
nas situaes de emergncia.
O Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria, dentro do seu campo de
competncia, detecta emergncias em sade pblica e dene aes
de interveno, por intermdio de:
I Rede de Comunicao em Visa (RCvisa), que notica surtos rela-
cionados a alimentos;
II Farmcias Noticadoras, que comunicam eventos adversos e
queixas tcnicas em relao ao consumo de medicamentos;
III Hospitais-sentinela, que comunicam eventos adversos e queixas
tcnicas relacionados a produtos e equipamentos de sade;
IV Notivisa, que notica eventos adversos e queixas tcnicas rela-
cionados com os produtos sob vigilncia sanitria, quais sejam:
a) medicamentos, vacinas e imunoglobulinas;
b) artigos mdico-hospitalares;
c) equipamento mdico-hospitalar;
d) sangue e componentes;
e) agrotxicos;
V Centro de Informaes Toxicolgicas, que notica intoxicaes e
envenenamentos;
VI postos da Anvisa em portos, aeroportos e fronteiras, que noticam
eventos relacionados a viajantes, meios de transporte e produtos;
VII Rede Nacional de Investigao de Surtos em Servios de Sade
(RENISS), com estrutura tcnico operacional para investigar e
interrompersurtos em servios de sade.
22
A vigilncia em sade
e o planejamento
A vigilncia em sade detm conhecimentos e metodologias que
auxiliam a gesto para o conhecimento da realidade, identicao
de problemas, estabelecimento de prioridades de atuao e melhor
utilizao dos recursos em busca de resultados efetivos, fundamentais
para a elaborao do planejamento.
A anlise da situao de sade permite a identicao, descrio,
priorizao e explicao dos problemas de sade da populao, por
intermdio da:
caracterizao da populao: variveis demogrcas (nmero de
habitantes com distribuio por sexo, idade, local de residncia, u-
xos de migrao, etc.); variveis socioeconmicas (renda, insero
no mercado de trabalho, ocupao, condies de vida, etc.); vari-
veis culturais (grau de instruo, hbitos, comportamentos, etc.);
caracterizao das condies de vida: ambientais (abastecimento de
gua, coleta de lixo e dejetos, esgotamento sanitrio, condies de
habitao, acesso a transporte, segurana e lazer); caractersticas dos
sujeitos (nvel educacional, insero no mercado de trabalho, tipo de
ocupao, nvel de renda, formas de organizao social, religiosa e
poltica);
caracterizao do perl epidemiolgico: indicadores de morbidade;
indicadores de mortalidade;
descrio dos problemas: O qu? (problema); Quando? (atual ou
potencial); Onde? (territorializao); Quem? (que indivduos ou
grupos sociais).
Recomenda-se, para anlise da situao de sade, utilizar os
sistemas de informao disponveis, indicadores de sade, fontes
diversas de dados, processamento estatstico, construo de s-
ries temporais, desagregao por grupos e distribuio territorial,
considerando valores e culturas locais.
23
Planejamento e programao
em sade
Planejamento um processo contnuo e dinmico que consiste em um
conjunto de aes intencionais, integradas, coordenadas e orientadas
para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a
tomada de decises antecipadamente. Essas aes devem ser identi-
cadas de modo a permitir que sejam executadas de forma adequada
e considerando aspectos como prazo, custos, qualidade, segurana,
desempenho e outros condicionantes.
O Sistema de Planejamento do Sistema nico de Sade pressupe
a atuao contnua, articulada, integrada e solidria das reas de
planejamento das trs esferas de gesto do SUS. Dene elementos e
caractersticas que visam a dotar os gestores de forma oportuna, e
segundo as especicidades de cada esfera de direo do planeja-
mento de que necessitam para a oferta de aes e servios capazes de
promover, proteger e recuperar a sade da populao. Tal forma de
atuao deve possibilitar a consolidao da cultura de planejamento
de forma transversal s demais aes desenvolvidas no SUS.
Que diretrizes norteiam o planejamento?
Deve ser desenvolvido de forma ascendente, articulada, integrada e
solidria entre as esferas de gesto. Cada esfera deve realizar o seu
prprio planejamento, fortalecendo os objetivos e diretrizes do SUS,
contemplando as necessidades e realidades de sade locais e regio-
nais. Alm disso, deve buscar o monitoramento e avaliao do SUS,
bem como promover a participao social e a integrao intra e inter-
setorial, considerando-se os determinantes e condicionantes de sade.
24
Quais so os instrumentos do planejamento?
O processo de planejamento do SUS pautado pela anlise da situa-
o de sade na identicao das condies; dos determinantes e dos
condicionantes de sade da populao; dos riscos sanitrios na orga-
nizao de servios e na gesto em sade; e estabelece as condies
para a integrao entre vigilncia, promoo e assistncia.
O Plano de Sade (PS) apresenta as intenes e os resultados a serem
perseguidos no perodo de quatro anos, expressos em objetivos, diretri-
zes e metas. a denio das polticas de sade em determinada esfera
de gesto. a base para a execuo, acompanhamento, avaliao e ges-
to do sistema de sade. Deve ser feito de forma participativa, tomando
como subsdio privilegiado as proposies das Conferncias de Sade.
A Programao Anual de Sade (PAS) operacionaliza as intenes
expressas no Plano de Sade. Detalha as aes, metas e recursos
nanceiros para o PAS e apresenta os indicadores para avaliao (a
partir dos objetivos, diretrizes e metas do plano de sade). Contm
de forma sistematizada, agregada e segundo a sua estrutura bsica
as programaes das reas especcas.
O Relatrio Anual de Gesto (RAG) expressa os resultados alcanados,
apurados com base no conjunto de indicadores denidos na progra-
mao para acompanhar o cumprimento das metas xadas.
A regionalizao uma diretriz do SUS e um eixo estruturante do
Pacto de Gesto, devendo orientar a descentralizao das aes e
servios de sade e os processos de negociao e pactuao entre os
gestores, discutidos nos colegiados de gesto regionais.
Os principais instrumentos de planejamento da regionalizao so: o
Plano Diretor de Regionalizao (PDR), o Plano Diretor de Investimento
(PDI), a Programao Pactuada e Integrada (PPI) da ateno sade,
e a Programao das Aes de Vigilncia em Sade (PAVS).
O PDR, articulado com a Programao Pactuada Integrada, deve ex-
pressar o desenho nal do processo de identicao e reconhecimen-
to das regies de sade, em suas diferentes formas, em cada estado
e no Distrito Federal.
25
O PDI deve expressar os recursos de investimentos para atender s
necessidades pactuadas no processo de planejamento regional e esta-
dual. Deve tambm contemplar as necessidades da rea da vigilncia
em sade e ser desenvolvido de forma articulada com o processo da
PPI e do PDR.
A PPI um processo que visa a denir a programao das aes de
sade relacionadas assistncia, em cada territrio, bem como norte-
ar a alocao dos recursos nanceiros a partir de critrios e parmetros
pactuados entre os gestores.
Todos os entes federados devem formular/inserir seu plano de
sade no Plano Plurianual (PPA) e elaborar relatrio de gesto
anual, a serem apresentados e submetidos aprovao do con-
selho de sade correspondente.
Como ocorre a programao das aes
de vigilncia em sade?
A Programao das Aes de Vigilncia em Sade (PAVS) um con-
junto de aes que devem subsidiar a programao das SES e SMS
para o alcance das metas do Pacto pela Sade e demais prioridades
de relevncia para o Sistema Nacional de Vigilncia em Sade, eleitas
pelas esferas federal, estadual e municipais. Deve, portanto, compor
a Programao Anual de Sade, respeitando-se a premissa do plane-
jamento ascendente e permitindo exibilidade na denio de aes
e parmetros nos espaos locorregionais.
Em relao s aes do Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria, de-
vem ser elaboradas com base no Elenco Norteador de VISA e assim
como a PAVS, devem compor a Programao Anual de Sade. O
Elenco Norteador foi construdo a partir das diretrizes do PDVISA,
aprovadas por meio da Portaria n 1.052/GM/MS, de 8 de maio de
2007, e do Pacto pela Sade, regulamentado pela Portaria n 399/
GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006.
26
Para a construo da integralidade em sade exige-se que a progra-
mao das aes de VS ocorra de forma articulada com outras reas
da ateno sade, particularmente a Ateno Primria.
As secretarias de sade, com base nos parmetros denidos na PAVS,
elaboram a programao de suas aes, podendo acrescentar algu-
mas de interesse sanitrio municipal ou estadual.
A Secretaria de Vigilncia em Sade, do Ministrio da Sade (SVS/
MS), realiza o monitoramento das aes da PAVS junto s secretarias
estaduais de sade, as quais monitoram seus respectivos municpios.
A SVS/MS, em conjunto com as secretarias estaduais de sade, tam-
bm pode realizar este monitoramento junto s secretarias municipais
de sade.
Assim como a SVS/MS, a Anvisa/MS desenvolve mecanismos de acom-
panhamento da descentralizao das aes de vigilncia sanitria,
atendendo sua atribuio regimental, regulamentada na Portaria
n 354/GM/MS, de 11 de agosto de 2006.
Os gestores municipais, estaduais e federal devem realizar avalia-
es anuais da execuo da PAVS e das aes de vigilncia sanitria,
incluindo-as em seu Relatrio de Gesto Anual.
27
Sistema Nacional de Vigilncia
em Sade e Sistema Nacional
de Vigilncia Sanitria
O Sistema Nacional de Vigilncia em Sade (SNVS) coordenado pela
SVS/MS no mbito nacional e integrado pelos seguintes subsiste-
mas: i) subsistema nacional de vigilncia epidemiolgica, de doenas
transmissveis e de agravos e doenas no transmissveis; ii) e subsis-
tema nacional de vigilncia em sade ambiental, incluindo ambiente
de trabalho.
Alm disso, so integrantes do SNVS o Sistema Nacional de Laborat-
rios de Sade Pblica, nos aspectos pertinentes vigilncia epidemio-
lgica e sade ambiental; os sistemas de informaes de vigilncia em
sade; programas de preveno e controle de doenas de relevncia
em sade pblica, incluindo o Programa Nacional de Imunizaes, e
ainda a Poltica Nacional de Sade do Trabalhador e Poltica Nacional
de Promoo da Sade.
O Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria coordenado pela Anvisa
no mbito nacional e integrado pela Anvisa, Vigilncias Sanitrias
Estaduais, Vigilncias Sanitrias Municipais, Sistema Nacional de Labo-
ratrios de Sade Pblica, no aspecto pertinente vigilncia sanitria;
e sistemas de informao de vigilncia sanitria.
28
Quais so as responsabilidades
dos entes federativos dos
sistemas de vigilncia?
Em relao ao Sistema Nacional de Vigilncia
em Sade
A Portaria n 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, regula-
menta as diretrizes para a execuo e nanciamento das aes de
Vigilncia em Sade pela Unio, estados, municpios e Distrito Federal
na rea de vigilncia em sade e vigilncia sanitria.
Em relao ao Sistema Nacional de
Vigilncia Sanitria
A Lei Federal n 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece, den-
tre outras, as competncias das trs esferas de governo em relao
s aes de vigilncia sanitria. Alm da citada Lei, tem-se a Portaria
n 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, mencionada acima.
29
Como compartilhar a gesto
da vigilncia em sade entre
os municpios e o estado?
A Portaria n 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, e os termos de
compromisso de gesto estabelecem que os municpios assumam a
responsabilidade pela gesto e execuo das aes bsicas no com-
partilhadas de vigilncia em sade e que as atividades compartilha-
das devem ser pactuadas entre os municpios e o Estado na Comisso
Intergestores Bipartite, considerando-se o desenho de regionalizao,
a rede de servios e as tecnologias disponveis e o desenvolvimento
racionalizado de aes mais complexas.
Caracterizao de uma regio de sade
Delimitada espacialmente de acordo com critrios previamente pac-
tuados, inclui a anlise das necessidades da populao por aes de
sade, recursos existentes e capacidade instalada de servios respon-
sveis por elas.
Caractersticas ligadas ao grau e forma de urbanizao; diferenciais
socioeconmicos e culturais, bem como ambientais, entre outras,
interferem no risco de ocorrncia de vrias doenas ou agravos.
Exemplo disso a relao observada entre a ocorrncia de dengue e o
grau de urbanizao: reas com alta densidade demogrca, regies
conurbadas costumam apresentar maior incidncia da doena. Em
consequncia, as aes a serem desenvolvidas com vistas a seu con-
trole necessariamente ultrapassam os limites dos municpios, devendo
ser planejadas regionalmente e executadas de maneira articulada.
30
Servios que devem ser disponibilizados
em escala regional
Laboratrios de sade pblica, cmaras frias para armazenamento
de imunobiolgicos, centros de referncia para imunobiolgicos es-
peciais, centrais de armazenamento e distribuio de equipamentos,
centrais de armazenamento de inseticidas, servios de vericao de
bitos, servios de sade com capacidade de realizao de proce-
dimentos de alta e mdia complexidade, e outros que vierem a ser
denidos.
Levantamento de prossionais e da
infraestrutura existentes
Considerando-se a complexidade das aes a serem desenvolvidas
na regio, fundamental para o planejamento a anlise da situao
existente e da necessidade de prossionais, por tipo e grau de forma-
o, bem como da infraestrutura (espao fsico, equipamentos, etc.).
Cada sistema local/regional de sade dever, por intermdio
do colegiado de gesto, discutir estratgias integradas com as
diversas reas para o enfrentamento de situaes que exijam o
compartilhamento da gesto.
31
Financiamento do Sistema
nico de Sade
Quais so os seus pressupostos?
Responsabilidade das trs esferas de gesto: Unio, estados e mu-
nicpios;
Reduo das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais,
a serem contempladas na metodologia de alocao de recursos,
considerando-se as dimenses tnico-racial e social;
Repasse fundo-a-fundo, denido como modalidade preferencial de
transferncia de recursos entre os gestores;
Financiamento de custeio com recursos federais constitudos, orga-
nizados e transferidos em blocos de recursos o uso dos recursos
ca restrito a cada bloco, atendendo-se s especicidades neles
previstas, conforme regulamentao especca.
Nota: As bases de clculo pertinentes a cada bloco e os montantes nan-
ceiros destinados para os estados, municpios e Distrito Federal devem
compor memrias de clculo, para ns de histrico e monitoramento.
Quais so os blocos de nanciamento
e seus componentes?
Ateno bsica. Componentes: piso da ateno bsica xo; piso da
ateno bsica varivel;
Ateno de mdia e alta complexidades. Componentes: limite -
nanceiro da mdia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar;
fundo de aes estratgicas e compensao;
Vigilncia em sade. Componentes: vigilncia e promoo da sa-
de; vigilncia sanitria;
32
Assistncia farmacutica. Componentes: bsico da assistncia far-
macutica; estratgico da assistncia farmacutica; medicamentos
de dispensao excepcional;
Gesto do SUS. Componentes: qualificao da gesto do SUS;
implantao de aes e servios de sade.
Investimentos na rede de servios de sade: composto por recursos
nanceiros a serem transferidos, mediante repasse regular e autom-
tico, do Fundo Nacional de Sade para os fundos de sade estaduais,
municipais e do Distrito Federal, exclusivamente para a realizao de
despesas de capital, mediante apresentao do projeto, encaminha-
do pelo ente federativo interessado, ao Ministrio da Sade.
33
Como gerenciar os recursos
nanceiros do Bloco da
Vigilncia em Sade?
Os recursos nanceiros federais representam parte do nanciamento
tripartite, destinado ao desenvolvimento das aes de vigilncia em
sade, denidas como responsabilidade de cada esfera de governo.
O que limite nanceiro da vigilncia em sade?
Os recursos nanceiros correspondentes s aes de vigilncia em sa-
de compem o limite nanceiro da vigilncia em sade nos estados,
municpios e Distrito Federal, e representam o agrupamento das aes
das vigilncias, epidemiolgica, ambiental, e sanitria; e tambm as
aes de promoo da sade.
Quais so os componentes do limite nanceiro
da vigilncia em sade?
Os recursos federais transferidos para estados, Distrito Federal e
municpios para nanciamento das aes de Vigilncia em Sade
esto organizados no Bloco Financeiro de Vigilncia em Sade, e so
constitudos por:
I Componente de Vigilncia e Promoo da Sade; e
II Componente da Vigilncia Sanitria.
34
Quais so os pisos nanceiros dos componentes
do Bloco da Vigilncia em Sade?
So constitudos do Piso Fixo de Vigilncia e Promoo da Sade
(PFVPS) e Piso Varivel de Vigilncia e Promoo da Sade (PVVPS); e
Piso Fixo de Vigilncia Sanitria (PFVisa) e Piso Varivel de Vigilncia
Sanitria (PVVisa).
Os recursos do Bloco de Vigilncia em Sade sero repassados de for-
ma regular e automtica do Fundo Nacional de Sade para os Fundos
Estaduais e Municipais de Sade, em trs parcelas anuais, nos meses
de janeiro, maio e setembro, em conta especca.
Como constitudo o piso nanceiro do
Componente de Vigilncia e Promoo da Sade?
O Componente de Vigilncia e Promoo da Sade refere-se aos
recursos federais destinados s aes de vigilncia, promoo, pre-
veno e controle de doenas, e constitudo por:
a) Piso Fixo de Vigilncia e Promoo da Sade (PFVPS)
O PFVPS compe-se de um valor per capita estabelecido com base
na estraticao da unidades federadas, populao e rea territorial.
Foi mantida a metodologia de estraticao, tomando-se por base as
caractersticas epidemiolgicas, populacionais e territoriais de cada
estado, considerando-se, tambm as diculdades regionais para exe-
cuo das aes.
As unidades federativas so estraticadas nos seguintes termos:
I Estrato I: Acre, Amazonas, Amap, Par, Rondnia, Roraima, To-
cantins e municpios pertencentes Amaznia Legal dos estados
do Maranho (1) e Mato Grosso (1);
II Estrato II: Alagoas, Bahia, Cear, Esprito Santo, Gois, Maranho
(2), Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (2), Paraba,
Pernambuco, Piau, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe;
35
III Estrato III: So Paulo, Paran;
IV Estrato IV: Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
b) Piso Varivel de Promoo e Vigilncia em Sade (PVVPS)
O PVVPS constitudo por incentivos especcos, por adeso ou indi-
cao epidemiolgica, conforme normatizao especca. So eles:
I Ncleos Hospitalares de Epidemiologia NHE;
II Servio de Vericao de bito SVO;
III Sistemas de Registro de Cncer de Base Populacional RCBP
IV Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV/AIDS;
V Frmula infantil s crianas verticalmente expostas ao HIV;
VI Incentivo no mbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras
DST;
VII Promoo da sade;
VIII Outros que venham a ser institudos.
Como constitudo o piso nanceiro
do Componente de Vigilncia Sanitria?
O componente de vigilncia sanitria refere-se aos recursos federais
destinados s aes de vigilncia sanitria, segundo modalidades e
critrios denidos em normatizao especca, constitudo por:
a) Piso Fixo de Vigilncia Sanitria (PFVisa)
composto pelo piso estruturante e pelo piso estratgico, acrescido
dos valores referentes ao Finlacen-Visa;
O piso estruturante calculado com base no valor per capita. O re-
passe desse piso no requer pactuao na Comisso Intergestores
Bipartite (CIB). J o piso estratgico, calculado tambm pelo valor per
capita, depende de pactuao, segundo critrios acordados na CIB.
Ressalte-se que os atos de homologao de novas pactuaes do piso
estratgico no mbito das Comisses Intergestores Bipartite, relativas
36
s aes de vigilncia sanitria, tero como data limite o ms de julho
de cada exerccio nanceiro.
Em relao ao Finlacen-Visa, este ser institudo em normatizao
especca para os municpios que dispem de estrutura operacional
para realizar aes laboratoriais de Visa.
b) Piso Varivel de Vigilncia Sanitria (PVVisa)
constitudo por incentivos especficos, por adeso ou indicao
epidemiolgica, conforme normatizao especca.
gesto de pessoas em Vigilncia Sanitria para poltica de educao
permanente;
outros que venham a ser institudos.
Mecanismo de pactuao das aes
de vigilncia sanitria
A pactuao das aes de vigilncia sanitria para recebimento do
piso estratgico, que compe o PFVisa, realizada atravs da homo-
logao na CIB das aes de Visa constantes da Programao Anual
de Sade, aps aprovao no respectivo Conselho de Sade.
A Portaria n 1.106/GM/MS, de 12 de maio de 2010, atualiza a regula-
mentao das transferncias de recursos nanceiros federais do Com-
ponente de Vigilncia Sanitria do Bloco de Financiamento de Vigilncia
em Sade, destinados execuo das aes de Vigilncia Sanitria.
As aes de vigilncia sanitria, nos termos da legislao em vigor,
sero orientadas pelo Elenco Norteador, de acordo com as necessi-
dades e a realidade locorregional dos estados, do Distrito Federal e
dos municpios.
O Elenco Norteador constitudo por dois grupos de aes, descritos
a seguir:
37
Grupo I. Aes para estruturao e fortalecimento da gesto
rea de
estruturao
Parmetros
1. Estrutura
legal
Prossional ou equipe de Visa investida na funo por ato legal.
Instrumento legal de criao da Visa, com denio de atribuies
e competncias.
Incluso na estrutura organizacional da respectiva Secretaria de
Sade.
Cdigo Sanitrio ou instrumento que viabilize a utilizao de
legislao estadual e/ou federal.
2. Estrutura f-
sica e recursos
materiais
Espao fsico para o desenvolvimento das atividades.
Canais de comunicao: telefone/fax/internet.
Equipamentos especcos para scalizao, meio de transporte e
impressos (termos legais).
3. Estrutura
administrativa
e operacional
Cadastro de estabelecimentos sujeitos vigilncia sanitria.
Sistemas de informao de interesse do SNVS.
Normas para padronizao de procedimentos administrativos e
scais.
4. Gesto
de pessoas
Prossional ou equipe de Visa para o desenvolvimento das ati-
vidades.
Educao permanente.
5. Fortale-
cimento da
Gesto
Participao em instncias de discusso, negociao e pactuao
(CIB, Colegiado de Gesto Regional e Cmaras Tcnicas).
Participao nos fruns e canais de gesto participativa e controle
social.
Monitoramento e avaliao das aes de Visa denidas no Plano
de Sade, nas Programaes Anuais de Sade e nos Relatrios
Anuais de Gesto.
Participao no processo de descentralizao e de regionalizao.
Planejamento integrado no mbito da Vigilncia em Sade e da
Ateno Primria Sade.
Participao no nanciamento das aes.
38
Grupo II. Aes estratgicas para o gerenciamento
do risco sanitrio
rea de interveno Parmetros
1. Produtos, servios
de sade e de interesse
sade e ambientes
Inspeo sanitria.
Coleta de amostra para anlise.
Noticao, investigao e comunicao de risco.
Anlise sanitria de projetos arquitetnicos
Aes integradas de preveno e controle de infec-
es relacionadas assistncia sade
2. Educao e comunicao
em sade para a sociedade
Aes intersetoriais de educao em sade.
Atendimento denncia/reclamao.
Atividade educativa para profissionais do setor
regulado.
3. Aes integrais de sade
Aes de noticao, investigao e inspeo con-
juntas com a Vigilncia Epidemiolgica, Ambiental,
Sade do Trabalhador e Assistncia.
Colaborao com a Unio nas aes em portos,
aeroportos e fronteiras.
Incorporao das aes de Visa, em conjunto com
a Ateno Primria Sade, no cotidiano das co-
munidades.
4. Aes intersetoriais
Aes de interveno no risco sanitrio em parceria
com Agricultura, Saneamento, Educao, Meio
Ambiente, Cincia e Tecnologia, etc.
5. Aes laboratoriais
de Visa
Monitoramento de produtos.
Sistema de Gesto da Qualidade dos Laboratrios.
Esse conjunto de responsabilidades e compromissos da vigilncia
sanitria, pactuadas na CIB, deve compor a Programao Anual de
Sade aprovada no respectivo conselho de sade.
Para denio da responsabilidade sanitria de cada gestor so prio-
ritrias a delimitao de seu universo de atuao e a quanticao
39
dos estabelecimentos em funcionamento no territrio, bem como as
atribuies da vigilncia sanitria para interveno nos problemas de
sade da populao.
Como utilizar os recursos do Bloco da Vigilncia
em Sade?
Esses recursos, repassados do Fundo Nacional de Sade para os fun-
dos estaduais e municipais de sade, destinam-se a nanciar aes
de vigilncia em sade, podendo ser utilizados tanto para custeio
como para investimentos, desde que observados os impedimentos e
adequaes s legislaes federal, estaduais e municipais.
Os recursos nanceiros devem ser mantidos em conta apropriada e
aplicados em caderneta de poupana, caso no sejam imediatamente
utilizados para a nalidade a que se destinam e cuja previso de uso
ocorra em perodo igual ou superior a um ms.
Se a previso de utilizao do recurso for inferior a um ms, este deve
ser aplicado em fundo de aplicao nanceira de curto prazo ou em
operaes de mercado aberto lastreadas em ttulos da dvida pblica
federal, como determina o art. 20 da Instruo Normativa STN n
1/1997.
recomendvel que cada secretaria estadual ou municipal de
sade procure compatibilizar a utilizao dos recursos dos pisos
nanceiros do Bloco de Vigilncia em Sade com a elaborao
dos oramentos anuais
1
, baseado no respectivo plano estadual
e/ou municipal de sade.
1. O oramento pblico o instrumento legal que prev as receitas e xa as despesas de cada
ente federativo (Unio, estados, municpios e Distrito Federal). Fundamenta-se nos artigos 165
a 169 da Constituio Federal; na Lei n 4.320, de 17 de maro de 1964, que institui normas
para a elaborao e controle do oramento e demonstraes nanceiras; e na Lei Complemen-
tar n 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas para a responsabilidade na gesto.
40
Como utilizar os recursos previstos nos pisos
nanceiros do Componente de Vigilncia em Sade?
Exemplos de como gastar os recursos
Observado o princpio bsico de destinao especca, para as aes de
Vigilncia em Sade podero ser previstos, nos limites dos pisos nancei-
ros do componente de VS, recursos destinados, entre outros gastos, a:
Despesas de custeio
a) Recursos humanos
contratao de recursos humanos para desenvolver atividades na
rea de controle de doenas;
graticaes para recursos humanos que estejam desenvolvendo
atividades na rea da vigilncia em sade;
capacitaes especcas com contedo da vigilncia em sade para
todos os prossionais, inclusive os que desenvolvem atividades na
rede assistencial;
participao em seminrios, congressos de sade coletiva, epide-
miologia, medicina tropical e outros em que sejam apresentados e
discutidos temas relacionados vigilncia em sade;
dirias para deslocamento de servidores de atividades inerentes
vigilncia em sade, bem como para participao em eventos
ligados rea.
b) Servios de terceiros
pagamento de provedor de internet para viabilizar o envio de ban-
cos de dados secretaria estadual de sade, alm de pesquisa e
troca de informaes tcnicas;
confeco e reproduo de material informativo, educativo (fol-
deres, cartazes, cartilhas, faixas, banners, etc.) e tcnico (manuais,
guias de vigilncia epidemiolgica);
41
manuteno de veculos e equipamentos utilizados nas aes da
vigilncia em sade;
pagamento de estadia, alimentao e locais para a realizao de
capacitaes, eventos e atividades da vigilncia em sade;
pagamento de assessorias, consultorias e horas-aula em aes de
interesse da vigilncia em sade;
aluguel de imveis para atividades prprias da vigilncia em sade.
c) Material de consumo
peas, combustveis (leo diesel, gasolina, lcool) e lubricantes
para manuteno de veculos;
isopor, termmetro, bobinas de gelo reciclvel e outros insumos
para rede de frio, conservao de imunobiolgicos e amostras de
laboratrio;
materiais, peas e outros insumos para atividades de laboratrio
de sade pblica;
compra de equipamentos de proteo individual (EPI) para ativi-
dades de controle de vetores (competncias denidas na Portaria
n 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009);
reposio de peas para equipamentos de asperso;
lminas, lamnulas, estiletes e papel ltro;
material de escritrio.
Despesas de capital
a) Equipamentos/material permanente
veculos e utilitrios, desde que tenham uso exclusivamente desti-
nados ao apoio execuo das aes de vigilncia em sade;
equipamentos e mobilirios necessrios para estruturar a vigilncia
em sade municipal e/ou estadual, tais como computadores, fax,
aparelhos telefnicos, cmeras fotogrcas, retroprojetor, televiso,
vdeo, mquina para fotocpia, projetor de multimdia, etc.;
42
aquisio e/ou assinatura de livros, peridicos e publicaes na rea
da vigilncia em sade;
equipamentos para estruturar a rede de frio no municpio e/ou
estado;
equipamentos de asperso de inseticidas;
equipamentos para suporte laboratorial, como microscpios, cen-
trfugas, pipetas automticas, etc.
A que se destinam os recursos previstos no
piso nanceiro do Componente de Vigilncia
Sanitria?
Os recursos nanceiros destinam-se execuo das aes de vigilncia
sanitria, nos termos da legislao em vigor, orientadas pelo Elenco
Norteador (j mencionado anteriormente), de acordo com as neces-
sidades e a realidade locorregional dos estados, do Distrito Federal e
dos municpios, conforme detalhado a seguir:
Despesas de custeio
a) Recursos humanos
graticaes para recursos humanos que estejam desenvolvendo
atividades na rea da vigilncia em sade;
capacitaes especcas, com contedo da vigilncia em sade,
para todos os prossionais, inclusive os que desenvolvem atividades
na rede assistencial;
participao em seminrios e congressos de sade coletiva, em que
sejam apresentados e discutidos temas relacionados vigilncia
em sade;
dirias para deslocamento de servidores de atividades inerentes
vigilncia em sade, bem como para participao em eventos
ligados rea.
43
b) Servios de terceiros
pagamento de provedor de internet para viabilizar o envio de ban-
cos de dados secretaria estadual de sade, alm de pesquisa e
troca de informaes tcnicas;
confeco e reproduo de material informativo educativo (folde-
res, cartazes, cartilhas, faixas, banners, etc.) e tcnico (manuais,
termos legais, dentre outros);
manuteno de veculos e equipamentos utilizados nas aes da
vigilncia em sade;
pagamento de estadia, alimentao e locais para a realizao de
capacitaes, eventos e atividades da vigilncia em sade;
pagamento de assessorias, consultorias e horas-aula em aes de
interesse da vigilncia em sade;
aluguel de imveis para a realizao de atividades prprias da vigi-
lncia em sade.
c) Material de consumo
peas, combustveis (leo diesel, gasolina, lcool) e lubricantes
para manuteno de veculos;
equipamentos para inspeo sanitria;
materiais, peas e outros insumos para atividades de laboratrio
de sade pblica;
material de escritrio.
Despesas de capital
a) Equipamentos/material permanente
veculos e utilitrios de apoio execuo das aes de vigilncia
em sade;
equipamentos e mobilirios necessrios para estruturar a vigilncia
em sade municipal e/ou estadual, tais como computadores, fax,
44
aparelhos telefnicos, cmeras fotogrcas, retroprojetor, televiso,
vdeo, mquina para fotocpia, projetor de multimdia, etc.;
aquisio e/ou assinatura de livros, peridicos e publicaes na rea
da vigilncia em sade;
equipamentos para suporte laboratorial, como microscpios, cen-
trfugas, pipetas automticas, etc.
Impedimentos para a utilizao dos recursos
do Bloco de Vigilncia em Sade
Fica vedada, segundo a Portaria n 204/GM/MS, de 29 de janeiro de
2007, a utilizao dos recursos referentes aos blocos da Ateno Bsi-
ca, Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar,
Vigilncia em Sade e de Gesto do SUS para pagamento de:
I servidores inativos;
II servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente
para desempenhar funes relacionadas aos servios relativos ao
respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Sade;
III graticao de funo de cargos comissionados, exceto aqueles
diretamente ligados s funes relacionadas aos servios relativos
ao respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Sade;
IV pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores
pblicos pertencentes ao quadro do prprio municpio ou do
estado;
V obras de construes novas, exceto as que se referem a reformas
e adequaes de imveis j existentes, utilizados para a realizao
de aes e/ou servios de sade.
Fica vedada a aplicao de recursos do Bloco da Vigilncia em Sade
para:
atividades de assistncia mdica;
contratao de recursos humanos para desenvolver aes/ativida-
des de assistncia mdica.
45
Como so nanciadas as aes
de sade do trabalhador?
Os recursos para o nanciamento das aes de promoo, preven-
o, reabilitao e vigilncia em sade do trabalhador so oriundos
do Bloco de Ateno de Mdia e Alta Complexidade, que repassa
mensalmente R$ 40.000,00 para os Centros de Referncia em Sade
do Trabalhador (Cerest) estaduais e R$ 30.000,00 para os regionais
(custeio de todas e quaisquer aes). Esto previstos, quando da
implantao, recursos de R$ 50.000,00 em parcela nica, a todos os
centros habilitados (Bloco de Gesto do SUS).
Como o trabalhador est submetido a todas as circunstncias do cida-
do, a sade do trabalhador tambm nanciada pelos demais blocos.
Como so nanciadas as aes
de promoo da sade?
O nanciamento dessas aes est regulamentado nos instrumentos
integrantes dos blocos de nanciamento da vigilncia em sade, por
meio de incentivos que no tm carter permanente, no Piso Varivel
de Vigilncia e Promoo da Sade e da ateno bsica, por interm-
dio dos Ncleos de Apoio Sade da Famlia.
46
Bloqueio de repasse de recursos
do Bloco da Vigilncia em Sade
De acordo com a Portaria n 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de
2009, as transferncias fundo-a-fundo do Ministrio da Sade para
os estados, Distrito Federal e/ou municpios, do Bloco de Vigilncia
em Sade, sero suspensas nas seguintes circunstncias:
Componente de Vigilncia e Promoo da Sade para Estados e
Municpios dar-se- caso sejam constatados 2 (dois) meses conse-
cutivos sem preenchimento de um dos seguintes sistemas de infor-
maes: Sistema de Informao de Agravos de Noticao (Sinan),
de Sistema de Informaes de Nascidos Vivos (Sinasc) e Sistema de
Informaes sobre Mortalidade (SIM);
Componente da Vigilncia Sanitria para Estados e Municpios dar-
se- caso seja constatado o no cadastramento no CNES ou 2 (dois)
meses consecutivos sem preenchimento do SIA-SUS.
A regularizao do repasse dos recursos ocorrer no ms se-
guinte ao restabelecimento do preenchimento dos sistemas de
informao referentes aos meses que geraram a suspenso.
Captulo II:
Emergncias em Sade Pblica
48
49
Introduo
O fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema nico de
Sade frente s emergncias de sade pblica constitui-se em uma
das prioridades do Pacto pela Vida, reetindo a poltica do Ministrio
da Sade, em parceria com os gestores estaduais e municipais, de
aprimorar a infraestrutura do SUS e a organizao dos processos de
trabalho para a deteco e manejo dessas emergncias, no marco do
novo Regulamento Sanitrio Internacional (RSI), aprovado em 2005.
A Portaria n 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que aprovou
as diretrizes para a execuo e nanciamento das aes de Vigilncia
em Sade nas trs esferas de gesto, d um destaque especial a este
tema, denindo o papel da SVS, dos estados e municpios e da Agn-
cia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa) na resposta oportuna s
situaes de risco de disseminao de doenas e ocorrncia de outros
eventos tambm caracterizados como emergncias de sade pblica.
Este captulo contempla alguns aspectos que envolvem a aplicao
do RSI (2005), enfatizando-se as denies de Emergncia de Sade
Pblica de Importncia Nacional e Internacional e os sistemas de
controle e de resposta em portos, aeroportos e fronteiras terrestres.
Seu objetivo ampliar a divulgao das rotinas de noticao, verica-
o, avaliao, monitoramento e resposta aos eventos de importncia
nacional e internacional aos prossionais de sade que atuam nas trs
esferas do SUS. Tais aspectos so fundamentais para a implementao
ecaz do RSI (2005), visando ao fortalecimento da gesto nacional e
global de eventos de importncia de sade pblica.
No Brasil, a implantao da Rede Cievs uma das estratgias princi-
pais para fortalecer a capacidade de resposta s Emergncias em Sa-
de Pblica, estando contemplada na 3 Diretriz do Pacto pela Sade
Mais Sade. Esta Rede j est implantada em 24 estados e em 22
capitais brasileiras, devendo atingir 100% das unidades federadas e
das capitais at o nal do prximo ano.
50
Regulamento Sanitrio
Internacional (RSI 2005)
O que o Regulamento Sanitrio Internacional?
O Regulamento Sanitrio Internacional (RSI 2005) um instrumento
jurdico internacional, elaborado para ajudar a proteger os pases
contra a propagao internacional de doenas, incluindo-se os riscos
para sade pblica e as emergncias de sade pblica.
O RSI (2005) introduz o conceito de Emergncia de Sade
Pblica de Importncia Internacional (ESPII), que denido
como um risco de sade pblica com potencial de propagao
de doenas para outro pas, requerendo uma resposta interna-
cional coordenada.
Por sua vez, a SVS/MS passou a adotar a seguinte denio para ca-
racterizar situaes de emergncia nacional:
*Emergncia de Sade Pblica de Importncia Nacional:
Evento que apresente RISCO de propagao ou disseminao de
doenas para mais de uma unidade federada (estado ou Distrito
Federal) ou outros eventos de sade pblica (independente-
mente da natureza ou origem) que possa necessitar de resposta
nacional coordenada.
51
Qual o propsito do RSI (2005)?
Prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de sade pblica
contra a propagao internacional de doenas, direcionada especi-
camente aos riscos para a sade pblica, evitando-se interferncias
desnecessrias no trfego e no comrcio internacionais.
Quais so as razes que justicam a vigilncia
internacional em sade pblica?
Deteco oportuna, conteno e/ou controle de qualquer risco para
a sade pblica internacional.
Noticao dos eventos de importncia internacional Organizao
Mundial de Sade (OMS), facilitando a resposta de sade pblica
dos pases-membros, com o intercmbio de informaes de inte-
resse epidemiolgico.
Possibilitar a coordenao internacional, por meio da OMS, o que
favorece a assistncia por meio de instituies multilaterais, em
caso de eventos de sade pblica, minimizando-se os prejuzos ao
trfego e ao comrcio internacionais.
Qual a origem do RSI (2005)?
O RSI (2005) foi aprovado pela 58 Assemblia Geral da OMS, em
23 de maio de 2005, e entrou em vigor no dia 15 de junho de 2007.
Atualmente o documento est em uso em 194 pases-membros da
OMS. No Brasil o seu texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo
n 395, do Senado Federal, e promulgado em 9 de julho de 2009.
Segue abaixo um breve histrico dos fatos que culminaram na elabo-
rao do RSI e suas atualizaes:
52
Sculo XIX
Entre 1830 e 1847, as gestes diplomticas a respeito de doenas
infecciosas e a cooperao multilateral se intensicaram frente s
epidemias de clera que atingiu a Europa, dando incio primeira
Conferncia Sanitria Internacional em Paris, em 1851.
Em 1892 a Conferncia Sanitria Internacional, realizada em Ve-
neza, adaptou uma conveno sanitria internacional unicamente
sobre clera.
Em 1897 foi aprovada uma conveno sanitria internacional sobre
a peste.
Sculo XX
Em 1902, em Washington D.C., uma conferncia internacional criou
o Escritrio Sanitrio Internacional dos Estados Americanos, precursor
do Escritrio Panamericano e da atual Organizao Pan-Americana
de Sade.
Em 1907 os pases europeus criaram o Escritrio Internacional de
Higiene Pblica.
Em 1924, na cidade de Havana, Cuba, governos de 21 pases assina-
ram o Cdigo Sanitrio Pan-Americano.
Em 1948 foi criada a Organizao Mundial de Sade.
Em 1951 os pases-membros da OMS aprovaram primeiro Regulamen-
to Sanitrio Internacional.
Em 1969 a 22 Assemblia Mundial de Sade estabeleceu que fosse
noticada OMS a ocorrncia de casos de febre amarela, clera e
peste, bem como as reas onde ocorressem.
O Regulamento passou por pequenas revises em 1973 e 1981.
Sculo XXI
Em maio de 2005 foi aprovada a nova verso do RSI na 58 Assem-
blia Mundial da Sade, resultado de um processo intenso e sistem-
tico de discusso que durou cerca de dois anos.
53
O que o RSI (2005) incorpora no sistema
de sade internacional?
Regulamento Sanitrio
Internacional
1969
Medidas
pr-estabelecidas
Lista de doenas
para noticao
Controle em fronteiras
Regulamento Sanitrio
Internacional
2005
Resposta Coordenada:
acordada com OMS, o pas tem como
responsabilidade aplicar as recomen-
daes sobre as situaes especicas,
determinando sua noticao e controle
Noticao de todo risco de sade
pblica de importncia internacional
Controle do risco na fonte
Quem responsvel por promover o RSI?
Nvel internacional: A Organizao Mundial da Sade (OMS) coleta
informaes sobre os eventos, atravs das suas atividades de vigilncia, e
avalia seu potencial de disseminao internacional e possveis interfern-
cias no trfego internacional, disponibilizando, se necessrio, assistncia
complementar em situaes especcas e protocolos pr-estabelecidos.
Nvel nacional: Cada pas membro deve estabelecer um Ponto Focal
Nacional para o RSI (2005) e designar as autoridades responsveis pela
aplicao das medidas de sade previstas no presente Regulamento. O
ponto focal recebe o nome de Unidade Nacional de Alerta, Monitora-
mento e Operaes de Resposta em Sade AMR.
54
Qual o Ponto Focal Nacional do RSI (2005)
no Brasil?
Unidade Nacional de Alerta, Monitoramento
e Operaes de Resposta em Sade AMR
No Brasil, a AMR integra a estrutura do Centro de Informaes Estra-
tgicas e Resposta em Vigilncia em Sade (Cievs) do Departamento
de Vigilncia Epidemiolgica da Secretaria de Vigilncia em Sade/MS.
O AMR/Cievs amplia a capacidade de deteco e resposta a toda
emergncia de sade pblica de importncia nacional e internacio-
nal, integrando a Rede Mundial de Alerta e Resposta a Surtos (Global
Outbreak Alert and Response Network Goarn) da Organizao
Mundial de Sade.
Este Centro equipado com televisores de plasma, modernos com-
putadores e laptops, aparelho para videoconferncia, cmara de
55
segurana, quatro servidores de dados, telefones via satlites, tele-
fones com palmtop, placas de conexo via celular e outros recursos
tecnolgicos de ltima gerao. similar do Centro de Operaes
Estratgicas em Sade (Strategic Health Operation Center Shoc)
existente na sede da OMS em Genebra. Existem outros centros simi-
lares em funcionamento nos Estados Unidos, Canad, Mxico, Chile
e Sucia. O Brasil foi o terceiro pas das Amricas a estruturar o seu
centro de alerta e resposta.
Na AMR/Cievs so desenvolvidas as atividades relacionadas gesto
do RSI (2005) e da Rede Nacional de Alerta e Resposta s Emergncias
de Sade Pblica Rede Cievs.
Quais so as capacidades bsicas de sade
institudas pelo RSI para vigilncia e respostas
s emergncias?
Os pases-membros devem implementar e manter, at 2012, as se-
guintes capacidades bsicas: possuir uma legislao nacional sobre
vigilncia e resposta s emergncias de sade pblica; instituir uma
poltica e coordenao para essa ao; desenvolver sua capacidade
de vigilncia, monitoramento e resposta a emergncias; desenvolver
a comunicao de risco; fortalecer a rede de laboratrios; e capacitar
os recursos humanos para a vigilncia e resposta.
Como se aplica o RSI (2005) no Brasil?
A implementao do RSI (2005) no Brasil baseia-se na promoo de
parcerias globais para a troca de experincias e aprimoramento tcni-
co, e no fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilncia em Sade.
Destaca-se em particular a estruturao do Cievs/SVS e da Rede Cievs,
bem como o aprimoramento da Rede de Referncia Nacional para a
Vigilncia Epidemiolgica em mbito hospitalar, pelo seu potencial
de deteco de eventos de importncia nacional e/ou internacional.
56
O que a Rede Cievs e quais so as
suas nalidades?
Visando a ampliar a capacidade de vigilncia e resposta s emer-
gncias de sade pblica em todo o territrio nacional, a Secretaria
de Vigilncia em Sade do Ministrio da Sade est investindo na
estruturao de uma rede composta por centros de monitoramento
e resposta s emergncias de sade pblica, vinculada s secretarias
estaduais de sade e s secretarias municipais das capitais, podendo
ainda ser ampliada para outros municpios prioritrios. Estes centros
so similares s AMR do Cievs/SVS, tanto no quesito de tecnologia
utilizada como na nalidade.
Nos Centros estadual e/ou municipal, que constituem a Rede Cievs,
redes vm sendo estruturadas de acordo com uma padronizao tec-
nolgica e de recursos humanos mnimos necessrios para melhorar a
oportunidade das aes de deteco e resposta oportuna s emergn-
cias de sade pblica.Dentre as nalidades da Rede Cievs, destacam-se:
Desenvolver um processo de trabalho padronizado relativo ao uxo
de informaes, objeto de interesse e cooperao tcnica em situ-
aes de emergncias em sade pblica;
Institucionalizar os mecanismos de busca e/ou recebimento, regis-
tro, monitoramento, anlise e divulgao das informaes;
Estabelecer ateno diferenciada frente s situaes de emergncia
de sade pblica;
Divulgao de informaes estratgicas: Lista de Vericao de
Emergncias LVE com informao ocial;
Instituir os Comits de Avaliao dos Eventos: reunies peridicas
para avaliao das emergncias em curso (integrao com outras
reas, compartilhamento de informaes e agilidade nas respostas);
Desenvolvimento das capacidades da comunicao de risco.
Esta tem sido uma das aes estruturantes frente ao desao da or-
ganizao da resposta coordenada s emergncias de sade pblica.
Neste sentido, a estruturao da Rede Cievs constitui-se no apenas
57
numa articulao tcnico-gerencial para viabilizar as aes de detec-
o, vericao, resposta e monitoramento de emergncias de sade
pblica, mas tambm numa estratgia de gesto compartilhada entre
as trs esferas do SUS para aumentar a capacidade global do Sistema
Nacional de Vigilncia em Sade.
Quais so as autoridades competentes para
a execuo do RSI?
Todas as autoridades sanitrias dos rgos da administrao direta e
indireta do SUS, bem como dos demais setores ans ao setor Sade,
conforme abaixo:
Ministrio da Sade e parceiros:
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Ministrio da Cincia e Tecnologia
Ministrio das Comunicaes
Ministrio da Defesa
Ministrio do Desenvolvimento Agrrio
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome
Ministrio da Educao e Cultura
Ministrio da Fazenda
Ministrio da Integrao Nacional
Ministrio da Justia
Ministrio do Meio Ambiente
Ministrio da Pesca e Aquicultura
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
Ministrio das Relaes Exteriores
Ministrio dos Transportes
Ministrio do Turismo
Casa Civil da Presidncia da Repblica
Gabinete de Segurana Institucional da Presidncia da Repblica
Secretaria Geral da Presidncia da Repblica.
58
Observe-se que a articulao intra e intersetorial condio primordial
quando se fala em resposta coordenada. Dependendo da caracters-
tica do evento que esteja sendo monitorado, um nmero maior ou
menor de rgos estar envolvido.
Exemplo recente deste compartilhamento de responsabilidades o
funcionamento, h quase cinco anos, do Grupo Executivo Interminis-
terial para a Pandemia de Inuenza, criado por Decreto Presidencial,
coordenado pela Secretaria de Vigilncia em Sade e composto
por dezesseis rgos do Governo Federal, de distintos ministrios.
Esta experincia se replicou nos estados, com a criao dos respectivos
Comits Estaduais.
Quais so os tipos de eventos que devem ser
comunicados AMR/Cievs?
Os eventos a serem noticados so:
Cada caso suspeito ou conrmado de doena de noticao imediata;
Agregado de casos de doenas que apresentem padro epidemio-
lgico diferente do habitual (para doenas conhecidas);
Agregado de casos de doenas novas;
Epizootias e/ou mortes de animais que podem estar associadas
ocorrncia de doenas em humanos (por exemplo, epizootia por
febre amarela);
Outros eventos incomuns ou inesperados;
Desastres de origem natural: inundaes, terremotos, furaces;
Desastres de origem antropognica: acidentes qumicos e radio-
nucleares.
Estes eventos so considerados como Eventos de Importncia Nacional
(possveis emergncias de Sade Pblica).
59
Para o recebimento da noticao de eventos de importncia nacional
a AMR/Cievs/SVS disponibiliza os seguintes meios:
A. Disque-notica (0800-644-6645): este o servio telefnico
para recebimento das noticaes de eventos de relevncia nacional,
por meio de discagem direta gratuita. Este nmero permite receber
ligaes provenientes de nmeros xos e celulares de qualquer parte
do Brasil. O pblico-alvo deste servio so os prossionais de sade
das localidades que no dispem de uxos e nmeros de atendimento
na Secretaria de Sade do estado ou municpio, principalmente nos
nais de semana, feriados ou perodo noturno.
B. E-Notifica (notifica@saude.gov.br): endereo de e-mail, di-
vulgado aos profissionais de sade do pas para recebimento de
noticaes pelo correio eletrnico. Propositalmente seu nome no
composto, pois o objetivo que seja de fcil intuio e de fcil
memorizao.
C. FormSUS (www.saude.gov.br), link do formulrio desenvolvido
em plataforma web. Ao preencher este formulrio, ele enviado
automaticamente para o notica@saude.gov.br.
Como o processo de monitoramento,
avaliao e noticao da AMR/Cievs OMS?
Avaliao de risco: cada pas avalia os eventos que ocorrem
dentro do seu territrio, utilizando um instrumento padronizado
(chamado de Instrumento de Deciso);
Noticao OMS: congurada uma situao de ESPII, a AMR/
Cievs noticar OMS, pelos mais ecientes meios de comunicao
disponveis, dentro de 24 horas;
Monitoramento: O pas continuar a comunicar OMS as infor-
maes de sade pblica de que dispe sobre o evento noticado
de maneira oportuna e detalhada, enquanto o evento apresentar
o risco de sade pblica.
60
Resumo das aes da Unidade Nacional de Alerta,
Monitoramento e Operaes de Resposta em Sade
Deteco
Noticao OMS
Vericao Avaliao de risco
Resposta
Coordenao Comunicao Recurso Logstica
Vigilncia emSade
e
, (Epidemiolgica Ambiental
Sanitria)
Monitoramento de rumores
Comit de
Emergncias Cievs
Rede Cievs
(Apoio)
Opas/OMS Monitoramento
Vigilncia em Sade
(Epidemiolgica, Ambiental
e Sanitria)
Qual o apoio que o Ministrio da Sade
pode oferecer, em situaes de ESPIN e/ou ESPII,
via AMR/Cievs?
Em parceria com o estado, o MS poder:
Orientar e prover assistncia tcnica;
Avaliar a eccia das medidas de controle adotadas;
Mobilizar equipes especializadas para prestar servio in loco.
61
Quais so os prazos para aplicao integral
do RSI (2005)?
O Regulamento Sanitrio Internacional (RSI 2005) exige que as capa-
cidades bsicas do sistema de vigilncia e resposta s emergncias em
cada pas sejam plenamente estabelecidas em um perodo mximo
de cinco anos, a contar da data de sua entrada em vigor no pas, de
acordo com as seguintes fases:
At 15 de junho de 2009: Os Estados-membros da OMS deveriam
avaliar a capacidade da sua infraestrutura para cumprir os requisitos
das capacidades bsicas de vigilncia e resposta demandados pelo RSI
(2005). O Brasil cumpriu esta etapa e atualmente est em processo de
elaborao de um plano operativo nacional para implementar suas
capacidades bsicas;
At 15 de junho de 2012: Fase de execuo do plano operativo na-
cional, a m de garantir o pleno funcionamento da capacidade de res-
posta s emergncias em sade pblica em todo o territrio nacional.
O que Comunicao de Risco?
A Comunicao de Risco uma ferramenta fundamental a ser utiliza-
da para o enfrentamento de situaes de emergncia em sade pbli-
ca; pode ser tomada como um processo interativo de intercmbio de
informaes e de opinies entre os indivduos, grupos e instituies.
um dilogo em que se discutem mltiplas mensagens que expressam
preocupaes, opinies ou reaes s prprias mensagens ou acordos
legais e institucionais do gerenciamento de risco.
Qual o objetivo da Comunicao de Risco?
O objetivo da Comunicao de Risco adequar a percepo do risco
sobre um determinado evento ao risco real, buscando-se balancear
esses elementos para evitar tanto situaes de pnico na populao
em geral ou em grupos especcos, como a subestimao de proble-
mas de interesse da sade pblica.
62
Quais so as diretrizes da Comunicao de Risco?
A Organizao Mundial da Sade estabeleceu, em 2004, baseada em
evidncias cientcas, as normas da comunicao de risco visando a
controlar rapidamente os surtos epidmicos com o menor transtorno
possvel para a sociedade, quais sejam:
Conana: o objetivo crucial de uma comunicao em um surto
epidmico comunicar-se com o pblico de forma a criar, manter
ou resgatar a conana;
Anncio imediato: os parmetros de conana so estabelecidos ao
primeiro anncio ocial. A oportunidade, a franqueza e a amplitude
desta mensagem podem fazer do anncio o mais importante de
toda a comunicao em surto epidmico;
Transparncia: manter a confiana da opinio pblica em uma
emergncia de sade pblica exige transparncia (ou seja, uma
comunicao que seja franca, facilmente entendida, completa e
el aos fatos). A transparncia caracteriza as relaes entre os ad-
ministradores da crise e o pblico.
Escutar o pblico: entender o pblico crtico para uma comuni-
cao ecaz.
Planejamento: incorporar as estratgias de comunicao de risco em
todas as etapas da organizao da resposta emergncias em sade
pblica, por meio de um Plano de Comunicao de Emergncia.
Qual o papel da Comunicao de Risco
em uma emergncia de sade pblica?
Quando h uma ameaa real para a sade pblica as intervenes
de sade podem requerer certo tempo para serem implementadas,
como, por exemplo, as opes de tratamento. A Comunicao de
Risco torna-se, em muitos casos, a nica ferramenta disponvel para a
resposta a essa emergncia e um dos mais importantes componentes
na gesto do risco.
63
A Comunicao de Risco estimula a populao a tomar decises
fundamentadas epidemiologicamente, fomenta comportamentos de
preveno e complementa o sistema de vigilncia existente. Propicia
ainda a interlocuo da instituio com os meios de comunicao e
outros setores, reduzindo ao mnimo a perturbao social e econ-
mica, criando a conana necessria para se preparar para graves
ameaas sade pblica, assim como para ajudar na resposta e na
recuperao emergncia.
Quais medidas de sade pblica devem ser
realizadas nos pontos de entrada do pas?
O intenso trnsito internacional e nacional de pessoas e mercadorias,
potencializado pela velocidade dos meios de transporte, viabiliza o
contato com distintas fontes de infeco, com consequentes trans-
tornos sade individual e coletiva.
A vigilncia e o controle sanitrio em pontos de entrada internacional
do pas (portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados) so de
responsabilidade da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa/
MS) que, dentro do seu campo de atuao, detecta eventos de rele-
vncia nacional e dene aes de interveno.
Os pontos de entrada internacional fornecem uma oportunidade para
implementar medidas para prevenir a propagao internacional de
doenas. Por esta razo, devem fornecer:
Acesso a servios mdicos apropriados;
Servio de transporte de doentes;
Prossionais capacitados para a inspeo de meios de transporte,
como navios e avies;
Instalaes para implementar medidas de emergncia (como a
observao temporal de doentes);
Planos de contingncia para emergncias de sade pblica.
64
Quais so os documentos exigidos pelas
autoridades porturias?
Para os meios de transportes
Certicado de Iseno de Controle de Sade a Bordo;
Certicado de Controle de Sade a Bordo;
Declarao Geral de Aeronaves;
Declarao Martima de Sade;
Para os viajantes
Certicado Internacional de Vacinao ou
Atestado ou Certicado de Iseno de Vacinao e Prolaxia.
As orientaes em relao s exigncias de vacinao ou sua iseno,
quando for o caso, bem como demais orientaes aos viajantes antes,
durante e depois da viagem podem ser encontradas no site da Anvisa
(http: //portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home/portosaeropor-
tosfronteiras).
ANEXOS
66
67
Anexo A
Leitura recomendada
Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispe sobre as condies
para a promoo, proteo e recuperao da sade, a organizao e o
funcionamento dos servios correspondentes, e d outras providncias.
Portaria n 3.120/GM/MS, de 1 de julho de 1998. Aprova a Instruo
Normativa de Vigilncia em Sade do Trabalhador no SUS, na forma
do Anexo a esta Portaria, com a nalidade de denir procedimentos
bsicos para o desenvolvimento das aes correspondentes.
Portaria n 3.908/GM/MS, de 30 de outubro de 1998. Estabelece
procedimentos para orientar e instrumentalizar as aes e servios de
sade do trabalhador no Sistema nico de Sade (SUS).
Lei n 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Dene o Sistema Nacional de
Vigilncia Sanitria, cria a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, e
d outras providncias.
Decreto n 3.029, de 16 de abril de 1999. Aprova o Regulamento
da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria e d outras providncias.
Portaria n 1.339/GM/MS, de 18 de novembro de 1999. Institui a lista
de doenas relacionadas ao trabalho, a ser adotada como referncia
dos agravos originados no processo de trabalho no Sistema nico
de Sade, para uso clnico e epidemiolgico, constante no Anexo I
desta Portaria.
Portaria n 1.679/GM/MS, de 19 de setembro de 2002. Dispe sobre
a estruturao da Rede Nacional de Ateno Integral Sade do Tra-
balhador no SUS, e d outras providncias.
Portaria n 777/GM/MS, de 28 de abril de 2004. Dispe sobre os
procedimentos tcnicos para a noticao compulsria de agravos
sade do trabalhador em rede de servios-sentinela especca, no
Sistema nico de Sade SUS.
68
Portaria n 2.529/GM/MS, de 23 de novembro de 2004. Institui o Sub-
sistema Nacional de Vigilncia Epidemiolgica em mbito Hospitalar,
dene competncias para os estabelecimentos hospitalares, a Unio,
os estados, o Distrito Federal e os municpios, cria a Rede Nacional de
Hospitais de Referncia para o referido subsistema e dene critrios
para a qualicao de estabelecimentos.
Portaria n 1.125/GM/MS, de 6 de julho de 2005. Dispe sobre os
propsitos da poltica de sade do trabalhador.
Portaria n 2.437/GM/MS, de 7 de dezembro de 2005. Amplia a Rede
Nacional de Ateno Integral Sade do Trabalhador no SUS.
Portaria n 2.458/GM/MS, de 12 de dezembro de 2005. Redene os
valores do incentivo para custeio e manuteno dos servios habilita-
dos como Centros de Referncia em Sade do Trabalhador Cerest.
Portaria n 2.606/GM/MS, de 28 de dezembro de 2005. Classica os
Laboratrios Centrais de Sade Pblica e institui seu fator de incentivo.
Portaria n 2.607/GM/MS, de 28 de dezembro de 2005. Institui com
recursos do Teto Financeiro de Vigilncia em Sade incentivo nancei-
ro para custeio das atividades desenvolvidas pelo Registro de Cncer
de Base Populacional RCBP.
Portaria n 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto
pela Sade 2006 Consolidao do SUS e aprova as diretrizes ope-
racionais do referido Pacto.
Portaria n 687/GM/MS, de 30 de maro de 2006. Aprova a Poltica
Nacional de Promoo da Sade.
Portaria n 354/GM/MS, de 11 de agosto de 2006.Aprova e promul-
ga o Regimento Interno da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
(Anvisa), e d outras providncias.
Portaria n 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007. Regulamenta as
transferncias federais para aes e servios de sade, na forma de
blocos de nanciamento.
Portaria n 1.052/GM/MS, de 8 de maio de 2007. Aprova e divulga o
Plano Diretor de Vigilncia Sanitria.
69
Decreto n 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispe sobre as normas
relativas s transferncias de recursos da Unio mediante convnios
e contratos de repasse, e d outras providncias.
Portaria n 3.271/GM/MS, de 27 de dezembro de 2007. Regulamenta
o repasse de recursos nanceiros destinados aos Laboratrios de Sa-
de Pblica para a execuo das aes de vigilncia sanitria, na forma
do Bloco de Financiamento de Vigilncia em Sade.
Portaria n 154/GM/MS, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Ncleos de
Apoio Sade da Famlia Nasf.
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n 127, de 29 de maio de
2008. Estabelece normas para execuo do disposto no Decreto n
6.170, de 25 de julho de 2007, que dispe sobre as normas relativas
s transferncias de recursos da Unio mediante convnios e contratos
de repasse, e d outras providncias.
Portaria n 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009. Altera e acrescenta
dispositivos Portaria n 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para
inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Servios de Sade na
composio dos blocos de nanciamento relativos transferncia de
recursos federais para as aes e os servios de sade no mbito do
Sistema nico de Sade SUS.
Portaria n 2.728/GM/MS, de 11 de novembro de 2009. Dispe sobre
a Rede Nacional de Ateno Integral Sade do Trabalhador Renast,
e d outras providncias.
Portaria n 3.008/GM/MS, de 1 de dezembro de 2009. Determina a
Programao das Aes de Vigilncia em Sade (PAVS) como um elen-
co norteador para o alcance de metas do Pacto e demais prioridades de
relevncia para o Sistema Nacional de Vigilncia em Sade e Vigilncia
Sanitria, eleitas pelas esferas federal, estadual e municipal.
Portaria n 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009. Aprova as
diretrizes para execuo e nanciamento das aes de Vigilncia
em Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e municpios, e d
outras providncias.
70
Portaria n 3.261/GM/MS, de 23 de dezembro de 2009. Estabelece
procedimentos para a suspenso do repasse dos recursos nanceiros
do Bloco de Vigilncia em Sade aos municpios que ainda no ade-
riram ao Pacto pela Sade, e d outras providncias.
Portaria Conjunta n 1/SE/SVS, de 11 de maro de 2010. Divulga os
valores anuais do Componente de Vigilncia e Promoo da Sade,
relativos aos recursos federais destinados ao Piso Fixo de Vigilncia e
Promoo da Sade (PFVPS) e ao Piso Varivel de Vigilncia e Promo-
o da Sade (PVVPS), e d outras providncias.
Decreto n 7.135, de 29 de Maro de 2010. Dispe sobre remaneja-
mento de cargos em comisso do Grupo-Direo e Assessoramento
Superiores DAS; aprova a Estrutura Regimental e o Quadro De-
monstrativo dos Cargos em Comisso e das Funes Graticadas do
Ministrio da Sade; altera o Anexo II ao Decreto no 4.727, de 9 de
junho de 2003, que trata do Estatuto e do Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisso e das Funes Graticadas da Fundao
Nacional de Sade; e d outras providencias.
Portaria n 1.007/GM/MS, de 4 de maio de 2010. Dene critrios para
regulamentar a incorporao do Agente de Combate s Endemias
(ACE) ou dos agentes que desempenham essas atividades, mas com
outras denominaes, na ateno primria sade para fortalecer as
aes de vigilncia em sade junto s equipes de Sade da Famlia.
Portaria n 1.106/GM/MS, de 12 de maio de 2010. Atualiza a regula-
mentao das transferncias de recursos nanceiros federais do Com-
ponente de Vigilncia Sanitria do Bloco de Financiamento de Vigiln-
cia em Sade, destinados execuo das aes de Vigilncia Sanitria.
71
Anexo B
Portaria n 3.252, de 22 de dezembro de 2009
Aprova as diretrizes para execuo e nanciamento das aes de Vi-
gilncia em Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e municpios
e d outras providncias.
O MINISTRO DE ESTADO DA SADE, no uso das atribuies que lhe
conferem os incisos I e II do pargrafo nico do art. 87 da Constituio
Federal de 1988, e
Considerando as disposies da Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, que versa sobre a organizao do Sistema nico de Sade SUS;
Considerando as disposies da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de
1990, que se refere participao da comunidade na gesto do SUS
e sobre as transferncias intergovernamentais de recursos nanceiros
na rea da sade;
Considerando o disposto na Lei n 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
que dene o Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria e cria a Agncia
Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa) como promotora da prote-
o da sade da populao por intermdio do controle sanitrio da
produo e da comercializao de produtos e servios submetidos
vigilncia sanitria, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insu-
mos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de
portos, aeroportos e fronteiras;
Considerando o disposto na Portaria n 1.052/GM/MS, de 8 de maio
de 2007, que aprova o Plano Diretor de Vigilncia Sanitria (PDVisa),
contemplando as diretrizes norteadoras necessrias consolidao e
ao fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria;
72
Considerando que o Regulamento Sanitrio Internacional 2005 (RSI)
estabelece a necessidade de aperfeioamento das capacidades dos
servios de sade pblica para detectar, avaliar, monitorar e dar res-
posta apropriada aos eventos que se possam constituir em emergncia
de sade pblica de importncia internacional, oferecendo a mxima
proteo em relao propagao de doenas em escala mundial,
mediante o aprimoramento dos instrumentos de preveno e controle
de riscos de sade pblica;
Considerando o disposto na Portaria n 1.865/GM/MS, de 10 de
agosto de 2006, que estabelece a Secretaria de Vigilncia em Sade
(SVS/MS) como ponto focal nacional para o RSI junto Organizao
Mundial da Sade;
Considerando o disposto no Decreto n 6.860, de 27 de maio de
2009, que aprova a Estrutura Regimental do Ministrio da Sade,
estabelecendo as competncias da SVS/MS como gestora do Sistema
Nacional de Vigilncia em Sade e como formuladora da Poltica de
Vigilncia Sanitria, em articulao com a Anvisa;
Considerando a Portaria n 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006,
que aprova e divulga as diretrizes do Pacto pela Sade 2006 Conso-
lidao do SUS com seus trs componentes, quais sejam: Pactos pela
Vida, em Defesa do SUS e de Gesto, que refora a regionalizao, a
territorializao da sade como base para organizao dos sistemas,
estruturando as regies sanitrias e instituindo colegiados de gesto
regional; reitera a importncia da participao e do controle social
com o compromisso de apoio sua qualicao; explicita as diretrizes
para o sistema de nanciamento pblico tripartite, buscando critrios
de alocao equitativa dos recursos; refora os mecanismos de trans-
ferncia fundo a fundo entre gestores; integra em grandes blocos
o nanciamento federal; e estabelece relaes contratuais entre os
entes federativos;
Considerando a Portaria n 699/GM/MS, de 30 de maro de 2006,
que regulamenta a implementao das Diretrizes Operacionais dos
Pactos pela Vida e de Gesto e seus desdobramentos para o processo
73
de gesto do SUS, bem como a transio e o monitoramento dos
Pactos, unicando os processos de pactuao de indicadores e metas;
Considerando Portaria n 2.751/GM/MS, de 12 de novembro de 2009,
que dispe sobre a integrao dos prazos e processos de formulao
dos instrumentos do Sistema de Planejamento do Sistema nico de
Sade e do Pacto pela Sade;
Considerando a necessidade de uma atualizao normativa da Vigi-
lncia em Sade, tendo em vista o Pacto pela Sade e o processo de
planejamento do SUS, a denio de estratgias de integrao com
a assistncia sade, em especial com a Ateno Primria Sade, e
uma maior presena nos espaos de discusso e negociao regionais
de forma articulada com os Colegiados de Gesto Regionais CGR;
Considerando a necessidade de potencializar o processo de descen-
tralizao, fortalecendo estados, Distrito Federal e municpios no
exerccio do papel de gestores da Vigilncia em Sade;
Considerando a relevante funo da Vigilncia em Sade na anlise
da situao de sade, articulando-se em um conjunto de aes que
se destinam a controlar determinantes, riscos e danos sade de
populaes que vivem em determinados territrios, garantindo a
integralidade da ateno e subsidiando os gestores no processo de
planejamento e de tomada de deciso em tempo oportuno;
Considerando a ampliao do escopo da Vigilncia em Sade com a
incorporao da Sade do Trabalhador, a importncia cada vez maior
das doenas e agravos no-transmissveis e da Promoo da Sade, e
a necessidade de organizao para respostas rpidas em emergncias
de sade pblica;
Considerando o processo em curso de integrao das vigilncias (sa-
nitria, epidemiolgica, ambiental e sade do trabalhador) nas trs
esferas de governo;
Considerando a Portaria n 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007,
que regulamenta o financiamento e a transferncia dos recursos
federais para as aes e servios de sade, na forma de blocos de
nanciamento, com o respectivo monitoramento e controle; e
74
Considerando a Portaria n 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que
altera e acrescenta dispositivos Portaria n 204/GM/MS, de 29 de
janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de
Servios de Sade na composio dos blocos de nanciamento rela-
tivos transferncia de recursos federais para as aes e os servios
de sade no mbito do SUS; e
Considerando a deciso dos gestores do SUS na reunio da Comis-
so Intergestores Tripartite (CIT), realizada em 17 de dezembro de
2009, resolve:
Art. 1 Aprovar as diretrizes para execuo e nanciamento das aes
de Vigilncia em Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e muni-
cpios, nos termos do Anexo a esta Portaria.
Art. 2 A Secretaria de Vigilncia em Sade (SVS/MS) e a Agncia
Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa) editaro, quando necessrio,
normas complementares a esta Portaria, submetendo-as, quando
couber, apreciao da Comisso Intergestores Tripartite CIT.
Art. 3 Esta Portaria entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2010.
Art. 4 Ficam revogados:
I - a Portaria n 1.172/GM/MS, de 15 de junho de 2004, publicada
no DOU n 115, de 17 de junho de 2004, Seo 1, pginas 58 e 59;
II - a Portaria n 740/GM/MS, de 7 de abril de 2006, publicada no DOU
n 70, de 11 de abril de 2006, Seo 1, pginas 42 e 43; e
III - os artigos 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e o inciso III e o pargrafo ni-
co do art. 37 da Portaria n 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007,
publicada no DOU n 22, de 31 de janeiro de 2007, Seo 1, pginas
45 a 50.
Jos Gomes Temporo
75
Anexo
CAPTULO I
DOS PRINCPIOS GERAIS
Seo I
Da Vigilncia em Sade
Art. 1 A Vigilncia em Sade tem como objetivo a anlise permanen-
te da situao de sade da populao, articulando-se num conjunto
de aes que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos
sade de populaes que vivem em determinados territrios, ga-
rantindo a integralidade da ateno, o que inclui tanto a abordagem
individual como coletiva dos problemas de sade.
Art. 2 A Vigilncia em Sade constitui-se de aes de promoo da
sade da populao, vigilncia, proteo, preveno e controle das
doenas e agravos sade, abrangendo:
I - vigilncia epidemiolgica: vigilncia e controle das doenas trans-
missveis, no transmissveis e agravos, como um conjunto de aes
que proporcionam o conhecimento, a deteco ou preveno de
qualquer mudana nos fatores determinantes e condicionantes da
sade individual e coletiva, com a nalidade de recomendar e adotar
as medidas de preveno e controle das doenas e agravos;
II - promoo da sade: conjunto de intervenes individuais, coleti-
vas e ambientais responsveis pela atuao sobre os determinantes
sociais da sade;
III - vigilncia da situao de sade: desenvolve aes de monitoramento
contnuo do Pas, estado, regio, municpio ou reas de abrangncia de
equipes de ateno sade, por estudos e anlises que identiquem
e expliquem problemas de sade e o comportamento dos principais
indicadores de sade, contribuindo para um planejamento de sade
mais abrangente;
76
IV - vigilncia em sade ambiental: conjunto de aes que propiciam o
conhecimento e a deteco de mudanas nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na sade humana,
com a nalidade de identicar as medidas de preveno e controle
dos fatores de risco ambientais relacionados s doenas ou a outros
agravos sade;
V - vigilncia da sade do trabalhador: visa promoo da sade e
reduo da morbimortalidade da populao trabalhadora, por meio
da integrao de aes que intervenham nos agravos e seus deter-
minantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo
produtivos; e
VI - vigilncia sanitria: conjunto de aes capazes de eliminar, dimi-
nuir ou prevenir riscos sade e de intervir nos problemas sanitrios
decorrentes do meio ambiente, da produo e da circulao de bens,
e da prestao de servios do interesse da sade, abrangendo o
controle de bens de consumo, que, direta ou indiretamente, se rela-
cionem com a sade, compreendidas todas as etapas e processos, da
produo ao consumo, e o controle da prestao de servios que se
relacionam direta ou indiretamente com a sade.
Seo II
Do Pacto pela Sade
Art. 3 As aes da Vigilncia em Sade tm por premissa as diretrizes
denidas no Pacto pela Sade 2006 Consolidao do SUS , em suas
trs dimenses, promovendo:
I - substituio do processo de certicao para a gesto das aes de
Vigilncia em Sade pela adeso ao Pacto;
II - a regionalizao solidria e cooperativa como eixo estruturante
do processo de descentralizao e como diretriz do SUS, devendo
orientar, dentro do princpio da integralidade, a descentralizao das
aes e servios de sade e os processos de negociao e pactuao
entre os gestores;
77
III - co-gesto no processo compartilhado e de articulao entre as
trs esferas de governo;
IV - reviso das responsabilidades sanitrias denidas nos eixos do
Pacto de Gesto, de forma a fortalecer a integralidade da ateno
sade, a ser disciplinada em ato normativo especco; e
V - fortalecimento do processo de participao social e das estratgias
de mobilizao social vinculadas instituio da sade como direito
de cidadania.
Seo III
Da integralidade
Art. 4 A Vigilncia em Sade, visando integralidade do cuidado,
deve inserir-se na construo das redes de ateno sade, coorde-
nadas pela Ateno Primria Sade.
1 As redes de ateno sade consistem em estruturas integradas
de proviso de aes e servios de sade institucionalizados pela
poltica pblica, em um determinado espao regional, a partir do
trabalho coletivamente planejado e do aprofundamento das relaes
de interdependncia entre os atores envolvidos.
2 A integralidade compreendida como a garantia de acesso a
todos os servios indispensveis para as necessidades de sade, ade-
quando a competncia dos prossionais ao quadro epidemiolgico,
histrico e social da comunidade e do usurio.
3 A Ateno Primria Sade caracteriza-se por um conjunto
de aes de sade, no mbito individual e coletivo, que abrange a
promoo e a proteo da sade, a preveno de agravos, danos e
riscos, o diagnstico, o tratamento, a reabilitao e a manuteno da
sade, tendo a estratgia de Sade da Famlia como prioridade para
sua organizao.
Art. 5 A integrao entre a Vigilncia em Sade e a Ateno Primria
Sade condio obrigatria para construo da integralidade na
78
ateno e para o alcance de resultados, com desenvolvimento de um
processo de trabalho condizente com a realidade local, que preserve
as especicidades dos setores e compartilhe suas tecnologias, tendo
por diretrizes:
I - compatibilizao dos territrios de atuao das equipes, com a
gradativa insero das aes de Vigilncia em Sade nas prticas das
equipes de Sade da Famlia;
II - planejamento e programao integrados das aes individuais e
coletivas;
III - monitoramento e avaliao integrada;
IV - reestruturao dos processos de trabalho com a utilizao de
dispositivos e metodologias que favoream a integrao da vigilncia,
preveno, proteo, promoo e ateno sade, tais como linhas
de cuidado, clnica ampliada, apoio matricial, projetos teraputicos,
protocolos e entre outros; e
V - educao permanente dos prossionais de sade, com abordagem
integrada nos eixos da clnica, vigilncia, promoo e gesto.
Art. 6 As aes de Vigilncia em Sade, incluindo a promoo da
sade, devem estar inseridas no cotidiano das equipes de Ateno
Primria/Sade da Famlia, com atribuies e responsabilidades de-
nidas em territrio nico de atuao, integrando os processos de
trabalho, planejamento, programao, monitoramento e avaliao
dessas aes.
1 As atividades dos Agentes Comunitrios de Sade (ACS) e dos
Agentes de Combate a Endemias (ACE), ou agentes que desempe-
nham essas atividades mas com outras denominaes, sero desem-
penhadas de forma integrada e complementar.
2 Para fortalecer a insero das aes de vigilncia e promoo da
sade na Ateno Primria Sade, recomenda-se a incorporao
gradativa dos ACE ou dos agentes que desempenham essas ativida-
des, mas com outras denominaes, nas equipes de Sade da Famlia,
cuja disciplina ser realizada por meio de ato normativo especco, no
prazo de 60 (sessenta) dias aps a publicao desta Portaria.
79
3 Os prossionais de Ateno Primria Sade no incorporaro
a atribuio de polcia administrativa inerente aos prossionais de
Vigilncia Sanitria.
Art. 7 As aes de Vigilncia Sanitria devem ser desenvolvidas com
base nas prticas de promoo, proteo, preveno e controle sani-
trio dos riscos sade para o fortalecimento da Ateno Primria
Sade como elemento estruturante do SUS.
Art. 8 As aes de promoo da sade so voltadas para a reduo
da vulnerabilidade e das desigualdades existentes, buscando intervir
sobre os determinantes e condicionantes da sade.
Art. 9 Na busca da integralidade deve-se promover a articulao
de atores e polticas sociais no planejamento e execuo de aes
intersetoriais.
Pargrafo nico. Na regio de sade, a pactuao de aes de vigiln-
cia e promoo da sade e a articulao intersetorial devem ocorrer
no mbito dos Colegiados de Gesto Regional CGR.
Art. 10. A organizao e qualicao das redes de Ateno Sade,
objetivando a integralidade do cuidado, demandam a implementao
de apoio matricial para a gesto do trabalho em sade, como meio
de assegurar retaguarda especializada e suporte tcnico-pedaggico
a equipes e prossionais de sade, para o aumento da capacidade de
interveno e resolutividade.
Pargrafo nico. O apoio matricial em Vigilncia em Sade deve ser
operacionalizado de modo a promover um planejamento que consi-
dere a soma das tecnologias da Vigilncia em Sade e a reformulao
dos processos de trabalho.
Art. 11. A disciplina normativa do apoio matricial em Vigilncia em
Sade dever ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias aps a pu-
blicao desta Portaria, considerando as seguintes atribuies mnimas:
I - anlise da situao de sade dos territrios locais/regionais, in-
cluindo anlise de tendncia, fatores condicionantes e determinantes,
situaes de vulnerabilidade e suscetibilidade de grupos populacionais
e do meio ambiente;
80
II - apoio s equipes no planejamento das aes de ateno, vigilncia
e promoo sade, subsidiando as mesmas na construo de planos
de interveno;
III - articulao das aes coletivas, incluindo as relacionadas ao meio
ambiente; e
IV - articulao e apoio implementao da estratgia de gerencia-
mento do risco individual e coletivo.
Seo IV
Das emergncias em sade pblica
Art. 12. A SVS/MS o ponto focal nacional, da Organizao Mundial
da Sade (OMS), para os propsitos previstos no RSI no que se refere
prontido, ao monitoramento e resposta oportuna s situaes
de risco de disseminao de doenas e ocorrncia de outros eventos
de sade pblica que impliquem emergncias de sade pblica de
importncia internacional.
Art. 13. A SVS/MS o ponto focal na representao do Ministrio da
Sade no Conselho Nacional de Defesa Civil, colegiado responsvel
pelo acompanhamento do Sistema Nacional de Defesa Civil visando
preveno, preparao e resposta da sade aos desastres.
Art. 14. Na resposta s emergncias de sade pblica, a SVS/MS, em
articulao com outros rgos e entidades federais e demais esferas
de governo e com possibilidade de requisio administrativa de bens
e servios do setor privado e do terceiro setor, atuar na ocorrncia
de eventos que tenham risco real ou potencial de disseminao no
territrio nacional ou que supere a capacidade de resposta da direo
estadual do SUS, de acordo com as especicidades do evento.
Art. 15. Para o enfrentamento das emergncias em sade pblica nas
diferentes esferas de gesto, o sistema de sade conta com uma rede
integrada de unidades de alerta e resposta, denominada Rede de Infor-
maes Estratgicas e Respostas em Vigilncia em Sade Rede Cievs.
81
Pargrafo nico. A Rede Cievs composta por centros com estrutura
tcnico-operacional voltada para:
I - a deteco das emergncias de sade pblica;
II - a avaliao contnua de problemas de sade que possam constituir
emergncias de sade pblica; e
III - o gerenciamento, coordenao e apoio s respostas desenvolvidas
nas situaes de emergncia.
Art. 16. O Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria, dentro do seu
campo de competncia, detecta emergncias em sade pblica e
dene aes de interveno, por intermdio de:
I - Rede de Comunicao em Visa (RCVisa), que notica surtos rela-
cionados a alimentos;
II - Farmcias Noticadoras, que comunicam eventos adversos e quei-
xas tcnicas em relao ao consumo de medicamentos;
III - Hospitais Sentinelas, que comunicam eventos adversos e queixas
tcnicas relacionados a produtos e equipamentos de sade;
IV - Notivisa, que notica eventos adversos e queixas tcnicas relacio-
nados com os produtos sob vigilncia sanitria, quais sejam:
a) medicamentos, vacinas e imunoglobulinas;
b) artigos mdico-hospitalares;
c) equipamento mdico-hospitalar;
d) sangue e componentes;
e) agrotxicos;
V - Centro de Informaes Toxicolgicas, que notica intoxicaes e
envenenamentos; e
VI - postos da Anvisa em portos, aeroportos e fronteiras, que noticam
eventos relacionados a viajantes, meios de transporte e produtos.
82
CAPTULO II
DOS SISTEMAS
Art. 17. O Sistema Nacional de Vigilncia em Sade coordenado pela
SVS/MS no mbito nacional e integrado por:
I - Subsistema Nacional de Vigilncia Epidemiolgica, de doenas
transmissveis e de agravos e doenas no transmissveis;
II - Subsistema Nacional de Vigilncia em Sade Ambiental, incluindo
ambiente de trabalho;
III - Sistema Nacional de Laboratrios de Sade Pblica, nos aspectos
pertinentes Vigilncia em Sade;
IV - sistemas de informao de Vigilncia em Sade;
V - programas de preveno e controle de doenas de relevncia em
sade pblica, incluindo o Programa Nacional de Imunizaes;
VI - Poltica Nacional de Sade do Trabalhador; e
VII - Poltica Nacional de Promoo da Sade.
Art. 18. O Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria coordenado pela
Anvisa no mbito nacional e integrado por:
I - Anvisa;
II - Vigilncias Sanitrias estaduais;
III - Vigilncias Sanitrias municipais;
IV - Sistema Nacional de Laboratrios de Sade Pblica, nos aspectos
pertinentes vigilncia sanitria; e
V - sistemas de informao de vigilncia sanitria.
Art. 19. O conjunto de aes denido pelo 1 do art. 6 e pelos arts.
15 a 18 da Lei n 8.080, de 1990, executado pela Unio, estados, Dis-
trito Federal e municpios compe os Sistemas Nacionais de Vigilncia
em Sade e Vigilncia Sanitria.
83
CAPTULO III
DA GESTO DOS SISTEMAS
Seo I
Da gesto compartilhada
Art. 20. A gesto dos Sistemas Nacionais de Vigilncia em Sade e
Vigilncia Sanitria compartilhada por Unio, estados, Distrito Fe-
deral e municpios.
Pargrafo nico. As atividades compartilhadas entre Unio, estados e
municpios so pactuadas na Comisso Intergestores Tripartite (CIT) e
entre estados e municpios na Comisso Intergestores Bipartite (CIB),
tendo por base a regionalizao, a rede de servios e tecnologias
disponveis.
Seo II
Das competncias da Unio
Art. 21. Compete Unio, por intermdio do Ministrio da Sade,
formular polticas em Vigilncia em Sade, estabelecer diretrizes,
prioridades e gerir os Sistemas Nacionais de Vigilncia em Sade e
Vigilncia Sanitria no mbito nacional, compreendendo:
I - promoo, proteo e recuperao da sade da populao;
II - coordenao nacional das aes denidas na Poltica Nacional de
Promoo da Sade;
III - vigilncias em sade ambiental, epidemiolgica, sanitria e sade
do trabalhador;
IV - coordenao nacional das aes de Vigilncia em Sade, com
nfase naquelas que exigem simultaneidade nacional ou regional;
V - apoio aos estados, Distrito Federal e aos municpios no fortaleci-
mento da gesto da Vigilncia em Sade;
84
VI - execuo das aes de Vigilncia em Sade de forma comple-
mentar atuao dos estados, do Distrito Federal e dos municpios;
VII - participao no nanciamento das aes de Vigilncia em Sade,
conforme disposies contidas no Captulo VII do Anexo a esta Porta-
ria e normas complementares;
VIII - participao no processo de planejamento, que inclui:
a) participao na elaborao do Plano Nacional de Sade, a partir
da anlise da situao de sade da populao;
b) integrao do planejamento das aes de Vigilncia em Sade
com o planejamento da Ateno Sade, em especial com a
Ateno Primria Sade;
c) denio das prioridades, objetivos, metas e indicadores de
Vigilncia em Sade que integram o Pacto pela Sade, a serem
negociados na CIT;
d) coordenao do processo de elaborao das programaes das
Aes de Vigilncia em Sade, acordadas de forma tripartite,
de modo a viabilizar o alcance das metas inseridas no Pacto
pela Sade e compondo a Programao Anual de Sade do
Ministrio da Sade;
e) assessoria tcnica s Secretarias Estaduais e as Municipais de
Sade no processo de planejamento e monitoramento das
aes de Vigilncia em Sade, fortalecendo o uso da epide-
miologia nos servios e o uso de evidncias e informaes em
sade para orientao na tomada de deciso;
f) monitoramento e avaliao das aes de Vigilncia em Sade;
IX - normalizao tcnica;
X - coordenao das aes de resposta s emergncias de sade pbli-
ca de importncia nacional e internacional, bem como a cooperao
com estados, Distrito Federal e municpios em emergncias de sade
pblica de importncia estadual, quando indicado;
85
XI - comunicao de emergncias de sade pblica de importncia
internacional OMS, conforme denies do RSI;
XII - apoio aos estados, ao Distrito Federal e aos municpios na investi-
gao epidemiolgica de casos noticados, surtos e bitos, conforme
normas estabelecidas pela Unio;
XIII - coordenao, monitoramento e avaliao da estratgia nacional
de Vigilncia em Sade, sentinela em mbito hospitalar, em articula-
o com os estados, os Distrito Federal e os municpios;
XIV - apoio aos estados e ao Distrito Federal na vigilncia epide-
miolgica e monitoramento da violncia domstica, sexual e outras
violncias;
XV - cooperao tcnica para a execuo das aes de Vigilncia em
Sade coordenadas e realizadas pelos estados e Distrito Federal;
XVI - coordenao dos sistemas de informao de interesse da Vigi-
lncia em Sade, incluindo:
a) estabelecimento de diretrizes, uxos e prazos, a partir de nego-
ciao tripartite, para o envio dos dados pelos estados e pelo
Distrito Federal para o nvel nacional;
b) anlise da completude dos campos e consistncia dos dados
e consolidao dos dados provenientes dos estados e Distrito
Federal;
c) retroalimentao dos dados para as Secretarias Estaduais de
Sade;
d) desenvolvimento de aes para o aprimoramento da qualidade
da informao;
e) anlise epidemiolgica e divulgao das informaes de mbito
nacional;
f) estabelecimento e divulgao de normas tcnicas, rotinas e
procedimentos de gerenciamento dos sistemas nacionais;
XVII - proposio de polticas, normas e aes de educao, comuni-
cao e mobilizao social referentes Vigilncia em Sade;
86
XVIII - realizao de campanhas publicitrias em mbito nacional e/
ou regional, que venham a atender s necessidades da Poltica de
Promoo e da Vigilncia em Sade;
XIX - participao ou execuo da educao permanente em Vigiln-
cia em Sade, de acordo com a Poltica de Desenvolvimento Prossio-
nal e a Educao Permanente dos Trabalhadores da Sade;
XX - promoo e implementao do desenvolvimento de estudos,
pesquisas e transferncia de tecnologias que contribuam para o
aperfeioamento das aes e incorporao de inovaes no campo
da promoo, preveno e Vigilncia em Sade, de acordo com a
Poltica Nacional de Cincia e Tecnologia;
XXI - promoo, fomento e implementao do desenvolvimento de
estudos e pesquisas que contribuam para o aperfeioamento da an-
lise de sade, do conhecimento de fatores de risco e de contextos de
vulnerabilidade da populao;
XXII - promoo e fomento participao social das instncias de
controle social e do estabelecimento de parcerias com organismos no
governamentais nas aes de Vigilncia em Sade, de acordo com a
Poltica Nacional de Apoio Gesto Participativa;
XXIII - promoo da cooperao e do intercmbio tcnico-cientco
com organismos governamentais e no-governamentais, de mbito
nacional e internacional, na rea de Vigilncia em Sade;
XXIV - gesto dos estoques nacionais de insumos estratgicos, de
interesse da Vigilncia em Sade, inclusive o armazenamento e o
abastecimento aos estados e ao Distrito Federal, de acordo com as
normas vigentes;
XXV - provimento dos seguintes insumos estratgicos:
a) imunobiolgicos denidos pelo Programa Nacional de Imuni-
zaes;
b) seringas e agulhas para campanhas de vacinao que no
fazem parte daquelas j estabelecidas ou quando solicitadas
por um estado;
87
c) medicamentos especcos para agravos e doenas de interesse
da Vigilncia em Sade, conforme termos pactuados na CIT;
d) reagentes especcos e insumos estratgicos para as aes
laboratoriais de Vigilncia em Sade, denidos pelos gestores
nacionais das redes integrantes do Sistema Nacional de Labo-
ratrios de Sade Pblica (Sislab), nos termos acordados na CIT;
e) insumos destinados ao controle de doenas transmitidas por
vetores, compreendendo: praguicidas inseticidas, larvicidas
e moluscocidas indicados pelos programas;
f) equipamentos de proteo individual (EPI) para todas as ativi-
dades em Vigilncia em Sade que assim o exigirem, em seu
mbito de atuao, conforme denidos nos Manuais de Pro-
cedimentos de Biossegurana e nos de Segurana no Trabalho;
g) insumos de preveno, diagnstico e tratamento de doenas
sexualmente transmissveis, de acordo com pactuao com as
demais esferas de governo;
XXVI - coordenao da Rede Nacional de Ateno Integral Sade do
Trabalhador (Renast), conforme disciplina prevista em ato normativo
especco;
XXVII - implantao, coordenao e apoio estruturao da Rede
Nacional de Alerta e Resposta s Emergncias em Sade Pblica, por
meio do Cievs;
XXVIII - coordenao Sislab nos aspectos relativos s redes de vigiln-
cia epidemiolgica, sade ambiental, sanitria e sade do trabalhador,
com estabelecimento de normas e uxos tcnico-operacionais, habi-
litao, superviso e avaliao das unidades partcipes;
XXIX - coordenao do Programa Nacional de Imunizaes, incluindo
a denio das vacinas componentes do calendrio nacional, as es-
tratgias e normatizaes tcnicas sobre sua utilizao, com destino
adequado dos insumos vencidos ou obsoletos, de acordo com as
normas tcnicas vigentes;
88
XXX - cooperao tcnica para implantao e desenvolvimento de
Ncleos de Preveno de Violncias e Promoo da Sade e da Vigi-
lncia de Violncias e Acidentes em Servios-Sentinela;
XXXI - estabelecimento de critrios, parmetros e mtodos para o
controle da qualidade sanitria de:
a) produtos, substncias de consumo e uso humano;
b) servios de sade;
c) servios de interesse da sade;
XXXII - regulao, controle e scalizao de procedimentos, produtos,
substncias e servios de sade e de interesse para a sade;
XXXIII - participao na execuo da poltica nacional e produo de
insumos e equipamentos para a sade, em articulao com os demais
rgos e entidades pblicas;
XXXIV - regulao e a execuo de aes de vigilncia sanitria e
epidemiolgica de portos, aeroportos e fronteiras; e
XXXV - normatizao e coordenao do Sistema Nacional de Sangue,
Componentes e Derivados.
Pargrafo nico. A normalizao tcnica de que trata o inciso IX e a
alnea f do inciso XVI deste artigo dever ser pactuada na CIT quan-
do gerar impacto nanceiro ou na organizao dos servios.
Seo III
Das competncias dos estados
Art. 22. Compete s Secretarias Estaduais de Sade implementar as
polticas, diretrizes, prioridades e a gesto dos Sistemas Nacionais de
Vigilncia em Sade e Vigilncia Sanitria no mbito de seus limites
territoriais, compreendendo:
I - promoo, proteo e recuperao da sade da populao;
II - coordenao das aes denidas na Poltica Nacional e Estadual
de Promoo da Sade;
89
III - vigilncias em sade ambiental, epidemiolgica, sanitria e sade
do trabalhador;
IV - coordenao das aes de Vigilncia em Sade, com nfase
naquelas que exigem simultaneidade estadual, regional e municipal;
V - apoio aos municpios no fortalecimento da gesto da Vigilncia
em Sade;
VI - execuo das aes de Vigilncia em Sade de forma complemen-
tar atuao dos municpios;
VII - participao no nanciamento das aes de Vigilncia em Sade,
conforme disposies contidas no Captulo VII do Anexo a esta Porta-
ria e normas complementares;
VIII - participao no processo de planejamento, compreendendo:
a) participao na elaborao do Plano Estadual de Sade, a partir
da anlise da situao de sade da populao;
b) integrao do planejamento das aes de Vigilncia em Sade
com o planejamento da Ateno Sade, em especial com a
Ateno Primria Sade;
c) denio das metas de Vigilncia em Sade que integram o
Pacto pela Sade, de forma negociada na CIB;
d) coordenao do processo de elaborao das programaes das
Aes de Vigilncia em Sade, a partir de denies acordadas
nas CIB, de modo a viabilizar o alcance das metas inseridas no
Pacto pela Sade e compondo a Programao Anual de Sade
estadual;
e) participao na elaborao e desenvolvimento do Plano Diretor
de Regionalizao e Programao Pactuada e Integrada da
Ateno Sade, garantindo que as prioridades identicadas
durante a anlise da situao de sade da populao estejam
neles contempladas;
f) assessoria tcnica s Secretarias Municipais de Sade no proces-
so de planejamento e monitoramento das aes de Vigilncia
90
em Sade, fortalecendo o uso da epidemiologia nos servios e
o uso de evidncias e informaes em sade para orientao
na tomada de deciso;
g) monitoramento e avaliao das aes de Vigilncia em Sade;
IX - normalizao tcnica complementar disciplina nacional;
X - coordenao das aes de resposta s emergncias de sade p-
blica de importncia estadual, bem como cooperao com municpios
em emergncias de sade pblica de importncia municipal, quando
indicado;
XI - comunicao de emergncias de sade pblica, de importncia
nacional, ao Ministrio da Sade, nos termos da disciplina por ele
estabelecida;
XII - noticao de doenas de noticao compulsria, surtos e agra-
vos inusitados, conforme disciplina federal e estadual;
XIII - apoio aos municpios na investigao epidemiolgica de casos
noticados, surtos e bitos, conforme disciplina federal e estadual;
XIV - coordenao, monitoramento e avaliao da estratgia de Vigi-
lncia em Sade sentinela em mbito hospitalar, em articulao com
os municpios;
XV - apoio aos municpios na vigilncia epidemiolgica e monitora-
mento da violncia domstica, sexual e outras violncias;
XVI - cooperao tcnica para a execuo das aes de Vigilncia em
Sade realizadas pelos municpios;
XVII - coordenao dos sistemas de informao de interesse da Vigi-
lncia em Sade, incluindo:
a) estabelecimento de diretrizes, uxos e prazos para o envio dos
dados pelos municpios e/ou regionais, respeitando os prazos
estabelecidos no mbito nacional;
b) consolidao e anlise dos dados provenientes dos municpios,
por meio de processamento eletrnico dos sistemas de base
91
nacional com interesse para a Vigilncia em Sade, de acordo
com normatizao tcnica;
c) retroalimentao dos dados s Secretarias Municipais de Sade;
d) desenvolvimento de aes para o aprimoramento da qualidade
da informao;
e) anlise epidemiolgica e divulgao das informaes, no m-
bito estadual;
f) estabelecimento e divulgao de normas tcnicas, rotinas e
procedimentos de gerenciamento dos sistemas, em carter
complementar atuao da esfera federal;
XVIII - proposio de polticas, normas e aes de educao, comu-
nicao e mobilizao social referentes Vigilncia em Sade, em
carter complementar s denidas pelo nvel federal;
XIX - realizao de campanhas publicitrias em mbito estadual, que
venham a atender s necessidades da poltica de promoo e da Vi-
gilncia em Sade;
XX - fomento e execuo da educao permanente em Vigilncia em
Sade;
XXI - promoo da participao da comunidade nas instncias de
controle social e do estabelecimento de parcerias com organismos
no-governamentais nas aes de Vigilncia em Sade;
XXII - promoo da cooperao e do intercmbio tcnico-cientco
com organismos governamentais e no-governamentais, de mbito
estadual, nacional e internacional, na rea de Vigilncia em Sade;
XXIII - gerncia dos estoques estaduais de insumos estratgicos de
interesse da Vigilncia em Sade, inclusive o armazenamento e o
abastecimento aos municpios, de acordo com as normas vigentes;
XXIV - provimento dos seguintes insumos estratgicos:
a) seringas e agulhas, sendo facultada ao estado a delegao
desta competncia Unio;
92
b) medicamentos especcos, para agravos e doenas de interesse
da Vigilncia em Sade, nos termos pactuados na CIT;
c) meios de diagnstico laboratorial para as aes de Vigilncia
em Sade, nos termos denidos na CIB;
d) equipamentos de asperso de inseticidas;
e) equipamentos de proteo individual (EPI) para todas as ativi-
dades de Vigilncia em Sade que assim o exigirem, em seu
mbito de atuao, conforme denidos nos Manuais de Pro-
cedimentos de Biossegurana e nos de Segurana no Trabalho,
incluindo mscaras faciais completas;
f) leo vegetal para diluio de praguicida;
XXV - coordenao da Renast no mbito estadual, incluindo a de-
nio dos Centros de Referncia em Sade do Trabalhador (Cerest)
pactuados na CIB;
XXVI - implantao, coordenao e estruturao do componente
estadual da Rede Cievs;
XXVII - coordenao, acompanhamento e avaliao da rede estadual
de laboratrios pblicos e privados que realizam anlises de interesse
em sade pblica, nos aspectos relativos vigilncia epidemiolgica,
sade ambiental, sanitria e sade do trabalhador, com estabeleci-
mento de normas e uxos tcnico-operacionais, credenciamento e
avaliao das unidades partcipes;
XXVIII - realizao de anlises laboratoriais de interesse Vigilncia
em Sade, conforme organizao da rede estadual de laboratrios
pactuada na CIB e rede nacional de laboratrios;
XXIX - armazenamento e transporte adequado de amostras laborato-
riais para os laboratrios de referncia nacional;
XXX - coordenao do componente estadual do Programa Nacional
de Imunizaes, com destino adequado dos insumos vencidos ou
obsoletos, de acordo com as normas tcnicas vigentes;
93
XXXI - cooperao tcnica, no mbito estadual, para implantao e
desenvolvimento de Ncleos de Preveno de Violncias e Promoo
da Sade e da Vigilncia de Violncias e Acidentes em Servios-
Sentinela;
XXXII - regulao, controle e scalizao de procedimentos, produtos,
substncias e servios de sade e de interesse para a sade;
XXXIII - participao em carter complementar esfera federal na
formulao, execuo, acompanhamento e avaliao da poltica de
insumos e equipamentos para a sade; e
XXXIV - colaborao com a Unio na execuo da vigilncia sanitria
e epidemiolgica de portos, aeroportos e fronteiras.
1 A normalizao tcnica de que trata o inciso IX e a alnea f
do inciso XVII deste artigo dever ser pactuada na CIB quando gerar
impacto nanceiro ou na organizao dos servios.
2 Os estados podero adquirir insumos estratgicos descritos nos
termos do inciso XXV do art. 21 para uso em Vigilncia em Sade,
mediante pactuao entre as esferas governamentais e em situaes
especiais mediante a comunicao formal com justicativa SVS/MS.
Seo IV
Das competncias dos municpios
Art. 23. Compete s Secretarias Municipais de Sade a gesto dos
Sistemas Nacionais de Vigilncia em Sade e Vigilncia Sanitria no
mbito de seus limites territoriais, de acordo com a poltica, diretrizes
e prioridades estabelecidas, compreendendo:
I - promoo, proteo e recuperao da sade da populao;
II - coordenao municipal das aes denidas na Poltica Nacional,
Estadual e Municipal de Promoo da Sade;
III - vigilncias em sade ambiental, epidemiolgica, sanitria e sade
do trabalhador;
94
IV - coordenao municipal das aes de Vigilncia em Sade;
V - participao no processo de regionalizao solidria e cooperativa;
VI - execuo das aes de Vigilncia em Sade;
VII - participao no nanciamento das aes de Vigilncia em Sade,
conforme disposies contidas no Captulo VII do Anexo a esta Porta-
ria e normas complementares;
VIII - participao no processo de planejamento, compreendendo:
a) participao na elaborao do Plano Municipal de Sade, a
partir da anlise da situao de sade da populao;
b) integrao do planejamento das aes de Vigilncia em Sade
com o planejamento da Ateno Sade, em especial com a
Ateno Primria Sade no municpio;
c) denio das metas de Vigilncia em Sade que integram o
Pacto pela Sade, de forma articulada com as denies da
respectiva CIB;
d) coordenao do processo de elaborao das programaes
das Aes de Vigilncia em Sade no municpio, a partir de
denies acordadas nas CIB, de modo a viabilizar o alcance
das metas inseridas no Pacto pela Sade e compondo a Progra-
mao Anual de Sade do municpio, aprovadas nos Conselhos
Municipais de Sade;
e) participao na elaborao e desenvolvimento do Plano Diretor
de Regionalizao, garantindo que as prioridades identicadas
na anlise da situao de sade da populao estejam contem-
pladas nos mesmos;
f) denio de processo de planejamento e monitoramento das
aes de Vigilncia em Sade, com uso da epidemiologia nos
servios e do uso de evidncias e informaes em sade para
orientao na tomada de deciso;
g) monitoramento e avaliao das aes de Vigilncia em Sade;
95
IX - normalizao tcnica complementar ao mbito nacional e estadual;
X - coordenao das aes de resposta s emergncias de sade p-
blica de importncia municipal;
XI - notificao de doenas de notificao compulsria, surtos e
agravos inusitados e outras emergncias de sade pblica, conforme
normatizao federal, estadual e municipal;
XII - investigao epidemiolgica de casos noticados, surtos e bitos,
conforme normas estabelecidas pela Unio, estado e municpio;
XIII - busca ativa de casos de noticao compulsria nas unidades
de sade, inclusive laboratrios, domiclios, creches e instituies de
ensino, entre outros, existentes em seu territrio;
XIV - busca ativa de Declaraes de bito e de Nascidos Vivos nas
unidades de sade, cartrios e cemitrios existentes em seu territrio;
XV - coordenao, monitoramento e avaliao da estratgia de Vi-
gilncia em Sade sentinela em mbito hospitalar, no seu mbito de
gesto;
XVI - vigilncia epidemiolgica e monitoramento da violncia doms-
tica, sexual e outras violncias;
XVII - coordenao, no mbito municipal, dos sistemas de informao
de interesse da Vigilncia em Sade, incluindo:
a) coleta, processamento, consolidao e avaliao da qualidade
dos dados provenientes das unidades noticantes dos sistemas
de base nacional, com interesse para a Vigilncia em Sade, de
acordo com normatizao tcnica;
b) transferncia dos dados coletados nas unidades noticantes
dos sistemas de base nacional com interesse para a Vigilncia
em Sade em conformidade com os uxos e prazos estabele-
cidos nos mbitos nacional e estadual;
c) retroalimentao dos dados para as unidades noticadoras;
d) anlise dos dados e desenvolvimento de aes para o aprimo-
ramento da qualidade da informao;
96
e) anlise epidemiolgica e divulgao das informaes de mbito
municipal;
f) estabelecimento e divulgao de diretrizes, normas tcnicas,
rotinas e procedimentos de gerenciamento dos sistemas, no
mbito do municpio, em carter complementar atuao das
esferas federal e estadual;
XVIII - proposio de polticas, normas e aes de educao, comu-
nicao e mobilizao social referentes Vigilncia em Sade, em
carter complementar s denidas nos mbitos federal e estadual;
XIX - realizao de campanhas publicitrias em mbito municipal
que venham a atender s necessidades da poltica de promoo e da
Vigilncia em Sade;
XX - promoo e execuo da educao permanente em Vigilncia
em Sade;
XXI - promoo da participao da comunidade nas instncias de
controle social e do estabelecimento de parcerias com organismos
no-governamentais nas aes de Vigilncia em Sade;
XXII - promoo da cooperao e do intercmbio tcnico-cientco
com organismos governamentais e no-governamentais de mbito
municipal, intermunicipal, estadual, nacional e internacional na rea
de Vigilncia em Sade;
XXIII - gerncia do estoque municipal de insumos de interesse da Vi-
gilncia em Sade, incluindo o armazenamento e o transporte desses
insumos para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes;
XXIV - provimento dos seguintes insumos estratgicos:
a) medicamentos especcos, para agravos e doenas de interesse
da Vigilncia em Sade, nos termos pactuados na CIT;
b) meios de diagnstico laboratorial para as aes de Vigilncia
em Sade nos termos denidos na CIB;
c) equipamentos de proteo individual (EPI) para todas as ativi-
dades de Vigilncia em Sade que assim o exigirem, em seu
97
mbito de atuao, conforme denidos nos Manuais de Pro-
cedimentos de Biossegurana e nos de Segurana no Trabalho,
incluindo vesturio, luvas e calados;
XXV - coordenao da Renast no mbito municipal;
XXVI - coordenao e estruturao do componente municipal da Rede
Cievs, quando couber;
XXVII - coordenao, acompanhamento e avaliao da rede municipal
de laboratrios pblicos e privados que realizam anlises essenciais
s aes de vigilncia epidemiolgica, sade ambiental, sanitria e
sade do trabalhador;
XXVIII - realizao de anlises laboratoriais de interesse Vigilncia
em Sade, conforme organizao da rede estadual de laboratrios
pactuada na CIB;
XXIX - coleta, armazenamento e transporte adequado de amostras
laboratoriais para os laboratrios de referncia;
XXX - coordenao e execuo das aes de vacinao integrantes do
Programa Nacional de Imunizaes, incluindo a vacinao de rotina
com as vacinas obrigatrias, as estratgias especiais como campanhas
e vacinaes de bloqueio e a noticao e investigao de eventos
adversos e bitos temporalmente associados vacinao;
XXXI - descartes e destinao nal dos frascos, seringas e agulhas
utilizadas, conforme normas tcnicas vigentes;
XXXII - coordenao das aes desenvolvidas pelos Ncleos de
Preveno de Violncias e Promoo da Sade e pela Vigilncia de
Violncias e Acidentes em Servios-Sentinela, no mbito municipal,
quando couber;
XXXIII - regulao, controle e scalizao de procedimentos, produ-
tos, substncias e servios de sade e de interesse para a sade, no
mbito municipal;
XXXIV - participao, em carter complementar s esferas federal e
estadual, na formulao, execuo, acompanhamento e avaliao da
poltica de insumos e equipamentos para a sade; e
98
XXXV - colaborao com a Unio e os estados na execuo da vigi-
lncia sanitria e epidemiolgica de portos, aeroportos e fronteiras.
Pargrafo nico. Os municpios podero adquirir insumos estratgicos
descritos nos termos do inciso XXV do art. 21 e do inciso XXIV do art.
22 para uso em Vigilncia em Sade, mediante pactuao entre as
esferas governamentais e em situaes especiais mediante a comu-
nicao formal com justicativa SVS/MS ou Secretaria Estadual
de Sade.
Seo V
Do Distrito Federal
Art. 24. A gesto dos Sistemas Nacionais de Vigilncia em Sade e
Vigilncia Sanitria pelo Distrito Federal compreender, simultanea-
mente, as competncias relativas a estados e municpios.
CAPTULO IV
DA SUBSTITUIO DO PROCESSO DE CERTIFICAO
Art. 25. A adeso ao Pacto pela Sade, por meio da homologao dos
respectivos Termos de Compromisso de Gesto, substitui o processo
de certicao da gesto das aes de Vigilncia em Sade como
instrumento formalizador do compromisso dos estados, do Distrito
Federal e dos municpios no desenvolvimento das aes descentrali-
zadas de Vigilncia em Sade.
Art. 26. Os entes federados, considerada a situao atual de certi-
cao e adeso ao Pacto pela Sade, identicam-se nas seguintes
categorias:
I - estados, Distrito Federal e municpios certicados e aderidos ao
Pacto pela Sade;
99
II - municpios certicados e no aderidos ao Pacto pela Sade;
III - municpios no certicados e aderidos ao Pacto pela Sade; e
IV - municpios no certicados e no aderidos ao Pacto pela Sade.
Art. 27. Os municpios certicados e no aderidos ao Pacto pela Sade
permanecem com a gesto das aes descentralizadas de Vigilncia
em Sade at a efetivao de sua adeso e devero atender ao dispos-
to nos arts. 47 e 48, condicionado alimentao regular dos sistemas
de informao acompanhado do monitoramento do saldo bancrio,
a ser regulamentado em ato especco.
Art. 28. Os municpios no certicados e aderidos ao Pacto pela Sa-
de assumiro a gesto das aes descentralizadas de Vigilncia em
Sade, mediante publicao de portaria com os valores referentes
ao Componente de Vigilncia e Promoo da Sade, pactuados na
respectiva CIB, para efetivao da transferncia.
Art. 29. O repasse de recursos do Componente de Vigilncia e Pro-
moo da Sade, do Bloco da Vigilncia em Sade, a municpios no
certicados e no aderidos ao Pacto pela Sade est condicionado
respectiva adeso, cando extintas novas certicaes.
CAPTULO V
DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAO
Art. 30. O processo de planejamento do Sistema nico de Sade
pautado pela anlise da situao de sade na identicao das con-
dies, dos determinantes e dos condicionantes de sade da popula-
o, dos riscos sanitrios na organizao de servios e na gesto em
sade, e estabelece as condies para a integrao entre vigilncia,
promoo e assistncia em sade.
100
Pargrafo nico. As diretrizes, aes e metas de Vigilncia em Sade
devem estar inseridas no Plano de Sade e nas Programaes Anuais
de Sade (PAS) das trs esferas de gesto.
Art. 31. A Vigilncia em Sade insere-se no processo de regionalizao
da ateno sade, devendo estar contemplada no Plano Diretor de
Regionalizao (PDR) e na Programao Pactuada Integrada (PPI), com
incluso da anlise das necessidades da populao, da denio de
agendas de prioridades regionais, de aes intersetoriais e de inves-
timentos.
Art. 32. O monitoramento e a avaliao das aes de Vigilncia em
Sade que orientam a tomada de decises e qualicam o processo
de gesto so de responsabilidade das trs esferas de gesto e devem
ser realizados:
I - de forma integrada, considerando os aspectos da vigilncia, pro-
moo e ateno sade;
II - com base nas prioridades, objetivos, metas e indicadores de moni-
toramento e avaliao do Pacto pela Sade e nas programaes das
aes; e
III - com metodologia acordada na CIT.
Art. 33. Os resultados alcanados das aes de Vigilncia em Sade
comporo o Relatrio Anual de Gesto (RAG) em cada esfera de gesto.
101
CAPTULO VI
DO FINANCIAMENTO DAS AES
Seo I
Da composio e transferncia de recursos
Art. 34. Os recursos federais transferidos para estados, Distrito Federal
e municpios para nanciamento das aes de Vigilncia em Sade
esto organizados no Bloco Financeiro de Vigilncia em Sade e so
constitudos por:
I - Componente de Vigilncia e Promoo da Sade; e
II - Componente da Vigilncia Sanitria.
Pargrafo nico. Os recursos de um componente podem ser utilizados
em aes do outro componente do Bloco de Vigilncia em Sade.
Art. 35. O Componente de Vigilncia e Promoo da Sade refere-se
aos recursos federais destinados s aes de vigilncia, promoo,
preveno e controle de doenas, constitudo em:
I - Piso Fixo de Vigilncia e Promoo da Sade PFVPS; e
II - Piso Varivel de Vigilncia e Promoo da Sade PVVPS.
Pargrafo nico. Os valores do PFVPS sero ajustados anualmente com
base na populao estimada pelo Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatstica IBGE.
Art. 36. O PFVPS compe-se de um valor per capita estabelecido com
base na estraticao, populao e rea territorial de cada unidade
federativa.
Pargrafo nico. Para efeito do PFVPS, as unidades federativas so
estraticadas nos seguintes termos:
I - Estrato I: Acre, Amazonas, Amap, Par, Rondnia, Roraima, To-
cantins e municpios pertencentes Amaznia Legal dos estados do
Maranho (1) e Mato Grosso (1);
102
II - Estrato II: Alagoas, Bahia, Cear, Esprito Santo, Gois, Maranho
(2), Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (2), Paraba,
Pernambuco, Piau, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe;
III - Estrato III: So Paulo e Paran; e
IV - Estrato IV: Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Art. 37. Os recursos que compem o PFVPS sero alocados segundo
os seguintes critrios:
I - as Secretarias Estaduais de Sade percebero valores equivalentes
a, no mnimo, 10% (dez por cento) do PFVPS atribudo ao estado cor-
respondente, acrescidos dos valores referentes ao Fator de Incentivo
para os Laboratrios Centrais de Sade Pblica Finlacen;
II - cada municpio perceber valores equivalentes a, no mnimo, 60%
(sessenta por cento) do per capita do PFVPS atribudo ao estado cor-
respondente;
III - cada capital e municpio que compem sua regio metropolitana
percebero valores equivalentes a, no mnimo, 80% do per capita do
PFVPS atribudo ao estado correspondente; e
IV - fator de ajuste pactuado na CIB, destinado ao nanciamento dos
ajustes necessrios para o atendimento s especicidades regionais
e/ou municipais, conforme caractersticas ambientais e/ou epidemio-
lgicas que o justiquem.
1 Os recursos referentes s campanhas de vacinao anuais de
inuenza sazonal, poliomielite e raiva animal devero ser pactuados
entre estados e municpios na respectiva CIB e acrescidos aos PFVPS
de estados e municpios.
2 A CIB denir o valor do PFVPS destinado Secretaria Estadual
de Sade e a cada um de seus municpios, em cada estado.
3 O Distrito Federal perceber o montante total relativo ao PFVPS
atribudo a esta unidade federativa, acrescido dos valores referentes ao
Finlacen e s campanhas de vacinao de que trata o pargrafo anterior.
103
Art. 38. O PVVPS constitudo por incentivos especcos, por adeso
ou indicao epidemiolgica, conforme normatizao especica:
a) Ncleos Hospitalares de Epidemiologia NHE;
b) Sistema de Vericao de bito SVO;
c) Sistemas de Registro de Cncer de Base Populacional RCBP;
d) Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV/Aids;
e) frmula infantil s crianas verticalmente expostas ao HIV;
f) incentivo no mbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras
DST;
g) promoo da sade; e
h) outros que venham a ser institudos.
Art. 39. A reserva estratgica federal ser constituda de valor equi-
valente a at 5% (cinco por cento) dos recursos do Componente de
Vigilncia e Promoo da Sade.
Art. 40. O detalhamento dos valores referentes ao repasse federal
do Componente de Vigilncia e Promoo da Sade ser publicado
por ato normativo conjunto da Secretaria-Executiva do Ministrio da
Sade e da SVS/MS.
Art. 41. O Componente da Vigilncia Sanitria refere-se aos recursos
federais destinados s aes de vigilncia sanitria, segundo moda-
lidades e critrios denidos em normatizao especca, constitudo
em:
I - Piso Fixo de Vigilncia Sanitria (PFVisa), composto pelo piso
estruturante e piso estratgico, acrescido dos valores referentes ao
Finlacen-Visa; e
II - Piso Varivel de Vigilncia Sanitria (PVVisa), constitudo por incen-
tivos especcos, por adeso ou indicao epidemiolgica, conforme
normatizao especca:
a) gesto de pessoas em Vigilncia Sanitria para a poltica de
educao permanente; e
104
b) outros que venham a ser institudos.
Pargrafo nico. Os valores do PFVisa sero ajustados anualmente
com base na populao estimada pelo Instituto Brasileiro de Geograa
e Estatstica IBGE.
Art. 42. Os recursos do Bloco de Vigilncia em Sade sero repassados
de forma regular e automtica do Fundo Nacional de Sade para os
Fundos Estaduais e Municipais de Sade, em trs parcelas anuais, nos
meses de janeiro, maio e setembro, em conta especca, vetada sua
utilizao para outros ns no previstos nesta Portaria.
Seo II
Do monitoramento dos recursos da Vigilncia em Sade
a estados e municpios
Art. 43. A comprovao da aplicao dos recursos ser feita conso-
ante a disciplina prevista no art. 3 da Portaria n 3.176/GM/MS, de
24 de dezembro de 2008, por meio do RAG aprovado pelo respectivo
Conselho de Sade.
Art. 44. A manuteno do repasse dos recursos do Componente de
Vigilncia e Promoo da Sade est condicionada alimentao
regular do Sistema de Informao de Agravos de Noticao (Sinan),
de Sistema de Informaes de Nascidos Vivos (Sinasc) e do Sistema
de Informaes sobre Mortalidade (SIM), conforme regulamentaes
especcas destes Sistemas.
1 As Secretarias Municipais de Sade devero noticar semanal-
mente agravos de noticao compulsria ou noticao negativa no
Sinan, conforme a Portaria n 5/SVS/MS, de 21 de fevereiro de 2006,
e a Instruo Normativa n 2/SVS/MS, de 22 de novembro de 2005.
2 As Secretarias Estaduais e Municipais de Sade devero garantir a
transferncia dos dados das declaraes de bitos para o mdulo na-
cional do SIM no prazo de at 60 (sessenta) dias aps o encerramento
do ms de ocorrncia do bito no quantitativo esperado, por meio
105
eletrnico, conforme a Portaria n 116/SVS/MS, de 11 de fevereiro
de 2009, e o ato normativo especco a ser publicado anualmente.
Art. 45. A manuteno do repasse dos recursos do Componente da
Vigilncia Sanitria est condicionada a:
I - cadastramento dos servios de vigilncia sanitria no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Sade CNES; e
II - preenchimento mensal da Tabela de Procedimentos de Visa no
Sistema de Informao Ambulatorial do SUS SAI-SUS.
Art. 46. de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Sade o
monitoramento da regularidade da transferncia dos dados dos mu-
nicpios situados no mbito de seu estado.
Art. 47. O bloqueio do repasse do Componente de Vigilncia e
Promoo da Sade para estados e municpios dar-se- caso sejam
constatados 2 (dois) meses consecutivos sem preenchimento de um
dos sistemas de informaes estabelecidos nos pargrafos 1 e 2 do
art. 44, segundo parmetros a serem publicados em ato normativo
especco.
Art. 48. O bloqueio do repasse do Componente da Vigilncia Sanitria
para estados e municpios dar-se- caso seja constatado o no cadas-
tramento no CNES ou 2(dois) meses consecutivos sem preenchimento
do SIA-SUS.
Art. 49. O Ministrio da Sade publicar ato normativo especco com
a relao de Secretarias Estaduais e Municipais de Sade que tiveram
seus recursos bloqueados.
Art. 50. O Fundo Nacional de Sade efetuar o desbloqueio do
repasse dos recursos no ms seguinte ao restabelecimento do pre-
enchimento dos sistemas de informao referentes aos meses que
geraram o bloqueio.
1 A regularizao do repasse ocorrer com a transferncia retroativa
dos recursos anteriormente bloqueados caso o preenchimento dos sis-
temas ocorra at 90 (noventa) dias da data de publicao do bloqueio.
106
2 A regularizao do repasse ocorrer sem a transferncia dos
recursos anteriormente bloqueados caso a alimentao dos sistemas
ocorra aps 90 (noventa) dias da data de publicao do bloqueio.
3 O Ministrio da Sade publicar em ato normativo especco a
relao de Secretarias Estaduais e Municipais de Sade que tiveram
seus recursos desbloqueados.
CAPTULO VII
DAS DISPOSIES TRANSITRIAS
Art. 51. Ficam mantidas, at a assinatura do Termo de Compromisso
de Gesto constante das Diretrizes Operacionais do Pacto pela Sade
2006, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos municpios e
estados que esto certicados a assumir a gesto das aes de Vigi-
lncia em Sade.
Art. 52. Compete aos estados a execuo das aes de Vigilncia em
Sade em municpios no certicados e que no aderiram ao Pacto
pela Sade.
Art. 53. O monitoramento do saldo bancrio dos municpios que
recebem recursos do Bloco de Vigilncia em Sade e que ainda no
aderiram ao Pacto pela Sade ser realizado anualmente para efeito
de bloqueio, a ser disciplinado em ato normativo especco.
Art. 54. Para efeito da implantao das novas regras estabelecidas,
o Ministrio da Sade, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publi-
cao desta Portaria, realizar o levantamento dos saldos nanceiros
existentes em 31 de dezembro de 2009 nas contas dos estados e dos
municpios que aderiram ao Pacto pela Sade, referentes ao Bloco de
Vigilncia em Sade.
1 O estado ou municpio em que for constatado saldo bancrio
superior ao valor correspondente a 6 (seis) meses de repasse dever
107
apresentar na respectiva CIB, no prazo de trs meses aps a divulga-
o do saldo, um formulrio de aplicao dos recursos acumulados,
que devero ser executados at o nal do ano de 2010.
2 O formulrio descrito no pargrafo anterior dever apresentar o
demonstrativo dos recursos comprometidos ou proposta de aplicao
do respectivo saldo vinculada s aes estabelecidas nas programa-
es anuais de sade.
3 A CIB ca responsvel por informar ao Ministrio da Sade o
consolidado da situao identicada.
4 A comprovao da aplicao dos recursos dar-se- por meio do
Relatrio Anual de Gesto aprovado pelo respectivo Conselho de
Sade.
Art. 55. As disposies contidas nos arts. 44, 45, 46, 47 e 48 do
Anexo a esta Portaria entraro em vigor 180 (cento e oitenta) dias
aps sua publicao, de forma a permitir a adequao necessria por
parte do Ministrio da Sade, dos estados, do Distrito Federal e dos
municpios.
Pargrafo nico. O Ministrio da Sade no efetuar o bloqueio du-
rante o perodo estabelecido no caput deste artigo.
Art. 56. A CIB dever enviar at 31 de maro de 2010 os valores re-
lativos do PFVPS destinados Secretaria Estadual de Sade e a cada
um de seus municpios de que trata o 2 do art. 37.
Art. 57. A periodicidade do repasse mensal ser mantida no primeiro
quadrimestre de 2010 para efetivar a operacionalizao de que trata
o art. 42.
108
CAPTULO VIII
DAS DISPOSIES FINAIS
Art. 58. O Ministrio da Sade editar ato normativo anualmente com
especicao das prioridades e dos critrios pactuados na CIT para
a alocao de recursos de investimento em Vigilncia em Sade, em
conformidade com a Portaria n 837/GM/MS, de 2009.
9 7 8 8 5 3 3 4 1 7 0 6 9
ISBN 978-85-334-1706-9
D
I
R
E
T
R
I
Z
E
S
N
A
C
I
O
N
A
I
S
D
A
V
I
G
I
L
N
C
I
A
E
M
S
A
D
E
V O L U M E 1 3
Disque Sade
0800 61 1997
www.saude.gov.br/svs
www.saude.gov.br/bvs
www.saude.gov.br/dab
Diretrizes Nacionais
da Vigilncia em Sade
Ministrio da Sade
Braslia 2010
Governo
Federal
Ministrio
da Sade
Você também pode gostar
- Prova 2 Enare 2023/2024 OdontologiaDocumento17 páginasProva 2 Enare 2023/2024 OdontologiaAna Vitórya A S Oliveira100% (2)
- COPESEAgente de Combate Às Endemias Demerval Lobão 2017Documento15 páginasCOPESEAgente de Combate Às Endemias Demerval Lobão 2017MARCELO SANTOSAinda não há avaliações
- Trabalho Fotos Sífilis e GonorréiaDocumento19 páginasTrabalho Fotos Sífilis e Gonorréiaanon-29678690% (31)
- Arboviroses 2Documento10 páginasArboviroses 2Francielle Constantino PereiraAinda não há avaliações
- Ebook Da Unidade - Bases Da Vigilância em SaúdeDocumento34 páginasEbook Da Unidade - Bases Da Vigilância em SaúdeFabio ChavesAinda não há avaliações
- UFCD 8531-S1 Via Verde AVC e Escala de RACEDocumento34 páginasUFCD 8531-S1 Via Verde AVC e Escala de RACECarlos PereiraAinda não há avaliações
- Disfonias Funcionais e Não FuncionaisDocumento6 páginasDisfonias Funcionais e Não FuncionaisSara Boa SorteAinda não há avaliações
- Leishmaniose (Aula 4)Documento42 páginasLeishmaniose (Aula 4)lucianoraimundoAinda não há avaliações
- Slide Da Aula Do Dia 1510Documento60 páginasSlide Da Aula Do Dia 1510Emanuelle BelléAinda não há avaliações
- Formulario ContatosDocumento1 páginaFormulario ContatosOliveira Gilvan OliveiraAinda não há avaliações
- Câncer de Cabeça e PescoçoDocumento14 páginasCâncer de Cabeça e PescoçoHellen OliveiraAinda não há avaliações
- Higiene e Nutrição - 1 EtapaDocumento98 páginasHigiene e Nutrição - 1 EtapaThádia AraújoAinda não há avaliações
- DAOP e IVCDocumento6 páginasDAOP e IVCFelipe AcostaAinda não há avaliações
- INFECÇÕESDocumento2 páginasINFECÇÕESJúlia RodriguesAinda não há avaliações
- Controle Das DSTs - 26 PGDocumento26 páginasControle Das DSTs - 26 PGderekAinda não há avaliações
- ApresentaçãoDocumento14 páginasApresentaçãoCrisped Toast836Ainda não há avaliações
- Mapa Mental Bact.Documento5 páginasMapa Mental Bact.Gabriela CardosoAinda não há avaliações
- Paracoccidioidomicose e Coccidioidomicose Microbiologia 2017.2Documento19 páginasParacoccidioidomicose e Coccidioidomicose Microbiologia 2017.2Beatriz JeolasAinda não há avaliações
- Sifilis CongenitaDocumento1 páginaSifilis CongenitaTaiany FernandesAinda não há avaliações
- Trabalho de Ciências 8A Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTIST) - 20231122 - 140814 - 0000Documento13 páginasTrabalho de Ciências 8A Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTIST) - 20231122 - 140814 - 0000ashbananinha70Ainda não há avaliações
- Características Do Enfoque NormativoDocumento7 páginasCaracterísticas Do Enfoque NormativoVanessa FariaAinda não há avaliações
- Edital Selecao 2024-DoutoradoDocumento27 páginasEdital Selecao 2024-DoutoradoPaulo JoséAinda não há avaliações
- Parte2 A Saude Brota Da Natureza 5Documento298 páginasParte2 A Saude Brota Da Natureza 5JAILTON SCAinda não há avaliações
- Triagem Pré-Natal Ampliada - Teste Da MamãeDocumento9 páginasTriagem Pré-Natal Ampliada - Teste Da MamãeSarah MendonçaAinda não há avaliações
- Nódulos Tireoidianos e BócioDocumento10 páginasNódulos Tireoidianos e BócioFrancielli Cristina da SilvaAinda não há avaliações
- Tópicos Especiais em Ética e BioéticaDocumento41 páginasTópicos Especiais em Ética e BioéticaBeatriz ViannaAinda não há avaliações
- Diagnóstico PeriodontalDocumento2 páginasDiagnóstico PeriodontalEvelin NicodemosAinda não há avaliações
- Fisioterapia Nas Doenças Neuromusculares - RelatórioDocumento1 páginaFisioterapia Nas Doenças Neuromusculares - RelatórioBEATRIZ RITHIELY HENRIQUE RAMOS DA SILVAAinda não há avaliações
- Plano de Acao Da Sala de Situacao Da Sala de Situacao MonkeypoxDocumento47 páginasPlano de Acao Da Sala de Situacao Da Sala de Situacao MonkeypoxNadyely RibeiroAinda não há avaliações
- A Epidemiologia É A Ciência Que Estuda Os Padrões Da Ocorrência deDocumento1 páginaA Epidemiologia É A Ciência Que Estuda Os Padrões Da Ocorrência deFlavinha MartinsAinda não há avaliações