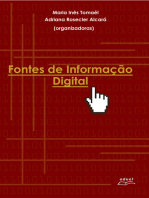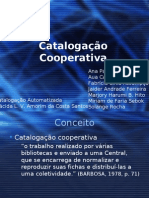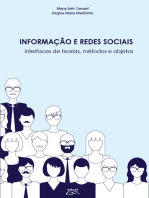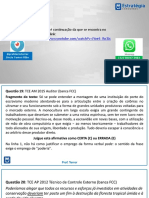Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Introdução Geral Às Ciências e Técnicas Da Informação e Documentação
Introdução Geral Às Ciências e Técnicas Da Informação e Documentação
Enviado por
MATIVE1Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Introdução Geral Às Ciências e Técnicas Da Informação e Documentação
Introdução Geral Às Ciências e Técnicas Da Informação e Documentação
Enviado por
MATIVE1Direitos autorais:
Formatos disponíveis
DBICT - Instituto Brasileiro de Informao em Cincia e Tecnologia
FBB - Fundao Banco do Brasil
Introduo geral
s cincias e tcnicas da
informao e documentao
Claire Guinchat
Michel Menou
Segunda edio
corrigida e aumentada por
Marie-France Blanquet
Introduo geral s cincias
e tcnicas da informao
e documentao
Introduo geral
s cincias e tcnicas da
informao e documentao
Claire Guinchat e Michel Menou
Segunda edio corrigida e aumentada por Marie-France Blanquet
Traduo de Mriam Vieira da Cunha
0 2
Braslia, 1994
S - . kJ U C .
L O/K,
MCT/CNPq/IBICT
FBB - Fundao Banco do Brasil
DBICT - Instituto Brasileiro de Informao em Cincia e Tecnologia
UNESCO 1981
Titulo original: Introduction gnrale aux sciences et techniques de Vtnformation
et de la documentation. UNESCO, 1981, de autoria de Claire Guinchat e Michel
Menou. Arte da capa: Alexandre Mimoglou
A presente edio a traduo da segunda edio francesa, revista e
aumentada por Marie-France Blanquet
UNESCO 1990 - segunda edio francesa
Direitos desta edio cedidos ao Instituto Brasileiro de Informao em Cincia
e Tecnologia (IBICT).
proibida a reproduo de qualquer parte desta obra sem a prvia autorizao do
IBICT.
IBICT 1994
Coordenao editorial: Arthur Costa e Margaret de Palermo
Projeto grfico: Nair Costa Barreto
Reviso e normalizao: Maria Ins Adjuto Ulhoa e Margaret de Palermo
Editorao eletrnica: Rogrio Anderson, Arthur Costa, Cludia Rossi e
Heloisa Neves
Traduo: Mriam Vieira da Cunha
Guinchat, Claire
Introduo geral s cincias e tcnicas da informao e documentao/
Claire Guinchat e Michel Menou. - 2. ed. corr. aum./ por Marie -
France Blanquet/traduo de Mriam Vieira da Cunha. - Braslia: IBICT, 1994.
540 p.
Traduo de Introduction gnrale aux sciences et techniques de l'information
et de la documentation
ISBN 85-7013-050-3
1. Cincia da Informao. 2. Documentao. I. Menou, Michel II. Blanquet,
Marie-France comp. III. Cunha, Mriam Vieira da, trad. IV. Titulo
CDU 02:002
Primeira edio francesa, 1981
Primeira reimpresso, 1984
Segunda reimpresso, 1985
Segunda edio francesa revista e aumentada, 1990
Traduo para o portugus, 1994
Instituto Brasileiro de Informao em Cincia e Tecnologia (IBICT)
SAS, Quadra 5, lote 6, bloco H
CEP: 70070-000 Braslia, DF
TEL. (061) 217-6161- Telex 2481 CICT BR FAX 226-2677
Esta obra foi financiada pela Fundao Banco do Brasil (FBB).
Impresso no Brasil
Prefcio
A implantao de estruturas eficazes de biblioteconomia e documentao
nos pases em desenvolvimento dificultada, em grande parte, pela
ausncia ou insuficincia de pessoal qualificado.
Alguns pases, quando se conscientizaram que os especialistas da
informao podem dar uma contribuio importante ao desenvolvimento,
concentraram seus esforos na criao e no desenvolvimento de estruturas
de formao, com a ajuda das organizaes internacionais, como a
Unesco. Paralelamente, a Unesco prioriza a elaborao e a difuso de
manuais de estudo adaptados s necessidades destes pases e de seus
leitores.
Apesar destes esforos, estas necessidades ainda no esto satisfeitas.
Na maioria dos pases em desenvolvimento, alguns organismos de
biblioteconomia e documentao so administrados por pessoas que no
possuem formao profissional. Foi necessrio, desta forma, pensar em
todos aqueles que ao entrar na vida profissional, procuram em vo por um
manual simples, que possa dar uma idia clara de sua misso futura e de
sua importncia.
Para suprir esta lacuna, a Unesco confiou a elaborao deste manual
a dois profissionais com grande experincia no assunto. Os autores desta
obra contaram com a colaborao de profissionais de diversos pases que
lhes proporcionaram uma ajuda generosa.
Este manual pretende ser uma introduo geral s cincias e tcnicas
da documentao e da informao. A obra foi escrita com um vocabulrio
simples e organizada em mdulos e mantm uma unidade de apresentao.
Ela pretende ser um instrumento de autoformao. Esperamos que ela
possa reforar a motivao e a eficcia das pessoas que iniciam uma
carreira em uma biblioteca ou servio de informao ou que j exercem a
profisso sem ter recebido a formao necessria.
Sumrio
Apresentao 13
Nota da segunda edio 15
Apresentao da traduo em portugus 17
Introduo 19
Os tipos de documentos 41
Caractersticas 41
Estrutura dos documentos 48
Tempo de vida dos documentos 51
Definio dos principais documentos 53
Ilustraes 57
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria 65
Obras de referncia 65
Bibliografias 65
Catlogos 67
Dicionrios e obras de terminologia 68
Enciclopdias 69
Tratados e recenses anuais 70
Repertrios 71
Ilustraes 74
A seleo e a aquisio 83
Poltica de aquisio 83
A busca dos documentos 84
Formas de aquisio 86
Procedimento;' de aquisio 89
O armazenamento dos documentos 93
Formas de armazenamento 93
Tipos de arranjo 94
Agentes de deteriorao 96
Recuperao e restaurao 97
A descrio bibliogrfica 101
reas de dados 102
Procedimento 103
Normas e formatos 104
A descrio bibliogrfica dos documentos audio-visuais 116
Ilustraes 119
A descrio de contedo 121
Objetivos 121
Procedimento fundamental 124
Modalidades de descrio de contedo 129
As linguagens documentais 133
As linguagens naturais 133
As linguagens documentais 136
Os tesauros 146
Compatibilidade entre as linguagens documentais 149
A elaborao de uma linguagem documental 153
Ilustraes 158
A classificao 167
Objetivos 167
Etapas 168
Determinao dos assuntos 169
Seleo dos nmeros de classificao 169
A classificao automatizada 172
A indexao 175
Modalidades de indexao 176
Etapas da indexao 177
Indexao de documentos no-escritos 181
Indexao automatizada 182
Ilustraes 186
O resumo 189
Tipos de resumo 189
Contedo do resumo 190
Mtodo de realizao 191
Problemas ligados a tipos particulares de documentos 193
Os catlogos e os fichrios 197
Apresentao material 198
Procedimento de organizao 198
Tipos de catlogos 199
Ilustraes 205
As instalaes e os equipamentos 211
Desenvolvimento do estudo preliminar 211
Local e mobilirio 214
Materiais e equipamentos 215
A informtica nas unidades de informao 223
Definio 224
Pessoal especializado 224
Equipamento: unidade central e perifricos 225
Os programas 232
Os programas de informtica documentria 234
Linguagens de programao 236
Modalidades de utilizao 236
Os dados e os arquivos 237
Estudo de oportunidade 240
Anexo: o programa Microlsis 242
A unidade de informao e as novas tecnologias 253
Comunicao, telecomunicao e telemtica 255
A produo, a gesto e o tratamento da informao: a
inteligncia artificial 265
As memrias ticas 275
Anexo: Transdoc 289
A indstria da informao 293
Os produtores 295
Os servios de bancos de dados 298
O tldchargement (teletransferncia) 299
As redes de telecomunicaes 300
O usurio 301
O videotexto 301
A pesquisa da informao 305
Procedimentos de pesquisa 305
Etapas da pesquisa 309
Perfil do usurio 314
Tipos de pesquisa 316
Pesquisa automatizada 317
O programa de interrogao 322
avaliao dos sistemas de armazenamento e de
pesquisa da informao 325
Medidas de eficcia 325
Principais causas de deficincia do sistema 328
Avaliao dos custos 329
Os tipos de unidades de informao e as redes 333
Unidades de informao especializadas em documentos primrios 334
Centros e servios de documentao 337
Centros e servios de anlise da informao 338
Redes de informao 340
Produtores 342
Os servios de difuso da informao 347
Formas de difuso 347
Direito autoral 349
Formas de difuso de documentos primrios 349
Difuso de documentos secundrios 356
Difuso seletiva da informao 358
Difuso de documentos tercirios 362
Os servios de bancos de dados e as redes de telecomunicaes 363
Ilustraes 368
Os programas e sistemas internacionais de informao 381
A cooperao internacional na rea da informao 381
Atividades das organizaes das Naes Unidas 388
Atividades das organizaes internacionais governamentais 396
Atividades dos organismos nacionais 403
Atividades das organizaes internacionais no-govemamentais (ONG) 405
Sistemas internacionais de informao 409
Anexo: apresentao de alguns sistemas de informao 412
A normalizao 433
Tipos de normas 434
Organismos de normalizao 435
O desenvolvimento de uma norma ISO 437
Utilizao das normas 438
Ilustraes 440
A gesto e as polticas de uma unidade de informao 443
Campo da gesto 443
Organizao de uma unidade de informao 447
Anlise das tarefas 450
Oramento e financiamento 454
Promoo e marketing 456
Avaliao das atividades de informao 460
Anlise de valor e anlise sistmica 461
Anexo: alguns exemplos de descries de caigos em cincia da informao 465
A gesto e as polticas nacionais e internacionais de informao 467
Poltica nacional de informao 467
Sistema nacional de informao: estrutura, componentes e objetivos 469
Estudo e tipologia dos sistemas nacionais de informao 474
Participao nas atividades internacionais 475
Os usurios 481
Papel do usurio 482
Categorias de usurios 483
Obstculos comunicao 486
Mtodos de estudo de usurios 488
Formao de usurios 489
A formao profissional 493
Possibilidades de formao
493
Tipos de programas de formao
494
Evoluo da formao
500
A profisso
505
Perfil de um especialista da informao
505
Acesso profisso
507
Estatuto da profisso
509
As associaes profissionais
511
Fontes de informao profissional
512
O futuro da profisso
513
Anexo: Cdigo de Deontologia da Corporation des
Bibliothcaires Professionnels du Quebec
519
A pesquisa em cincias e tcnicas da informao
525
Papel e campos da pesquisa
525
Mtodos de pesquisa
527
Complemento bibliogrfico
Lista de siglas
531
Apresentao
Esta obra destina-se a todos que, possuindo um curso secundrio,
iniciam uma carreira numa unidade de informao sem terem recebido
uma formao bsica nas cincias e tcnicas de informao. Estas
pessoas so, em geral, engajadas nas unidades de informao para
executar tarefas especializadas. O objetivo deste manual ajudar estas
pessoas a exercer melhor as atividades de informao, por uma viso de
conjunto que pretende ser, ao mesmo tempo, completa, bem organizada
e de fcil acesso. Esperamos que este objetivo tenha sido atingido.
Particularmente, esta obra dever permitir compreender a razo de ser
das atividades de informao e suas relaes com o conjunto dos
mecanismos de circulao da informao; e encontrar uma descrio das
diversas operaes, instrumentos e conceitos relativos aos sistemas de
informao para que possa lhes servir de guia aos seus leitores.
Este livro dever, desta forma, preparar o leitor para receber uma
formao especializada em servio ou para freqentar cursos ad hoc. Ele
no poder, em nenhuma hiptese, substituir uma formao bsica,
aconselhvel a todo agente de informao. Dever apenas servir de
paliativo aos efeitos negativos da ausncia de formao.
Este livro no se destina aquisio de uma aptido especial, mas
pretende simplesmente explicar cada tarefa e situ-la no seu contexto. As
qualificaes prticas devem ser adquiridas pela formao em servio, em
cursos especializados e pela formao bsica em cincias e tcnicas da
informao.
No se pretendeu aqui limitar-se s descries materiais, mas tentou-
se mostrar a utilidade social da profisso. Buscamos ainda enfatizar que
uma qualidade fundamental do profissional da informao o interesse
pelas pessoas. Esperamos que este livro possa reforar a motivao dos
seus leitores e oferecer-lhes perspectivas profissionais atraentes.
Este manual foi concebido como instrumento de autoformao, para
uso individual. Entretanto, ele pode ser utilizado igualmente nas unidades
de informao e nas escolas de cincia da informao como obra de
referncia nos ciclos de formao, como guia para elaborao de cursos,
ou como meio de controlar conhecimentos antes de uma formao
especializada.
Pretendemos, em primeiro lugar, contribuir para a formao de pessoal
para os sistemas de informao automatizados. Para tal, buscamos dar
uma viso de conjunto das tcnicas de informao. , sem dvida, difcil
efetuar esta tarefa de forma equilibrada. Temos conscincia deste problema
e pensamos ter conseguido seu intento. Estamos conscientes de ter
imposto, algumas vezes, pontos de vista pessoais, de forma a dar uma
apresentao estruturada e coerente num campo do conhecimento ainda
no muito definido. Em nossa opinio, a simplicidade e a unidade so mais
importantes para o pblico visado que a viso de uma escola de pensamento.
Esta obra se caracteriza tambm por sua estrutura modular. Contm
uma introduo que faz uma apresentao geral das atividades de
informao e uma srie de captulos especializados que desenvolvem os
diversos aspectos dos sistemas de informao. Cada captulo, ou grupo de
captulos, pode ser utilizado independentemente para a introduo de um
curso ou de uma determinada atividade. Isto explica as repeties que se
encontram em alguns captulos.
Alm disso, cada captulo pode ser atualizado e complementado com
anexos que correspondam s condies prprias dos usurios locais.
Todos os captulos so seguidos por perguntas para ajudar o leitor na
compreenso dos seus pontos essenciais. No final de cada captulo so
indicadas algumas obras fundamentais que podero guiar os leitores que
desejem aprofundar-se no assunto. A raridade de obras elementares em
cincia da informao, a pobreza da literatura da rea e a heterogeneidade
da literatura especializada em seu conjunto - exceo feita s obras em
lngua inglesa - dificultaram a escolha da bibliografia.
A idia desta obra nasceu em um encontro entre responsveis de
programas de formao do INIS, do Agris e da Unisist. Apesar de realizarem
uma seleo cuidadosa, estas pessoas constataram que os participantes
dos seminrios de formao tinham nveis de conhecimentos em informao
e documentao muito desiguais. A mesma dificuldade foi constatada em
cursos de formao realizados nas unidades de informao. Muitas vezes
estas unidades so obrigadas a recrutar pessoas sem nenhuma formao
e experincia na rea.
Por esta razo nos pareceu necessrio elaborar uma obra introdutria
que fosse especialmente adaptada a estas necessidades e que pudesse ser
difundida igualmente nas lnguas em que a literatura na rea de cincias
da informao limitada.
Michel Menou, consultor da Unesco, preparou um plano detalhado da
obra em colaborao com M.H. Binggeli do INIS, M.T. Martinelli do Agris
e J. Tocatlian da Unisist. A redao do livro foi confiada pela Unesco
Claire Guinchat e Michel Menou que receberam o apoio das pessoas
anteriormente citadas e de inmeros colegas, notadamente os membros
e especialistas do Comite ad hoc sobre Polticas e Programas de Formao:
G. Adda, M.A Gopinath, o professor S.I.A. Kotei, o professor J. Meyriat,
o professor W.L. Saunders, o professor V. Slamecka, o Dr. F.WolfT, M.A.
Adid, o professor A. Neelameghan, assim como H. Allaoui, A. Basset, M.
Bonichon, o professor H. Borko e D. Saintville, que colaborou na redao
de alguns captulos.
Os autores agradecem a todos aqueles que lhes ajudaram nesta
delicada tarefa.
Eles assumem a responsabilidade pelas lacunas, erros ou insuficincias
que por ventura possam existir neste livro.
Embora este trabalho tenha sido um desafio, esperamos que este livro
possa ajudar seus colegas nos pases em desenvolvimento a comear ou
continuar sua carreira profissional com interesse e eficcia, atravs de
uma viso clara de seu trabalho e da importncia de suas tarefas.
As opinies expressas nesta obra no exprimem necessariamente o
ponto de vista da Unesco.
Paris, fevereiro de 1979
Claire Guinchat
Michel Menou
Nota da Segunda Edi&o
Esta nova edio foi preparada respeitando a filosofia da obra concebida
pelos seus autores em 1979.
Nosso trabalho consistiu essencialmente em atualizar os nmeros, os
dados, as datas e as informaes relativas a mudanas institucionais e
organizacionais, decorrentes da evoluo da formao da profisso e das
novas tecnologias. Tentamos descrever em cada captulo, o impacto da
informtica e da telemtica em todos os aspectos das cincias da informao.
Acrescentamos um captulo sobre a unidade de informao e as novas
tecnologias com o objetivo de mostrar sua importncia. A indstria da
informao foi tambm objeto de um novo captulo, pretendendo dar uma
viso de conjunto desta realidade.
O mundo da informao est em plena mutao. O surgimento de novas
atividades e o dinamismo cada vez maior desta rea nos levaram a refazer
os captulos que descrevem os programas e os sistemas internacionais de
informao, a normalizao e a profisso.
Algumas passagens que tratavam de tcnicas ultrapassadas ou em vias
de extino foram modificadas ou suprimidas totalmente. Este o caso
das passagens que se referem ao tratamento semi-automatizado da
informao, por exemplo. Deixamos algumas explicaes essenciais
compreenso destas informaes para os pases que ainda utilizam este
tipo de tratamento.
Abibliografia de todos os captulos foi reformulada. Devido abundncia
sobre alguns assuntos (como informtica documentria, por exemplo) ou
a escassez de bibliografia sobre outros (como anlise documentria e tipos
de documentos), seguimos os mesmos critrios de escolha dos autores, ou
seja, a acessibilidade da literatura primria e o carter universal e geral
da obra escolhida.
Agradecemos s pessoas que, neste trabalho de reviso, nos deram sua
ajuda, seus conhecimentos e seu tempo.
Agradecemos particularmente a Michel Menou,Claire Guinchat e
Courrier por nos terem dado sua confiana.
Bordeaux, 31 de julho de 1988
Marie-France Blanquet
16
Apresentao da
traduo em
portugus
A formao de pessoal - formal ou informal, tradicional ou no -
sempre uma atividade bastante complexa. Exige definio clara de objetivos,
contedo programtico e pblico-alvo. A elaborao de instrumento de
apoio educacional requer de seus produtores capacidade, habilidade e
conhecimento, tanto do assunto tratado, como do fator contextual.
O presente manual preenche, com propriedade, esses requisitos.
Constitui-se num instrumento bsico para autoformao de pessoal no
graduado que esteja atuando em sistema de informao, particularmente,
em pases onde a implantao e desenvolvimento de bibliotecas e centros
de documentao so verdadeiros desafios.
A preocupao de apresentar o "como" executar as tcnicas de informao
em base do "porque" torna essa obra uma fonte necessria e indispensvel
comunidade que atua nas reas de biblioteconomia e documentao.
O IBICT, instituio que desde os seus primrdios se dedica formao
de pessoal na rea de informao, espera que a traduo desse manual
para a lngua portuguesa contribua para melhorar o desempenho dos
sistemas de informao.
Introduo
Comunicao e informao so palavras importantes de nossa poca.
Toda relao humana, toda atividade, pressupe uma forma de
comunicao. Todo conhecimento comea por uma informao sobre o
que acontece, o que se faz, o que se diz, o que se pensa. Isto sempre
determinou a natureza e a qualidade das relaes humanas. Entretanto,
nossa poca caracteriza-se pela dimenso e importncia deste fenmeno.
Alm da comunicao interpessoal, existe a comunicao de massa,
caracterizada pela quantidade de informaes transmitidas e pelo tamanho
do seu pblico. Veiculada pela mdia - imprensa, rdio e televiso, esta
informao escapa ao controle direto do usurio, que no pode chec-la,
transform-la, nem responder-lhe imediatamente. Entre as duas formas
extremas de comunicao - de pessoa a pessoa, de forma direta, e a
transmitida pela mdia - funciona, em todos os domnios da atividade
humana, uma srie de instituies investidas do poder e do dever de
comunicar um saber, como a famlia, o sistema de ensino, os sistemas
profissionais e a administrao. Algumas destas instituies
especializaram-se no tratamento funcional da informao cientfica e
tcnica, desde sua fonte at o usurio.
Efetivamente, a comunicao humana direta tributria do tempo e do
espao. Para que ela possa durar, necessrio que deixe um trao, que
seja registrada em livros, imagens, fotos ou discos, enfim, em um
documento. Os objetivos das atividades documentais so selecionar, na
massa de informaes veiculadas, os elementos de conhecimento, fornecer
a qualquer pessoa as informaes de que ela necessita, no momento que
as solicita, e ainda conservar estas informaes atualizadas, sem alter-
las.
As formas de comunicao so extremamente variadas, mas o esquema
geral praticamente igual. O princpio de toda comunicao a transmisso
de uma mensagem entre uma fonte (emissor) e um destino (receptor) por
um canal.
Introduo
O emissor, ou fonte, pode ser um indivduo, um grupo, ou uma
Instituio. Uma mensagem intencional sempre concebida e transmitida
para que possa ser entendida pelo destinatrio. o cdigo. Por exemplo,
um francfono, que se dirija - por escrito ou oralmente - a outros
francfonos, utilizar termos de linguagem. Um engenheiro encarregado
de sinalizar uma estrada utilizar sinais internacionais do cdigo de
estradas, que so compreendidos por todos.
O receptor, ou destinatrio, aquele que recebe a mensagem. Mas esta
recepo nem sempre intencional. Ao contrrio do que se passa com o
emissor, que procura apenas exprimir-se, o receptor mais submetido ao
fluxo de mensagens que chegam de todos os lados e que muitas vezes no
lhe so enviadas. Para compreender a mensagem, o receptor ter de
selecionar o que lhe interessa na massa de informaes que recebe,
decodificar os sinais transmitidos e reencontrar a mensagem original. A
mensagem que circula entre o emissor e o receptor (esclarecimento, sinal,
ou idia) somente pode ser compreendida se os dois plos dispem de um
repertrio comum de signos (o cdigo) - que ambos compreendem de forma
idntica -, ou se o cdigo traduzido de uma lngua para outra. Mesmo no
caso de um sistema comum, algumas vezes produzem-se duas distores.
A primeira quando a forma da mensagem na sada nem sempre
corresponde ao seu contedo-objetivo na chegada (as palavras no
refletem o que se queria dizer). A segunda quando o emissor e o receptor
no se compreendem bem.
Figura 1- Transmisso de uma mensagem
A falta de comunicao resultante deste processo pode se traduzir por
empobrecimento de informao (o silncio) ou por excesso de informao
(o rudo). Em ambos os casos, a qualidade da informao fica comprometida.
Introduo
O processo deve recomear, e perde-se tempo inutilmente.
O canal, mdia, ou suporte da comunicao, varia de acordo com a sua
forma. Existe um grande nmero de meios de comunicao, como a
vibrao do ar, que produz o som entre duas pessoas, as ondas hertzianas,
os dedos da mo, os satlites artificiais e o papel, entre outros.
O processo da comunicao mais complicado do que parece ser.
A prpria transmisso fator de distoro e de perda de informao.
Alguns obstculos so provocados pela instituio que transmite a
mensagem; outros, de carter tcnico, provm da forma de tratamento e
de transferncia da informao; outros, de carter scio-psicolgico, esto
ligados s relaes entre usurios e especialistas da informao; outros,
finalmente, so de carter ideolgico e poltico.
A comunicao, porm, no se faz apenas em um nico sentido. O
receptor geralmente reage ao envio de uma mensagem. Esta reao
conhecida como Jeedback, ou retroalimentao, e pode se dar pelo rumor,
carta, respostas formalizadas ou critica (como a crtica de imprensa). A
natureza e a forma da resposta dependem da natureza e da forma da
comunicao. A retroalimentao, ou Jeedback, , alm disso, portadora
de uma dupla informao: em que medida a pergunta foi satisfeita? De que
ponto de vista a resposta foi julgada deficiente? O estudo do Jeedback
permite avaliar como uma mensagem recebida e aperfeioar o processo,
tendo em vista a otimizao do resultado, buscando adequar a informao
enviada informao recebida. Quanto mais prximos estiverem emissor
e receptor, ou quanto mais os seus contatos forem estudados, mais eficaz
ser o Jeedback. Mesmo quando o emissor parece distante do receptor,
como, por exemplo, no caso de um emissor de televiso, ou do discurso de
uma personalidade, a transmisso no unilateral, ela provoca uma
reao. Para apreciar a natureza desta reao, desenvolveram-se inmeras
formas de anlise e de controle, como as sondagens de opinio, as
enquetes e as anlises de necessidades. A figura 1 mostra os pontos
importantes da transmisso de uma mensagem.
A cincia da comunicao, de origem recente, desenvolveu-se a partir
de diferentes disciplinas e em direes distintas, estabelecendo vrios
modelos que explicam a comunicao: o modelo matemtico de Shannon;
o esquema linear de Lasswell, de ordem sociolgica; o modelo ciberntico
de Moles; o esquema de Katz, centralizado no estudo da mensagem,
modificado por McLuhan; o estudo da mquina de comunicar" de
Schaeffer; e a teoria da informao de Escarpit. Todas estas abordagens
cientficas do esquema terico e das novas condies da comunicao
introduzem as transformaes tcnicas e o desenvolvimento cientfico que
caracterizam a nossa poca, e, em conseqncia, a demanda de informao.
Em uma poca em que a cincia domina a humanidade, a informao,
elemento que a estimula, tem uma importncia primordial para a sociedade.
A transferncia da informao cientfica e tcnica condio necessria
ao progresso econmico e social. O progresso tcnico, fator de aumento da
Introduo
produtividade e da riqueza nacional, depende de dois elementos
fundamentais: a inovao e o aperfeioamento dos procedimentos e
mtodos que sero utilizados. A aplicao destes fatores de desenvolvimento,
frutos da pesquisa cientifica, depende diretamente do acesso s descobertas.
Qualquer atraso de informao, qualquer lacuna, significa estagnao e,
muitas vezes, regresso.
Estar informado significa tambm poder analisar situaes, encontrar
solues para problemas administrativos ou polticos, julgar com
conhecimento de causa. A reduo das dvidas conduz naturalmente a
melhores decises, que determinam, pelas escolhas sucessivas , o futuro
de um setor, de uma atividade, de um pas.
Ensinar, aprender e formar-se pressupem, alm da relao pedaggica
que se estabelece entre professor e aluno, recorrer aos fundos documentais
e aos instrumentos de explorao e de difuso do conhecimento que
constituem as bibliotecas e outras unidades de informao. O aumento da
demanda educativa em um nmero crescente de pases, a obrigatoriedade
imposta categorias cada vez mais variadas de profissionais para atualizar
seus conhecimentos, pela formao permanente, e uma melhor qualificao,
indispensvel ao progresso cientfico, so fundamentais para que os
fatores de desenvolvimento multipliquem-se.
Os canais existentes entre a produo da informao e o usurio
permitem a transferncia dos resultados de pesquisas que se transformam
em benefcios para a sociedade, como no campo da sade e da alimentao,
por exemplo. Eles possibilitam, ainda, a qualquer pessoa, compreender
melhor o seu nvel de vida. Oferecem ao industrial, o comerciante, ao
agricultor e a qualquer outro profissional, informaes objetivas que os
ajudaro a tomar suas decises.
A cincia alimenta-se da cincia e este um fato fundamental. As
descobertas cientficas e as inovaes tcnicas retrocederiam, e
provavelmente desapareceriam, se a comunidade cientfica no pudesse
dispor das informaes acumuladas ao longo dos anos. Esta uma das
razes da fraca produtividade cientfica dos pases com poucos recursos
documentais.
A produo da informao e o desenvolvimento cientfico esto repartidos
no mundo de forma desigual. Muitos pases em desenvolvimento produzem
apenas 1% da literatura cientfica mundial. Ela est concentrada nos
grandes pases industrializados que possuem meios de dedicar uma parte
importante da receita nacional pesquisa, educao e informao.
Estes pases dispem de uma infra-estrutura capaz de atender a uma
grande populao de usurios: bibliotecas, centros de documentao,
centros de anlise de informao, pessoal especializado, profisses na
rea de informao e formao institucionalizadas, canais de comunicao
entre as fontes e seus usurios e uma poltica nacional de informao. Em
quase todos estes pases, assiste-se a reorganizao destes organismos
para maior racionalizao e integrao funcional, pelos diversos tipos de
Introduo
acordos de cooperao nacionais e internacionais.
Nos pases em desenvolvimento, a situao completamente diferente.
Os recursos destinados produo cientfica e rede de transferncia da
informao so, em geral, insuficientes. Na maioria dos casos, existe uma
infra-estrutura de informao fraca, com predominncia de bibliotecas,
entre as quais se encontram as mais antigas do mundo, com acervos de
grande valor. A carncia de especialistas e de tcnicas evoludas traduz-
se por um grande vazio entre os responsveis de alto nvel e o pessoal
auxiliar. Os canais de transmisso de informao no funcionam no
momento em que as necessidades so cada vez mais prementes e a
demanda real.
necessrio reduzir o dficit de informao destes pases, inerente a
um potencial e a um modo de produo cientfica restritos, pelo acesso aos
dados disponveis em outros pases, ao invs de aumentar a produo
destes dados, ao menos em uma primeira fase. Isto pressupe duas
condies: criar uma infra-estrutura nacional adequada e integrar os
pases mais industrializados ao sistema de transferncia de conhecimento
para os pases em desenvolvimento.
Neste sentido, esto sendo feitos esforos considerveis. H alguns
anos, o Programa Mundial de Informao Cientfica - Unisist-PGI1 -,
patrocinado pela Unesco e por um conjunto de organizaes nacionais e
internacionais, vem mostrando seus resultados. Este programa pretende
coordenar a cooperao mundial no domnio da informao cientfica e
tcnica, especialmente em beneficio dos pases em desenvolvimento.
Orientado de forma essencialmente prtica, o Unisist no um rgo
centralizador, nem uma estrutura formal, mas um movimento mundial
que tem como objetivo melhorar a transferncia da informao. Ele busca
ampliar a disponibilidade e a acessibilidade da informao cientfica,
considerando as dificuldades ligadas aos diferentes nveis de
desenvolvimento em diversos pases, bem como outros fatores
institucionais: a conexo e a compatibilidade entre sistemas de informao,
pelo emprego crescente de normas comuns e de tcnicas modernas de
comunicao; e uma seletividade e flexibilidade cada vez maiores no
tratamento e na distribuio da informao cientfica e tcnica, graas aos
novos mecanismos institucionais confiados s organizaes cientficas2.
O termo exploso documentar caracteriza bem o crescimento da
produo de documentos no mundo nos ltimos anos. O quadro 1 mostra
1. Unisist:Systmed'informatiquemondial, programmeintergouvernemental de 1'Unesco
pour la coopration dans le domaine de 1'information scientifique et technologique, PGI:
Programme gnral d'information.
2.. Unisist. tude sur la ralisation d' un systme mondial d' Information scientifique,
effectue par l'Organisation des Nations Unies pour 1'ducation, la Science et la culture et le
Conseil International des unions scientifiques, p. 151. Paris, Unesco,1971.
Introduo
a amplitude deste fenmeno e permite observar as suas tendncias3.
O volume da literatura peridica conhece o mesmo crescimento exponencial.
Esta taxa cresce rapidamente, caracterizando-se por uma acelerao
contnua nos ltimos anos. contrariamente' a algumas previses de
saturao e de retrocesso.
Este fenmeno deve-se. essencialmente, ao desenvolvimento da cincia
moderna e da inovao tecnolgica. Pode-se ilustr-lo com o exemplo a
seguir. De acordo com a National Education Association americana, foi
necessrio esperar o ano de 1750 para que a sabedoria humana desde a
poca de Cristo fosse duplicada. Uma nova duplicao se deu 150 anos
mais tarde, em 1900. A quarta multiplicao do conjunto do saber
cientfico aconteceu no decnio de 1950. Em outras palavras, pode-se
afirmar que o conhecimento tecnolgico multiplicou-se por 10a cada 50
anos, aps mais de 2.800 anos. Em 1950, existia no mundo um milho de
pesquisadores e engenheiros. Em 1900, eles eram cem mil, em 1850 dez
mil e em 1800, mil"4.
Na verdade, o efetivo de pesquisadores e cientistas, que constituem a
fonte principal do conhecimento e da informao cientfica, no cessa de
aumentar, atingindo atualmente a casa dos dez milhes5. Alm disso,
agrega-se comunidade cientfica propriamente dita outro tipo de usurios,
como os administradores, os chefes de empresa, os industriais, os
juristas, os polticos e os educadores, que so no apenas consumidores,
mas cada vez mais produtores de novas informaes. A multiplicao da
oferta resulta, de acordo com um processo natural, na multiplicao da
demanda.
Todos os que, de uma forma ou de outra, participam da indstria do
saber, isto , a produo, distribuio e consumo de conhecimentos,
pertencem a estes grupos de usurios.
Pode-se afirmar, em principio, que toda transferncia de conhecimentos
eqivale a uma transferncia de informaes e vice-versa"6 e que a
indstria do saber, cuja razo de ser assegurar esta transmisso de
conhecimentos-informaes, continua a crescer rapidamente em um
mundo baseado no progresso cientfico.
Estes fenmenos influenciam a constituio dos fundos documentais.
Alm do livro e do peridico editados pelos circuitos comerciais tradicionais,
existe uma enorme gama de documentos no editados de todos os tipos,
cuja difuso restrita. So os relatrios, as teses, os anais de congressos,
as apostilas de cursos, os estudos e os preprints, entre outros, que formam
o que se conhece como literatura subterrnea", ou literatura
3. Chiffres donns dans Unesco, Annuaire statistique 1987, p.5-17. Paris, Unesco,
1987.
4. Cit dans Unisist..., op. cit., p. 11-12.
5. G. Anderla, Unformation en 1985. Une tude prvisionnelle des besoins et des
ressources, p. 14 et 19. Paris, OCDE, 1973.
6. G.Anderla, op. cit., p. 68.
Introduo
Quadro 1. A edio de livros no mundo
Continentes, grandes Edio de livros: nmero de ttulos
regies e grupos
de pases
1960 1970 1980 1985
Total mundial 332 000 521 000 715 500 798 500
frica 5 000 8 000 12 000 13 500
Amricas 35 000 105 000 142 000 158 000
sia 51 000 75 000 138 000 189 000
Europa (incluindo
a Unio Sovitica) 239 000 317 000 411 000 426 000
Oceania 2 000 7 000 12 500 12 000
Pases desenvolvidos 285 000 451 000 570 000 581 500
Pases em
desenvolvimento 47 000 70 000 145 500 217 000
frica (excluindo
os Estados rabes) 2 400 4 600 9 000 10 000
sia (excluindo os
Estados rabes) 49 900 73 700 134 500 186 000
Estados rabes 3 700 4 700 6 500 7 000
Amrica do Norte 18 000 83 000 99 000 104 000
Amrica Latina e Caribe 17 000 22 000 43 000 54 000
[Fonte: Unesco, Annuaire Statstique 1987, Paris, Unesco, 1987, p.5]
no-convencional. Estes documentos so produzidos por organismos
diversos, como instituies cientficas, universidades, centros de estudo
e de pesquisa, e refletem suas atividades e preocupaes. Representam,
em geral, a vanguarda da informao cientfica e sua fonte mais atualizada,
constituindo-se uma forma de comunicao direta e privilegiada entre
cientistas. Embora seja impossvel estimar a quantidade destes
documentos, sabe-se que seu nmero aumenta de forma considervel.
Muitos documentos, como artigos e informaes da literatura primria,
so idnticos, ou apresentados muitas vezes sob formas diferentes. Este
o fenmeno da redundncia, que necessita cada vez mais da ao do
documentalista para fazer a sntese e a seleo da informao.
Outro fator que complica este problema a reduo extraordinria da
vida til de um documento. o fenmeno da obsolescncia. Em algumas
reas, os conhecimentos renovam-se com tal rapidez, que se pode dizer
que um livro est desatualizado no momento de sua publicao. Por esta
razo, fundamental atualizar constantemente os fundos documentais,
Introduo
o que representa inmeras manipulaes manuais ou automatizadas de
dados.
Os no-livros, como os discos, as fotografias, as fitas magnticas, os
vdeos e qualquer outro tipo de documento que no tem o papel como
suporte, aumentam esta massa de documentos e correspondem ao
surgimento de um fenmeno importante de nossa sociedade: a exploso
do audiovisual e da edio eletrnica. Este tipo de documento tem um
futuro promissor. Entretanto, o seu tratamento e difuso so complicados
porque pressupem tcnicas especficas e canais diversificados.
Para responder a este fluxo incessante de informaes, os organismos
que tratam da informao desenvolveram-se em trs direes: pela
diversificao, especializao e adoo de novas tcnicas. Esta expanso
pode levar ao gigantismo, como o caso das grandes bibliotecas.
A Biblioteca Nacional da Frana possui 36 milhes de documentos, a
Biblioteca Lenin de Moscou, 72 milhes, e a Biblioteca do Congresso dos
Estados Unidos, a primeira biblioteca americana, que dobrou seu fundo
documental em um perodo de 20 anos7. H, hoje, uma especializao
cada vez maior, pela multiplicao das funes documentais, do pblico
visado e dos setores atingidos. Criam-se organismos novos, como os
bancos e bases de dados que armazenam informaes em uma quantidade
impressionante. Em suma, as tcnicas transformam-se rapidamente.
A exploso documental conseqncia da exploso tecnolgica,
principalmente nas reas ligadas s operaes documentais: a informtica,
as telecomunicaes e a microedio.
A utilizao do computador no tratamento da informao um fenmeno
reltivamente recente: data de 30 anos. Composto por dispositivos de
entrada e de sada de dados que trabalham com uma rapidez prodigiosa,
de memrias com capacidades quase ilimitadas e de unidades de clculo
Infalveis, o computador revolucionou o tratamento da informao. As
conseqncias deste fenmeno so mltiplas: concentrao da informao
em enormes memrias, bancos e bases de dados numricos e/ou
bibliogrficos, operaes extremamente rpidas que permitem todo tipo
de manipulaes e inverso do processo de transferncia da informao.
No mais o usurio nem o documento que se deslocam, mas a informao.
A interrogao das bases pode ser feita distncia, a partir de terminais
ligados a um arquivo central. O desenvolvimento das novas memrias com
acesso direto permite que o usurio faa consultas imediatas pela pesquisa
on-line.
Alm disso, os custos do tratamento automatizado e a lgica deste
sistema, que pressupem urpa cooperao entre organismos, traduzem-
se por uma regulamentao dos mtodos e dos procedimentos que
permitem uma diviso de tarefas e de produtos. Assiste-se atualmente a
uma transformao das estruturas tradicionais centralizadas, fechadas e
7. Worldguide Io librarians, Munich/New York/Londres/Paris, K. G. Sar, 1987.
Introduo
opacas, em redes de informao transparentes, fluidas e abertas, com
mltiplos pontos de acesso. Os novos sistemas de alerta permitem
antecipar-se demanda com exatido. A difuso seletiva da informao,
isto , o envio de informaes selecionadas regularmente, de acordo com
critrios especficos, a um usurio determinado, representa um dos
aspectos mais interessantes da aproximao entre oferta e demanda da
informao.
A utilizao do computador permite um grau de exatido, que tem
contribudo enormemente para o desenvolvimento da anlise das
necessidades de informao e dos comportamentos dos usurios, e
traduz-se por um progresso qualitativo das relaes homem-mquina.
O uso conjunto das tcnicas de computao e das telecomunicaes -
a telemtica - constitui-se um dos elementos primordiais do
desenvolvimento dos sistemas e redes informatizadas. Este desenvolvimento
se d pelas redes especializadas na transmisso de dados que utilizam a
rede telefnica (os satlites de comunicao e as fibras ticas) e pelas redes
gerais ou especializadas de computadores interconectados que permitem
a comunicao de dados distncia.
Atualmente, outros meios de comunicao so oferecidos s unidades
de informao: o telefacsmile, ou transmisso de textos distncia; a
comunicao direta de pessoas pelos meios que permitem reunies
distncia ou teleconferncia, a teleescrita, a interrogao distncia de
bancos de dados e a utilizao de circuitos de vdeo. O objetivo destes
instrumentos aproximar, da melhor forma possvel, o tempo e o espao
entre o usurio e as fontes do saber. opinio unnime, a idia de que
a informao automatizada suplantar definitivamente, no decorrer da
dcadade 80-90, os procedimentos artesanais que, bem ou mal, asseguram,
atualmente, a transmisso e a difuso de conhecimentos"8. Sem dvida,
necessrio considerar esta opinio com cuidado, mas esta tendncia
irreversvel.
A microedio e a microcpia tiveram um desenvolvimento enorme em
detrimento dos meios clssicos, como o papel. Em alguns equipamentos
de computador, os resultados da pesquisa so impressos diretamente em
microficha. Este processo conhecido como Computer Output on
Microform (COM). A enorme reduo do documento original, pela
microforma, suprime os problemas de espao decorrentes do
armazenamento em papel e facilita a difuso e a distribuio de dados.
Pode-se prever um grande desenvolvimento da edio e do arquivamento
eletrnico de dados que tm como suporte as memrias ticas, como o
videodisco, o disco tico numrico e o CD-ROM. Sua enorme capacidade
de memria reduz enormemente os problemas de armazenamento de
informaes. Com estes novos suportes pode-se dispor, tambm, de
formas de difuso baratas e de tcnicas de busca muito elaboradas.
8. G. Anderla, op. cit.
Introduo
A conjuno destas tcnicas avanadas atenuam dois problemas
essenciais resultantes da poluio da informao: o excesso de informao
e sua desatualizao.
Alm disso, o desenvolvimento tcnico pressupe a realizao de um
grande esforo qualitativo. O domnio deste conjunto de tcnicas exige a
cooperao de especialistas de todas as disciplinas. Alm do domnio das
cincias exatas e de sua aplicao (informtica, pesquisa operacional e
ciberntica), necessrio o conhecimento de alguns aspectos das cincias
humanas que levam em considerao problemas desconhecidos e ainda
pouco estudados do tratamento da informao. A psicologia e as cincias
do comportamento so utilizadas para esclarecer os mecanismos humanos
da transferncia de conhecimentos: os processos de comunicao, os
processos de aquisio, a anlise das necessidades e a interao homem-
mquina. A semiologia e a lingstica permitem compreender os problemas
ligados s linguagens documentrias e indexao, bem como a traduo
automatizada, as anlises feitas por computador e a inteligncia artificial.
As cincias da gesto e a economia possibilitam compreender a concepo
e a administrao dos sistemas, pela anlise sistmica, avaliar os custos
e desenvolver programas globais. As cincias da educao permitem
organizar programas adaptados tanto formao profissional quanto
formao de usurios. As cincias jurdicas e a sociologia so utilizadas
para o estudo dos aspectos legais e sociais do tratamento da informao.
Forma-se, assim, um saber fundamental de natureza trandisciplinar
que se constitui uma cincia nova, paradigmtica, isto , reconhecvel
pelo seu corpus terico, com um consenso sobre seu objeto, sobre seus
mtodos e procedimentos. Cincia convergente, procura de um princpio
que buscar os conhecimentos atravs de uma viso global onde cada
conhecimento estar situado com exatido e onde as relaes com os
outros sero compreendidas com clareza"9. As cincias da informao,
apesar de encontrarem-se ainda no seu incio e hesitarem muitas vezes em
formalizar teoricamente a aplicao de suas pesquisas e o resultado de
suas observaes, demonstram uma fecundidade terica e prtica
extraordinrias.
A diversidade e a complexidade das operaes sucessivas exigidas pelo
tratamento da informao justificam esta abordagem interdisciplinar.
Fazer documentao no significa armazenar de forma lgica um certo
nmero de documentos. A documentao memria, seleo de idias,
reagrupamento de noes e de conceitos, sntese de dados. necessrio
selecionar, avaliar, analisar, traduzir e recuperar documentos capazes de
responder a necessidades especficas que mudam continuamente. Estas
necessidades variam de acordo com o domnio do saber, com o estado dos
conhecimentos, com a natureza dos usurios e com seus objetivos.
9. F. Russo, La pluridisciplinarit, tudes , vol. 338, n5, p.771, mai 1973.
Introduo
Estimativa Preliminar
1
Aquisio Transferncia da Informao
Obteno para um Suporte
Tratamento Material dos
Documentos (Registro etc.)
Tratamento Intelectual
dos Documentos
Difuso Seletiva da
Informao (DSI)
Tratamento Material
dos Documentos
(Armazenamento, Conservao etc.)
Pesquisa dos Documentos
para a Informao
e Confeco dos
Produtos Documentais
Reproduo
Publicao
Consulta
Emprstimo
Figura 2. Cadeia das operaes documentais (de acordo com a Association des
DocumentalistesetBibliothcairesSpcialiss(ADBS)) Manuel dubibliothcaire-documentaliste
travaillant dans les pays en dveloppement, 2.ed. Paris, PUF.1981
Introduo
Elas esto fundamentadas na proposio de que a informao recebida
deve ser confivel, atual e imediatamente disponvel.
Isto pressupe um trabalho considervel, estruturado de acordo com
um conjunto de operaes conhecidas como cadeia documental. Estas
operaes so ligadas umas as outras, de tal forma que cada uma depende
da que a precede, de acordo com a lgica do processo. Numa das
extremidades da cadeia entram os documentos que sero tratados. Na
outra extremidade, aparecem os resultados deste processo, os produtos
documentais, que podem ser simples ou muito elaborados, como referncias
e descrio dos documentos, instrumentos de pesquisa, publicaes
secundrias e tercirias. A figura 2 ilustra o encadeamento das tarefas
documentais.
A coleta de documentos, primeiro elo da cadeia, a operao que
permite constituir e alimentar um fundo documental ou o conjunto de
documentos utilizados por uma unidade de informao. Esta operao
prev a localizao dos documentos, a seleo e os procedimentos de
aquisio (gratuita ou paga). A coleta pressupe que o responsvel esteja
regularmente informado sobre a evoluo dos conhecimentos e sobre a
produo da rea de especializao e que a unidade de informao esteja
integrada no circuito cientfico nacional e internacional, formal e informal.
Quando se trata de publicaes editadas comercialmente, a coleta baseia-
se em diversas fontes, relativamente confiveis e acessveis, como o
depsito legal das bibliografias nacionais, os catlogos de editores, os
ndices, as bibliografias de todo tipo e os repertrios. Quando se trata de
literatura no-convencional, a busca das fontes toma uma forma diferente.
Alm de o documentalista conhecer os organismos e os especialistas que
produzem estas fontes, ele necessita organizar uma rede de trocas e de
aquisio sistemticas, o que significa estar integrado no meio cientfico.
Alm disso, a aquisio no se faz ao acaso, mas em funo de uma
poltica estritamente ligada aos interesses e aos objetivos da unidade de
informao. Aseleo que precede aquisio pressupe um conhecimento
muito preciso da demanda e de sua evoluo.
Procede-se, ento, as operaes de controle e registro material do
documento. Depois do registro provisrio ou definitivo, inicia-se o
tratamento intelectual: descrio bibliogrfica, descrio do contedo,
armazenamento ou arquivamento, pesquisa e difuso. Todas estas
operaes tm por objetivo encontrar imediatamente a informao
necessria para responder demanda.
O primeiro passo identificar o documento. Este o objetivo da
descrio bibliogrfica ou catalogao, que registra as caractersticas
formais do documento como autor, ttulo, fonte, formato, lngua e data de
edio. Estes dados so registrados em uma nota bibliogrfica que a
identidade do documento.
A etapa seguinte a descrio de contedo, chamada tambm de
anlise documentria. Suas principais operaes so a descrio das
Introduo
informaes que o documento traz e a traduo destas informaes na
linguagem do sistema. O que aconteceria se o contedo do documento
fosse descrito por uma linguagem natural, ou livre? O resultado seria a
incompreenso e a confuso como conseqncia da ambigidade e da
riqueza da linguagem natural, na qual as palavras no tm o mesmo
sentido para todos. Como responder a uma questo, se ela colocada em
uma linguagem diferente de sua resposta? Para minimizar esta dificuldade
semntica, procede-se a uma traduo dos termos da pergunta e dos
termos do documento que contm a resposta em uma linguagem comum,
unvoca, isto , que tem o mesmo sentido para todos que a utilizam: a
linguagem documental. Como a linguagem natural, ela composta de um
lxico (conjunto de termos conhecidos, de acordo com os sistemas e as
pocas em que foram criados, como palavras-chave, descritores, notaes
ou ndices) e de uma sintaxe (ou conjunto de relaes entre as palavras,
que podem ser um simples plano de classificao ou um conjunto
complexo de relaes). O lxico e a sintaxe destas linguagens apresentam
duas particularidades prprias ao tratamento documental. Por um lado,
o vocabulrio purificado de tudo que possa complicar seu sentido: a
ambigidade de forma e significado, a sinonmia, a pobreza informativa e
a redundncia. Por outro lado, ele fixo: seu uso e suas relaes so
codificados e no podem ser modificados. Desta forma, obtm-se um
instrumento relativamente estvel, que pode ser modificado, se for
necessrio. A descrio de contedo pode ser mais ou menos aprofundada
conforme as necessidades.
O nvel mais elementar da descrio de contedo a classificao, que
determina o assunto principal do documento e algumas vezes alguns
assuntos secundrios. Estes assuntos sero traduzidos para as palavras
apropriadas da linguagem documental. Em algumas bibliotecas no-
especializadas, a classificao a nica forma de descrio de contedo
utilizada. Para tal, utilizam-se os sistemas de classificao enciclopdicos
ou muito gerais. O objetivo classificar as informaes de acordo com um
nmero restrito de categorias e ordenar os fichrios de forma a se
encontrar rapidamente o documento que contm estas informaes.
A indexao uma forma de descrio mais aprofundada e consiste em
determinar os conceitos expressos em um documento, em funo de sua
importncia para o sistema, e represent-los de acordo com os termos
adequados da linguagem documental. Esta operao pressupe um
conhecimento do assunto do documento e uma definio precisa do nvel
de informao a ser preservado de forma a responder s necessidades dos
usurios.
Por fim, a condensao permite restringir a forma inicial do documento
em um resumo, de tamanho e tipo variveis de acordo com o nvel de
anlise, o valor do documento e o sistema utilizado. O resumo permite
facilitar seu registro na memria e reduzir o tempo de consulta.
Introduo
possibilitando ao usurio conhecer rapidamente as informaes contidas
no texto do documento.
A partir destas operaes, o documento e a informao que ele contm
so representados por uma nota bibliogrfica, que incorporada
memria de armazenamento e pesquisa do sistema: o fichrio tradicional
(ou catlogo) ou o fichrio de cartes perfurados, cada vez menos utilizado,
e substituido pelos sistemas automatizados em suportes legveis por
computador, como fitas magnticas, disquetes e discos rgidos.
O documento propriamente dito ser armazenado em um local determinado
de acordo com o mtodo utilizado pela unidade: por tipo de documento,
formato, autor (classificao alfabtica), assunto (classificao sistemtica)
ou ordem de chegada (classificao cronolgica). O armazenamento uma
operao material que permite apenas localizar o documento. Uma
identificao colocada no documento, o nmero de chamada, materializa
esta localizao.
Os documentos, ou ao menos os documentos textuais, podem ser
armazenados na sua forma original, em microforma, em suporte magntico
ou ainda em suporte tico. A utilizao das microformas desenvolveu-se
nas dcadas de 70 e 80. As vantagens desta forma de armazenamento, que
permitem a economia de espao de at 95%, em alguns casos, a reduo
de peso, a possibilidade de duplicar a coleo de forma imediata e a sua
facilidade de difuso, justificam os inconvenientes de leitura e de
conservao que existem, mas que so suscetveis de aperfeioamento. Os
suportes magnticos apresentam igualmente grandes vantagens, como a
grande capacidade de armazenamento e o acesso rpido informao,
mas sua durao pequena, e, alm disso, seu contedo limita-se ao texto
e ao grfico. Entretanto, as memrias ticas que sero certamente os
meios de gesto da informao do futuro permitem armazenar, em um
mesmo suporte, texto, imagem e som.
As operaes de pesquisa documental, tambm chamadas de seleo,
efetuam-se a partir da memria, e no a partir do estoque de documentos.
A pesquisa e a difuso da informao so o fundamento dos servios
oferecidos aos usurios e a razo de ser da unidade de informao. A
pesquisa manual (em catlogos de fichas), ou automatizada (na memria
de um computador) pode ser realizada na forma retrospectiva (no conjunto
do fundo documental de forma a recuperar todos os documentos capazes
de responder a uma pergunta corrente) e na forma seletiva ou combinatria.
A difuso da informao pode se dar pelo fornecimento do prprio
documento, pelo fornecimento de referncias por meio de documentos
secundrios, como as bibliografias, e pela prestao de informaes
extradas e apresentadas em documentos de avaliao e sntese ou
documentos tercirios. A difuso pode ser permanente, ocasional ou
personalizada, de acordo com as necessidades do usurio. Pode ser ainda
feita na unidade de informao, ou em domiclio. Cada forma de prestao
Introduo
destes servios supe modalidades diferentes, formas especficas e pblicos
diversos.
Quase todas estas operaes podem ser realizadas com o auxlio do
computador. Podem ser realizadas operaes de forma automatizada, a
uma grande velocidade, que podem suprimir as duplicaes de trabalho
e os processos manuais repetitivos, como a entrada e a seleo dos dados
bibliogrficos em um formulrio legvel por mquina ou diretamente por
meio da leitura automatizada de textos (leitura tica); o controle e a
verificao; a indexao automtica, a partir de um tesauro armazenado
no computador; o armazenamento de dados em arquivos e a pesquisa
documental de acordo com diversos critrios e mtodos; a edio de
produtos documentais, especialmente os ndices" e a resposta a perguntas.
Outras tarefas que sero logo automatizadas so a condensao de dados
e a traduo. As pesquisas atuais no campo da inteligncia artificial (IA)
e a aplicao dos sistemas especialistas no campo da informao
apresentam grandes perspectivas. O computador pode ser utilizado
tambm para gerenciar a aquisio e na gesto contbil.
De acordo com sua vocao, as unidades de informao esto ligadas
mais particularmente a uma das funes da cadeia documental que
consiste de: a) armazenamento e consulta no local, como as bibliotecas
tradicionais com vocao de preservar o patrimnio; b) descrio de
contedo e difuso, como os centros e servios de documentao; c)
anlise e extrao da informao contida nos documentos, como os
centros de informao, os bancos de dados, os centros de anlise e de
contato e os centros de avaliao; d) recenseamento de fontes de informao,
como os centros de referncia e de orientao.
Embora as tarefas documentais articulem-se de forma lgica, no
necessrio que todas sejam executadas pelo mesmo organismo. Existe
atualmente uma diversificao constante dos organismos de tratamento
da informao - conseqncia da exploso da oferta e da demanda de
informao. O usurio que freqentava a biblioteca sem pressa para fazer
pesquisas em um catlogo manual foi substitudo pelo homem apressado
que exige uma informao atual, verificada e fornecida nos seus mnimos
detalhes, em domiclio.
Os servios e produtos de informao multiplicam-se e diferenciam-se
a partir da diversificao dos usurios. A proliferao de termos que
designam as diversas unidades de informao traduz a enorme riqueza da
informao documental. Entre estes organismos, pode-se citar as
bibliotecas, os arquivos, as bibliotecas especializadas, os centros ou
servios de documentao, os centros ou servios de anlise da informao,
os servios de contato, os bancos e bases de dados, as mediatecas, os
servios de orientao e os servios de compilao de dados. Na realidade,
estas unidades diferenciam-se entre si, de acordo com o aspecto da cadeia
documental que priorizam. Pode-se considerar que existem trs ramos de
Introduo
atividades principais: a conservao e o fornecimento de documentos
primrios: a descrio de contedo e sua difuso, acompanhada pelo
fornecimento de referncias e pela indicao das fontes ou documentos
secundrios; e o fornecimento de informaes a partir de dados disponveis
ou documentos tercirios. Na prtica, esta distino corresponde
prestao de servios diversos e de produtos cada vez mais elaborados,
destinados a diferentes usurios. Um estudante, por exemplo, que prepara
uma tese de qumica deve dirigir-se a um centro de documentao
especializado para informar-se sobre o que existe no assunto que lhe
interessa e deve consultar ele prprio os documentos em questo. Um
engenheiro que deseja saber o ltimo resultado de uma anlise pode obter
esta informao por meio de um servio de anlise de dados em forma de
informao pontual e imediatamente utilizvel. A figura 3 apresenta
alguns canais de difuso da informao.
Enquanto as bibliotecas de conservao existem desde a Antigidade
(a histria perpetua a memria da fabulosa Biblioteca de Alexandria, que
conservava mais de 700 mil rolos de papiro no ano de 48 A.C.), os centros
de documentao respondem a preocupaes mais atuais de sinalizao
de uma literatura que se tornou muito numerosa e de difcil acesso para
ser recuperada diretamente pelo usurio. Neste sentido, os centros de
documentao vm especializando-se e esto ligados aos organismos mais
variados, como empresas, universidades, administraes e instituies
pblicas. Atendem a grupos de usurios muito especializados, algumas
vezes extremamente reduzidos. O nmero de unidades de informao -
mais de 100 mil no mundo inteiro - mostra a que ponto este sistema de
alerta e pesquisa da informao tornou-se indispensvel.
As unidades do terceiro tipo so mais recentes. Elas tm como funo
responder, de forma rpida e segura, a questes muito especializadas,
fornecendo uma informao selecionada, verificada, avaliada e apresentada
em forma de produtos como anlises, snteses e estudos de tendncias. Os
servios de orientao, de intercmbio e de contato, encarregados de
dirigir o usurio s fontes de informao que lhe interessam correspondem
a outra tendncia atual.
Na realidade, se as unidades de informao privilegiam uma funo,
elas no excluem totalmente as outras. por esta razo que os servios
de documentao dispem muitas vezes de uma biblioteca que fornece
tambm documentos secundrios.
Conservao, documentao e informao constituem os plos de um
conjunto complexo de organismos que possuem denominaes variadas,
com funes que se complementam. Desta forma, criaram-se redes de
informao que concebem grandes sistemas integrados em nvel nacional
e internacional. A noo de rede, isto , sistema de cooperao e de
compartilhamento de tarefas, no nova, mas apoiou-se consideravelmente
nas novas tcnicas de tratamento da informao (informtica e
telecomunicaes). A interconexo pode ser feita em vrios nveis -
Introduo
Produtores
1--------
Fontes de informao
(Informal)
I
Conversas,
cursos,
conferncias etc.
(Formal)
I___
1
(Quantitativa)
(Publicada)
(No-publicada)
Cartas ao
redator
preprints etc
Editores
Redatores
Livros
Revistas
Teses
Relatrios
Servios dc
resumos
e indexao
B i b l i o t e c a s
Peridicos
dc resumos
e indexao
Centros
de intercmbio
Ce nt r os de i nf or ma o
Catlogos,
guias,
servios de
orientao
etc.
Bibliografias
especializadas
Tradues etc.
- - Centros
de dados
Fontes
primrias
Seleo
Produo
Distribuio
Servios
secundrios
Anlise e
Armazenamento
da Informao
Inventrios
quantitativos
Servios
tercirios
Avaliao
Consolidao
Figura 3 - Alguns canais de difuso da informao. (Manuel pour les systmes ei
services d'information, p.8 Paris, Unesco, 1977).
Introduo
territorial, funcional e setorial - e pode se sobrepor e se justapor,
constituindo uma malha de trocas integradas. Existem redes especializadas
em uma das funes documentais: aquisio, catalogao coletiva,
armazenamento cooperativo (geralmente em microforma), armazenamento
e elaborao de dados. Estas funes podem ser oferecidas em cooperao,
de acordo com os procedimentos adotados pelos integrantes do sistema.
As redes especializadas em uma disciplina, ou em um ramo de atividade,
compreendem unidades especializadas em um setor do conhecimento,
como medicina, cincias da terra, ou em uma atividade econmica ou
industrial. Algumas redes so dirigidas a uma categoria especfica de
usurios, como, por exemplo, as pequenas e mdias empresas, ou a
administrao.
Atualmente, alguns grandes sistemas de informao com estruturas
mais ou menos centralizadas coordenam a informao mundial em seu
campo de especialidade. O INIS, por exemplo, especializado em informao
nuclear, cobre a literatura deste assunto por intermdio de 68 centros
nacionais e internacionais e 13 organizaes internacionais. O Medlars
(Medicai Literature Automatic Retrieval System), especializado em
medicina, est implantado em 85 pases. O Euronet, cujo objetivo era
permitir o acesso a bancos de dados cientficos e tcnicos aos pases da
Comunidade Econmica Europia, foi progressivamente substitudo, a
partir de 1984, pela interconexo de redes pblicas de comutao de
pacotes dos diferentes pases europeus. Entretanto, as aes de
coordenao e de troca para as bases e bancos de dados continuam a
realizar-se pela organizao Euronet-Diane.
A envergadura destes sistemas e a amplitude dos obstculos - de
carter poltico, jurdico, financeiro, humano, econmico e lingstico -,
que devem ser ultrapassados, demandam o apoio das autoridades
governamentais e uma vontade politica coordenada.
O tratamento da informao feito de forma cooperativa traduz-se na
racionalizao e na estruturao constante das instituies nacionais, de
forma a integrar-se em um sistema. Qualquer esforo neste sentido
pressupe considerar o desenvolvimento do tratamento da informao
dentro de um planejamento global nacional. A concepo e a consolidao
de um sistema nacional de informao, geralmente assumida por um
organismo pblico, deve passar por dois estgios essenciais: a definio
das linhas gerais do sistema em funo das condies nacionais e o
reforo da infra-estrutura de informao.
A estas novas tarefas correspondem novas exigncias. Para dominar a
informao j no suficiente o saber profissional baseado apenas nos
conhecimentos tcnicos do livro (biblioteconomia) ou do documento
(documentao). Alm disso, necessrio recorrer a disciplinas mltiplas.
Desta forma, abre-se um vasto campo de pesquisa que no est to longe
das prticas profissionais como pode parecer. Na realidade, os
pesquisadores das cincias da informao apiam-se em mtodos e em
Introduo
observaes que necessitam da participao das unidades de informao.
Por estar em contato direto com as operaes tcnicas e com os usurios,
estas unidades fornecem elementos de estudo e dados, bem como
possibilidades de experimentao indispensveis formulao e
verificao de teorias. O impacto da pesquisa no tratamento da informao
traduz-se por uma rpida evoluo dos procedimentos e das tcnicas.
Todo especialista de informao de qualquer nivel v seu trabalho
diretamente subsidiado e moldado pela contribuio da anlise
fundamental.
A evoluo da demanda e a necessidade de passar da fase de fornecimento
de documentos ou de referncias prestao de informaes transformaram
a profisso. As funes dos profissionais da informao diversificaram-se
e se especializaram. As fronteiras que os separam dos cientistas se
atenuaram e evoluiram no sentido de uma melhor compreenso recproca.
O profissional de informao necessita de novas competncias em
lingstica, em informtica, em lgica e, naturalmente, no assunto tratado.
possvel analisar apenas o que se compreende. Dois fatos traduzem esta
interao necessria. Por um lado, um dos grandes objetivos dos
especialistas de informao o desenvolvimento de aptides e tcnicas
documentais bsicas pelos usurios, adquiridas mediante uma formao
apropriada. Por outro lado, o especialista de informao deve ter uma
dupla qualificao - em tcnicas documentais e no domnio, ou assunto
que ele trata - bem como uma formao contnua para atualizar os seus
conhecimentos.
Reforado pelo pessoal executivo e apoiado pelo pessoal de formao e
de pesquisa, o corpo profissional apresenta perfis extremamente diversos,
algumas vezes mal definidos: analistas, indexadores, catalogadores,
analistas especializados, difusores de informao, analistas de sistema,
generalistas, tcnicos e agentes de contato, que completam e enriquecem
as atividades tradicionais do bibliotecrio e do arquivista. Entretanto,
uma mesma preocupao os une: assegurar de forma eficaz o acesso
informao, ao conhecimento, ao maior nmero possvel de usurios; e
preservar a informao de fatores de degradao (deteno, ignorncia,
deformao, subordinao ideolgica, segredo e censura).
Estes especialistas da informao, cujo desenvolvimento e harmonizao
so uma das principais tendncias da sua profisso, necessitam de
programas de educao e de formao diferenciados, ainda insuficientes,
sobretudo nos paises pouco industrializados. Neste sentido, a cooperao
internacional, feita atravs das grandes organizaes internacionais,
como as Naes Unidas e suas agncias especializadas, ou por acordos e
convenes bilaterais e multilaterais entre pases, desenvolveu-se de
vrias formas. Est sendo empreendido um esforo importante no que diz
respeito aos pases em desenvolvimento, com a realizao de programas
de formao local ou em pases tecnicamente mais avanados, ou pelo
envio de pessoal qualificado, e por meio de assistncia financeira - sem
Introduo
falar do fornecimento de documentos e de equipamentos. Qualquer
pessoa que deseje formar-se em tcnicas de informao deve poder
beneficiar-se das possibilidades oferecidas por uma rede de formao
cada vez mais densa.
As profisses da informao apresentam caractersticas comuns, apesar
de suas diferenas tcnicas. O especialista da informao - instrumento
de comunicao e de contato, cuja curiosidade e esprito crtico so
constantemente solicitados e postos a servio da coletividade - deve ser
reciclado periodicamente. Sua Inteligncia estimulada pela amplitude
das tarefas e das necessidades dos usurios. Este profissional exerce uma
carreira nova, de grande atualidade, cujo papel intermedirio entre a
cincia e a conscincia fundamental. A soluo do desafio lanado pela
exploso documental est em grande parte em suas mos.
Bibliografia
Os manuais, glossrios e obras de referncia que tm por objetivo as
cincias da informao esto assinaladas na bibliografia geral, no final do
volume.
ANDERLA, G. Linformation en 1985. Une tudeprvisionnelle des besoins
et des ressources. Paris, OCDE, 1973.
DEBONS, A. etLarson, C. Information Science inaction. Boston/La Havey/
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1983. 2 vol. (NATO, Advanced Sciences
Institutes Series.)
Eco, U. De biblioteca. Trad. deTitalien par E. Deschamps. Caem, Lchoppe,
1986.
ESCARP1T, R. Thorie de Vinformation et pratique politique. Paris, Seuil,
1981.
ESTIVALS, R. La bibliologie. Paris, PUF, 1987. ( Que sais-je?, n? 2 374.)
KOCHEN, M. Information for action: from knowledge to wisdom. Londres,
Academic Press, 1975.
LASSWELL, H. D. The structure and function of communication in
society. Dans : W. Schramm et. D. F. Roberts (dir. publ.). Theprocess
and effects o f mass communication, p. 84-99. Urbana (III.). University
of Illinois Press, 1971. (dition rvise.)
MASUDA, Y. The information society as post-industrial society. Washing
ton, World Future Society, 1983.
McLUHAN, M. Pour comprendre le mdias. Lesprolongements technologiques
de 1homme (trad. de 1anglais). Paris, Seuil, 1968.
MOLES, A.-A. Thorie de Vinformation et perception esthtique. Paris,
Denol/Gonthier, 1972.
Introduo
MOWLANA, H. La circulation intemationale de Vinformation : analyses et
bilan. Paris, Unesco, 1985.
OTLET, P. Trat de documentation. Le livre sur le livre, thorie et pratique.
Bruxelles, Van Keerberghen, 1934.
PACET, P. A reader in art librarianship. La Havey, IFLA, 1985.
RANGANATHAN, S. R. Thefive laws oflibrary Science. Bombay/Calcutta/
New Delhi, Aspia Publication House, 1963.
SCHAEFFER, P. Machines communiquer. Tome 1 : La gense des
simulacres. Tome II : Pauuoir et communication. Paris, Seuil, 1970-
1972.
SHANNON, C. et WEAVER, W. La thorie mathmatique de la
communication. Paris, Retz/CEPL, 1975.
THIAM, T. B. Les Jlux de Vinformation Sud-Sud en Afrique noire. Fribourg,
ditions universitaires, 1982 (Communication sociale, Collection
blanche 17.)
UNESCO-UNISIST. tude sur la ralisation d'un systme mondial
d'information scientifique. Paris, Unesco, 1971.
VICKERY, B. et A. Information science in theory and practice... Londres,
Butterworth, 1987.
Voix multiples, un seul monde. Communication et socit aujourdhui et
demain. Paris, Unesco, 1980 (Rapportde laCommission intemationale
dtude des problmes de la communication.)
World guide to librarians,7e d. Munich/New York/Londres/Paris, K. G.
Sar, 1987.
39
Os tipos de
documentos
Um documento um objeto que fornece um dado ou uma informao.
o suporte material do saber e da memria da humanidade. Entretanto,
possvel buscar informaes em outras fontes, como, por exemplo,
solicitando um esclarecimento a uma pessoa ou a um organismo,
participando de uma reunio ou conferncia, visitando uma exposio,
ouvindo um programa de rdio ou assistindo a um programa de televiso.
Mas estas fontes renem, na sua maioria, informaes a partir de
documentos.
Existe uma grande variedade de documentos. O especialista de
informao deve conhecer bem suas caractersticas e ser capaz de
identificar a categoria a que pertence cada um, de forma a poder trat-los
e utiliz-los convenientemente.
Caractersticas
Os documentos podem diferenciar-se de acordo com suas caractersticas
fsicas e intelectuais. As caractersticas fsicas so o material, a natureza
dos smbolos utilizados, o tamanho, o peso, a apresentao, a forma de
produo, a possibilidade de consult-los diretamente, ou a necessidade
de utilizar um aparelho para este fim e a periodicidade, entre outras.
As caractersticas intelectuais so o objetivo, o contedo, o assunto, o tipo
de autor, a fonte, a forma de difuso, a acessibilidade e a originalidade,
entre outras.
Os tipos de documentos
Caractersticas fsicas
Todas as caractersticas fsicas de um documento influem na sua forma
de tratamento. O peso, o tamanho, a mobilidade, o grau de resistncia, a
idade, o estado de conservao, a unicidade, a raridade ou multiplicidade
so fatores que determinam a escolha e a anlise de um documento.
Natureza
De acordo com sua natureza, os documentos distinguem-se em textuais
e no-textuais, o que determina o tipo de informao que eles transmitem.
Cada uma destas categorias compreende uma grande variedade de
documentos.
Os documentos textuais apresentam essencialmente as informaes
em forma de texto escrito. So os livros, os peridicos, as fichas, os
documentos administrativos, os textos de leis, os catlogos, os documentos
comerciais e as patentes, entre outros.
Os documentos no-textuais podem ter uma parte de texto escrito, mas
o essencial de suas informaes apresentado em outra forma. Estes
documentos devem ser vistos, ouvidos ou manipulados. Os principais
documentos no-textuais so:
- os documentos iconogrficos ou grficos: imagens, mapas, plantas,
grficos, tabelas, cartazes, quadros, fotografias em papel e slides:
- os documentos sonoros: discos e fitas magnticas:
- os documentos audiovisuais que combinam som e imagem: filmes,
audiovisuais, fitas e videodiscos;
- os documentos de natureza material: objetos, amostras, maquetes,
monumentos, documentos em braile e jogos pedaggicos:
- os documentos compostos, que renem documentos textuais e no-
textuais sobre um mesmo assunto, como os livros acompanhados de
discos;
- os documentos magnticos utilizados em informtica, isto , os
programas que permitem efetuar clculos, fazer gesto de arquivos e
simulaes;
- os documentos eletrnicos utilizados em informtica. Veiculam texlo,
imagem e som. So os documentos do futuro.
Materiais
O material o suporte fsico do documento. A natureza e o material tm
caractersticas distintas. Um documento de natureza iconogrfca, como
uma fotografia, pode apresentar-se em dois suportes diferentes: o filme
negativo e a tiragem em papel. Os materiais tradicionais, como a pedra, o
tijolo, a madeira, o osso e o tecido foram suplantados, ao longo da histria,
pelo papel - que continua a ser o suporte mais comum. Mas a inovao
Os tipos de documentos
tecnolgica fez surgir novos suportes cada vez mais difundidos, como o
plstico utilizado nos discos, os suportes magnticos utilizados nas fitas
cassetes, discos e fitas de computador, discos e fitas de vdeo, os suportes
qumicos fotossensveis utilizados nos filmes, nas fotografias e nas
microformas. Nos ltimos anos, um novo suporte comeou a surgir: as
memrias ticas ou documentos de leitura a laser como o videodisco, o
disco tico-magntico, o disco tico-numrico (DON) e o disco compacto
apenas para leitura (CD-ROM). As tecnologias ticas permitiram o
desenvolvimento de suportes informatizados com maior capacidade de
armazenamento e durao que os suportes magnticos. As memrias
ticas tm suportes fsicos variados: o vidro, o alumnio e o polmero
utilizados no DON; o plstico, o metal e o PVC, utilizados no videodisco:
o macrolon, o alumnio e o plstico utilizados no CD-ROM. As propriedades
fsico-qumicas dos materiais influenciam as condies de conservao e
de utilizao de documentos.
Forma de produo
De acordo com sua forma de produo, os documentos podem distinguir-
se em brutos e manufaturados. Os documentos brutos so objetos
encontrados na natureza, como as amostras de terra, os minerais, as
plantas, os ossos, os fsseis e os meteoritos. Os documentos manufaturados
so objetos fabricados pelo homem. Podem ser objetos produzidos artesanal
ou industrialmente como os vestgios arqueolgicos, as amostras e os
prottipos, ou criaes intelectuais, como os objetos de arte, as obras
literrias, artsticas, cientficas, tcnicas e os documentos utilitrios,
fabricados mo ou por meio de mquinas.
As principais tcnicas de produo so a gravura, a litografia, a
imprensa, a duplicao e os procedimentos fotogrficos eltricos ou
fotoeltricos. Os documentos podem ser produzidos em pequena ou em
grande escala.
As inovaes tcnicas e o uso de novos materiais tm modificado
consideravelmente a forma de produo dos documentos manufaturados,
bem como seu uso. Os meios de produo so atualmente mais
diversificados e mais simples, alm de serem mais difundidos e mais
potentes, o que permite uma produo maior.
Areprografa permite duplicar facilmente os documentos, multiplicando,
desta forma, as possibilidades de acesso e de difuso reservadas at bem
pouco tempo a uma minoria.
A microedio a edio de documentos em formatos extremamente
reduzidos, tendo coino suporte um filme, uma ficha ou um carto. Apesar
de ter certos inconvenientes, esta forma de edio traz vantagens
considerveis na reduo de peso, de espao, e na facilidade de distribuio
e de duplicao, simplificando o funcionamento das unidades de informao
e a circulao da informao.
Os tipos de documentos
O registro da informao nas memrias ticas feito com a utilizao
da tecnologia do laser. O principio geral do registro do som e da imagem
o mesmo para o CD-ROM ou para o DON. A informao registrada em
uma matriz original ou masterem forma de dados numricos, digitais ou
digitalizados. Os discos so produzidos a partir desta matriz. As tcnicas
de impresso, de leitura e as normas adotadas pelos fabricantes so muito
diversificadas.
Um mesmo documento, textual ou iconogrfico pode apresentar-se em
formato normal e em microforma, ou ainda em disco magntico ou tico.
Portanto, possvel escolher o formato que apresenta as melhores
condies de aquisio, de conservao e de utilizao. O uso da informtica
no tratamento de textos, de imagens e de dados facilita e acelera
consideravelmente a produo de documentos que podem ser transmitidos
distncia.
Modalidades de utilizao
As modalidades de utilizao constituem tambm um critrio essencial
na escolha dos documentos. Alguns podem ser utilizados diretamente pelo
homem, outros necessitam de equipamentos especiais. As microformas s
podem ser lidas por meio de aparelhos de leitura especiais. Os documentos
audiovisuais podem ser utilizados somente com o auxlio de aparelhos de
projeo de imagens e de reproduo do som. As memrias magnticas de
computador so acessveis somente com equipamentos de informtica. As
memrias ticas podem ser lidas em microcomputadores profissionais,
com interface apropriada para tal. A unidade de informao que utiliza
documentos deste tipo deve dispor de aparelhos em nmero suficiente.
Alm disso, necessrio prever a sua manuteno. O custo destes
equipamentos est diminuindo rapidamente. Eles so cada vez mais
comuns e sua utilizao bastante fcil.
Periodicidade
A periodicidade uma caracterstica importante, principalmente para
os documentos textuais. Alguns documentos so produzidos apenas uma
vez. Outros so produzidos em srie. Uma publicao seriada um
documento que aparece em volumes ou fascculos sucessivos, a intervalos
mais ou menos regulares: so as colees de obras, os relatrios peridicos,
as revistas e os jornais. O contedo de cada edio diferente. Entretanto,
a apresentao fsica dos documentos, seu ttulo e outras caractersticas
so iguais.
As revistas e os jornais so conhecidos como peridicos, porque
aparecem, em princpio, a intervalos definidos e regulares. Sua periodicidade
pode variar de 24 horas a um ano. importante conhecer a periodicidade
das revistas para poder controlar sua chegada na unidade de informao.
Os tipos de documentos
Colees
As colees so uma outra forma de agrupar os documentos.
Sua periodicidade irregular. Os documentos que pertencem a uma
mesma coleo tm a mesma forma, geralmente o mesmo objetivo, e um
contedo diferente, relativo a um mesmo tema, identificado por um ttulo
ou por uma designao prpria da coleo. Muitas vezes, cada documento
recebe um nmero de ordem na coleo. Existem colees de documentos
sonoros, de fotografias em papel, de diapositivos e de outros tipos de
documentos no-textuais, bem como colees de documentos textuais.
Fomxa de publicao
A forma de publicao permite estabelecer uma distino entre os
documentos publicados e os no-publicados. Os primeiros so distribudos
comercialmente e podem ser comprados por qualquer pessoa na instituio
que os produziu, geralmente especializada nesta atividade, como as
editoras ou as livrarias. Os documentos no-publicados no so
comercializados e sua difuso , em geral, restrita. Constituem a chamada
literatura subterrnea" ou literatura no-convencional", ou ainda
literatura cinzenta". Alguns so manuscritos ou datilografados, outros
so produzidos por processos de duplicao, ou impressos. Sua tiragem
sempre limitada. So muitas vezes documentos de trabalho, teses e
relatrios de estudos ou de pesquisas, reservados ao uso particular do
autor ou ao uso interno das instituies que os produziram. Estes
documentos podem sofrer alteraes.
Os documentos no-publicados tm um papel importante na pesquisa,
na administrao e nas atividades de produo e de servios. Algumas
vezes so publicados com muito atraso. Seu valor est no seu contedo,
bem como na sua atualidade. So um meio de informao importante e
muitas vezes nico em algumas reas do conhecimento. So documentos
de difcil acesso, porque sua produo dispersa, porque no so
publicados e muitas vezes no so repertoriados. Alguns deles permanecem
secretos durante um determinado perodo e so acessveis apenas a um
nmero restrito de pessoas autorizadas, como alguns documentos militares,
polticos, administrativos e comerciais. Outros so limitados por sua
forma de produo e por sua tiragem limitada, como, por exemplo, as teses
no publicadas. Estes documentos devem ser sistematicamente
procurados, mediante contatos pessoais com os autores ou com os
organismos produtores.
Alguns documentos de carter pessoal e familiar so protegidos por
disposies que probem a sua divulgao antes de um determinado
perodo.
Os documentos manuscritos produzidos no dia-a-dia, como as cartas,
as notaseas faturas, so, em geral, conservados por razes administrativas,
Os tipos de documentos
ou como prova. Podem adquirir um valor histrico independente de sua
funo inicial, da mesma forma que os rascunhos e as notas.
Caractersticas intelectuais
As caractersticas intelectuais de um documento permitem definir seu
valor, seu interesse, o pblico a que se destina e a forma de tratamento
da informao.
Objetivo
O objetivo de um documento, ou a razo pela qual foi produzido varia
muito. Um documento pode ser produzido para servir como prova, ou
testemunho, para preparar outro documento, para expor idias ou
resultados, para o trabalho, para o lazer, para o ensino, para a publicidade,
ou para a divulgao e ainda para garantir os direitos de uma pessoa ou
de uma coletividade.
Grau de elaborao
O grau de elaborao de um documento permite estabelecer uma
distino essencial entre documentos primrios, secundrios e tercirios.
Os documentos primrios so os originais, elaborados por um autor.
Os secundrios so aqueles que se referem aos documentos primrios
e que no existiriam sem estes. Trazem a descrio dos documentos
primrios. So as bibliografias, os catlogos e os boletins de resumos,
entre outros (ver o captulo "As bibliografias e as obras de referncia: a
literatura secundria).
Os tercirios so aqueles elaborados a partir de documentos primrios
e/ou secundrios. Renem, condensam e elaboram a informao original
na forma que corresponde s necessidades de uma categoria definida de
usurios. So as snteses e os estados-da-arte, entre outros (ver o captulo
Os servios de difuso da informao").
Contedo
O contedo de um documento pode ser avaliado a partir do assunto
tratado, da forma de apresentao, da exaustividade, da acessibilidade,
do nvel cientfico, do grau de originalidade e de novidade, da idade das
informaes, em funo da data de publicao do documento, e ainda do
fato de o documento ter, em parte, ou essencialmente, dados numricos.
Todos estes critrios so relativos: um documento pode no trazer
nenhuma informao nova, mas ser apresentado de forma mais clara e
mais acessvel a determinado pblico. Um documento antigo pode ter seu
Os tipos de documentos
contedo completamente desatualizado, mas ser um testemunho
importante de sua poca. Em cada atividade de informao, necessrio
estabelecer os critrios mais importantes para avaliar cada documento.
Origem
A origem, a fonte e o autor de um documento exercem um papel
importante na sua forma de utilizao. A fonte de um documento pode ser
pblica ou privada, annima ou conhecida, individual ou coletiva, secreta
ou divulgada. O autor pode ser uma pessoa, ou um grupo de pessoas, uma
organizao ou vrias organizaes. A forma de obteno de um documento,
seu tratamento e sua difuso podem ser influenciados por estas
caractersticas.
A natureza mais ou menos confidencial de uma fonte de informao
influencia o uso que pode ser feito desta fonte. Um jornalista, por exemplo,
pode recusar-se a indicar a fonte onde buscou sua informao. Entretanto,
esta fonte continua vlida, pois este procedimento admitido pela
deontologia da profisso. Um cientista, ao contrrio, deve mostrar a prova
do que afirma e citar as fontes.
Alguns documentos so de domnio pblico, isto , qualquer pessoa
pode utiliz-los. Outros so protegidos pela propriedade literria e/ou
artstica ou comercial, por algumas disposies do direito comum que
probem sua utilizao durante um certo perodo sem o consentimento do
autor, ou das pessoas citadas ou representadas, e sem o pagamento dos
direitos autorais. Isto pode restringir consideravelmente as possibilidades
de difuso. importante que os responsveis pelas unidades de informao
conheam as disposies jurdicas relativas ao direito de informao e,
particularmente, a legislao referente aos direitos autorais do seu pas.
Esta legislao varia de um pas a outro.
Tipos de documentos
Se fosse estabelecida uma tipologia exaustiva, os tipos de documentos
identificados pelas unidades de informao seriam mais diversificados.
Sua identificao responde a preocupaes prticas, para facilitar as
operaes de seleo, de armazenamento, de tratamento e de difuso da
informao.
Geralmente distingue-se, no nvel formal, as monografias (documentos
nicos que tratam de um assunto), as publicaes peridicas, as patentes
e as normas, os documentos no-texluais (entre eles, as imagens, os
mapas e as fotografias), os documentos secundrios e os documentos no-
convencionais. Esias categorias so definidas em funo das necessidades
e do tratamento que se pretende dar a cada tipo de documento.
No nvel intelectual, possvel distinguir geralmente os documentos
essenciais, que tratam exclusivamente de assuntos que interessam
Os tipos de documentos
unidade de informao, e os documentos marginais. Estes ltimos podem
ser divididos em dois subgrupos de documentos: os que contm, em uma
certa proporo, informaes que interessam unidade de informao e
aqueles que contm raramente este tipo de informao e que, em principio,
devem ser descartados. Os documentos essenciais devem ser adquiridos
e tratados em prioridade.
Esta distino puramente formal e depende das necessidades e dos
objetivos da unidade de informao.
Estrutura dos documentos
A estrutura dos documentos varia de acordo com o seu tipo e de um
documento a outro, mas existem traos comuns. Em alguns casos, o
documento contm o conjunto de informaes necessrias ao seu
tratamento. Em outros, ele deve ser acompanhado por outro documento
que o identifica.
Monografias
Uma monografia tem, em geral, uma capa, uma pgina de rosto, um
texto dividido em vrias partes e um sumrio que se encontra no incio ou
no fim do volume. Alm desses elementos fixos, pode-se encontrar
ilustraes e notas de p de pgina que completam as indicaes do texto
com referncias e observaes. Estas notas podem estar localizadas no
final dos captulos ou no final do volume. O prefcio que, em geral, escrito
por uma pessoa diferente do autor, e a introduo encontram-se no incio
da obra. O posfcio encontra-se no final da obra. A introduo, o prefcio
e o posfcio apresentam, em geral, o autor, a obra, o assunto e as intenes
do autor, ou fazem um resumo da obra. Pode-se encontrar ainda
bibliografias no final do volume ou dos captulos, glossrios ou lxicos,
ndices de assuntos, de lugares e de pessoas citadas e anexos com dados
suplementares.
Publicaes seriadas
De acordo com o Sistema Internacional de Dados sobre Publicaes
Seriadas (ISDS), uma publicao seriada uma publicao, impressa ou
no, que aparece em fascculos ou em volumes sucessivos, com uma
seqncia numrica ou cronolgica, durante um perodo de tempo
indeterminado. Estas publicaes so os peridicos, os anurios, os
relatrios, as atas de sociedades e as colees de monografias. Uma
publicao peridica compe-se de uma capa, sempre a mesma para cada
nmero, mas que pode ser modificada ao longo da vida do peridico e de
um texto, que tem os seguintes elementos:
Os tipos de documentos
- um sumrio com a lista dos artigos e das sees do peridico;
- vrios artigos, acompanhados ou no de um resumo, de ilustraes
e de bibliografia;
uma parte informativa sobre a vida da instituio que edita a
revista, condies de assinatura e responsabilidades da publicao,
informaes sobre o assunto em que o peridico especializado e um
calendrio de eventos;
uma parte bibliogrfica, eventualmente com notcias e recenses de
livros novos;
- um correio do leitor;
publicidade.
Alm destes elementos, o peridico pode ter um editorial, assinado pelo
diretor ou pelo redator da publicao, que apresenta geralmente sua
opinio sobre um assunto de atualidade ou sobre os artigos do fascculo
em questo. Alguns peridicos trazem resumos dos artigos em vrias
lnguas e algumas vezes a traduo completa dos artigos em uma ou em
duas linguas. Outros trazem artigos em vrias lnguas. So os peridicos
bilnges ou multilnges.
A cada ano, os sumrios dos nmeros dos peridicos so reunidos em
um ndice que remete cada tpico aos fascculos e pginas correspondentes.
Estes ndices podem ser acumulados a cada cinco ou a cada dez anos. So
instrumentos de pesquisa rpidos e seguros e facilitam a recuperao da
informao.
Os peridicos so numerados em sries contnuas, por ano ou por
volume.
Documentos no publicados
Os documentos no publicados tm uma estrutura muito varivel.
Muitas vezes estes documentos no trazem as menes de autor, de ttulo,
de data e de fonte, que se encontram, em geral, na pgina de rosto. Estes
documentos, normalmente, no tm sumrio nem capa.
Documentos no-textuais
Aestrutura dos documentos no-textuais decorrente de sua natureza,
de seu objetivo e de seu contedo. Alguns so simples, como a fotografia
de um nico objeto. Outros so complexos, como um filme sonoro sobre
uma criao de animais.
Este tipo de documento apresenta, muitas vezes, problemas de
identificao. O autor, o ttulo, a fonte, as partes do documento e outras
informaes podem estar no prprio documento, ein forma de legenda, pu
ento na sua embalagem. Uma parte das informaes pode estar no
documento, e outra parte, na sua embalagem. Estas informaes podem
se encontrar ainda em um documento anexo. Este o caso de alguns
Os tipos de documentos
objetos, de alguns documentos materiais, dos negativos de filmes ou das
fotografias em papel. Estas informaes devem indicar a natureza do
documento, a data e o local de realizao, informaes sobre sua produo
e informaes sobre as tomadas, entre outras. Os mapas, as plantas e os
grficos devem ter indicaes de ttulo, uma legenda ou lista explicativa
dos smbolos e cores convencionais utilizados e uma escala, isto , a
indicao da relao entre as dimenses reais e as dimenses no papel.
Eventualmente, indicaes de autor, data, fonte, impresso ou edies.
Alguns documentos, como as leis, as decises de justia, os relatrios
peridicos e os projetos de pesquisa tm os mesmos elementos de
identificao que podem apresentar-se em uma ordem fixa.
Partes
Cada parte do documento tem seu valor prprio para a identificao e
o tratamento. As mais importantes so geralmente a capa, a pgina de
rosto e o sumrio. A maior parte das informaes necessrias identificao
do documento devem encontrar-se em locais precisos, determinados pelas
normas ou pelo uso corrente. A data, por exemplo, encontra-se no incio
ou no fim do documento. Os ttulos deveriam, em princpio, caracterizar
o documento, mas so muitas vezes ambguos e vagos.
Para caracterizar um documento textual, utilizam-se as informaes da
capa, da pgina de rosto, do sumrio, dos ttulos dos captulos, das sees
e os pargrafos. Esta caracterizao permite ter uma viso de conjunto do
documento e, ao mesmo tempo, identificar cada parte do texto. O ndice
til para identificar os assuntos; o resumo, a introduo e o prefcio
permitem ter uma viso global do documento e conhecer as intenes do
autor. A apresentao, a bibliografia e as ilustraes do uma idia do
tratamento dado ao assunto.
Para caracterizar os documentos no-textuais, utilizam-se as
informaes da sua embalagem e das etiquetas. Entretanto, necessrio
completar as informaes sobre este tipo de documento com catlogos e
documentos comerciais.
Os documentos no-textuais devem ser examinados no seu conjunto.
Esta , muitas vezes, a nica forma de identific-los.
Unidade documental
A unidade documental uma parte de um documento identificvel
fisicamente, de forma a facilitar seu tratamento, ou seja, sua descrio
bibliogrfica, sua descrio de contedo, seu armazenamento, a pesquisa
da informao e a sua difuso. Um documento uma unidade fsica, mas
pode trazer informaes de natureza diferente ou de assuntos diversos que
necessrio destacar. Algumas vezes, estas informaes correspondem a
uma parte do documento que pode ser isolada, como, por exemplo, um
Os tipos de documentos
captulo de livro, um artigo de peridico, um anexo, uma tabela ou um
mapa. A unidade destacada deve formar uma separata.
Toda unidade de informao deve estabelecer regras prprias que
permitam identificar as unidades documentais em funo da especificidade
dos contedos, do nivel de anlise desejado e das necessidades dos
usurios. As unidades documentais devem ser tratadas separadamente,
com meno do documento original de onde foram extradas. O documento
original recebe, por sua vez, um tratamento prprio.
Condies
Para que um objeto ou um produto seja considerado um documento,
para que ele possa servir comunicao e transferncia de informaes,
devem ser atendidas algumas condies:
- o documento deve ser autntico e sua origem, isto , seu autor, fonte
e data devem ser verificados, na medida do possvel. Esta verificao
tarefa do documentalista;
- o documento deve ser confivel. A exatido das informaes deve
ser verificada por meio de argumentos ou de provas, ou da realizao de
uma experincia ou clculo. Este tipo de verificao no da alada do
documentalista, menos que ele seja especializado no assunto do documento.
Este um dos momentos em que a cooperao entre usurio e
documentalista se faz necessria:
- o documento deve ser, na medida do possvel, acessvel
materialmente. Isto significa que ele pode ser adquirido, emprestado ou
reproduzido.
O valor de atualidade de um documento varia de acordo com a sua
utilizao e com o tipo de usurio. Um assunto de atualidade, por exemplo,
deve ser tratado com dados recentes. Uma pesquisa histrica deve ser
elaborada a partir de documentos da poca estudada, mas utiliza tambm
informaes recentes sobre o assunto.
Os critrios de utilidade de um documento dependem da relao entre
o assunto tratado e a sua forma de tratamento e da especialidade da
unidade de informao e das necessidades dos usurios. Quanto mais
estreita for esta relao, mais o documento ser til ou pertinente para o
sistema.
Tempo de vida dos documentos
O tempo de vida de um documento ou de uma unidade documental
depende do seu valor intrnseco, da disciplina ou domnio tratado, do seu
grau de atualidade, de sua pertinncia em relao ao estado dos
conhecimentos, aos objetivos da unidade de informao e s necessidades
dos usurios. Os fatos mudam e os conhecimentos renovam-se com menor
Os tipos de documentos
o maior velocidade nos diversos campos do saber. Uma obra de filosofia,
por exemplo, pode permanecer vlida durante sculos. Um documento
que descreve uma mquina deve ser atualizado freqentemente.
possvel calcular a freqncia de utilizao ou de citao de um
documento por intermdio de mtodos estatsticos e determinar, desta
forma, seu ciclo de vida. Quando o documento novo, e pouco conhecido,
sua utilizao baixa. A seguir ele tem um perodo de grande utilizao.
Depois, sua utilizao diminui novamente. Em um determinado momento,
ele tem apenas valor histrico.
Alguns documentos tm um tempo de vida bem-definido, porque
perdem seu valor a cada nova edio. Este o caso dos anurios, das
normas, dos repertrios e das publicaes em folhas soltas. tmbm o
caso dos dossis de imprensa, cuja durabilidade tributria de sua
atualidade imediata.
Os documentos preliminares de congressos e de cursos, os relatrios
provisrios e os resultados de pesquisas so, em geral, passveis de serem
modificados e transformados, podendo ento serem eliminados.
Em geral, os livros tm um tempo de vida maior que os artigos de
peridicos. Os livros permanecem atuais durante cinco a dez anos, de
acordo com seu nvel e com a disciplina. Eles desatualizam-se medida
que novos textos so publicados.
Todo documento produzido em determinado momento para um
determinado tipo de necessidade ver, conforme a evoluo desta
necessidade, sua utilidade diminuir at o desaparecimento. Para os
documentos brutos, testemunhas de um fato, como, por exemplo, um
fssil, e para aqueles que adquiriram valor histrico, independentemente
da conjuntura cientfica, isto no acontece. No se deve confundir a
freqncia de uso de um documento com o seu valor de uso, pois um
documento pouco utilizado e eventualmente muito antigo pode ter um
grande interesse para um certo pblico e para objetivos especficos.
Questionrio de verificao
Para que serve um documento?
Que condies devem ser preenchidas para que um objeto se transforme
em um documento?
O que um documento secundrio?
O que uma unidade documental?
O que uma publicao peridica?
O que um documento no-textual?
O que uma microforma?
O que so memrias ticas?
O que determina o tempo de vida de um documento?
Os tipos de documentos
Definio dos principais
documentos 1
Atas - edies preliminares ou relatrios das comunicaes cientficas
apresentadas a um congresso.
Almanaque - nome de alguns anurios ou publicaes que tm por base
um calendrio.
Anais - 1) obra que apresenta os acontecimentos em ordem cronolgica,
ano a ano; 2) ttulos de revistas, de recenses peridicas e de fatos.
Anurio - antologia publicada anualmente com informaes que variam
de um ano a outro.
Arquivos - conjunto de documentos, com datas de publicao, forma e
suporte material diversos, elaborados e recebidos por uma pessoa, ou
por um organismo pblico ou privado, em funo de sua atividade,
organizados e conservados de forma permanente em conseqncia de
uma determinada atividade (AFNOR).
Atlas - conjunto de mapas geogrficos, de quadros ou de planos.
Boletim de resumos - qualquer publicao peridica constituda por uma
srie de ttulos acompanhados de resumos e apresentada, em geral,
por assunto.
Boletim de informao (newsletter) - nome dado a certas publicaes
peridicas que difundem as atividades de uma associao ou de uma
administrao.
Carta temtica - documento resultante de um estudo particular que
necessita uma interpretao, uma anlise ou uma sntese de acordo
com um tema determinado.
Cdigo - nome dado a alguns lxicos documentais, onde as noes so
designadas de acordo com um sistema simblico especial.
Coleo-agrupamento de unidades bibliogrficas reunidas sob um ttulo
comum e com durao, em princpio, limitada (AFNOR).
Comunicao - exposio oral ou escrita feita a uma instituio cientfica.
Disco - placa circular de plstico utilizada para o registro e a reproduo
de som.
Documento - conjunto de suporte de informao e dos dados nele
registrados, que podem servir para consulta, estudo ou prova (AFNOR).
Estampa - 1) imagem impressa depois de ter sido gravada em madeira,
metal, pedra, etc.; 2) ilustrao de uma obra que se encontra
indepndente do texto e no-paginada.
1. A escolha dos termos que constituem esta lista foi feita de acordo com os critrios de
estudo expostos neste captulo: caractersticas fsicas, intelectuais etc. (foram omitidos da lista
os documentos tratados em outras partes do livro como as bibliografias e os manuais,
entre outros).
Os tipos de documentos
Estado-da-arte (ou sntese) - relatrio sobre o estado do assunto em um
domnio do conhecimento, feito para avaliar a literatura em um
perodo determinado.
Extrato - fragmento de um texto, feito a partir do prprio texto do
documento.
Fascculo - 1) edio ou caderno de uma obra ou de um peridico
publicado em partes; 2) excepcionalmente, obra completa que faz
parte de uma coleo;
Ficha de filmagem (Store board) - notcia descritiva de informao que
acompanha um filme destinada a facilitar a montagem e o comentrio;
Fita de vdeo - 1) fita sonora e visual, que pode ser projetada em uma tela
de televiso ou de cinema por um aparelho especial; 2) fita magntica
especial que serve para o registro de imagens e, eventualmente, de
som;
Folheto - documento, com at 48 pginas, que constitui uma unidade
bibliogrfica (AFNOR).
Funcionograma - documento que representa diversos elementos de
mquinas e suas ligaes representadas por smbolos grficos
convencionais, ou expresses matemticas que mostram as
caractersticas de funcionamento de diversos elementos.
Grfico - representao grfica de qualquer espcie de fenmeno.
Guia - obra que contm informaes teis sobre um assunto determinado.
Ilustrao - gravura ou desenho intercalado no texto de um livro, de uma
revista ou de um artigo.
Imagem - representao grfica ou plstica de informaes, em geral,
visualmente explorveis.
In Folio - 1) folha ou pgina de formato maior que o livro onde est inserida
e que deve ser desdobrada para consulta; 2) documento constitudo
de uma nica folha que pode ser dobrado muitas vezes (AFNOR).
Jornal - publicao com periodicidade curta.
Lxico documental - conjunto de termos utilizados para designar as
noes nas representaes de documentos pertencentes a um
determinado campo do conhecimento.
Livro-conjunto de folhas impressas e reunidas em um volume encadernado
ou sob a forma de brochura
Manuscrito - documento escrito ou copiado mo.
Maquete - reproduo, em escala reduzida, de um aparelho, de uma
mquina, de uma decorao ou de uma obra de arte.
Marca de fbrica - signo ou smbo. o que serve para distinguir os produtos
ou os servios de uma empresa.
Miscelnea - 1) obra composta de artigos redigidos por vrios autores
sobre assuntos diversos, oferecidos a uma pessoa, por seus colegas;
2) publicao formada por diversas obras reunidas e editadas em
conjunto.
Os tipos de documentos
Monografia - obra em um ou em vrios volumes que aparecem ao mesmo
tempo ou em um perodo de tempo predeterminado de acordo com um
plano que forma uma unidade.
Montagem sonora - reunio de gravaes sonoras inicialmente separadas,
que podem ser ouvidas sem interrupo.
Nomenclatura - 1) conjunto de termos utilizados em uma cincia, em uma
tcnica ou em uma arte, classificados metodicamente; 2) lista metdica
dos elementos de uma coleo.
Patente - ttulo de propriedade industrial, identificado por um nmero
oficial que protege, durante um certo tempo, uma inveno descrita
nos seus detalhes, na medida das reivindicaes que apresenta
(AFNOR).
Peridico - publicao em princpio de mltipla autoria, que tem em
alguns pases um ttulo legal, aparecendo a intervalos regulares,
delimitados anteriormente, e cujos fascculos trazem geralmente um
sumrio e se encadeiam de forma cronolgica e em numrica durante
um perodo de tempo no delimitado (AFNOR).
Preprint - cpia de uma comunicao, editada antes da publicao
definitiva do conjunto e distribuda em nmero limitado.
Publicao em folhas soltas - publicaes cuja encadernao permite a
incluso ou a substituio de pginas de atualizao ou de suplementos
(AFNOR).
Publicao oficial - qualquer texto publicado em forma de volume,
brochura ou peridico, produzido por um governo, por uma sociedade
governamental ou por uma organizao internacional.
Publicao seriada - publicao com durao no limitada a priori, com
periodicidade irregular e geralmente publicada por uma coletividade.
Recenso - 1) relao, exposio ou relatrio sobre um acontecimento
2) anlise crtica de uma obra.
Relatrio - 1) documento que contm os resultados de uma pesquisa ou
de um estudo; 2) documento que contm a descrio das atividades de
um organismo durante um determinado perodo (relatrio de
atividades).
Resumo - resultado da reduo de uma obra escrita ou oral a seus pontos
essenciais (AFNOR).
Separata - exemplar de um artigo da mesma forma que foi publicado em
um peridico.
Sinopse - resumo breve de uma obra, geralmente feito pelo seu autor.
Spcime - exemplar, fascculo ou folheto publicitrio.
Tese - conjunto de trabalhos apresentados a uma faculdade ou universidade
com o objetivo de obter um grau universitrio.
Videograma - designa os programas audiovisuais registrados e destinados
a ser visualizados por um aparelho de televiso. Os suportes atuais
dos videogramas so os videodiscos e as fitas de vdeo.
Os tipos de documentos
Volume - unidade material que rene, em uma mesma capa, um certo
nmero de elementos como folhas, cadernos e discos, que formam um
todo ou que fazem parte de um todo (AFNOR) .
Bibliografia
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COLES EN SCIENCES DE
LINFORMATION. Non-livre et documentation. Lyon, cole nationale
suprieure des bibliothcaires, 1984.
DREYFUS, J.; RICHAUDEAU, F. et PONOT, R. La chose imprime. Paris,
Retz, 1985.
Les documents graphiques et photographiques : analyse et conservation.
Travaux du Centre de recherches sur la conservation des documents
graphiques 1984-1985. Paris, La Documentation franaise, 1986.
Enqute intemationale sur les documents informatiques dans les archiues
des pays en voie de dueloppement. Prpare par le Comit de
1'informatique du Conseil international des archives. Paris, Unesco,
1987. (Doc. PGI-87/WS/14.)
GILOTAUX, P. Les disques. Paris, PUF, 1980. ( Que sais-je?, n- 971.)
HUDRISIER, H. L'iconothque : documentation audiovisuelle et banques
dimages. Paris, La Documentation franaise, 1982.
International Federation of Libraiy Associations and Institutions (IFLA).
World directory o j map collections. 2- d. New York/Paris/Munich/
Londres, K. G. Sar, 1986.
L'image fixe, espace de 1image et temps du discours. Paris, La Documen
tation franaise, BPI, 1983.
Les mmories optiques : la gestion de Vinformation de demain. Paris,
Milam-Midia, 1988. (Coll. Axix.)
MOUNT, E. Monographie inSci-Tech librairies. New York, Haworth Press,
1983.
NICOLS, N. Map librarianship, 2Bd. Londres, Bingley, 1982.
Les priodiques. Sous la direction d'Annie Bertheiy et de Jacqueline
Gascuel. Paris, Cercle de la librairie, 1985.
RATHAUX, B. Histoire des inventions et techniques du livre. Paris, Ediru,
1983.
56
Os tipos de documentos
BIBLIOTHQUE DE LENVIRONNEMENT
CoUcction dirigie par JEAN A. TERN1SIEN
PRCIS GNRAL DES NUISANCES
UCOLOGIE
CONTRE LES NUISANCES
POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE
par
V. LABEYRIE - P. OZENDA - E. BILIOTTI
P. BOVARD - J. BENARD
)
Prface de M. le Professeur VAGO
Membre de VInstitu
GUY LE PRAT, DITEUR
5, RUH DES GraNDS-AUCUSTINS
PARIS VI*
Monografia
57
Os tipos de documentos
cs.?
>mmm,
Peridico
58
Os tipos de documentos
N" dordre r p r j - p i n T J n N ' denrcjistremeM
293 1 11 ill/lj IJ nuCNRS : A.O. 1874
P R E S E N T C E S
A LA FACULTK DES SCIENCES
DK L UMVEHSITK DE MHSEILLK
(St. Jrrae)
POUR OBTENIR
I.E GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES NATURELLES
Par
Hcnrl Noel LE HOUEHOU
l - r t m i r r e t h * . L A V E G E T A T I O N DE L A T U N I S t E S T E P P I Q U E
avec r f r enc e a u i v g t a t i o m analugues d A l g r i e . de L i b y e e t du M a r o c )
I )ru \ i m e thse. - P R O P O S I T I O N S D O N N E E S P A H L A F A C U L T E :
I nir oduc on la v g t a t i o a de !a Ltbye
SoatenuM le 17 novcmbre 1969 d e ra n t ia commission d' cx amen
M M P. Q U E Z E L .................................................. P r e s i d e m .
I. E M B E R G E R i
C h S A U V A G E ..................................................I
\ PO IS S . . . . } E x a i n i n a t e i i r x .
M t l c J C O N T A N O R I O P < ) U 1.OS . j
M u i t r e t/r H e f h e n h ex a u C N R S
Annnlc\ dc l lnslilLi! National dc !:i Rcchcrchc Agronomiquc dc uniMC
Tunis !*#< - vul. 42 - fase. 5
Teses
59
Os tipos de documentos
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
L ' H Y D R O B I O L O G I E A L I . N . R . A .
4 annes de Recherches
1969 - 1972
prsenfes por R. VIBERT
Chef du Dportement dHydrobiologic
Editions S.E.I.
C.N.R.A. - Versoilles
Relatrio
60
Os tipos de documentos
PUBLICATFON No. 98
PROCEEDINGS
OF THE
OAU/STRC SYMPOSIUM ON THE MAINTENANCE
AND IMPROVEMENT OF SOIL FERTILITY
COMPTES RENDUS
DU
COLLOQUE OAU/STRC SUR LA CONSERVATION
ET L\AMLIORATION DE LA FERT1LIT DES SOLS
KHARTOUM
8-12 November/Novenibre 1965
o r g a n i s a t i o n o p a f r i c a n u n i t v
ORGANISATION DF. I/UNIT AFRICAINF.
rOMMISMON SCIFJfTIFIOirF, SCIF.NTtnC. TFCHNICAL AND
TF.( I I N I Qf E FT DE LA RF.CIIF.RCHF. RF.SF.ARCH COMMISSION
Burcau des Publications/Publications Burcau
Watergate Housc, York Buildings
London, W.C.2
Anais de uma conferncia (de um colquio).
61
Os tipos de documentos
BUREAU INTERAFRICAIN DES SOLS
1NTER-AFRICAN BUREAU FOR SOILS
B.P. 1352, Bangui, Republique Ccntrafricaine
SOLS AFRICAINS
AFRICAN SOILS
VOLUME XV JANVIER-DCEMBRE _
N 1-2-3 JANUARY-DECEMBER
ORGANISATION OF AFRICAN UN1TY
ORGANISATION DE L'UNIT AFRJCA1NE
COMMISSION SCIENTIFIQUE, SOtENUMC. TECHN1CAL AND
TECHNIQUE ET DE LA RECHERCHE RESEARCH COMMISSION
Bureau des Publications / Publications Bureau
Maison de PAfrique
B.P. 878
NlameyRep. Niger
Trabalho apresentado em uma conferncia, publicado como artigo
de peridico.
62
F
R
2
5
4
3
7
1
3
Os tipos de documentos
@ RPUBUQUE FRANAISE
INSTITOT NATIONAL
DE LA PHOPRltT INDUSTRIELLE
( j ) N' d publtcation : 2 543 713
(i n vkmc qu* pour Ua
commanilw du reproducDon)
(j) N*d'enregistrement national : 83 05255
@ Int a :G08B5/00; A62B37/00.
DEMANDE DE BREYET DINVENTION A1
Date de dpt : 30 mars 1983.
Priort :
(43) Data d la mise diaposition du public da la
demande : BOPI <Brevets n* 40 du 5>ctobf8 1984.
(60) Rfrences cfautras documenta nationaux appa-
@ Demandeur(s): 6IR0ULETFtbrice. - FR.
(72) inventeud) : Fabrice GirouleL
Trtulaireio) :
(74) Mandataira(s) : Madeuf.
(54) Dispositif de reprage pour la scurit daa peraonnea.
(57) Le dispositif de reprage pour la scurit de* personnes
est caractris en ce qull comporte dans un tui 1 ferm par
un capucbon 3 factlement amovibe au moins un J ment 8
gonflaNe reli i au moms une cartouche de gaz 7 efle-mme
retoe pax un cordoa l*tui qui eat fix i une oartie du corpa
de 1'uaeger.
<
I
Vtnt dM fwoM i nMPRIMEWE KATJONALt 27. ma d* X ComitCK - 75732 PAUIS CDX 15
Documento de patente (ou simplesmente, Patente de Inveno).
63
Os tipos de documentos
Planchette MURAMVYA
/
SOLS
<
Carte semi-dtaille
'
L e v par SOTTIAUX, G fRANKART, R.. NTORANYE, P. (1970)
fchefi* : 1/40.000 :
0 km 1 ki * k* 3 k <
B PU BLIOU E OU BURUNOI
MINPSTBE OE L AGRICULTURE ET DE L ELEVAOE
1 N S T I T U T D E S S C I E N C E S A G R O N O M I Q U E S D U B U R U N D I
( I S A B U )
CARTE DES SOLS ET DE LA VEGETATI0N
DU BURUNDI
1. PLANCHETTE MURAMVYA
NOTICE EXPLICATIVE DE LA CARTE DES SOLS
p ar
R . F R A N K A R T e t G . S O T T I A U X
H m tt AVEC L-APPU1 OE LAOMINfSTnATIOH QNCRALE OE LA COOPEftATiON au DVELOPPEMENT DE 9f.LCT.QWE (A O.C O *
c r o u rONo EUOOPCEN OE OEVELOPP*MENT 0 U COMMUNAUT ECONOMIQOE EUHOPEEMHE (F.C O fC r . t }
1 P I
%
Atlas
64
As bibliografias e as
obras de referncia:
a literatura
secundria
Obras de referncia
As obras de referncia so as primeiras ferramentas da pesquisa docu
mental. Para cada tipo de demanda existe um tipo de obra de referncia
que permite dar a informao desejada, ou indicar a fonte de informao
capaz de fornecer ou precisar o contedo e os limites de uma questo.
As obras de referncia tm como caracterstica comum o fato de serem
documentos secundrios ou de segunda mo", isto , produzidos a
partir dos documentos originais ou primrios". Estas obras no contm
informaes novas, mas repetem e organizam as informaes disponveis.
Entre as obras de referncia pode-se distinguir:
- as bibliografias, os boletins de anlise e os catlogos que remetem
a documentos algumas vezes analisados e condensados;
- as enciclopdias e os dicionrios, que remetem a idias e/ou a
termos especializados. Pertencem tambm a esta categoria os manuais e
os anurios;
- os repertrios, que informam sobre nomes, endereos e fornecem
informaes prticas.
Existem tambm repertrios de obras de referncia: repertrios de
anurios, as bibliografias de bibliografias e os guias de enciclopdias
disponveis, entre outros.
Estas obras so tambm conhecidas como obras de consulta". Servem
como orientao pesquisa e no para serem lidas no seu todo.
Bibliografias
As bibliografias ou repertrios bibliogrficos cobrem uma realidade
mltipla. O termo bibliografia tem vrios sentidos: a) cincia dos livros,
tema que no ser abordado neste captulo; b) lista completa ou seletiva
de documentos sobre um assunto determinado; c) lista peridica de
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
documentos recentes. Existem vrios tipos de bibliografias:
- bibliografias gerais internacionais, tambm chamadas universais",
que no so mais editadas:
bibliografias gerais nacionais, cujo exemplo tpico a bibliografia
nacional:
- bibliografias especializadas.
Algumas bibliografias so produzidas apenas uma vez, em resposta a
uma questo ou a uma necessidade em particular: outras so produzidas
regularmente, como as bibliografias correntes.
A bibliografia nacional a lista das publicaes textuais e no-textuais
produzidas em um pas e submetidas em geral ao depsito legal. Este
depsito a obrigao que os impressores e editores tem de remeter um
certo nmero de exemplares dos documentos por eles produzidos a um
organismo designado oficialmente para receb-los e conserv-los
(geralmente a biblioteca nacional ou o arquivo nacional para os documentos
escritos e a fonoteca nacional para os documentos audiovisuais). Esta
bibliografia geralmente editada em fascculos com periodicidade regular
(semanal, mensal ou trimestral). Em cada fascculo distingue-se, em
geral, os documentos por tipo, como os livros, os peridicos, os documentos
grficos, os mapas e as publicaes oficiais, entre outros. Na maioria dos
pases que tm uma produo documental de vulto, a compilao da
bibliografia nacional feita de forma automatizada e as listas so
disponveis em formatos legveis por computador. O programa de Controle
Bibliogrfico Universal (CBU), que complementado pelo programa da
Universal Availbility Publication (UAP), gerido pela International
Federation of Libraiy Associations and Institutions (IFLA), admite a
permuta destas listas mediante a adoo de regras comuns de descrio
e de apresentao.
Os objetivos da bibliografia nacional so o de permitir aos usurios
conhecer periodicamente a produo documental nacional e possibilitar-
lhes a realizao de pesquisas retrospectivas, isto , a recuperao de
documentos antigos, que pertencem s colees nacionais. A pesquisa
retrospectiva simplificada porque os fascculos peridicos so geralmente
acumulados em um volume anual que classifica os documentos de
diversas formas: por ttulo, por editor, por assunto e por tipo de documento.
As bibliografias especializadas apresentam os documentos que tratam
de um assunto determinado. Elas permitem conhecer o que existe sobre
determinado assunto em um ou em vrios pases, em uma ou em vrias
lnguas. Elas repertoriam qualquer tipo de documento: livros, peridicos,
teses, patentes, documentos oficiais e outros.
As bibliografias ou (repertrios) de artigos de peridicos so, em geral,
especializadas. Tambm chamadas catlogos ou repertrios de
peridicos,elas so publicadas a intervalos regulares e renem ttulos de
peridicos de todos os assuntos, ou os peridicos de um assunto
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
determinado, a nvel nacional e internacional.
As bibliografias podem diferenciar-se de acordo com:
- a periodicidade: uma bibliografia corrente apresenta os documentos
medida que so publicados, a intervalos regulares; uma bibliografia
retrospectiva repertoria apenas os documentos publicados em determinado
perodo;
a forma de tratamento dos documentos: as bibliografias sinalticas
apresentam apenas a descrio bibliogrfica dos documentos citados; as
bibliografias analticas ou anotadas acrescentam a esta descrio uma
anlise ou um resumo do documento; as bibliografias crticas trazem
comentrios sobre o valor dos documentos e eventualmente sobre a sua
edio. As bibliografias analticas e as bibliografias crticas so tambm
conhecidas como boletins de anlise ou boletins de resumos;
o alcance dos tipos de documentos repertoriados: as bibliografias
exaustivas repertoriam todos os documentos sobre um determinado
assunto a nvel nacional ou internacional; as bibliografias seletivas
repertoriam apenas aqueles que respondem a determinados critrios de
acordo com um plano predeterminado.
O contedo das bibliografias pode ser organizado por ordem alfabtica,
sistemtica (de acordo com um plano de classificao), ou cronolgica (de
acordo com a data de edio). O acesso feito pelos ndices por autor, por
assunto, por local ou por algum cdigo dependendo da natureza dos
documentos arrolados. As obras cientficas, como as teses e os artigos
cientficos trazem, em geral, uma bibliografia, que repertoria geralmente
documentos pouco conhecidos e de grande valor sobre o assunto tratado,
mas no pode ser considerada como uma bibliografia exaustiva. Ela deve
ser complementada por bibliografias metdicas correntes.
Os catlogos
Os catlogos so listas de todos os documentos conservados em
unidades de informao. So apresentados em uma ordem especfica: por
autor, por assunto, por local e por ttulo. Os catlogos indicam a
localizao dos documentos citados. As bibliografias no trazem este tipo
de indicao. O catlogo das unidades de informao deve trazer
informaes sobre todos os documentos recebidos.
Eles podem ser organizados por ordem alfabtica, a mais simples;
sistemtica ou metdica, de acordo com um plano de classificao; e
topogrfica, de acordo com o nmero que indica sua localizao nas
estantes.
As fichas podem ser reunidas em volumes impressos que podem ser
distribudos a diversas unidades de informao e aos usurios para
facilitar as pesquisas.
Com a automao das bibliotecas, os catlogos so produzidos cada vez
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
mais a partir de bases de dados legveis por computador, que permita a
impresso de fichas, ou de listagens. O catlogo da Libraiy of Congress dos
Estados Unidos, por exemplo, produzido em disco tico (Biblioflle) e
atualizado regularmente.
Os catlogos de publicaes peridicas so, em geral, organizados em
fichrios especiais, do tipo Kardexou Forindex, e atualizados no momento
da chegada de cada fascculo. As grandes unidades de informao
dispem, em geral, de um catlogo especial para os peridicos. Sua gesto
cada vez mais automatizada.
Os catlogos coletivos renem em uma mesma lista os catlogos de
vrias bibliotecas, por exemplo, o National Union Catalog, uma lista
cumulativa das fichas da Library of Congress e de outras bibliotecas dos
Estados Unidos. Atualmente, o acesso a este catlogo apenas on-line;
no mais publicado em forma impressa. Estes catlogos permitem
localizar documentos nas redes de unidades de informao, facilitar o
emprstimo entre bibliotecas, bem como planejar a aquisio.
Os catlogos comerciais so listas de produtos fabricados ou distribudos
por uma empresa ou por um grupo de empresas. Do uma breve descrio
dos produtos e suas referncias. Estes catlogos permitem conhecer os
diversos produtos disponveis em uma determinada empresa e fazer
encomendas.
Os catlogos de editoras apresentam a lista das obras disponveis.
Em alguns casos, as organizaes profissionais editam catlogos
coletivos que apresentam os principais produtos disponveis no mercado
com o endereo dos fabricantes. Estes catlogos so difundidos em
nmeros especiais ou suplementos de publicaes editadas por estas
organizaes. Os catlogos das feiras especializadas tm o mesmo objetivo,
embora ofeream um nmero menor de produtos.
Dicionrios e obras de terminologia
Os dicionrios e as obras de terminologia apresentam-se sob diversas
formas. O termo dicionrio designa dois tipos de documentos bem
diferentes: 1) conjunto de palavras de uma lngua, ordenados
alfabeticamente e explicados na mesma lngua; 2) conjunto de palavras de
uma lngua traduzidos em uma ou em vrias lnguas (dicionrio bilnge
ou multilingue).
Os glossrios so uma espcie de dicionrio que explica os termos
tcnicos de uma lngua por meio de palavras correntes. Algumas vezes
trazem traduo para uma ou vrias lnguas. As obras tcnicas incluem,
muitas vezes, glossrios indispensveis sua compreenso.
As nomenclaturas so um conjunto ordenado de nomes de uma
determinada especialidade. A nomenclatura da rea de qumica, por
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
exemplo, tem por objeto os tomos, molculas etc. O reino vegetal, a
mineralogia e a zoologia tambm so objeto de nomenclaturas aceitas
pelos pesquisadores do mundo inteiro e normalizadas internacionalmente.
Os lxicos ou vocabulrios so dicionrios que cobrem um domnio
limitado e trazem uma explicao dos termos repertoriados (por exemplo,
lxico de informtica, vocabulrio de geografia). Podem conter, tambm,
a traduo de palavras em uma ou em vrias lnguas.
Os tesauros so ferramentas lingsticas utilizadas nos servios de
informao para reduzir a polissemia da linguagem natural (ver o captulo
As linguagens documentais").
Os dicionrios biogrficos apresentam, de forma sucinta, a vida e a obra
de pessoas que adquiriram certa notoriedade. As notcias so classificadas
por ordem alfabtica, por pas, ou por assunto. Eles podem ser
internacionais e enciclopdicos como, por exemplo, o International world
who's who, ou especializados em uma profisso ou em um ramo de
atividade como, por exemplo, o Whos who in data processing, nacionais
enciclopdicos como, por exemplo, o Whos who inAfrica, ou especializados.
Existem ainda dicionrios de pseudnimos que permitem conhecer a
identidade real de algumas pessoas.
Os dicionrios biogrficos permitem verificar nomes de pessoas e
identificar as que podem servir como fonte de informao sobre um
assunto determinado.
O Centre International d'Information pour la Terminologie (Infoterm),
mantido pela Unesco no mbito do Programa Unisist/PGI, rene e analisa
as publicaes terminolgicas do mundo inteiro e organiza bibliografias
em cooperao com o Rseau International sur la Terminologie (Termnet).
Enciclopdias
As enciclopdias apresentam, em forma de artigos longos, o
conhecimento relativo a todos os assuntos (enciclopdias gerais ou
universais) ou sobre um determinado assunto (enciclopdias
especializadas).
Podem ser organizadas sob a forma de dicionrios enciclopdicos, onde
todos os assuntos tratados so classificados por ordem alfabtica, ou por
enciclopdias sistemticas, onde os assuntos so apresentados de acordo
com um plano de classificao.
A enciclopdia difere do dicionrio porque no traz todas as palavras ou
conceitos de uma lngua sobre todos os assuntos ou sobre determinado
assunto, mas uma seleo de temas essenciais, tratados de forma mais
aprofundada por especialistas. As enciclopdias publicam sempre um
ndice dos assuntos tratados. Recorre-se a uma enciclopdia para precisar
os termos e o contedo de uma pesquisa.
69
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
Tratados e recenses anuais
Os manuais e tratados expem as noes essenciais de um assunto e/
ou de uma disciplina cientfica. So documentos que do uma viso de
conjunto sobre um assunto determinado. Alguns so semelhantes a uma
enciclopdia especializada.
Existem ainda tabelas, compilaes e manuais que renem os dados
conhecidos de um domnio cientfico como o Chemical engineer's hand-
book ou o Standard handbook for civil engineers. Estes documentos do
respostas a questes prticas precisas. Algumas destas compilaes so
publicadas em forma peridica, como o Journal o f physical and chemical
data.
Algumas publicaes peridicas, geralmente anuais, intituladas anais,
anurios, ou advances in.., permitem seguir a evoluo de certas disciplinas
e de problemas especficos. Em geral, elas revisam grande parte da
literatura publicada sobre o assunto no perodo precedente. Servem, ao
mesmo tempo, de bibliografia e de enciclopdia para orientar pesquisas e
identificar fontes de informao. Os anurios estatsticos renem sries
fixas de dados, apresentados de forma sistemtica, em nvel nacional ou
internacional, como, por exemplo, o Annuaire Statistique des Nations
Unies, ou todos os aspectos scio-econmicos de alguns pases, ou de um
determinado ramo de atividade, como, por exemplo, o Annuaire des
slatistiques du travail, Existem ainda anurios de acontecimentos que
podem ser classificados em duas categorias: as cronologias de
acontecimentos do ano comentadas, como The annual register: world
events in.., publicado em Londres pelas edies Longman, e os resumos
anuais de assuntos polticos, econmicos, sociais e culturais, como L Etat
du monde.., anurio econmico e geopoltico mundial publicado em Paris
pelas edies Maspero.
Os repertrios jurdicos so atualizados regularmente ou cada vez que
necessrio e permitem seguir a evoluo da regulamentao e da
jurisprudncia e, desta forma, responder a questes especficas ou
precisar o contedo das questes e identificar as fontes apropriadas.
Os atlas renem uma srie de dados de toda espcie: econmicos,
sociolgicos, lingsticos, cientficos e/ou de um pas, de uma regio ou
do mundo todo.
As cartas cientficas fcartin dex) so organizadas a partir da anlise da
ocorrncia simultnea de palavras-chave nas referncias de um assunto
em um perodo determinado. Elas permitem seguir a evoluo da pesquisa
em um domnio do conhecimento, ou em um pais determinado.
70
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
Os repertrios
Os repertrios do indicaes sobre pessoas, organismos ou documentos
existentes em um determinado perodo ou em um determinado domnio do
conhecimento. Entre eles pode-se distinguir:
- os repertrios de livros disponveis, isto , de obras no esgotadas
que se encontram no comrcio, como, por exemplo, Les livres disponibles
en 1988, que rene 281 400 ttulos da lngua francesa em 65 pases:
os repertrios de livros em processo de impresso, que permitem
conhecer as obras que sero publicadas sobre determinado assunto,
como, por exemplo o British books in print, ou The reference catalogue of
current literature;
- os repertrios de instituies, chamados tambm de diretrios,
especializados em sua maioria, do o endereo e uma descrio rpida dos
organismos que trabalham em um domnio do conhecimento em nvel
nacional ou internacional como, por exemplo, o Rpertoire Mondial des
Institutions en Sciences Sociales/World Index o f Social Sciences Institu-
tions. Os anurios administrativos repertoriam as diversas administraes
de um Estado. Os repertrios e diretrios profissionais trazem a lista de
todas as empresas e dos especialistas que trabalham em um determinado
ramo de atividade. Estes repertrios trazem geralmente ndices por
assunto e ndices geogrficos:
os repertrios de pessoas, membros de associaes ou de
organizaes profissionais, trazem os nomes e os endereos das pessoas
ativas em determinado ramo, assim como suas especialidades e funes.
Estes repertrios no trazem a vida nem a obra das pessoas, como os
dicionrios biogrficos. Os repertrios de uso corrente, como os catlogos
telefnicos, so outro meio de localizar fontes de informao:
os repertrios de projetos de pesquisa, ou repertrios de pesquisas
em curso, ou ainda os repertrios de pesquisas realizadas, so geralmente
publicados por especialidade ou por disciplina pelo organismo onde as
pesquisas so executadas, pelos organismos financiadores ou por centros
nacionais. Entre eles pode-se citar a obra Information services on research
in progress: a worldwide inventory/Service d'information concemant les
recherches en cours, repertrio mundial publicado em 1982 pela Unesco
e pela Smithsonian Science Information Exchange. Trazem, em geral,
informaes sumrias, mas suficientes sobre o assunto em questo e
sobre o desenvolvimento das pesquisas na rea;
os repertrios de teses em curso ou de teses defendidas so
publicados pela academia ou universidade onde estas teses foram
realizadas, ou por um organismo nacional central. So interessantes
como fontes de informao sobre a documentao que est sendo elaborada,
mas tm os mesmos inconvenientes que os repertrios de pesquisa, pois
no indicam o estado em que as teses se encontram ou seu eventual
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secu ndria
abandono. Existem tambm repertrios de teses por disciplina, como, por
exemplo, o Inuentaire des thses et mmoires africanistes de langue
franaise soulenus;
os repertrios de contratos permitem conhecer as pesquisas e
estudos financiados por um organismo, ou por um conjunto de organismos
de um pas que sustentam as atividades das equipes de pesquisa, como
por exemplo o Foundation Grants Index.
Questionrio de verificao
O que uma bibliografia nacional?
Para que serve um dicionrio?
Quais so os diversos tipos de bibliografias?
Para que serve um repertrio de instituies?
Que informaes traz um dicionrio biogrfico?
Qual a diferena entre dicionrio e enciclopdia?
Quais so os diversos tipos de repertrios? Cite alguns.
Bibliografia
BEAUDIQUEZ, M. Les seruices bibliographiques dans le monde, 1970-
1974. Paris, Unesco, 1977.
------------------------ . Les seruices bibliographiques dans le monde, 1975-
1979(suppl). Paris, Unesco, 1984.
----------------------. Les seruices bibliographiques dans le monde, 1981-
1982(suppi). Paris, Unesco, 1985.
----------------------. Les seruices bibliographiques dans le monde, 1983-
1984(suppl.). Paris, Unesco, 1987.
--------------------- . Cuide de bibliographie gnrale : mlhodologie et pra
tique. Paris/Munich/New York/Londres, K. G. Sar, 1983.
(Bibliothques, organimes documentaires.)
Bibliography o f mono and multilinguas dictionaries andglossaries of techni-
cal terms used in geography as well as in related natural an social
sciences. Par E. Meynem, Wiesbaden, F. Steiner Verlag GmbH, 1974.
Cartindex des sciences et techniques : actiuits de recherche et de
dueloppement du SERPLA. Recueil des textes. Paris, CDST/CNRS,
1985. (Service dtudes et de ralisation des produits dinformation
avancs)
COUSINEAU, M. J. Rpertoire intemational des bibliothques et des centres
de documentation en terminologie. Ottawa/Vienne, Direction de la
documentation, Bureau de la traduction, Dpertement d'tat du
Canada/Infoterm, 1986.
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
How to find about... (economic, social, sciences, etc.) ? Oxford, Pergamon
Press.
MALCLS, L.N. Manuel de bibliographie, 4 9 d. rv. et corr. par A. Lhrltier.
Paris, PUF. 1985.
QUEMADA, B. et MENEMENCIOGLU, K. (dir. publ.) Rpertoire des
dictionnaires scientifiques et techniques monolingues et multilingues
1950-1975. Paris, CILF, 1978.
REBOUL, J. Du bon usage des bibliographies. Paris, Gauthier-Villard,
1973.
REY, A. Encytclopdies et dictionnaires. Paris, PUF, 1982. ( Que sais-je
? ,n9 2 000).
SUCH, M. F. et PEROLD, D. Initiation la bibliographie scientifique, 2ad.
Paris, Promodis/Cercle de la librairie, 1987.
73
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
l >II,LIO
(i KAI Ml Ii :
DELA
ERANCE
N3 1 et3 2
1 9 8 8
I S S N 0 I S O - 1402
Bibliografia nacional corrente
livres
NOTICES ETABUES
PARLA
BIBUOTHQUE
NATIONALE
88-17309 88-18138
74
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
1 P A R T I E
B I B L I O G R A P H I E S I G N A L T I Q U E
D E S O U V R A G E S E T A R T I C L E S F R A N A 1S
P R P A REP AR
LA B i b l i o t h q u e n a t i o n a l e
I . L E S D O C U M E N T S
P r o d u c t i o n e t REPRODUCTI ON
i . Bersier (Jean E . ) . - La Gravure : [cat. tabli par Alexis Poliakoff].
les procds, 1 histoire... [2e d.]. Arts et mtiers graphiques, 1974.
Berger-Levrault, 1974. 435 p. : ill.; 117 p. : ill.; 28 cm.
25 cm. 7. Rennert (Jack). 100 ans daffi-
2. B o i l l a t (Gabriel). La Librairie ches de cycle. H. Veyrier, 1974.
Bemard Grasset et les lettres fran- 112 p. : ill.; 41 cm.
aises... H. Champion. 23 cm. 8. Soulages : eaux-fortes, lithogra-
I. Les Chemins de 1dition : 1907- phies. Arts et mtiers graphiques,
1914. 1974. Bibliogr., 293-304. 1974. 143 p. : ill. ; 28 cm.
3. Frrebeau (Mariel). L lmpri- Cat.
merie en taille-douce : histoire des 9. Vicaire (Georges). Manuel de
institutions et des techniques. (In : 1amateur de livres du XI Xo sicle :
Nouv. de 1estampe. N 16, juil.- 1801-1893... / prf. de Maurice
aot 1974, 11-15.) Toumeux. Paris A. Rouquette,
4. Labarre (Aibert). Histoire 1895; Brueil-en-Vexin : d. du Vexin
du livre... 2e d. mise jour. franais 1974. 24 cm.
Presses universitaires de France, 1. A-B. xix p. 990 col.
1974. 126 p.; 18 cm. ( Que 2. C. 1098 col.
sais-je 620.) Rimpr.
5. Microditions Hachettc : [Cata 10. Woimant (Franoise) et Elgrishi
logues de microfiches]. Hachette (Marcelle). Rpertoire des impri-
[1971] (n 1) . 21 cm. meurs de gravures en France : taille-
Collection. Chaque fase. consacr douce, bois, linogravure, enqute...
un sujet donne la liste des micro (In : Nouv. de l'estampe. N 16, juil.-
fiches dites. aot 1974, 17-28.)
6 . , Poliakoff (Serge) : les estampes /
D i f f u s i o n
n . Les Exportations de livres fran- 20 nov. 1974, 2<? partie : Chron.,
ais au premier semestre 1974. (In :
971-977)
Bibliogr. de la France. Biblio. N 47, 12. Sur le prix du livre. (In : Bibliogr.
Buli. Bibl. France, Paris, vol. ao, n i , 1975
Bibliografia sinaltica: Bulletin des bibliothques de France
75
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
02 SCIENCE VETERINAIRE
VETERINARY
02.03 ANATOMIE DES ANIMAUX
ANIMAL ANATOMY
017. Prcaktimi i mimrit to leukociteve
dhe lei:kograms normale t gjedhit te
raccs ..I.aramanc e Zez dhe Sukthi n
vendin tone. (Dtermination du nombre
des leucocytes et du leucogrammc normal
chez les bovins de race -Laramane noire-
et -Sukthi- en Albanie). ' Luku, S.
Bul. Shk. Bujq., Tiran, (AL); (1980), no.
4, p. 76-84, 4 tab. BASH. BIKV, BIKZ,
BILB. BK. BSHPB.
* Bovin; race; leucocyte; composition
du sang.
Lobservation a t efectue sur sept
catgories d ges et pour chacune des ca-
tegories 120 analvses de sang, en donnant
le nombre moyen des loucocytes cn lmm3
de sang et la formule leucocytaire pour
toutes les deux races.
Le plus haut pourcentage des neutro-
philes dans la formule leucocytaire est re
marque pour la race -Laramane noire.
Les lvmphocytes sont nn pourcentage plus
lev chez la race -Sukthi-. Les euzyno-
philes. les basophiles et les monocytes
n'offrent pas des diffrenc3s remarquer.
0176. Ndryshime qe vihon re n numrin
e leukociteve dhe Icukogramn normale
te gjedhit tii races -Laramane c zez gja-
t disa gjndjeve patologjike. (Change-
ments qui interviennent dans le nombre
de leucocytes et le leucogrammc normal
des bovins de race -Laramane noire du-
rant quelques tats pathologiques). Luku
S. Bul. Shk. Bujq., Tiranc, (AL);
(1982), no. 2, p. 139- 146, 2 tab., 2 ill. 3
ref. BASH, BIKV, BIKZ, BILB. BK,
BSHPB.
* Vache; race; pathologie; leucocyte;
mthode statistique.
Pour les maladies qui s'associent aux
processus inflamatoirtfS purulenls. on a
soumis tude 6 vaches endomtrites. 3
vaches pododermatites purulents,. 4va
ches rticulopricardites purulentes et
2 vaches mastites purulentes.
Les analyses ont t effectuces haemo-
cytomtre. Les donnes ainsi obtenues ont
t labores par les mthodes de la stati-
stiques mathmatique.
Le nombre de leucocytes pour 1mm3
de sang et la formule leucocytaire sont
exprimes en pourcentage.
0177. Prcaktlmi i numrit t leukocite
ve dhe leukograms normale te gjedhi i
races -Valbona. (The determination of
the number of leucocytes and the normal
leucocytes formulae in ths -Valbona
cows in our country). Luku, S. Bul. Shk.
Zoot. Vet., Tiran, (AL); (1984), no. 1. p.
105- 110, 3tab., 4ref. BASH, BIKV, BIKZ,
BILB, BK, BSHPB.
* Bovin; leucocyte.
The determination of the number of leu
cocytes and the leucocytes formulae was
carried out in two groups of Valbona
cows. The mean leucocytes number and
the leucocytes formulae are given for both
groups.
0178. Formulat jotipike t eminencicj
gjenitale dhe prcaktimi i scksit n zogjt
24 orsh. (Atypical forms of the genital
eminentia and sex determination in the
one day old chickens). Malaj Z. Bul.
Shk. Zoot. Vet., Tiran, (AL); (1984), no.
51
Bibliografia analtica: Bulletin analytique: agronomie, sciences
vtrinaires, zootechnie d'Albanie.
76
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secu ndna
SECKTAI UT D TAT AU\ l i Nl VEHSI TS
CATALOGUE GNRAL
DES LIVRES 1MPR1MS
DE LA MBLIOTHQUE NATIONALE
AUTEURS
TOME ( X X X V
W I N N - W O E Y S T E I N
(Ouvrages publis avant 1960)
PARI S
IMPRIMERIE NATIONALE
MDCCCCL XXVI
Catlogo impresso
77
As bibliografias e as obras de referncia: aliteratura secundria
________ CercedelaLibrairie
les livres
disponbles
1978
French Books in Print
La liste exhaustive des ouvrages disponbles
publs en langue franaise dans le monde
La liste des diteurs et la liste des collections de langue franaise
Classement aJphabtique par
Auteurs
Repertrio de livros disponveis
78
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
DITIONS DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
13 D I T I O N
du Rpertoire international des diteurs
et diffuseurs de langue franaise
Les diteurs
et diffuseurs
de langue
franaise
1990
Editions du
Cercle
de Ia
Librairie
580 Pages. Formal 16 x 24.
Prix : 405 F TTC (341,50 F HT). tranger: 341,50 F.
L'information la plus complte au Service
de la vente et de la communication :
5801 notices et renvois avec nom, adres-
se, tlphone, tlex, tlcopie.
3593 DITEURS
- Index alphabtique
- Index de leurs 174 spcialits
- Index par zones gographiques et
dpartements
- Index par N ISBN
908 DIFFUSEURS
- Index alphabtique avec diteurs diffuss
et spcialits
- Index par pays et par rgion pour la
France
- Index des diffuseurs par spcialits
BON DE COMMANDE
A retourner aux D I T I O N S D U CE RC LE D E L A L I B R A I R I E 3 5 . rue Grgoire-de-Tours. 7 5 0 0 6 Pans Tl ( 1 ) 4 3 2 9 1 0 0 0
N O M :
ADRESSE
CO D E P OS TAL: VILLE PAYS
Dsi re recevoir ex. du "REPERTOIRE INTER NAT IONA L DES EDITEURS ET DIFFUSEURS
DE LAN GUE FRANAISE 1 9 9 0 "
au prix d e vente publi c : 4 0 5 F TTC ( 3 4 1 , 5 0 F HT). tranger 3 4 1 , 5 0 F. Frais de p o r t . 2 5 F
Da te : S i g n a t u r e :
M o d e d expedition
J DCL case n
_ J Poste
I dispostion au
comptoir de vente
3 5 . rue G r g o i r e de-
Tours 7 5 0 0 6 Paris
_ I Ci -j oint rglement
_ l Rglement sur facture
Repertrio de editores
79
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
SECRTARIAT D'TA7 AUX UNIVERSITS
RPERTOIRE RAISONN
DES DOCTORATS D'TAT
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
INSCRITS DOCTOBRE 1970 A MAI 1976
2. Index
FICHIER CENTRAL DE? THSES UNIVERSIT DE PARIS X-NANTERRE
200, avenue de la Republique 92000 NANTERRE
CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES DU C. N. R. S.
54, boulevard Raspail 75006 PARIS
1976
2 93cPl.'f?
Repertrio de teses
80
As bibliografias e as obras de referncia: a literatura secundria
Catlogo de editores
81
A seleo e a
aquisio
A seleo a escolha dos documentos que a unidade de informao deseja
adquirir. A aquisio o procedimento que permite obt-los. Estas duas
operaes encontram-se no incio da cadeia documental e permitem criar
e manter o fundo documental, ou o conjunto de documentos necessrios
para responder s demandas de informao e aos objetivos do organismo.
A seleo dos documentos uma operao intelectual delicada, que
deve ser realizada por um responsvel competente no assunto tratado, em
colaborao com os usurios. A aquisio uma tarefa da administrao
da unidade, que necessita um mtodo e uma boa organizao.
Poltica de aquisio
Uma poltica de aquisio um instrumento indispensvel. As aquisies
no so feitas ao acaso, mas de acordo com escolhas sucessivas. Elas so
feita em funo de alguns elementos:
do oramento e dos recursos disponveis, isto , do montante de
crditos, do nmero e qualificao do pessoal, pois, na realidade, no
basta adquirir documentos, necessrio ter condies para trat-los;
da especializao da unidade, isto do campo e disciplina cobertos.
Sua delimitao determina o interesse relativo dos documentos, sua
pertinncia em relao ao fundo documental e s necessidades dos
usurios;
- dos objetivos correntes e das prioridades da unidade, pois no se
pode nem se deve adquirir tudo;
- da natureza da unidade, isto , de seu status jurdico, de seu
tamanho e do papel que exerce;
- da natureza dos servios oferecidos e do pblico visado;
A seleo e a aquisio
- das relaes com outras unidades de informao, que permitam
eventualmente trocas de documentos ou a utilizao de um fundo comum,
bem como do nvel de cobertura dado informao na especialidade da
unidade (existncia ou ausncia de redes de informao, grau de isolamento
da unidade). Desta forma, a participao da unidade de informao em
uma rede de aquisio pode modificar em parte a sua poltica de aquisio.
A busca dos documentos
A busca dos documentos efetua-se a partir de diversas fontes de
informao complementares: pessoas, instituies e documentos.
Os procedimentos de busca diferem se os documentos procurados so
comercializados ou no.
Deve-se manter contato permanente com os especialistas da rea, pois
eles representam uma fonte de informao capital. As associaes
profissionais e os grupos informais (conhecidos como colgios invisveis),
formados pelos especialistas de um assunto, produzem documentos
atuais e de vanguarda na sua rea.
O contato com os especialistas pode ser direto, com encontros
profissionais permanentes com os autores, com as instituies de pesquisa,
com os documentalistas especializados e com qualquer organismo ativo
no ramo de informao da unidade, e reunies nacionais e internacionais.
Este contato pode tambm ser feito de forma indireta, por meio dos
repertrios especializados.
Deve-se utilizar, ainda, os documentos secundrios e/ou tercirios que
repertoriam e sintetizam a produo documental, como os servios de
resumos e de ndices, as bibliografias nacionais e especializadas, as
bibliografias que acompanham os documentos primrios, os catlogos de
outras unidades de informao, os catlogos e prospectos dos editores, a
literatura comercial de produtos editada pelas empresas, os ndices de
citaes, os repertrios de peridicos, os repertrios de publicaes
oficiais, as crticas e as recenses das revistas especializadas, as snteses
e os estados-da-arte. Deve-se utilizar tambm a literatura comercial que
acompanha a produo e os instrumentos de pesquisa e de anlise
organizados pelos especialistas da informao. Cada tipo de documento
repertoriado, em geral, por um ou por vrios tipos de publicaes.
Os livros podem ser solicitados ao editor para consulta, com a
possibilidade de retorno, se no corresponderem s necessidades.
A busca dos documentos no-comercializados mais problemtica.
A literatura subterrnea ou cinzenta, como as teses, os relatrios, as notas
de conferncias e os preprints, pode ser recuperada de duas formas:
diretamente, pelos contatos pessoais com os autores e organismos
que as produzem regularmente e com as pessoas bem informadas sobre
o que se passa no assunto em questo;
A seleo e a aquisio
- indiretamente, pesquisando as bibliografias de livros e de teses,
pois os autores utilizam muitas vezes documentos no-publicados e
consultas a ndices de citaes e catlogos das administraes e dos
organismos nacionais e internacionais, como a Unesco, a FAO e a OCDE,
que produzem e recebem um grande nmero destes documentos no
comercializados. Alguns documentos podem ser recuperados pelos
repertrios especializados, como as teses, as dissertaes de universidades
e os relatrios de pesquisas subvencionadas pelo governo, por exemplo.
Deve-se buscar sistematicamente estes documentosjunto aos organismos
que os elaboram.
A busca e a aquisio dos documentos exigem um esforo constante da
unidade de informao. necessrio estar sempre alerta, buscar a
informao na sua fonte e verificar se as ltimas produes de um
determinado autor esto sendo recebidas. O valor dos documentos
justifica o tempo e a energia dispendidos para obt-los.
Os documentos produzidos pelo organismo ao qual a unidade de
informao est subordinada, ou documentos internos, constituem fonte
de informao indispensvel e de muito valor. Alguns destes documentos
desatualizam-se rapidamente, como as circulares, as notas de servio e os
folhetos informativos. Eles devem ser conservados apenas pelo servio de
arquivos da instituio. Mas aqueles que refletem a memria e a produo
da instituio devero ser sistematicamente recuperados e conservados.
O servio de documentao deve tomar a iniciativa de sua coleta.
A escolha dos documentos a serem adquiridos deve ser feita por etapas,
juntamente com os usurios. Se a unidade de informao serve a um
pblico particular com o qual tem uma relao constante, ela deve
assinalar os documentos capazes de lhe interessar e lhe solicitar sugestes
de aquisies.
A seleo dos documentos que sero adquiridos deve ser feita de acordo
com seu grau de utilidade, em funo dos seguintes critrios:
- a natureza dos documentos (deve-se evitar a aquisio de documentos
em suportes incompatveis com os equipamentos disponveis na unidade
de informao):
os documentos a serem adquiridos sero avaliados de acordo com
o nvel de competncia e de acordo com a representatividade das pessoas
que sugeriram a aquisio em relao ao conjunto dos usurios:
as necessidades dos usurios e os recursos externos: bibliotecas
individuais e participao em redes de intercmbio.
Outros elementos podem intervir, como a quantidade (em funo no
apenas da produo, mas tambm do local e dos equipamentos disponveis),
a lngua, o preo, a data e a importncia do tipo de informao procurada.
Se, por exemplo, a informao corrente essencial, deve-se adquirir
peridicos, preferencialmente a livros.
O controle e a pertinncia da seleo devem ser feitos por dupla
verificao:
A seleo e a aquisio
- a verificao material que permite certificar se os ttulos escolhidos
j no foram encomendados ou se no existem em outra edio ou em
outra forma, ou ainda em uma lngua de fcil acesso. necessrio verificar
tambm se os documentos escolhidos no podem ser solicitados a outra
unidade de informao por emprstimo;
a verificao intelectual com os usurios especialistas da rea em
questo, que permite investigar o valor intrnseco e o valor de uso dos
documentos escolhidos.
A deciso definitiva da aquisio deve ser tomada pelo responsvel ou
por uma comisso de aquisio, que deve ser composta por usurios e por
tcnicos da unidade de informao. Esta comisso deve reunir-se
regularmente para discutir as propostas. A deciso deve levar em conta
um equilbrio entre propostas e interesses individuais e os objetivos gerais
da instituio, bem como o equilbrio entre os assuntos cobertos.
Em todas as etapas, indispensvel a colaborao de usurios e
especialistas da informao. Os critrios de ambas as partes devem
combinar-se e podem, muitas vezes, entrar em conflito. A deciso final
deve surgir da compreenso recproca dos interesses de cada um.
Os pedidos de documentos rejeitados podem ser conservados para
serem reanalisados posteriormente, se for possvel.
Formas de aquisio
A aquisio pode ser paga ou gratuita. As aquisies pagas podem ser
feitas diretamente com o produtor do documento (autor, editor, ou
fabricante) - este procedimento mais rpido, mas necessita de um longo
trabalho de gesto do oramento e dos pedidos; ou indiretamente, por
intermdio de um livreiro ou de um organismo especializado, que funciona
como agente de compra e realiza todas as operaes tcnicas e financeiras.
Esta forma de compra particularmente interessante para os documentos
estrangeiros ou para compras freqentes e numerosas. Ela aconselhada
tambm para unidades que possuem uma coleo de peridicos de
tamanho mdio, porque a gesto das assinaturas , em geral, complicada.
Os pedidos de assinatura devem ser feitos com algumas semanas de
antecedncia1.
Os editores solicitam, normalmente, pagamento adiantado. Os custos
das compras feitas pelos agentes so compensados pela economia de
tempo e trabalho. Chama-se aquisio compartilhada a deciso de vrias
unidades de informao estabelecer uma rede de aquisio e repartir as
compras. Existem duas espcies d; acordos de aquisio compartilhada:
1. Nota do tradutor. No caso brasileiro, a aquisio de peridicos estrangeiros deve ser
feita com meses de antecedncia. Em geral se adquire (ou reserva) o ttulo em outubro para
comear a receb-lo a partir de janeiro do ano seguinte.
A seleo e a aquisio
cooperao corrente: a unidade de informao que compra um
documento avisa s outras unidades de que no h necessidade de
adquiri-lo:
uma cooperao sistemtica: cada unidade compra apenas um tipo
de documento, definido por sua origem, sua lngua, sua natureza ou seu
assunto. Os documentos adquiridos desta forma devem ser emprestados
mutuamente sob demanda, pelo emprstimo interbibliotecrio.
O desenvolvimento constante do emprstimo, a fotocpia, a
microrreproduo e principalmente as formas eletrnicas de reproduo,
como o telefacsmile e o correio eletrnico, contribuem para a extenso
desta forma de aquisio.
As vantagens da aquisio compartilhada so a reduo dos custos e
a no duplicao de colees. O Plano Farmington dos Estados Unidos
demonstrou, a partir de 1942, as vantagens de uma rede de aquisies
cooperativa: uma maior cobertura da literatura adquirida, reduo das
incoerncias na escolha e na anlise e melhor servio ao usurio.
Entretanto, ela tem alguns inconvenientes, como a demora na compra e
no acesso ao documento, se este no se encontra disponvel.
As aquisies gratuitas podem efetuar-se de diversas formas:
pela permuta, isto , pelo envio reciproco de documentos de uma
unidade de informao a outra. Este procedimento necessita de uma
moeda de troca", como obras em duplicata, colees de peridicos
suprfluas ou documentos produzidos pelos organismos que efetuam a
permuta. As vantagens da permuta so a economia de fundos
(particularmente de moeda estrangeira) e a possibilidade de trocar todo o
tipo de documentos e muitas vezes literatura confidencial. Entre os
inconvenientes pode-se citar a possibilidade do material recebido no
corresponder s necessidades reais ou ao valor dos documentos enviados.
necessrio por isso estabelecer acordos sobre a natureza dos documentos
a serem permutados, seu valor e seu estado de conservao:
pela doao, que pode ser efetuada de diversas formas, como a
doao de uma coleo particular, doaes espontneas e peridicas como
as de embaixadas, dos servios oficiais e de organismos comerciais, ou o
envio de obras por seus autores. Muitos autores ou produtores de
documentos primrios enviam a seus colegas ou a unidades de informao
algumas formas de documentos como os preprints de seus trabalhos antes
de serem editados ou artigos de peridicos, relatrios de pesquisa e
trabalhos de conferncias, bem como exemplares de separatas ou de outro
tipo de documentos j editados. Estes documentos podem ser obtidos
diretamente, pelo contato pessoal com o autor ou com o editor, ou ainda
por carta. Eles servem de base para as trocas entre cientistas.
Existem ainda as doaes solicitadas. A unidade de informao solicita
ao editor ou ao intermedirio a doao de um documento que ser
difundido aos seus usurios. Este o caso de obras recebidas para serem
resenhadas em uma revista ou em um programa de rdio ou de televiso.
A seleo e a aquisio
A maior vantagem das doaes , sem dvida, o fato de serem gratuitas.
Mas existem alguns inconvenientes. Por exemplo, impossvel escolher
antecipadamente. Alm disso, muitas vezes a unidade de informao
obrigada a conservar a doao na sua totalidade, mesmo se todos os
documentos no correspondem aos objetivos nem s necessidades
prioritrias do servio.
O depsito legal uma forma particular de aquisio. Os produtores de
documentos (impressores e editores, com exceo dos autores) so
obrigados, em muitos pases, a fornecer um certo nmero de exemplares
de todas as obras produzidas, a um ou a vrios organismos, geralmente
a biblioteca nacional, ou a biblioteca que exerce esta funo. A vantagem
para o organismo que recebe o depsito legal que ele passa a possuir, em
principio, todos os documentos impressos no pas, assim como os
documentos audiovisuais. O principal inconveniente que esta obrigao
nem sempre respeitada e no se estende a todos os tipos de documentos.
Alm disso, alguns pases no possuem depsito legal. Esta obrigao
realmente respeitada quando se trata de patentes, que devem ser
obrigatoriamente depositadas em um organismo especializado para serem
homologadas, isto , para adquirirem valor comercial.
Alguns problemas dificultam o processo de aquisio, entre os quais
destacam-se:
as dificuldades financeiras. A unidade de informao pode ser
autnoma e ter a liberdade de comprar quando isto se faz necessrio, ou
depender de uma central de compras e ter que respeitar imperativos de
data e de diviso oramentria, entre outros. Em alguns casos, pode ser
impossvel fazer aquisies em moeda estrangeira. A estes obstculos
somam-se os administrativos, como os procedimentos internos ou gerais
(como o controle de cmbio), que atrasam algumas vezes consideravelmente
as aquisies, ou obrigam que estas sejam feitas com muita antecedncia.
Neste caso, corre-se o risco de receber documentos desatualizados:
- as dificuldades materiais, como o espao disponvel, a capacidade
de armazenamento, a possibilidade ou impossibilidade de conservar
determinados documentos em suportes frgeis, e a necessidade de ter
certos equipamentos para leitura de documentos;
as dificuldades "intelectuais", como a orientao da poltica de
informao do organismo, as restries de ordem poltica, a impossibilidade
de contactar algumas fontes de informao nacionais ou estrangeiras, a
contradio entre a poltica de aquisio desejada e a conjuntura, e o
segredo que impede a difuso de certos documentos como o segredo
militar, administrativo, comercial privado, ou industrial;
um outro tipo de dificuldade est ligado s possibilidades de anlise
do documento pelo pessoal disponvel, ou seja, a acessibilidade do seu
contedo e da lngua.
88
A seleo e a aquisio
Procedimentos de aquisio
Os procedimentos de aquisio devem seguir um plano minucioso,
descrito a seguir:
encomenda: antes de qualquer envio de solicitao procede-se
verificao das referncias. A indicao do ttulo, do autor, do editor, da
data, e do ISBN ou do ISSN 2 devem ser exatas. Verifica-se tambm se a
unidade de informao j possui o documento solicitado;
preenchimento de umirmulrio de aquisio em vrios exemplares.
No caso de um documento gratuito, ou de uma permuta, enviada uma
carta de solicitao em formato padro que pode ser reproduzido com
antecedncia;
- organizao de um catlogo para as aquisies em curso e para as
aquisies recebidas;
- envio das solicitaes. No caso de peridicos, enviada a quitao
da assinatura juntamente com a sua solicitao;
- reclamaes, se for necessrio.
No momento de chegada do documento, deve-se efetuar dois tipos de
operaes:
as operaes ligadas encomenda e que consistem em: a) registro
da chegada do documento e verificao, a partir do formulrio de solicitao,
se o documento recebido corresponde ao que foi solicitado; b) verificao
do estado do documento; c) carta informando a recepo do documento ou
devoluo, se o documento enviado no corresponde ao solicitado, ou se
chegou em ms condies; d) arquivamento das solicitaes recebidas no
catlogo de encomendas recebidas; e) controle das faturas e envio do
pagamento; f) agradecimento dos documentos recebidos por permuta ou
doao;
as operaes ligadas ao documento, que consistem em: a) triagem
dos documentos que sero conservados e dos que iro para consulta
imediata, como convocaes, notas de servio e programas que devem ser
eliminados depois de sua utilizao; b) registro do documento em um
registro de entrada, que deve ser numerado de 1 ao infinito; cada
documento deve receber um nmero de entrada, de aquisio ou de
inventrio. Neste registro devem constar as indicaes bibliogrficas
principais e a data de entrada do documento. O conjunto destes registros
constitui o inventrio do fundo documental. Este o registro que
necessrio preservar em caso de incndio ou catstrofe. Os peridicos so
registrados duas vezes: uma vez no registro de entrada, quando cada
coleo recebe um nmero de ordem, e uma segunda vez em um fichrio
especial do tipo Kardex ou Forindex, onde so registrados os novos
2. Ver a explicao destes termos no captulo A descrio bibliogrfica" e os anexos
sobre ISDS e ISBN no captulo "Os programas e os sistemas internacionais de informao."
A seleo e a aquisio
fascculos dos peridicos no momento de sua chegada. Esta operao
permite conhecer o estado da coleo e fazer reclamaes e renovaes de
assinatura, quando necessrio; c) o documento deve ser carimbado em
local predeterminado, geralmente, a folha de rosto e algumas pginas do
texto. No carimbo deve constar o nome e o endereo do organismo; d)
medidas de proteo, se necessrio, como o reforo da capa, encadernao
e preparo magntico contra roubo; e) confeco da ficha de emprstimo,
colagem de um bolso de papel para armazenar a ficha de emprstimo e
insero da ficha no documento.
Estas operaes so complementadas depois do tratamento intelectual,
pela colocao do nmero de chamada do documento e pelo armazenamento
das fichas ou dos dados (ver os captulos A descrio bibliogrfica" e A
descrio de contedo).
Se o nmero de chamada no atribudo em funo do assunto no
momento da classificao, mas atribudo em funo do formato, fonte,
tipo de documento ou nmero de registro, ele pode ser determinado no
momento das operaes de entrada e gravado imediatamente na capa ou
na lombada do documento.
Os procedimentos de aquisio podem ser simplificados pela utilizao
do computador, que permite suprimir as operaes manuais de controle.
Atualmente, j possvel fazer solicitaes eletrnicas de documentos.
Para tal, o comprador deve dispor de um terminal que permita uma
comunicao direta com o livreiro. A leitura de um cdigo de barra, com
o auxlio de uma caneta tica ou o registro do ISSN ou do ISBN permite
designar o objeto de solicitao sem que seja necessrio enviar um
formulrio de compra que comporte obrigatoriamente todos os elementos
descritivos do documento desejado. A recepo (verificao da solicitao
e inscrio no inventrio da biblioteca), bem como o acompanhamento das
solicitaes (reclamaes e solicitaes de novos envios), podem ser feitas
de forma automatizada. O registro no Kardex pode tambm ser
automatizado. Enfim, a aquisio automatizada permite uma melhor
gesto da unidade de informao, atravs de estatsticas sofisticadas
como repartio das aquisies por fundo, por tipos de crditos e por
fornecedores. Entre os sistemas de aquisio automatizados pode-se citar
o Boss (Book Order and Selection System) o Lolita (Library On Line
Information and Text Access) ou ainda o Sibil (Systme Intgr pour les
Bibliotheques de Lausanne). Outros tipos de sistemas de aquisio
automatizados esto sendo desenvolvidos no mundo atualmente.
90
A seleo e a aquisio
9uestionrio de verificao
O que significa o termo poltica de aquisio?
Como pode-se localizar a literatura subterrnea"?
Quais so as diferentes formas de aquisio?
O que aquisio compartilhada?
O que depsito legal?
Quais so os tipos de aquisio possiveis?
Como a informtica pode facilitar a aquisio?
Bibliografia
Acquets : gestion des acquisitions. Montral, Universit du Qubec
Montral, 1983.
Acquisitions: the humanJactor. Londres, Egon Zender International, 1987.
GAVIN, P. Sibil: Systme intgrpour les bibliothques de Lausanne. Neuf
annsd'automatisationlabibliothquecantonale et universitaire. 2-
d. Lausanne, Bibliothque cantonale et universitaire, 1980.
LINE, M.; KEFFORDet VICKERS, S. L'accs intemational aux publications
: approuisionnements et foumitures. Paris, Unesco, 1981. (Doc. PGI-
81/WS/30.)
Manuel des chanqes internationaux de publications. 4?d. Paris, Unesco,
1978.
PARKER, J.-S. Library and information Science and archiue administration
: a guide to building up a basic collection f o r library schools. Paris,
Unesco. 1984. (Doc. PGI-84/WS/11)
UNRUH, B. et CORNOG, M. Forms and responses. 1. Library acquisitions,
editorial and production. Philadelphie, National Federation of
Abstracting and Information Services, 1986.
91
O armazenamento
dos documentos
O armazenamento uma operao que consiste em guardar os documentos
nas melhores condies de conservao e de utilizao possveis.
Um fundo documental um capital financeiro e intelectual que permite
informar, instruir, estudar e produzir. um agente indispensvel ao
desenvolvimento e difuso de conhecimentos. Por esta razo necessrio
conserv-lo em bom estado. Todo documento destrudo ou mal conservado
uma parcela de conhecimento que desaparece, algumas vezes
irremediavelmente. Todo documento guardado fora de lugar uma obra
perdida.
A forma de armazenamento deve ser escolhida de acordo com a
classificao, das possibilidades relativas ao local e aos equipamentos
disponveis e pelas condies de conservao existentes.
Formas de armazenamento
Os documentos podem ser conservados de trs formas:
- em sua forma original;
- em formato reduzido, isto , em microfilme ou em microficha, o que
significa um ganho considervel de espao e de peso. Entretanto, as
microformas necessitam aparelhos especiais de reproduo e leitura. Este
modo de conservao desenvolveu-se principalmente para as colees de
jornais, os mapas e os documentos de arquivo. Pressupe a existncia de
condies climticas especiais e de equipamentos apropriados. As
microformas so suportes muito frgeis;
em formato informatizado, magntico ou tico (como o DON e o
CD-ROM, entre outros). As vantagens das memrias ticas so a enorme
cpacidade de armazenamento de informaes de multimeios, como som,
imagem e texto, a resistncia dos suportes e a utilizao fcil e acesso
O armazenamento dos documentos
rpido (ver o captulo A unidade de informao e as novas tecnologias").
O armazenamento consiste em guardar os documentos de acordo com
uma ordem preestabelecida, que permita recuper-los rapidamente. Um
bom armazenamento determina uma boa utilizao do fundo documental.
Ele deve ter as seguintes caractersticas: ser simples e rpido: dar a cada
documento uma localizao nica: ser extensvel; permitir a verificao de
erros; e assegurar a boa conservao dos documentos.
Existem trs formas de armazenamento: horizontal, vertical e em
arquivos suspensos.
O armazenamento horizontal consiste em empilhar os documentos uns
sobre os outros. utilizado para os dossis e documentos em grandes
formatos, como os mapas, cartazes, plantas, fotos e jornais, e requer
mveis especiais.
O armazenamento vertical consiste em armazenar os documentos uns
ao lado dos outros. utilizado para livros, caixas de arquivo e discos. As
fitas magnticas podem ser armazenadas vertical ou horizontalmente.
O armazenamento em arquivo suspenso , em geral, utilizado para
documentos com poucas pginas e de uso permanente, como
correspondncia e recortes de jornais.
A escolha de um destes tipos de armazenamento depende da natureza
do documento, da freqncia das consultas, das necessidades dos usurios,
do local e do equipamento disponveis. prefervel no adquirir documentos
se no se pode armazen-los e conserv-los adequadamente.
Tipos de arranjo
Existem dois tipos de arranjo: o numrico e o sistemtico.
No arranjo numrico, os documentos so armazenados por ordem de
chegada (ver o captulo A seleo e a aquisio). As vantagens deste tipo
de armazenamento so sua simplicidade, o fato de ser extensvel
infinitamente e a economia de espao. O principal inconveniente a
disperso de assuntos e autores, e a necessidade de consultar o catlogo
de autores e/ou o de assuntos para localizar o documento ou para verificar
o que a unidade de informao possui sobre determinado assunto.
No arranjo sistemtico, os documentos so classificados de acordo com
seu contedo, com base em um sistema de classificao predeterminado
(vero captulo A classificao"). No interior de cada classe, os documentos
so organizados geralmente por ordem alfabtica. A vantagem deste
mtodo que os documentos de um mesmo assunto ficam reunidos, o que
facilita o livre acesso s estantes. Mas muitas vezes difcil determinar o
assunto principal de um documento, o que pode levar perda de
informao. Alm disso, o espao mal-utilizado, e se a classificao
evolui, todo o conjunto de documentos deve ser reestruturado.
O nmero de chamada indispensvel para qualquer tipo de arranjo.
O armazenamento dos documentos
Este nmero um conjunto de smbolos (letras e nmeros) que designam
a localizao de um documento na coleo. No caso de um arranjo
numrico, o nmero de chamada o mesmo do registro do documento.
No caso de arranjo por assunto, o nmero de chamada o mesmo da
classificao. O nmero de chamada , em geral, composto por nmeros
seguidos das trs primeiras letras do nome do autor. Ele deve ser
mencionado em todas as fichas do documento e no seu registro. este
nmero que permite recuperar o documento.
O inventrio a operao que consiste em verificar a localizao dos
documentos, controlar os documentos que faltam e certificar-se de seu
estado de conservao. Deve ser feito anualmente com o auxlio do livro
de registro ou do catlogo topogrfico, de acordo com o arranjo na estante.
O catlogo topogrfico aquele no qual as fichas so arranjadas de acordo
com a ordem de armazenamento dos documentos nas estantes (ver o
captulo Os catlogos e os fichrios").
Para realizar o inventrio necessrio interromper o emprstimo e a
consultados documentos e, de preferncia, fechar a unidade de informao
o tempo que for necessrio.
A freqncia de utilizao dos documentos influi na sua forma de
armazenamento. Ela pode variar em funo da natureza dos documentos,
de sua idade e das necessidades dos usurios. Cada unidade de informao
deve conhecer estes parmetros da forma mais precisa possvel, para
poder adaptar o armazenamento, de acordo com o espao disponvel e com
os objetivos da unidade. A primeira questo a ser colocada a do livre
acesso s estantes. Se a unidade dispe de espao suficiente, esta forma
de acesso facilita a utilizao dos documentos e a pesquisa. Entretanto,
seu controle mais dificil. O livre acesso pressupe o uso de um sistema
de classificao simples.
Por outro lado, os documentos so, em geral, menos utilizados medida
que envelhecem. Os peridicos, por exemplo, so muito procurados
durante os primeiros dois anos. Depois de cinco anos so pouco utilizados.
A partir desta data pode-se armazen-los em locais menos acessveis, ou
at elimin-los, se forem solicitados para outras unidades de informao.
Existem modelos desenvolvidos a partir de estudos estatsticos, que
permitem auxiliar a tomada de decises racionais relativas ao
armazenamento e ao descarte de documentos em diferentes tipos de
unidades de informao. Os documentos muito solicitados devem estar
sempre disponveis.
Os documentos podem deteriorar-se por vrias razes. Antes da
construo ou da organizao de uma unidade de informao deve-se
prever medidas de proteo para os documentos. Sua deteriorao pode
ser causada por agentes fsicos, qumicos, vegetais, animais e humanos.
95
O armazenamento dos documentos
Agentes de deteriorao
Os agentes fsicos de deteriorao so:
- o tempo, que contribui para deteriorar e amarelar os documentos.
Os documentos antigos e raros devem ser manipulados o menos possvel;
- as variaes climticas, que obrigam climatizao nos pases
quentes, no apenas para o bem-estar dos usurios, mas tambm para a
conservao dos equipamentos delicados. Os locais onde esto
armazenados os filmes, as fitas magnticas e as salas de computadores
devem ser climatizados;
a umidade e a gua podem ser nefastas. O grau de umidade deve ser
constante, por volta de 40 a 45%. Existem aparelhos estabilizadores de
umidade. A secura do ar tambm nociva. Agua destri certos documentos
mais do que o fogo. Por esta razo, necessrio evitar a instalao de
encanamentos nos depsitos de documentos;
a falta de aerao e de ventilao so tambm nocivas aos
documentos. Devem ser instalados dispositivos especiais de ventilao.
As correntes de ar devem ser evitadas;
a luminosidade excessiva cansa o usurio e destri certos tipos de
documentos. necessrio prever vidros e cortinas especiais, sobretudo
nos pases tropicais;
as perturbaes magnticas podem alterar os documentos em
suportes magnticos e apagar os registros. Deve-se evitar armazen-los
perto de motores eltricos, por exemplo. As memrias magnticas so
frgeis e necessitam condies de temperatura e de umidade estveis. Os
suportes ticos no necessitam condies especiais de conservao e no
so afetados pelos agentes de deteriorao citados.
Os agentes qumicos so tambm nefastos aos documentos. O papel
pode ser destrudo pelo cido da celulose. A acidez, juntamente com a
poluio atmosfrica, uma das principais causas de deteriorao do
papel. O material dos documentos audiovisuais muito frgil. Existem
embalagens especiais para este tipo de documento.
Os agentes vegetais so o mofo e os fungos resultantes do excesso de
umidade. Eles podem ser combatidos com tratamentos preventivos ou por
meio de fungicidas.
Os agentes biolgicos, como os parasitas do papel e os roedores podem
ser destrudos por processos qumicos. indispensvel que o local esteja
bem limpo.
Os agentes humanos podem tambm ser fatores de deteriorao do
fundo documental.
A manipulao e a circulao dos documentos so tambm fatores de
destruio. Esta destruio pode ser atenuada com o uso da encadernao
dos documentos e com embalagens apropriadas. Os aparelhos de leitura
e de reproduo de documentos audiovisuais e os equipamentos de
O armazenamento dos documentos
informtica devem ser controlados regularmente, devem estar ao abrigo
da poeira e bem protegidos. Os documentos raros devem ser consultados
no local. Em alguns casos, a consulta a estes documentos permitida
apenas a pessoas com autorizao especial.
O desgaste material, como as manchas, os riscos nos discos e nas
fotografias, as pginas arrancadas e as inscries em documentos so
difceis de evitar quando a unidade de informao aberta ao pblico em
geral. Deve-se conscientizar o pblico da necessidade de conservao. As
unidades de informao devem proibir o fumo, a comida e a bebida em
suas instalaes.
O usurio que extravia um documento deve substitu-lo ou pagar o seu
valor, se este estiver esgotado.
Deve-se tentar prevenir o roubo de vrias formas, por exemplo, revistando
o usurio na entrada e na sada da unidade de informao. Pode-se
solicitar ainda que o usurio deixe sua bolsa ou sua pasta na entrada.
Existem dispositivos magnticos que podem ser colocados nos documentos
para proteg-los contra o roubo. Os documentos raros devem estar em um
local seguro e devem ser duplicados. Desta forma o original fica protegido.
A consulta a estes documentos deve ser especialmente controlada.
Os discos, filmes e gravaes sonoras devem ser examinados
regularmente. Os documentos audiovisuais e os suportes informatizados
devem ser sistematicamente reproduzidos para formar uma coleo de
segurana. Em alguns casos, pode-se solicitar ao usurio uma cauo
para retirar os documentos. Os estragos podem ser minimizados pela boa
relao com os usurios e por uma vigilncia corts, mas firme. O objetivo
principal da unidade de informao, que a utilizao dos documentos
no deve ser prejudicado em funo da sua conservao.
Os documentos confidenciais devem ser objeto de uma proteo espe
cial e armazenados separadamente. As informaes sobre este tipo de
documento devem estar em arquivos especiais. Se o catlogo da unidade
de informao informatizado, o acesso a estas informaes deve ser
restrito. necessrio verificar periodicamente se estes documentos
justificam seu carter confidencial.
Alguns documentos necessitam ser utilizados em condies especiais.
O direito autoral, por exemplo, restringe a reproduo de alguns
documentos. conveniente verificar se estas condies so respeitadas.
Recuperao e restaurao
A recuperao e a restaurao exigem tcnicas especiais e mtodos
precisos. Um erro de restaurao pode ter efeitos irreparveis. Em
princpio, pode-se recuperar quase todo tipo de dano causado aos
documentos. Antes de restaurar necessrio examinar o documento
cuidadosamente, levando em conta: a natureza do seu suporte, a
O armazenamento dos documentos
importncia do dano, o grau de acidez, se for o caso, e a numerao das
pginas.
Conforme seu estado, o documento deve ser reforado, limpo, lavado ou
colado. Esta a primeira fase da restaurao dos documentos em papel.
Aqueles muito danificados devem passar por tratamentos especiais de
desacidificao e de restaurao, como a colagem com papel, gaze de seda,
ou laminao.
A encadernao pode renovar uma obra danificada ou permitir a
conservao de obras muito manipuladas por mais tempo. Existem
protetores plsticos para documentos.
As tcnicas de restaurao exigem mo-de-obra qualificada e ferramentas
apropriadas. A restaurao de documentos de arquivo obedece a certas
regras que visam impedir sua falsificao '.
Questionrio de verificao
O que significa o termo armazenamento?
Os documentos podem ser conservados em outras formas, alm da
forma original?
Como?
Por que?
O que um nmero de chamada?
Quais as principais caractersticas de um bom arranjo de documentos?
Qual o principal inimigo do papel?
De que forma pode-se controlar um depsito de documentos?
De que forma um documento danificado pode ser restaurado?
Bibliografia
1. Formas de armazenamento
The archival storage potential on microfilm, magnetic media and optical
data discs: a comparison basedonaliteraturereview. A.-M. HENDLEY
(dir. publ.), Hertford (Royaume-Uni), The Hatfield Polytechnic, 1983.
(Ralis pour le British Library BNB Reserarch Fund.)
ISAILOVIC, J. Videodisc and optical memory systems. New York, Prentice
Hall, 1986.
Microcopie 87 : le guide de l acheteur. 129 d. Paris, Micro-journal, 1987.
SAFFADY, W. Micrographics. 2 d. Littleton, Libraries Unlimited, 1986.
1. O programa RAMP (Records and Archives Management Programme) gerenciado
pela Unesco publicou vrios estudos sobre problemas de recuperao e restaurao de todo
tipo de documentos.
O armazenamento dos documentos
2. Tipos de arranjo
BRADEUR, A. Le classement : mthode de classement pour 1'entreprise.
Montral, d. Agence dArc, 1981.
CURCIO, M. Le classement: prncipes et mthodes. Paris, Les ditions
d'organisation, 1983.
CURCIO, M. et CHAUV1N, Y. Le classement efficace : dictionnaires et
mthodes. Paris, Les ditions d'organisation, 1987.
LEROY, T. La technique du classement. 5d. Paris, d. Le Prat, 1981.
3. Recuperao e restaurao
CLEMENTS, D. W. G. Preservation and conservation o f library and archivl
documents : an Unesco/IFLA/ICA enquiry into the current state o f
world's patrimony. Paris, Unesco, 1987. (Doc. PGI-87/WS/15 rev.)
CRESPO, C et VINAS, V. Laprservation et la restauration des documents
et ouvrages en papier : une tude RAMP, accompagne de prncipes
directeurs. Paris. Unesco, 1986. (Doc. PGI-84/WS/25.)
HENDRIKS, K. B. La conservation et la restauration des documents
photographiques dans les institutions d'archives et les bibliothques :
une tude RAMP, accompagne de prncipes directeurs. Paris, Unesco,
1984. (Doc. PGI-84/WS/1.)
KATHPALIA, Y. P. Conservation et restauration des documents d'archives
: uneenqute despossibilits. Paris, Unesco, 1978. (Doc. PGI-78/WS/
14.)
KATHPALIA, Y. P. Programme d'enseignement modle pour la formation
des spcialistes de la conservation et la restauration des documents :
une tude RAMP. Paris, Unesco, 1984. (Doc. PGI-84/WS/2.)
Mc CLEARLY, J. M. La lyophilisation applique au sauvetage des livres et
documents endommags par 1'eau : une tude RAMP. Paris, Unesco,
1987. (Doc. PGI-87/WS/7).
99
215 : ; V r ,n ;: =q; ;/ ,
-;5:; : : 1 , V . .
;v n s : >q >:'
A descrio
bibliogrfica
A descrio bibliogrfica , ao mesmo tempo, uma operao e um produto.
Como produto, ela conhecida como notcia bibliogrfica ou referncia
bibliogrfica. um conjunto convencional de informaes determinadas,
a partir do exame de um documento, e destinadas a fornecer uma
descrio nica e precisa deste documento.
Como operao, ela conhecida como catalogao. o primeiro estgio
do tratamento intelectual de um documento a partir do qual so extradas
as informaes descritas de acordo com regras fixas.
A descrio bibliogrfica feita geralmente depois que o documento foi
registrado na unidade de informao.
Em alguns casos, a referncia bibliogrfica redigida no momento da
produo do documento primrio e includa no mesmo, em geral, no verso
da pgina de rosto. a catalogao-na-fonte. Esta catalogao facilita o
trabalho das unidades de informao.
Muitas vezes a catalogao realizada por um centro nacional, como a
biblioteca nacional (catalogao centralizada), ou repartida entre vrias
unidades de informao (catalogao cooperativa). As referncias
bibliogrficas correspondentes s obras adquiridas pelas unidades de
informao so enviadas a estas unidades pelo centro nacional ou pelo
organismo que realizou o trabalho. Desta forma, estas unidades so
dispensadas de fazer a catalogao.
O objetivo da descrio bibliogrfica fornecer uma representao do
documento que descrito de uma forma nica e no ambgua, o que
permite identific-lo, localiz-lo, represent-lo nos catlogos
correspondentes e recuper-lo (ver o captulo Os catlogos e os fchrios).
A descrio bibliogrfica um conjunto de informaes necessrias
para descrever um documento. A referncia bibliogrfica um conjunto
fixo de uma parte destas informaes, apresentadas em um suporte, em
A descrio bibliogrfica
uma forma predeterminada, para ser consultada pelos usurios de um
sistema de informao em arquivos manuais ou automatizados.
reas de dados
A descrio bibliogrfica compe-se de reas que so subconjuntos de
dados correspondentes a categorias particulares de informaes. Cada
elemento de dados descreve um aspecto do documento. As reas so
ordenadas em uma srie lgica. Elas diferem de acordo com o tipo de
documento, notadarnente as publicaes seriadas e as monografias. A
descrio dos documentos no-textuais apresenta problemas especficos.
Entretanto, a ordem dos dados deste tipo de documento a mesma dos
documentos textuais.
Algumas reas so indispensveis e aparecem sempre nas descries
bibliogrficas, embora sua ordem possa variar de um sistema a outro e de
um tipo de documento a outro. Outras reas so opcionais. Cada rea
pode ter um nico elemento ou vrios elementos interrelacionados. Estes
elementos podem ser obrigatrios ou facultativos.
Atualmente, a descrio bibliogrfica de documentos deve ser feita de
acordo com as normas ISBD*. AIFLA definiu um formato geral, o ISBD (G),
a partir do qual so elaborados os formatos especficos.
Para os documentos textuais foram definidas cinqenta reas.
O contedo das principais reas ser explicado mais adiante (ver os
exemplos citados). As referncias bibliogrficas das monografias e das
publicaes seriadas tm as seguintes reas2:
Monografias Publicaes seriadas
rea 1. Ttulo e indicao de responsabilidade Ttulo e indicao de responsabilidade
rea 2. Edio Edio
rea 4. Publicao, distribuio etc Designao em nmrica alfabtica
cronolgica ou outra
rea 5. Descrio fsica Descrio fsica
rea 6. Srie Srie
rea 7. Notas Notas
rea 8. ISBN3, encadernao e preo ISBN4. ttulo chave e preo
1. International Standard Bibliographie Description ((G) General) (descrio bibliogrfica
normalizada internacional)
2. A rea 3 no usada para monografias.
3. International Standard Book Number (nmero normalizado internacional de livros).
4. International Standard Serial Number (nmero normalizado internacional de
publicaes seriadas).
A descrio bibliogrfica
A descrio bibliogrfica de um documento pode ser complementada
por outros elementos que so acrescentados depois da descrio de
contedo (ver os captulos "A descrio de contedo e O resumo). Estes
elementos so os nmeros de classificao e/ou a indexao e o resumo.
Pode-se ainda atribuir pontos de acesso principal e secundrios, de forma
a permitir a recuperao destas informaes. A descrio bibliogrfica
muitas vezes utilizada em substituio ao documento primrio. Na
realidade, ela substitui este documento em grande parte das operaes da
cadeia documental. Por esta razo, ela deve representar o documento da
forma mais exata possvel e fornecer ao usurio todas as informaes que
ele necessita para escolher ou adquirir o documento primrio.
Procedimento
O procedimento de descrio bibliogrfica compreende as seguintes
etapas:
1. tomar conhecimento do documento;
2. determinar o tipo de documento e as regras aplicveis a este caso;
3. determinar o nvel de descrio bibliogrfica que ser utilizado;
4. identificar, pira cada nvel de descrio bibliogrfica, os dados
necessrios, na ordem das reas indicada pela norma ou pelo formato
utilizado;
5. transcrever estes dados de acordo com as regras da norma ou do
formato utilizados;
6. verificar a exatido da descrio e sua conformidade com as normas;
7. elaborar as fichas dos catlogos ou os outros produtos previstos para
o sistema.
Como a operao de descrio bibliogrfica o registro dos dados
fatuais que aparecem nos documentos, parece ser uma operao fcil.
Entretanto, por mais perfeitas que possam ser as normas, os formatos e
os manuais, dificilmente a catalogao de um documento pode ser feita
sem uma reflexo. Alm disso, alguns documentos podem ser interpretados
de vrias formas ou apresentar problemas de difcil resoluo (como, por
exemplo, uma comunicao feita em um congresso e publicada
separadamente em um peridico).
recomendvel anotar sistematicamente as decises tomadas,
completando desta forma as normas e os manuais com um cdigo de
prtica e com explicaes adicionais.
A catalogao nos sistemas automatizados , em geral, feita em duas
etapas. Em primeiro lugar preenche-se uma planilha de entrada e, em
seguida, os dados da planilha so registrados no computador. Os sistemas
atuais j permitem que o registro dos dados seja feito diretamente na tela
do computador. A composio e a verificao da descrio bibliogrfica
so feitas diretamente pela mquina.
A descrio bibliogrfica
Os dados bibliogrficos so selecionados no prprio documento e a
partir de fontes externas, se necessrio. A pgina de rosto tem uma
importncia especial, porque contm, em geral, a maioria dos dados da
descrio bibliogrfica. As informaes do ttulo e dos autores devem ser
retiradas da pgina de rosto e no da capa do documento. Os dados da
capa so, em geral, incompletos.
Os outros dados, tais como as tabelas de contedo, as listas de
ilustraes e o nmero de pginas, devem ser retirados do corpo da obra,
que deve ser utilizada para completar e precisar os dados da pgina de
rosto.
Quando as informaes no aparecem na obra, deve-se busc-las em
fontes externas. Dados como as datas, o nome real do autor e o preo da
obra podem ser encontrados em bibliografias, catlogos e prospectos de
editores e em repertrios. Os dados que no possam ser verificados com
exatido devem ser omitidos.
Normas e formatos
As normas e os formatos so uma ferramenta fundamental na descrio
bibliogrfica. Na realidade, as descries bibliogrficas so o nico meio
de identificar materialmente os documentos e ter acesso s informaes
que eles contm.
A normalizao da descrio bibliogrfica surgiu da necessidade de um
acesso fcil e universal informao bibliogrfica e do desenvolvimento da
cooperao entre unidades de informao. Esta normalizao realizou-se
inicialmente em escala nacional ou lingstica. Muitos pases constituram
comisses profissionais encarregadas de criar normas e regras de
catalogao. A obra Anglo-American Cataloguing Rules (AACR) adquiriu
grande importncia, principalmente devido ao alcance da lngua inglesa;
e foi traduzida e adaptada para o francs e o espanhol.
A utilizao da informtica acentuou a necessidade da normalizao.
Para serem lidas por mquina, as descries devem seguir regras estritas
no plano intelectual e apresentadas de forma precisa e uniforme, utilizando
caracteres e tamanhos definidos. Estas regras e sua apresentao
constituem um formato.
A Federao Internacional de Associaes de Bibliotecrios (IFLA) fez
um esforo de normalizao internacional que resultou na elaborao de
uma descrio bibliogrfica normalizada internacional" (ISBD),
inicialmente para as monografias (ISBD(M)), e a seguir para as publicaes
seriadas (ISBD(S)). A IFLA elaborou tambm normas para os documentos
audiovisuais (ISBD(NBM)-Non book material), para os mapas e plantas
(ISBD(CM)-Cartographic material), para as partituras musicais
(ISBD(Musie)) e para os livros antigos (ISBD(A)). Ela elabora atualmente
normas para os arquivos legveis por mquina (MRP) e para as citaes
bibliogrficas (CP).
A descrio bibliogrfica
Os ISBD's so conjuntos de regras de apresentao de dados
bibliogrficos e de sinais de pontuao que tm como objetivo identificar
estes dados. A aplicao destas normas deve permitir o controle bibliogrfico
universal (CBU), isto , uma descrio uniforme de todos os organismos
encarregados de produzir bibliografias nacionais dos documentos editados
em cada pas. Desta forma, estes documentos podem ser utilizados por
todos, facilitando o programa UAP (Universal Availability of Publication -
acesso universal s publicaes). Paralelamente, um grupo de trabalho da
Unisist e do International Council of Scientific Unions Abstracting Board
(ICSU-AB)5 elaborou um Manuel de rfrence relatif aux descriptions
bibliographiques lisibles par machine.
Este manual publicado pela Unesco e define os modelos indicativos
da descrio bibliogrfica e os formatos de intercmbio (ver o captulo:
Os programas e sistemas internacionais de informao"). A descrio
bibliogrfica recomendada pelo manual aplicvel nos nveis monogrfico,
coletivo e analtico (ver as informaes mais adiante). Por esta razo, este
manual pode ser utilizado por qualquer centro de documentao e por
qualquer servio secundrio que registre unidades documentais de forma
mais detalhada que as bibliografias nacionais, como, por exemplo, os
captulos de livros, os artigos de peridicos, as comunicaes e atas de
congressos.
A normalizao dos formatos est em fase de realizao. O formato Marc
(Machine-Readable Catalog) da Library of Congress dos Estados Unidos
tem sido o centro destes esforos e serviu como base para muitos formatos
bibliogrficos para bibliotecas, como o Marc-BNB, o Intermarc e o Marcai.
O Unimarc (Universal Marc Format), criado pela IFLA, em 1977, serve
atualmente como formato de registro de dados e principalmente como
formato de intercmbio. O Unimarc destina-se principalmente s bibliotecas
(ver no final do captulo um exemplo de descrio bibliogrfica em formato
Intermarc). Alm disso, vrios sistemas de informao e servios
secundrios elaboraram outros formatos.
Como os sistemas informatizados tm particularidades especiais, a
normalizao no pretende criar um formato nico, mas tornar os
diversos formatos compatveis entre si, de forma que se possa passar
automaticamente de um formato a outro. Isto possvel quando o
contedo e a estrutura das reas so harmonizadas e quando cada rea
pode ser identificada de forma no-ambgua por sinais convencionais, que
indicam o seu contedo, seu princpio e seu fim. Para este efeito, a Unesco
e a IFLA criaram um grupo de trabalho com o objetivo de reunir os
principais formatos existentes em um nico formato, o Common
Communication Format (CCF). A Biblioteca Dag Hammarskld da ONU,
desenvolveu uma nova verso de seu sistema UNBIS (United Nations
5. A partir de 1986, o ICSU-AB passou a chamar-se ICSU-ICSTI (International Council
for Scientific and Technical Information).
A descrio bibliogrfica
Bibliographie Information System) a partir do CCF. Seu UNBIS. reference
manual uma adaptao do CCF s necessidades da literatura e dos
dados tratados pela ONU.
A identificao da descrio bibliogrfica traz geralmente um cdigo
que indica a unidade de informao que a produziu, o ano em que foi
produzida e um nmero de ordem. Este nmero , em geral, em ordem
cronolgica, ou em conjuntos de sries em numricas atribudos a cada
unidade participante da rede pelo coordenador internacional.
A identificao pode comportar tambm sinais que permitem identificar
se uma descrio bibliogrfica nova ou se substitui outra, e se faz parte
de um grupo que descreve um documento nico, ao qual est ligada, como
tradues e novas edies, entre outros.
Estas informaes encontram-se, em geral, no alto da descrio
bibliogrfica e no so reproduzidas nos catlogos e fichrios, pois servem
apenas para as operaes de controle e tratamento.
O nmero de identificao definitivo a ligao principal entre as
descries bibliogrficas e os outros produtos e servios documentrios
como ndices e solicitaes de cpias, entre outros. Por esta razo, ele deve
aparecer sempre nas descries bibliogrficas.
Os indicadores de tipo de documento permitem identificar os vrios
documentos de um sistema de informao. Como cada tipo de documento
recebe um tratamento diferente, estes indicadores permitem tambm
verificar a integridade da descrio. A descrio bibliogrfica de uma tese,
por exemplo, deve comportar as reas de ttulo, autor, data, lngua,
descrio fsica, universidade e disponibilidade. Desta forma, possvel
controlar as descries referentes a este tipo de documento. Este indicador
pode servir tambm para os controles estatsticos. Em geral, os sistemas
no enumeram umeram todos os tipos de documentos possveis, mas
codificam alguns. O manual Unisist/ICSU-AB, por exemplo, codifica seis
tipos de documentos. Qualquer documento pode ser descrito em uma
destas categorias. O importante o tipo de tratamento que deve ser
aplicado ao documento que ser descrito.
Alguns sistemas permitem tambm a utilizao de indicadores
bibliogrficos. Estes indicadores servem para sinalizar, no documento, a
presena de alguns elementos que possam ter uma utilidade particular,
mas que no so objeto de um tratamento separado, como as cartas, os
dados numricos, os glossrios, os resumos e as bibliografias. Estes
elementos so identificados em uma rea apropriada, em geral, a rea de
notas (como, por exemplo o nmero de referncias de uma bibliografia e
o perodo coberto). Estes indicadores aparecem, geralmente, no inicio da
descrio bibliogrfica.
Os indicadores de nvel bibliogrfico precisam a parte do documento
descrita. Um livro compe-se de vrios captulos. Cada captulo uma
unidade. necessrio descrever o livro integralmente, porque ele o
106
A descrio bibliogrfica
suporte fsico da informao, mas pode ser necessrio descrever alguns
captulos como entidades intelectuais ou unidades documentais.
Da mesma forma, uma publicao peridica pode ser descrita na sua
totalidade ou em parte, bem como os anais de um congresso e suas vrias
comunicaes. Alm disso, certos documentos podem fazer parte de
conjuntos com uma coerncia prpria, material e intelectual. Podem ser
includos neste caso, por exemplo, os vrios volumes de um manual, os
diversos volumes de um relatrio tcnico e as publicaes peridicas.
Desta forma, pode-se distinguir trs nveis bibliogrficos:
- o nvel analtico, quando a descrio se refere a uma parte de um
documento, como o mapa de uma atlas, o artigo de um peridico ou o
captulo de um livro;
- o nvel monogrfico, quando a descrio se refere a um documento
nico como um livro, um atlas, uma norma ou uma patente:
- o nvel coletivo, quando a descrio se refere a um conjunto particular
de documentos, como , por exemplo, uma obra em vrios volumes, ou uma
publicao peridica.
Quando a instituio no possui o documento de onde foi retirada a
unidade documental a ser descrita, o nvel analtico pode ser empregado
apenas excepcionalmente. Uma descrio de nvel analtico deve ser
acompanhada de uma descrio do nvel monogrfico ou coletivo. Esta
descrio deve trazer todas as indicaes que permitam identificar o
documento-fonte para consulta, se for o caso.
A indicao de responsabilidade
A indicao de responsabilidade designa o autor (uma pessoa ou um
grupo de pessoas) que produziu o documento, isto , que escreveu o livro
ou o artigo, fez a fotografia ou o filme, apresentou a comunicao, criou
a inveno ou depositou a patente, desenhou o mapa ou a ilustrao, ou
ainda concebeu o programa de informtica.
O documento traz o nome do autor, que pode ser: um indivduo ( o
autor pessoa fsica): um organismo ( o autor entidade): no identificado
( o annimo).
Se a obra tem vrios autores, esta rea repetida. Se o autor no
identificado, esta rea omitida (algumas- normas antigas recomendam
que se escreva An." neste caso).
No caso de autor individual, escolhe-se um nome, que corresponde, em
geral, ao sobrenome, devidamente explicitado, se este for o caso (com a
indicao Sra. ou Srta. se o prenome no permite identificar o sexo, e com
sufixos como Jr" ou II"). Este o primeiro elemento da descrio
bibliogrfica. O sobrenome deve ser seguido pelo prenome, por extenso, ou
por suas iniciais, de forma a poder distinguir as pessoas que tm o mesmo
nome de famlia. Algumas normas internacionais orientam a apresentao
das partculas, dos sufixos e dos ttulos. Existem tambm normas
A descrio bibliogrfica
internacionais para a transcrio ou transliterao de nomes em alfabetos6-
Em alguns sistemas, acrescenta-se na descrio bibliogrfica o
organismo ao qual pertence o autor. Esta prtica permite identificar uma
fonte de informao. Esta meno pode aparecer na rea de autor, depois
da entrada principal ou em uma rea especial.
Quando existem vrios autores, menciona-se, em geral, os principais
ou os trs primeiros nomes citados. Alguns sistemas mencionam todos os
autores, como forma de identificao para dar o maior nmero de fontes
de informao possveis.
Os documentos podem ainda ter um prefcio, uma introduo e um
posfcio, escritos por pessoas distintas. Para registrar estas informaes
utiliza-se uma rea especial, ou uma rea de notas. O ilustrador tambm
pode figurar em uma destas reas.
O editor a pessoa responsvel por uma publicao que rene as
contribuies de vrios autores. O editor pode tambm ser um dos autores
da publicao. Este o caso de obras coletivas, de miscelneas e de anais
de conferncias, entre outros. Diz-se que este tipo de publicao foi
realizada sob a direo de X" ou que tal pessoa o editor", ou o "editor
cientfico", o responsvel pela publicao, o diretor da publicao, ou o
seu autor principal. Muitas vezes este tipo de documento traz o nome do
editor. Neste caso, feita uma meno especial ao editor (como dir.publ.),
depois da entrada de autor ou em uma rea especial, ou ainda na rea de
edio. Um caso semelhante o do tradutor e do compilador de uma
bibliografia ou de uma obra de terminologia, onde so identificadas as
menes (trad.) ou (trans.) ou (comp.), na medida que existe uma relao
particular entre o responsvel pela publicao. necessrio distinguir
com ateno o autor do editor cientfico. Em francs, o termo editor
designa, antes de tudo, a pessoa fsica ou moral que publica o documento
e que, na maioria dos casos no responsvel pelo contedo da obra.
necessrio fornecer informaes complementares sobre os autores de
teses ou de outros trabalhos universitrios, porque, em geral, estes
autores no pertencem a nenhuma instituio no momento em que
publicam este tipo de trabalho. Em certos casos, alguns trabalhos
cientficos que serviram como base para esta publicao foram feitos no
mesmo estabelecimento de ensino, o que constitui uma fonte de informao
importante. Geralmente, este tipo de documento est disponvel apenas
no estabelecimento de ensino em questo. O renome da instituio um
elemento fundamental. , portanto, til, e, algumas vezes obrigatrio,
indicar o nome e o endereo do estabelecimento de ensino superior onde
foi defendida a tese. Existe uma rea reservada para esta finalidade.
Deve-se tambm indicar a natureza do trabalho na rea prevista para este
6. Atransliterao a operao que consiste em representar os caracteres de uma
escrita alfabtica atravs dos caracteres de um alfabeto de converso. A transliterao deve
obedecer a normas rigorosas.
A descrio bibliogrfica
fim, pois um trabalho de concluso de curso no tem o mesmo contedo
nem a mesma importncia cientifica de uma tese de doutorado, por
exemplo.
Um problema de natureza semelhante ocorre quando o trabalho
descrito em um documento foi realizado em ou por um organismo diferente
da instituio autora do trabalho. Esta instituio, muitas vezes, uma
fonte de informao na especialidade em questo e, eventualmente, o
nico lugar onde o documento pode ser encontrado. Seu nome e, se
possvel, seu endereo devem ser mencionados em uma rea prevista para
este fim.
O autor-entidade um organismo que tem a responsabilidade intelectual
do documento. Este organismo pode ser:
- uma coletividade privada, como uma sociedade, uma associao, ou
um partido poltico;
- uma coletividade pblica, com ou sem autonomia jurdica, como um
ministrio ou uma universidade;
- uma coletividade territorial, como um pas, um estado, ou uma
cidade;
- uma organizao internacional, como a Organisation Mtorologique
Mondiale ou a Organisation de l'Unit Africaine.
Em alguns casos, o nome do autor-entidade mencionado no documento
designa o organismo em sua totalidade, como, por exemplo, o Ministrio
do Planejamento ou a Universidade Nacional. Mas, na maioria dos casos,
o autor uma unidade de um organismo. O nome do organismo principal
deve ser indicado antes da unidade em questo, se for mencionado no
documento. Deve-se tambm indicar esta informao quando ela for
conhecida, mesmo que no se encontre no documento. Desta forma, a
instituio identificada com preciso. Deve-se mencionar apenas as
sees do organismo que permitam identificar a unidade sem ambigidade
(ex. Ministre du Plan. Division des Etudes Industrielles. Service des
Statistiques).
No caso das coletividades territoriais, necessrio distinguir as que
trazem o nome da cidade (cidade de Sfax e governo de Sfax, por exemplo)
e indicar a entidade das quais elas fazem parte, como a regio, o pas ou
o estado. O nome escolhido o que aparece no documento na sua forma
completa, pois as siglas e as abreviaturas podem causar confuso.
Se necessrio, acrescenta-se a sigla depois do nome. O uso da sigla
permitido quando esta for de uso universal, como, por exemplo, as siglas
FAO, Unesco e IBM.
As palavras que indicam o tipo de organismo, como, por exemplo.
Universidade (Univ.) ou Aktiengesellschaft (AG), podem ser abreviadas de
acordo com as normas estabelecidas pelo sistema, salvo se constiturem
a primeira palavra da entrada. Infelizmente, os nomes de coletividade nem
sempre so mencionados da mesma forma. Os sistemas devem organizar
e manter atualizadas listas dos autores coletivos utilizados pela unidade
A descrio bibliogrfica
de Informao, precisando a forma que deve ser utilizada. Estas listas
devem indicar as abreviaturas permitidas.
Para identificar o autor-coletivo necessrio indicar o pas onde se
encontra a entidade e, se possvel, seu endereo. Se necessrio, indica-se
tambm o nome da entidade na sua lngua original e na lngua de trabalho
do sistema.
Se o documento tem vrios autores-coletivos, todos devem ser
mencionados.
Algumas vezes o autor-entidade tambm o editor do documento. Neste
caso ele deve ser mencionado na rea reservada ao autor e na rea de
publicao, distribuio etc.
O ttulo
O ttulo uma frase, ou uma srie de frases que indicam o nome de um
documento, que designam uma coleo ou uma publicao em srie, ou
que indicam a natureza ou o assunto de uma reunio. O ttulo pode
apresentar-se de vrias formas:
-um ttulo nico, por exemplo, La dsertification ou Lerle de Vepargne
dans la modemisation du secteur rural,
- um ttulo principal e ttulos complementares, como os subttulos ou
complementos, como, por exemplo: La dsertification. volution rcente et
moyens de lutte ou La dsertification (bilan et perspectives aprs la
Confrence de Nairobi);
- ttulos justapostos, isto , vrios ttulos, como, por exemplo: Lejardin
familial. Le potager;
-um ttulo alternativo, como, por exemplo: Les idologies dans les Tiers
Monde ou La recherche d'une troisime voie;
- um ttutlo traduzido, como, por exemplo: Croissance dmographique
et urbanisation (Population growth and urbanization];
- ttulos paralelos, isto , ttulos idnticos em vrias lnguas, como, por
exemplo: Uhuru ni mwanzo? Freedom and after? La libert et aprs?
Utiliza-se o ttulo original completo, com seus subttulos e complementos
eventuais. No caso de ttulos paralelos, deve-se utilizar o primeiro ttulo
citado.
Alguns sistemas utilizam o ttulo original, acrescentando sua traduo,
que pode figurar no documento ou no; outros traduzem sistematicamente
o ttulo original. Esta traduo aparece em uma rea especial. O ttulo
original traduzido conhecido como ttulo primrio.
O ttulo de uma reunio mencionado quando o documento for parte
desta reunio. Ele pode figurar na rea de ttulo, caso se encontre
mencionado no titulo do documento, ou em uma rea especial. O nome da
reunio ou conferncia deve ser mencionado de forma completa, tal como
aparece no documento, com o nmero de ordem (por exemplo, Vlle.
A descrio bibliogrfica
Confrence de..) e o tipo de reunio (como por exemplo, conferncia
internacional, congresso, ou reunio de um comit interestadual). Pode-
se traduzir o nome da reunio. O local e a data da reunio devem ser
mencionados a seguir, pois so Indispensveis para identific-la.
A meno do local e da data servem como elementos de informao e
permitem reagrupar os documentos de uma mesma reunio.
Para as publicaes seriadas, deve ser utilizado um ttulo abreviado que
nem sempre uma abreviatura do ttulo original, mas sua expresso
convencional da forma que foi registrado no sistema internacional de
dados sobre as publicaes em srie (ISDS) e na lista de ttulos abreviados
da ISO7. As abreviaturas so freqentemente utilizadas porque os ttulos
dos peridicos so muitas vezes longos. A lista de autoridade permite
escrever os ttulos de peridicos de forma constante e uniforme.
Os peridicos mudam muitas vezes de ttulo, o que complica a sua
descrio bibliogrfica. Quando isto acontece, o novo ttulo deve ser
registrado na rea do ttulo e o ttulo antigo em uma rea especial, ou na
rea de notas, de forma que se possa reagrup-los se necessrio.
Os subttulos e complementos podem tambm ser mencionados.
Os ttulos de coleo so tratados como os ttulos das monografias.
Edio
A edio compreende todas as informaes relativas ao produto
documental que est sendo descrito. Por exemplo: 3a. edio revista e
completada por.., edio atualizada, edio ilustrada ou edio integral.
Pode-se acrescentar a esta categoria as informaes sobre indicaes
de srie cronolgica, nmero de volume, nmero de fascculo, e menes
particulares relativas aos fascculos das publicaes em srie, como
nmero especial, bem como a indicao de srie de uma monografia.
Todas estas informaes devem estar registradas em reas especiais.
A rea de publicao
Esta rea comporta as diversas informaes materiais sobre a produo
do documento, como o local de publicao, o nome do editor e a data de
publicao ou de impresso. O local de impresso e o nome do impressor
devem ser colocados quando no existem dados sobre o local de edio e
o nome do editor. Estes dados so indicados em uma ou em vrias reas
consecutivas, conforme o sistema. O nome do editor e seu endereo
aparecem normalmente no documento, ou ao menos a indicao da
cidade. Algumas vezes necessrio acrescentar o nome do pas para evitar
confuses.
7. ISO/R4, Code International pour l'abreviation des titres de priodiques.
A descrio bibliogrfica
O local de publicao a cidade onde o editor est estabelecido. O editor
o organismo ou, eventualmente, a pessoa responsvel pela produo e
pela distribuio do documento. O impressor o fabricante. Estas duas
funes podem ser realizadas pela mesma instituio. Se o nome do editor
ou o local no aparecem no documento, pode-se acrescentar as indicaes:
s.l. (sem local) e s. n. (sem nome). Quando vrios editores associam-se para
produzir um documento, a rea de edio ser repetida. Um editor pode
ter vrias sedes em diversos pases, como, por exemplo, o editor Mouton,
que tem sede em Paris e em Haia. Neste caso. as duas sedes sero
indicadas. Desta forma, multiplicam-se as possibilidades de acesso ao
documento primrio.
Adata de impresso ou de publicao aparece geralmente no documento.
Pode-se encontr-la na pgina de rosto, na meno de copirraite, que
sempre datada, de depsito legal, de impresso ou ainda em outras
indicaes, como na data do prefcio. A data um dado essencial para
recuperar um documento, bem como para caracteriz-lo. Se ela impossvel
de ser localizada, escreve-se a meno s.d. (sem data). Alguns sistemas
autorizam a colocao de uma data aproximada, seguida de uma explicao
na rea de notas.
Para os artigos ou fascculos de um peridico, indica-se, aps o ttulo,
o ano e o nmero.
Descrio fisica
A descrio fsica consiste na descrio da composio material de um
documento, ou seja: a diviso da obra, em tomos, volumes ou fascculos:
o formato, indicado em centmetros: a paginao, ou o nmero de pginas
do total da obra ou de cada parte, se este for o caso; as ilustraes (a sua
presena e, eventualmente, seu nmero e natureza, como, por exemplo,
desenhos, fotos ou quadros); a bibliografia, se este for o caso, eventualmente
com o nmero de referncias e sua natureza, principalmente tratando-se
de uma bibliografia comentada; e o ndice.
A srie
Deve-se indicar a que srie a obra pertence, se este for o caso. A srie
definida pelo ISBD(M) como formada por um conjunto de publicaes
distintas, ligadas entre si por um ttulo coletivo que se aplica ao conjunto
de publicaes, alm de seu prprio ttulo."
As notas
A lngua ou as lnguas do texto e dos resumos podem ser mencionadas
em uma nota especial.
As notas podem ser includas na descrio bibliogrfica para precisar.
A descrio bibliogrfica
se necessrio, qualquer aspecto de um documento, ou elemento da
descrio que no ficou devidamente claro nas outras reas, ou que
merea ser mencionado.
Em alguns sistemas, as reas permitem indicar informaes particulares,
como o valor de um documento e sua disponibilidade.
ISBN/ISSN/cdigos e casos particulares.
So definidos nmeros e cdigos particulares para identificar com
preciso os documentos. Estes cdigos existem apenas para certos tipos
de documentos e so impressos no prprio documento.
O ISBN atribudo a cada livro atravs de um sistema de coordenao
internacional. Este nmero comporta um conjunto de dez algarismos
divididos em quatro segmentos. Os trs primeiros segmentos tm tamanhos
variveis e o objetivo de identificao do grupo, identificao do editor e
identificao do ttulo.
A estes nmeros acrescenta-se um caractere de controle. No ISBN
2-7081-0324-5, por exemplo, o nmero 2 representa o grupo de editores
de lngua francesa, o nmero 7081 representa o editor Les ditions de
1'Organisation e o nmero 0324 representa a obra de G.Van Slype,
Conception et gestion des systmes documentaires. O nmero 5 o
caractere de controle.
O ISSN (International Standard Serial Number), ou Nmero Normalizado
Internacional de Publicaes Peridicas, atribudo a cada ttulo de
peridico dentro do ISDS (International Seriais Data System), ou Sistema
Internacional de Dados sobre Publicaes Peridicas8.
Este nmero designado por uma agncia nacional ou regional que
depende do Centre International de l'Enregistrement des Publications en
Srie (ClEPS).
Cada agncia dispe de um grupo de ISSN que atribudo a cada ttulo
de peridico. Este nmero constitudo por um conjunto de oito algarismos
divididos em dois grupos e separados por um trao de unio. O ltimo
algarismo um caractere de controle. O ISSN 0002-8231 identifica, por
exemplo, o Journal of the American Society for Information Science. Os
nmeros que compem o ISSN no tm nenhum significado prprio. Eles
identificam, inequivocamente, um ttulo de peridico.
Antes do surgimento do ISDS, a American Society for Testing and
Materials estabeleceu um sistema de codificao nica de ttulos de
peridicos. Trata-se do Coden, gerido e difundido atualmente pela Ameri
can Chemical Society (ACS). Este nmero composto de seis algarismos,
cinco letras e um caractere de controle. O peridico Journal of the
American Society f or Information Science, por exemplo, tem o Coden
8. Veros anexos ISDS e ISBN no captulo sobre os programas e sistemas internacionais
de informao.
A descrio bibliogrfica
AISJB6. O Coden ser sem dvida substitudo pelo ISSN, mas ele pode ser
ainda utilizado atualmente na falta deste ltimo.
Os documentos de patentes so identificados por um cdigo
internacional, conhecido como Icirepat (International Cooperation in
Information Retrieval among Patent Offices). Este cdigo utiliza um
sistema alfabtico ou alfanumrico que identifica a natureza da patente e
um nmero, geralmente em ordem cronolgica. O cdigo A, por exemplo,
aplica-se a um documento de patente numerado em uma srie principal
no primeiro nvel de publicao. O nmero USA,A,3607127 designa a
patente dos Estados Unidos n.3 607 127.
A maior parte das instituies publicam regularmente relatrios que
so identificados por cdigos alfanumricos compostos por vrios elementos
que identificam as unidades responsveis, os programas e os relatrios em
ordem cronolgica. No relatrio FAO-SIDA-TF-IND-92, por exemplo, os
dois primeiros segmentos indicam os organismos responsveis, os dois
segmentos seguintes indicam o programa e o ltimo, o nmero do
relatrio. Einbora estas informaes sejam inteligveis apenas para as
pessoas que conhecem o seu significado, o cdigo permite identificar com
preciso um relatrio.
Outros tipos de documentos trazem nmeros ou cdigos que permitem
distingui-los com preciso, como as leis, os decretos, as normas, os
mapas, as descries de peas de equipamento e os contratos pblicos,
entre outros. Estes nmeros so teis, porque suprimem qualquer risco
de ambigidade na identificao e no registro dos documentos. Eles
simplificam as operaes de aquisio, de venda, de gesto, de seleo, de
emprstimo e de permuta. Eles podem servir de base para a organizao
de catlogos.
Alguns documentos, como as patentes e os relatrios, trazem ainda a
meno de outros nmeros e cdigos que se referem a documentos
relacionados, ou a sries de documentos. Estes nmeros podem ser
mencionados em uma rea de nmeros secundrios.
As descries bibliogrficas ao nvel analtico podem ser feitas cada vez
que uma parte de um documento primrio identificvel fisicamente
apresenta um interesse especial para os usurios de uma unidade de
informao. A unidade documental a ser descrita pode ser uma entidade
distinta das outras, como um artigo de peridico, mas pode ser tambm
uma tabela ou um mapa dentro de um documento. Eslas partes devem
ser descritas com preciso, e localizadas exatamente no documento
primrio de onde foi extrada, o que significa fazer praticamente uma
dupla descrio.
As patentes apresentam problemas especiais de catalogao. Na maioria
dos pases, elas so constitudas por vrios documentos que se sucedem
e podem originar vrias publicaes, como as decises sucessivas que tm
um valor jurdico particular, ou seja a recepo da patente, a autorizao
de comunicao, o exame e a entrega dos ttulos de proteo.
A descrio bibliogrfica
Estes documentos tm uma estrutura especfica: ttulo, setor da tcnica,
estado anterior da tcnica, objetivo, meios utilizados, aplicao ilustrativa,
reivindicaes, exemplos e esquemas prticos de realizao. Eles tm
relaes recprocas. Uma patente pode ser uma adio, uma diviso, uma
estimativa ou uma renovao de outras patentes.
Vrias pessoas fsicas ou entidades podem estar associadas produo
e ao depsito de uma patente: o depositrio, o inventor, o titular do ttulo
de proteo, o advogado ou agente e o cessionrio. A data de depsito e a
data de publicao tm uma importncia essencial, pois indicam o incio
da proteo legal da inveno. A Organisation Mondiale de la Propriet
Intellectuelle (OMPI) e o Comit de 1'Union de Paris pour la Coopration
Internationale en Matire de Recherches Documentaires entre Offices et
Brevets criaram um cdigo internacional de descrio bibliogrfica
(INID-Icirepat - International Numbers f o r the Identification o f Data) e uma
classificao internacional de patentes.
Os mapas e as plantas tm problemas especficos de catalogao.
Existe uma norma especializada para este fim.
Os mapas muitas vezes no possuem ttulos. Outras vezes seu ttulo
incompleto pouco significativo e deve ser reconstitudo integralmente a
partir de elementos que podem ser localizados em vrias partes do
documento (como as legendas e as notas) ou a partir do exame do
documento. O nome da rea a que o mapa se refere deve ser mencionado
se no aparece no ttulo original.
O autor , em geral, um autor coletivo e raramente mencionado.
A escala, ou relao entre a representao de uma distncia no mapa
e a sua medida real no terreno (como por exemplo 1/5 000) uma
indicao indispensvel a qualquer planta ou mapa. Ela permite apreciar
a utilidade do documento para um determinado trabalho.
Na rea de publicao e distribuio so indicados o local, nome do
editor e data de publicao. Convm mencionar a data de publicao do
mapa e no a data de sua elaborao. Entretanto, til mencionar esta
data nas notas.
Deve-se indicar, na rea de descrio fisica, o nmero de folhas, o
suporte (se no for papel) o procedimento grfico, as cores e as dimenses
do mapa.
Nas notas, indica-se a presena de detalhes, ou cortes, que devem ser
descritos com exatido, e a srie.
Se o mapa foi extrado de outro documento primrio, necessrio
indicar, na rea apropriada, a referncia bibliogrfica deste documento.
115
A descrio bibliogrfica
A descrio bibliogrfica dos
documentos audiovisuais
A descrio bibliogrfica dos documentos audiovisuais apresenta
algumas dificuldades. Estes documentos muitas vezes no possuem o
equivalente a uma pgina de rosto. Por esta razo, necessrio buscar os
dados no prprio documento ou nos documentos que o acompanham.
Muitas vezes necessrio criar um ttulo para as fotografias.
A questo est em definir o documento como uma unidade, sobretudo
as fotografias e os filmes. A unidade a foto isolada, ou um conjunto de
fotos do mesmo assunto? A unidade documental do filme um plano, uma
seqncia, ou um tema determinado?
O autor nem sempre indicado. A maioria dos documentos audiovisuais,
com exceo das fotografias, so feitos em colaborao. O realizador, ou
diretor dos filmes, considerado o seu autor principal. O compositor
considerado o autor principal das gravaes de msica. Para algumas
gravaes de msica popular, o intrprete considerado o autor principal.
Alguns documentos audiovisuais so publicados por editoras. Este o
caso dos documentos de imagens fixas e dos discos. Mas a maior parte
destes documentos so peas nicas. Algumas vezes estes documentos
tm vrias cpias com caractersticas diferentes.
Em geral, deve-se indicar o endereo completo do editor ou do produtor
na rea de publicao e distribuio, porque eles so, muitas vezes,
pessoas difceis de localizar. Deve-se mencionar tambm o distribuidor,
que geralmente distinto do editor.
As caractersticas fsicas do suporte constituem informaes essenciais
medida que determinam as possibilidades de uso e o tipo de aparelho que
dever ser empregado para a leitura do documento. A rea de descrio
fsica deve reunir vrias informaes. Para os filmes, por exemplo,
necessrio indicar a natureza do suporte (filme ou negativo), o nmero de
bobinas ou de caixas, ou fitas, a durao e a metragem, o formato, o tipo
de sonorizao, o tipo de cor, a cadncia da projeo e os documentos
escritos que o acompanham, como o scripl.
A rea de notas permite dar indicaes teis que no podem ser dadas
em outras reas, como, por exemplo, as circunstncias de produo ou de
apresentao, os detalhes de apresentao do contedo, os aspectos
tcnicos, ou ainda a meno de original ou de cpia.
116
A descrio bibliogrfica
Questionrio de verificao
O que descrio bibliogrfica?
Qual a finalidade da descrio bibliogrfica?
O que significa a expresso rea de dados"?
O que o formato comum de comunicao?
O que o autor-entidade?
O que significam os termos ISBD, ISBN, ISSN e Coden?
Para que servem estes termos?
De onde se extraem os dados necessrios descrio de um documento?
Quais so os problemas particulares da descrio bibliogrfica dos
documentos audiovisuais?
Bibliografia
ANDERSON, D. Guidelines fo r calaloging in publicalion/Guide pour le
calalogage la source. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/1.)
BOUFFEZ, F. et Grousseaud, A. Le controle bibliographique des publica
tions en srie: ISDS et ISBD-S. Paris, Unesco, 1978.
BOUFFEZ, F. et Grousseaud, A. tude comparative sur le controle des
publications en sries par ler centres d'ISDS et les agences nationales de
bibliographies. Paris, Unesco. 1980. (Doc. PGI-80/WS/13.)
CCF: le formal commun de communication, 2- d. Paris, Unesco, 1988.
(Doc. PGI-88/WS/2.)
HOLT, B. ; McCALLUM, S. el LOng, A. The Unimarc manual. Londres,
IFLA/UBCIM Programme, c/o British Library Bibliographie Services,
1987.
HOPKINSON, A.; McCALLUM, S. et Davis, S.P. Unimarchandbook. Londres,
IFLA International Office for Universal Bibliographie Control
(UBC).1983.
Internationalguide toMarcdatabases and services: national magnetic tape
and on line seruices, 2- d. IFLA, Programme international Marc;
publi sous ladirecttion de Dieter Wolfet Francine Conrad. Francforl-
sur-Main, Dt. Bibliothek, 1986.
ISDS Register, Paris, ISDS International Centre, 1988.
Manuel de VISDS. Paris. ISDS International Centre, 1988.
Manuel sur le controle bibliograjhique. Paris, Unesco, 1983. (Doc. PGI-83/
WS/8.)
Reference manual Jor machine, readable bibliographie descriptions, 3a d.
Paris. Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/6J
UNBIS - Reference manual f o r bibliographie description. New York, Nations
Unies, 1985.
A descrio bibliogrfica
Ver a bibliografia do captulo Les catalogues ou fchiers , em particular
as regras de catalogao.
Anexos
Exemplos:
rea 1. Ttulo e indicao de responsabilidade
rea 2. Edio ------------------------------------------------
rea 4. Publicao, distribuio etc... -----------
rea 5. Descrio fsica --------------------------------
rea 6. Srie --------------------------------------------------
rea 7. Notas ------------------------------------------------
rea 8. ISBN... ------------------------------------------------
Descrio bibliogrfica de um livro
rea 1. Titulo e indicao de responsabilidade
rea 4. designao em n merica e/ ou alfabtica, cronol gica ou outra ----------
rea 5. Publicao, distribuio etc... ---------------------------------------------------
rea 5. Descrio Rsica -------------------------------------------------------------------
ISSN ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Descrio bibliogrfica de um peri dico
Documetalise Sciences de linformalion / Assodaion franaise des
documentalistes et des biblioth caires spdaliss.
Vol. 25. n ' 2 ( 1 9 8 8 mars-avril).
Paris (5, avenue Franco-Russe 75007), 1988.
29,5 cm.
ISSN 0012-4508.
Le traitement linguistique de llnformation/ Jacques Ch aumier
3e. dition
Paris: Entreprise Modeme ddition, 1988
186p.:24cm.
(Systme dinformation et nouvelles tecnologices.)
Bibliograph ie.
ISBN 2-7101-0684-1
118
A descrio bibliogrfica
6 3 1 / 6 3 5
6 3 1
6 3 1 . 1
. 1 6
6 3 1 . 2
6 3 1 . 3
. 3 1 1
. 3 1 2
. 3 1 3
. 3 1 4
. 3 1 5
. 3 1 6
. 3 1 9
6 3 1 . 3 3
. 3 3 1
. 3 3 2
. 3 3 3
. 3 3 4
. 3 3 5
6 3 1 . 3 5
. 3 5 1
. 3 5 2
. 3 5 3
. 3 5 4
. 3 6 1
. 3 6 2
Land- itnd Forstwirtschaft.
Tierzucht. Jagd. Fischerei
Pflaazenbau. Forstwirlscfaaft
AUgemeine Fragen der Landwirt*
scbaft
Landwirtadbaftlicfae Betriebalebre
Buchfhrung. Scbiitzung. Taxation
Landwirtacfaaftlicfae Gebaude
Landwirtscbaftlicfae Mascfainen und
Ge rate
Bodenbearbeitungagerate
und -mascbinen
AUgemeine Mascfainen und Certe
Pflge
Eggen
Walzen n. dgl.
Gar tengerit e
K ativat oren . Grubbcr
Sonetige Gerate. Pfianzgerate
Smaacfainen. Dngeratreuer
Siimaicbinen
Pflanzmaacfainen. Umpflanzmaschinen
Dngerstreuer. Dngungsmagcfainen
Simaacfainen mit Dngeratreuern ver-
bunden
Gerate f i i r Vermehrung von Pflanzen
durch Ab iegcr , P fr o p fr ei a er n*vr.
Gerate zum Verpflanzen
Gerate zum Verpflanzen t o d Biumen
Gerate eur Pflege und zum Scfantz
von Pflanzen. Sttrrorricfatungeu.
Beregnungavorricfatungen b i w .
Erntegerate. Erntemaacfainen
Handgeriite. Sichclu. Senaen
Mhmaiibinen f r Heuernte
Sonslige Heuerntcmascfainen. Hen-
lader
Getreidemaber. Bindemiiher. Mah-
d r t i A e r
K artoffel- und Rbenerntemaacbinen
Gerate und Maachinen f r die Auf-
bereitung von Landbauerzengnisaen
Drescbmaschinen fr Getreide
Gerate und Maicfainen zum Reinigen
und Sortieren. Behlter, Siebe u j w .
Vorricfatungen zum Bndeln, Binden
und Presien
Agricultnre. Forestry. Stock-
breeding. Hunting.
Fisheries
Plant husbandry. Forealry
Agriculture, farming in general
Agrouomy
Farm management
Accountaney, cotting, valaation
F a rm and farmyarda
Ag ricultural implementa, t o o l i and
madbinery
Soil working and tilling equipment
Implementa f o r general u*e
Plonghi
Harrowa
Rollera, etc.
Garden toola: hoea, rakea, etc.
Cnltlvatora. Grubbera
Drillplongha and otber implementa
Sowing macbinra. Mannre apreadera
Sowing implementa and macfainea
Planting toola and equipment
Manure apreadera
Combined aower-manure apreadera
Plant dividing and layering imple
menta
Tranaplantera
T r ee plantera
Implementa f o r eare, pruning, etc.,
aupporting, p rotect ire, marking
and apraying devices
Harreating implementa, machinea
Hand implementa. Scythea. Sickles
Movring machinea
Haymaking macfainea. Hay loadera
Combine harveatera. Binders
Pot at o, beet digging macfainea
Prrpuring, acouring, bandling and
dreaaing macfainea and eqnipment
Threahing, ahelling, coring, peeling
Sorting, sieving, cleaning, winno-
wing, wasbing, drying, fermentinj
Bagging, bundiing, iheaving, baling
Agriculture. Sylviculture.
Zootechnie. Chasse. Pche
Cultores vgtaies. Sylvieulture
Agronomie gnrale
Science de I explUtion agricole
Comptabilit. Evaluation. Taxation
Btimenta agrieolea
Equipement e t macbinea agrieolea
Appareils et macbinea pour le travail
da aol
Macfainea et ontila en gnral
Cbarruea
Heraea et pnlvriaeura
Rouleaux, etc.
Ontila de jardinage
Cultivateurs. Extirpateura
Autrea outila pour la prparation du
nl
Semoira. Diatributenra d'cngraia
Semoira
Plantoira. Macfainea planter
Diatributenra d engraia
Semoira-diatributeurs d engrais com-
bina
Ontila pour la multiplication dea
plantea par marcottage, greffe, etc.
Tranaplanteura
Tranaplanteura d arbrea
Equipement ponr lea aoina aux plan
tea; proteetion, soutien, rceptaclea,
arrosage, etc.
Ontila ct appareila de rcolte
Ontila main. Fauciliea. Foux
Faucfaeuaea
Macfainea dYeraea pour la fenaiaon
et la miae en meulea
Moiaaonneuaea. Mo iaaonneuaea-Iieuaea.
Moiaaonneuaea-batteuaea
Arracfaenaea de pommet de terre et
de betteravea
Ontila et machinea pour la prpara-
tion dea prodnita agricolea
Battenaea, greneuaca, dnoyauteuaes
Outila et appareila pour l e nettoyage,
le calibrage, le achage, etc.
Botteienra et preaaea
Exemplo de nota em formato Intermarc.
A descrio bibliogrfica
Sema>ne 1 tinou.
>1 >3 M
P A . S . C . A L .
>v
numiro bordrau
local<sm.a>>
t > 4 M > - 2
prov*Aoc OMImj ilirct lyp* * * typ comp
> 8 C X t > 7 H > i r > m
1
/
/
> ..........
/
> C 1
> 0 1
t >
O T F
> Q
|' SS*J ................... ...
px* | d . t . [ voi
O | * | *
| H
p*5in*tion | coti>on
1 1 * r | T k
a | - i s r * .
>X
comp.
\
> n F
Exemplo de formulrio de entrada de dados, com indicao das zonas
de dados. (Centro nacional de pesquisa cientfica/instituto de informao
cientfica e tcnica). Estes formulrios tendem a desaparecer, substitudos
pela entrada direta no computador.
120
A descrio de
contedo
Chama-se descrio de contedo (DC), por analogia com a expresso
descrio bibliogrfica (DB), o conjunto de operaes que descreve os
assuntos de um documento ou uma pergunta (fatos, conceitos, nmeros
e imagens, entre outros) e os produtos resultantes destas operaes. Estas
operaes e produtos so chamados correntemente de classificao,
indexao, condensao e anlise. Como elas apresentam caractersticas
comuns, pode-se consider-las como partes de um todo.
Um mesmo documento pode ser objeto de diversas descries de
contedo como a atribuio de um nmero de classificao, a sua
indexao por uma dezena de termos e o seu resumo. Estas operaes so
sucessivas e interdependentes, e utilizam os mesmos procedimentos
intelectuais.
A descrio de contedo situa-se em trs momentos da cadeia docu
mental: no momento da produo do documento primrio (este o caso do
resumo feito pelo autor e da indexao encomendada pelo editor), antes
do armazenamento da informao, isto , no meio da cadeia documental,
e no momento da pesquisa da informao e da explorao das respostas
(verificao e avaliao das informaes recuperadas), isto , no final da
cadeia documental).
Objetivos
A descrio de contedo tem os seguintes objetivos:
conhecer o contedo dos documentos para informar os usurios:
operar, se necessrio, escolhas que levem a eliminar ou a conservar
um documento, determinar a sua forma e o seu nvel de tratamento, e
estabelecer categorias para o armazenamento dos documentos:
A descrio de contedo
- armazenar materialmente os documentos; e
armazenar para recuperar facilmente os documentos, isto ,
introduzir as referncias dos documentos sob as rubricas apropriadas nos
fichrios correspondentes.
Quadro 2 .Objetivos e utilizao da descrio de contedo
Conhecer Escolher
Informaes
Armazenar
Documentos
Armazenar
No momento da
produo sim sim no sim
No meio da cadeia sim sim sim sim
Na sada da cadeia sim sim no sim
A descrio de contedo das perguntas objetiva precisar seu campo;
explicitar e classificar os assuntos; exprimi-los em termos precisos e no
ambguos; e traduzir os termos com as palavras mais apropriadas da
linguagem documental, se for o caso.
A descrio de contedo feita porque o documento original muito
volumoso para ser utilizado da forma que se apresenta, porque o autor e
o usurio no utilizam forosamente o mesmo vocabulrio no mesmo
sentido, e porque a coincidncia entre a formulao das perguntas dos
usurios e a representao de contedo dos documentos indispensvel
para que um sistema funcione corretamente.
Ela deve ser efetuada detalhadamente, em funo da utilizao do
documento. O objetivo no dar a conhecer o documento, mas permitir
a utilizao das informaes que ele contem baseadas nas necessidades
dos usurios, no assunto tratado, nos meios da unidade de informao,
nos produtos e servios fornecidos, e na relao custo-eficcia.
- As necessidades dos usurios^ Conforme sua qualificao, sua
especialidade e o trabalho para o qual solicita informaes, cada usurio
demanda servios diferentes, que correspondem a uma gama de produtos
particulares, resultantes de um tratamento especfico. Se, por exemplo, o
solicitante deseja uma informao rpida que o ponha ao corrente da
atualidade, a descrio deve ser breve, muito seletiva e organizada em um
boletim de informaes com vida curta. Mas, se os usurios so
pesquisadores que solicitam informaes mais aprofundadas, a descrio
deve ser muito detalhada e completa.
- O assunto tratado. Os especialistas de cada assunto recorrem a
inmeros documentos, de suportes materiais e de representaes bem
diversificadas, como os mapas, os grficos, os quadros, as estatsticas e
os smbolos. Eles utilizam um vocabulrio e conceitos mais ou menos
A descrio de contedo
elaborados e especficos. Os usurios tm atividades e demandas de
informao mais ou menos extensas e variadas. Todos estes fatores
implicam tratamentos diferenciados.
- Os meios humanos e materiais e a organizao da unidade de
informao. Estes fatores influenciam igualmente na forma de tratamento.
Um mesmo conjunto de documentos no ser tratado igualmente se for
destinado a ser explorado por computador e analisado por uma equipe
especializada ou se for analisado por um ou dois documentalistas
polivalentes.
- Os produtos e servios que a unidade de informao deve fornecer
demandam operaes de complexidade varivel. Uma informao dada
por telefone em um servio do tipo pergunta e resposta, uma bibliografia
sinaltica onde cada documento classificado em uma grande rubrica,
um ndice de assuntos que remete a uma ficha de anlise ou a um resumo
crtico so produtos diversos que requerem tratamentos diferenciados e
um acesso informao de rapidez e de preciso variadas, conforme o
caso.
- A relao custo-eficcia. Como os recursos disponveis so sempre
limitados, necessrio utiliz-los da melhor forma possvel para satisfazer
o mximo de solicitaes. Se uma indexao de dez documentos com dez
descritores custa US$ 200 , por exemplo, enquanto que uma indexao
com vinte descritores custa US$ 200 a mais, pode ser mais til tratar 20
documentos no primeiro nvel (com dez descritores) do que fazer uma
indexao mais aprofundada, que talvez sirva a poucos usurios.
As operaes de descrio de contedo remetem elaborao de
diversos produtos que podem eventualmente ser combinados entre si.
medida que as tcnicas de informao se desenvolveram, estes produtos
receberam nomes especficos nos diferentes tipos de unidades de
informao.
Atualmente, distinguem-se as diversas descries de contedo em
funo de quatro fatores: do nmero de termos ou de smbolos utilizados:
da preciso ou da especificidade destes termos ou smbolos: da organizao
destes termos ou smbolos entre si: e do nmero de documentos primrios
descritos ou aos quais se faz referncia.
A seguir so identificados os produtos utilizados mais freqentemente,
que correspondem a descries de documentos primrios mais ou menos
desenvolvidas:
a classificao, que consiste em atribuir um descritor simblico,
representado, na maioria das vezes, por um nmero;
- a indexao, que consiste em atribuir um ou vrios descritores, que
podem ter ligaes hierrquicas entre si;
o resumo (tambm chamado de condensao), que condensa o
contedo do documento em uma lngua natural; e
a extrao de dados, isto , de elementos materiais diretamente
A descrio de contedo
utilizveis, muitas vezes representados ou relacionados a nmeros;
Existem tambm descries de contedo que se referem a vrios
documentos ligados uns aos outros de forma a dar uma viso de conjunto
de um assunto determinado, como os estados-da-arte e as snteses
peridicas.
Cada um destes produtos pode obedecer a regras de apresentao mais
ou menos rigorosas (um resumo, por exemplo, pode ser longo, curto,
indicativo, analtico ou crtico). Uma indexao pode consistir de uma
simples justaposio de descritores ou de uma formulao de frases nas
quais os descritores so interligados por uma gramtica especial.
Um mesmo documento pode tambm receber vrios tipos de descrio
de contedo em um determinado sistema. Pode-se, por exemplo, classific-
lo, index-lo, resumi-lo e proceder o levantamento de alguns dados.
Adescrio de contedo obedece a um procedimento fundamental, seja
qual for a complexidade do texto a ser tratado e do produto a ser obtido.
Um documento de mil palavras pode ser descrito por uma, por dez, cem,
ou at por mil palavras, se se abstrair a preciso e a estrutura lgica do
vocabulrio utilizado para descrever o seu contedo. Entretanto, em
qualquer um dos casos, as operaes necessrias para fazer a descrio
de contedo so da mesma natureza.
Procedimento fundamental
O procedimento fundamental obedece os seguintes princpios (ver
figura 4):
- lembrar os objetivos. Antes de tudo necessrio lembrar em que
estgio do tratamento encontra-se a descrio de contedo, onde se quer
chegar, que produto se quer fabricar e qual a utilidade do
produto final;
tomar conhecimento do documento. Examin-lo sumariamente no
seu conjunto, a partir das suas caractersticas aparentes como
titulo, data, autor, natureza e forma;
caracteri/.ar ou determinar o tipo de documento em funo das suas
caractersticas;
determinar a forma e o nvel de tratamento em funo do valor do
documento e das regras estabelecidas pelo sistema;
extrair os termos significativos;
- verificar a pertinncia dos termos extrados, isto , assegurar-se de
que eles exprimem bem o contedo real do documento fora do seu
contexto;
traduzir os termos extrados em termos da linguagem documental
utilizada pelo sistema. Se se trata de um resumo em linguagem natural,
escolhem-se os termos equivalentes mais explcitos ou mais apropriados;
verificar a pertinncia dos termos escolhidos. Assegurar-se de que
A descrio de contedo
L
Descrio dc
contedo dc nvel
correspondente
Passar a u m \ Sim
segundo nvel
de descrio^
1igura 4. IVoccdimcnio fundamcnlal da d es cr i o dc conic do
A descrio de contedo
os termos representam bem o contedo real do documento e que no
acrescentaram ou no retiraram nenhuma informao;
- formalizar a descrio. Conforme o caso, aplicam-se as regras de
apresentao, redige-se a descrio, ou transcrevem-se os cdigos ou
smbolos que representam os termos escolhidos.
A descrio de contedo um processo contnuo. Isto significa que se
quer obter um nico produto que comporta vrios nveis de descrio.
Para uma indexao com trs sries de descritores cada vez mais precisos,
por exemplo, o procedimento fundamental ser aplicado para cada nvel.
Da mesma forma, o procedimento fundamental ser aplicado cada vez
que se quiser realizar um tipo de descrio de contedo, como, por
exemplo, uma classificao, uma indexao com dois nveis e um resumo
com quatrocentas palavras. Cada vez que se faz uma descrio mais
aprofundada deve-se levar em conta os resultados da etapa precedente
(ver figura 5).
medida que a descrio mais aprofundada, a complexidade dos
fatores que influenciam o processo (como objetivos, limitaes do sistema,
preciso do discurso e coerncia entre os nveis) aumenta. Algumas vezes,
entretanto, isto no ocorre.
O tipo de documento primrio a ser descrito influencia a rapidez e a
facilidade destas operaes.
A materialidade do documento influencia em primeiro lugar. A percepo
das imagens mais ambgua do que a compreenso de uma frase escrita
para a qual se dispe de meios de controle imediatos, como o dicionrio.
A natureza do documento exerce tambm uma grande influncia. Um
documento de divulgao, por exemplo, ser mais acessvel do que um
texto tcnico ou do que uma patente.
Alguns tipos de documentos (como os anurios estatsticos, as patentes
e os relatrios de experincias) apresentam quase sempre os mesmos
elementos, muitas vezes em uma ordem fixa, o que no acontece com
outros, como os ensaios e os artigos de peridicos.
No momento em que o indexador toma conhecimento do documento
que ir descrever, deve evitar ser influenciado pela forma como o assunto
apresentado ou por suas reaes pessoais. Na anlise dos documentos
audiovisuais esta influncia mais difcil de ser evitada.
Existem diversas tcnicas de apreenso de um texto, de um objeto ou
de uma imagem, mais ou menos formalizadas e que permitem realizar a
descrio de um documento de forma rpida e sistemtica, como o mtodo
de leitura rpida. Entretanto, a prtica que permite dominar a tcnica
de descrio de contedo.
Assim ([iie definido o que deve ser conservado do documento, e o nvel
de profundidade da anlise (quatro primeiros estgios do procedimento
fundamental), escolhe-se o mtodo mais adaptado, isto , determina-se o
nmero de passagens sucessivas do procedimento fundamental e o
A descrio de contedo
contedo que deve ser revisto a cada passagem (por exemplo, o conjunto
do documento de forma superficial para identificar uma noo; e o de
forma mais detalhada para identificar X noes) e uma parte estabelecida
do documento para identificar um objeto). Defini-se tambm as tcnicas
de leitura, de escuta ou de visualizao mais apropriadas.
A descrio de contedo consiste finalmente em identificar um nmero
reduzido de elementos em um conjunto muitas vezes extenso.
Comea-se por buscar os elementos mais gerais como, por exemplo, a
disciplina, o assunto principal, depois os elementos mais especficos e
assim por diante.
Todo documento comporia algumas partes lgicas ou seqncias
cronolgicas que so, em geral, identificadas fisicamente e distintas.
Estes elementos ajudam a identificar o contedo.
Geralmente todo documento inicia por uma rea de identificao,
rumo a pgina de rosto de um livro, onde encontram-se as informaes
mais importantes (como autor, ttulo, subttulo e data), que permitem dar
B
I
B
L
I
O
T
E
A descrio de contedo
uma idia da natureza e do assunto da obra.
Muitas vezes o documento possui um sumrio, um resumo do autor,
um prefcio ou uma introduo, que descrevem o contedo de forma
condensada.
Pode-se tomar como base a prpria estrutura do documento, como os
captulos, as sees, os ttulos dos captulos, as ilustraes, as notas e a
bibliografia, para identificar os assuntos e a natureza do seu tratamento.
Geralmente estas partes aparecem no documento de forma destacada
(entre espaos, com tipos especiais ou numeradas).
Se a descrio de contedo for detalhada, ou se for difcil determinar o
assunto do documento, necessrio examin-lo minuciosamente.
Existem trs pontos de vista comuns a todas as operaes de descrio
de contedo:
- o autor trata o assunto em funo dos seus objetivos e finalidades
e das suas concepes pessoais:
- os usurios consideram o produto fornecido pelo autor em funo
de suas preocupaes prprias e das suas necessidades de informao
que esto em constante mutao e so heterogneas e que,alm disso, no
coincidem necessariamente com as do autor;
- o sistema deve responder, durante um tempo bastante longo, s
necessidades de uma variedade de usurios que no so iguais e tm
nveis distintos de exigncia.
necessrio chegar a um compromisso entre todas estas variveis
graas a um mtodo rigoroso, a regras de descrio de contedo e
utilizao de uma linguagem documental.
A descrio de contedo deve ter as seguintes caractersticas:
- pertinncia. A descrio deve representar o documento to
completamente quanto possvel, no somente em funo de sua
materialidade, mas tambm em funo dos objetivos do sistema, isto ,
das necessidades dos usurios;
preciso. Para satisfazer pertinncia necessrio ser muito
preciso ou o menos ambguo possvel. Numa primeira anlise, o contedo
ser descrito com os termos mais precisos possveis representados. Se for
necessrio fazer a descrio com termos mais gerais, estes sero
acrescentados no final do procedimento;
consistncia. Existe no sistema uma pluralidade de autores e de
usurios. A descrio feita por vrias pessoas e as informaes devem
ser exploradas por tanto tempo quanto for necessrio. Por esta razo, a
descrio deve ser feita da forma mais estvel e homognea possvel, isto
, as mesmas noes e objetos devem ser expressos pelas pessoas que
realizam a anlise do contedo, sempre da mesma forma;
necessrio tambm poder identificar e realizar as modificaes
que se fizerem necessrias aps as descries sem que elas
provoquem ruptura no conjunto da descrio:
A descrio de contedo
- o julgamento. Este um critrio de qualidade delicado. Por outro
lado, necessrio que a descrio seja objetiva ou neutra, isto , que no
sejam introduzidos, involuntria ou deliberadamente, elementos que no
figuram no documento original, escolhidos por meio apreciaes e
julgamentos de ordem pessoal. Ao mesmo tempo necessrio exercer seu
julgamento para reconhecer a validade da$ informaes, de forma a
extrair as que so teis ao sistema;
- a descrio de contedo deve ser concisa, clara e de fcil acesso.
As pessoas que fazem a descrio de contedo podem ser, em primeiro
lugar, os prprios autores, quando fazem um resumo e um ndice de sua
obra. Podem ser tambm especialistas que trabalham para os editores,
particularmente para fazer ndices de livros. Entretanto, na maioria dos
casos, este trabalho realizado pelos tcnicos de informao. Estes
tcnicos podem ser contratados especialmente para esta tarefa, como os
analistas de um boletim sinaltico ou trabalhar em tempo integral como
indexadores de um centro de documentao. Mas a unidade de informao
pode recorrer a especialistas do assunto tratado para fazer a descrio de
contedo no todo ou em parte. Todos os que realizam esta tarefa devem
ter um esprito preciso, ordenado e sistemtico, ter bom julgamento, rigor
intelectual e uma boa capacidade de anlise.
Modalidades de descrio de contedo
A descrio de contedo utiliza alguns instrumentos e mtodos de
organizao que facilitam o trabalho. Entre eles, destacam-se os formulrios
de descrio, isto , folhas preparadas com o objetivo de registrar os
elementos descritivos. Na falta destes formulrios, pode-se elaborar uma
lista ordenada destes elementos. Nos sistemas informatizados, a descrio
de contedo feita diretamente no computador, eliminando desta forma
os formulrios impressos.
Em muitas unidades de informao, organizam-se manuais ou guias
que descrevem as dificuldades principais, os casos mais correntes, as
regras a observar e os exemplos e solues convenientes nos vrios casos.
Se a descrio for muito detalhada ou se a natureza dos documentos
primrios exigir, as unidades de informao utilizam esquemas de anlise
que indicam todos os elementos que devem figurar em uma ordem
predeterminada. Este o caso dos filmes.
O computador contribui cada vez mais neste processo. Existem em
funcionamento diversos mtodos de indexao assistida por computador:
o mlodo Kwic, o mtodo estatstico (por freqncia de termos), o mtodo
sinttico (pela anlise gramatical) e o mtodo por atribuio (por comparao
com um tesauro prestabelecida). J existem programas que fazem a
anlise automtica do texto, permitindo a leitura do texto integral, a
A descrio de contedo
elaborao do resumo e a indexao. As pesquisas em inteligncia
artificial e os sistemas especialistas trabalham neste sentido (ver o
captulo A unidade de informao e as novas tecnologias).
O computador utilizado para manipular a linguagem documental e
facilitar desta forma a traduo dos termos extrados do documento
original, para completar esta descrio, relacionando os termos escolhidos
com outros, e para traduzir as descries de uma lngua a outra, quando
for o caso.
A apresentao dos produtos da descrio de contedo difere de acordo
com sua forma, que pode ser impressa ou legvel por mquina.
A descrio em forma impressa pode ser includa no documento
primrio (sob a forma de resumo do autor, do ndice de uma obra ou de um
peridico, por exemplo) ou reunida para constituir uma publicao
secundria que pode ter vrias formas (bibliografia corrente ou boletim de
informao). Os produtos da descrio podem ser impressos em fichas de
formatos variados e introduzidos em fichrios.
A descrio de contedo em forma legvel por mquina pode apresentar-
se em diversos suportes (magnticos ou ticos). Estes suportes podem ser
explorados nesta forma, ou permitir a construo de arquivos, em fita
magntica, que so explorados diretamente pelo computador por meio de
leitura no terminal ou de impressora. Estes suportes podem servir ainda
para a produo de boletins e de ndices compostos automaticamente.
Estas apresentaes respondem a vrios tipos de necessidades de
explorao ou de difuso da informao. As descries de contedo
variam de acordo com o tipo de produto que se quer obter.
Questionrio de verificao
A descrio de contedo intervm apenas no meio da cadeia
documental?
Para fazer a descrio de contedo necessrio comear pela leitura
detalhada da totalidade de um artigo?
A descrio de contedo pode fazer ressaltar elementos que no esto
explcitos no documento tratado?
Que tipo de pessoas podem participar da descrio de contedo?
As operaes intelectuais necessrias para realizar os diversos tipos de
descrio de contedo so de natureza diversa?
Quais so as qualidades de uma boa descrio de contedo?
Quais so os objetivos da descrio de contedo?
130
A descrio de contedo
Bibliografia
BELLENGER, L. Les mthodes de lecture. Paris, PUF, 1983. ( Que sais-je
?. n 107.)
LOUSTALET, C. Association Mediadoc. Dcrire !audio-visual. Manuel
mthodologique pour 1'analysedecontenudes documents audio-visuels
caractre documentaire. Paris, Centre national de documentation
pdagogique, 1988. (Coll. Guides pratiques.)
MUCCHIELLI, R. L analyse de contenu. 4 9 d. Paris, d. ESF- Entreprise
moderne d'dition, 1982.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. Documenta
tion. Mthodes pour Vanalyse des documents, la dtermination de lew
contenu et la slection des termes. Lindexation. Genve, ISO, 1985.
Ver essencialmente as bibliografias dos captulos "A indexao" e "resumo".
131
As linguagens
documentais
A linguagem documental uma linguagem convencional utilizada por
uma unidade de informao para descrever o contedo dos documentos,
com o objetivo de armazen-los e recuperar as informaes que eles
contm.
Existem inmeras variedades de linguagens documentais. Elas se
diversificam de acordo com sua riqueza, seu tamanho, sua organizao e
sua forma de utilizao. Historicamente, as unidades de informao
utilizaram, durante muito tempo, as classificaes e os cabealhos de
assunto; a evoluo das tcnicas e das necessidades conduziu criao
de novos tipos de linguagens, que so, em geral, opostas s primeiras.
Todas as linguagens documentais, sejam elas classificaes, cabealhos
de assunto, palavras-chave, listas de descritores, tesauros, ou lxicos
pertencem mesma famlia, tm o mesmo objetivo e apresentam vrios
caracteres comuns. A linguagem documental utilizada no momento do
tratamento intelectual dos documentos, isto , no momento das operaes
de entrada no subsistema de armazenamento e de pesquisa da informao
e no momento das operaes de sada e de difuso da informao. Os
estudos sobre linguagens documentais privilegiam seus aspectos
lingsticos. Entretanto, estas linguagens so instrumentos destinados
realizao de operaes precisas, em condies precisas, para responder
a necessidades precisas; estas limitaes funcionais so essenciais e to
ou mais importantes que as consideraes lingsticas.
As linguagens naturais
As linguagens naturais, isto , as linguagens faladas, apresentam
caractersticas que dificultam sua utilizao para o tratamento da
informao. Elas so em numerosas e tm, cada uma, grande quantidade
As linguagens documentais
de termos, o que dificultaria o manuseio dos arquivos.
As linguagens naturais so adaptadas a formas de comu nicao oral ou
escrita, nas quais se estabelece entre os interlocutores uma forma de
dilogo. O tempo e o espao tm um papel importante neste dilogo. A
linguagem natural pressupe nuances, associaes de idias, expresso
de emoes e de valores.
A busca de informaes em um fichrio ou a sua difuso em um produto
documental so formas de comunicao completamente distintas. Para
serem recuperadas de forma rpida e segura, as informaes devem ser
expressas no menor espao possvel e de forma no ambgua. As linguagens
documentais fazem uma condensao e uma simplificao da linguagem
natural ( por esta razo que se fala de linguagens ou de vocabulrios
controlados) e retm apenas uma parte das palavras e poucas regras
gramaticais. Elas devem preservar, da melhor forma possvel, a riqueza da
informao original em seu contedo e suas possibilidades de associao.
Elas devem ser ainda de fcil manuseio, tanto pelos especialistas das
unidades de informao quanto pelos usurios. Esta ltima exigncia as
orienta, em um sentido inverso, a um vocabulrio mais extenso e a uma
estrutura mais diversificada.
O tratamento da informao em linguagem natural possvel, dentro
de certos limites, sobretudo graas utilizao da informtica que reduz
o tempo de pesquisa a propores aceitveis. Os sistemas de informao
que empregam a linguagem natural utilizam as descries fornecidas
pelos autores como os ttulos, os resumos, os extratos do texto ou o texto
integral que so registradas e depois comparadas com as perguntas feitas
ao sistema. Isto pressupe que a linguagem natural utilizada seja bastante
precisa, como as linguagens tcnicas e cientficas. Entretanto, esta
preciso , muitas vezes, aparente e inexistente. Este o caso da
linguagem das cincias sociais, por exemplo. preciso que os usurios
conheam todas as expresses utilizadas para traduzir as informaes
que eles buscam. Se isto no acontece, deve-se utilizar, no momento da
interrogao, uma certa forma de linguagem documental que d aos
usurios os termos equivalentes aos escolhidos para formular sua pergunta.
Estes sistemas recorrem tambm a equivalentes lgicos que permitem
selecionar apenas os termos associados a outros que se encontram nos
registros de informao. Na prtica, muitas vezes, necessrio utilizar
dicionrios de acesso ou linguagens documentais para a interrogao.
Nem todas as palavras que compem a linguagem natural possuen: o
mesmo valor -informativo. Pode-se encontrar na linguagem natural
substantivos, adjetivos, verbos, conjunes e advrbios que precisam os
substantivos ou os relacionam entre si.
Estes diversos tipos de palavras evoluem de forma prpria. Alguns so
muito freqentes e tm pouco valor informativo; outros so conceitos
bsicos em um campo do conhecimento e podem aplicar-se a qualquer
informao (por exemplo, cada ano, milhares de documentos so escritos
As linguagens documentais
sobre agricultura e o termo agricultura no tem nenhuma utilidade em um
centro de informao agrcola). A linguagem documental deve adotar um
tratamento particular para cada tipo de palavra em funo de suas
caractersticas.
A gramtica permite associar as palavras entre si, de acordo com regras
precisas, de forma a expressar as idias ou os fatos. Ela traduz-se por uma
transformao de algumas palavras, como sufixos, que indicam o plural,
a pessoa e o tempo dos verbos. A gramtica modifica a informao das
palavras isoladas traduzindo situaes, pontos de vista, causas e
conseqncias e circunstncias de tempo e de lugar, que so informaes
especificas.
As relaes entre as palavras da linguagem natural existem de forma
implcita e as necessidades documentais tentam torn-las explcitas.
Desta forma pode-se distinguir os seguintes tipos de relaes:
as relaes hierrquicas definem que um termo designa um objeto
ou um fenmeno particular, que pertence a um determinado conjunto.
Este conjunto representado por um termo diferente. Por exemplo, as
palavras barco, avio e carro designam cada uma um meio de transporte
particular: o co pastor um tipo particular de co, que um tipo
particular de mamfero, que , por sua vez, um tipo particular de animal.
Estas so relaes do tipo gnero/espcie. Existem ainda relaes
hierrquicas do tipo todo/parte como, por exemplo, corpo humano, brao,
mo e dedo:
algumas palavras podem pertencer a vrios conjuntos. Desta
forma, uma cadeira moderna de metal um tipo particular de mvel, um
tipo particular de objeto de metal e um tipo particular de estilo. Isto
conhecido como polihierarquia;
- algumas palavras so derivadas da mesma palavra ou do mesmo
radical e podem ter uma relao hierrquica ou uma relao de vizinhana,
se designam objetos que pertencem a grupos diferentes, como, por
exemplo: carbono, cido carbnico, carbono 14, composto carbnico, ou
ainda uria, uremia, uretra, urologia;
algumas palavras tm uma relao de equivalncia chamada de
sinonmia, como, por exemplo, um termo antigo (aeroplano) e um termo
novo (avio), um termo vulgar (aspirina) e um termo cientfico (cido
saliclico), um termo geral (felino) e termos locais (pantera, jaguar) e ainda
termos que tm praticamente o mesmo significado como assassinato e
homicdio. Esta equivalncia algumas vezes aproximativa. Na realidade,
os conceitos so distintos, mas so considerados no contexto ou no grupo
como sinnimos, como, por exemplo, gentica e hereditariedade, jornalista
e reprter. Estes so os quase-sinnimos;
- algumas palavras exprimem conceitos ou objetos contrrios, como,
por exemplo, riqueza e pobreza, orgnico e mineral. Esta uma relao de
antonmia;
As linguagens documentais
um grande nmero de palavras tem a mesma forma, mas significados
diferentes. a polissemia. A palavra maternidade, por exemplo, pode ser
um estado, um ato, um prdio, ou um servio hospitalar. Algumas vezes,
o mesmo termo utilizado em diferentes disciplinas com um significado
particular, como, por exemplo, a palavra atrao, que pode ser um
fenmeno fisico, um fenmeno psicolgico, ou um espetculo;
algumas palavras tm relaes de vizinhana; isto significa que elas
remetem a objetos ou a fenmenos que podem ter, sob um certo ponto de
vista, relaes comuns, como, por exemplo - esporte, educao, sade
pblica e lazer;
as palavras tm tambm um significado e um valor prprios, de
acordo com o meio ou a atividade e de acordo com o perodo. Por exemplo,
a expresso despesas de lazer no tem sentido em uma sociedade
tradicional, mesmo que possa ser compreendida lingisticamente. A
sismologia, um ramo das cincias da terra, que tem pouca importncia
em um pas onde no acontecem tremores de terra. O termo caridade
no tem o mesmo sentido em uma sociedade ocidental e na sociedade
islmica; o termo janela no tem a mesma importncia para o arquiteto,
o decorador ou o marceneiro. O termo bacharel teve seu sentido modificado
com o passar do tempo;
As linguagens documentais devem considerar estas relaes, estes
diferentes valores e eliminar as ambigidades que reduzem normalmente
o contexto e o dilogo na comunicao em linguagem natural. As condies
da comunicao em linguagem documental so diferentes. Neste contexto,
cada palavra considerada por ela mesma.
As linguagens documentais
Os elementos que constituem uma linguagem documental so os
seguintes:
as palavras que descrevem as informaes ou descritores. So
extrados da linguagem natural e reduzidos a uma forma gramatical nica
e invarivel (geralmente o substantivo singular). Podem ser simples ou
compostos. Algumas palavras destinam-se a precisar o sentido de
outros descritores e no podem ser empregadas isoladamente: so os
qualificadores;
- as palavras da linguagem natural relacionadas ao descritor
correspondente por meio de uma remissiva. Estas palavras controladas"
pela linguagem documental no podem ser utilizadas para descrever as
informaes. So chamadas de no-descritores;
as relaes entre os descritores: relaes hierrquicas, de
equivalncia ou de vizinhana. Elas permitem reagrupar as noes sob um
nico termo, aumentar, ou, ao contrrio, precisar uma pesquisa. Estas
relaes so assinaladas por cdigos e normalizadas. Estes cdigos so
descritos no quadro 3.
As linguagens documentais
Quado 3. Cdigos utilizados para a simbolizao das relaes de um
tesauro
Francs Ingls Smbolos
Internacionais
Relaes hierrquicas
Termo genrico TG BT <
Termo especfico TS NT >
Relaes preferenciais
Utilizar (para um termo da
linguagem natural que est
relacionado a um descritor EM US
Utilizado (para indicar
as palavras da linguagem
natural relacionadas a um
determinado descritor) EP UF
Relaes de associao
(para indicar descritores
vizinhos) TA RT -
As relaes so geralmente recprocas, por exemplo:
desenho
usado por Croquis
TG Artes grficas
TE Desenho tcnico
Croquis
USE Desenho
- As relaes entre os descritores, resultantes de seu agrupamento
lgico em conjuntos e subconjuntos mais ou menos numerosos e
diversificados como, por exemplo, as classes principais, as classes e
subclasses das classificaes, os campos e os grupos das linguagens
combinatrias. Estes conjuntos reagrupam os descritores que dependem
de uma mesma linha hierrquica ou que pertencem a um mesmo tema
definido para as necessidades da linguagem;
notaes numricas (100,101,110.etc), alfanumricos
(A10,B15,etc.), alfabticas (AAA, CHA.etc.), simblicas (com sinais de
pontuao), ou sob a forma de slabas que permitem identificar os
descritores de forma reduzida para que eles possam figurar nas referncias
bibliogrficas e nos catlogos;
As linguagens documentais
notas gerais ou notas de escopo, para certos grupos particulares de
descritores que precisam o sentido no qual aquele descritor deve ser
empregado, eventualmente os outros termos que devem ser utilizados, e
ainda os termos da linguagem natural a ele relacionados. Estas notas
podem ser uma espcie de definio. Elas so utilizadas cada vez que
existe possibilidade de confuso com relao ao significado ou utilizao
prevista para um descritor. Por exemplo, o descritor construo poder
ser acompanhado da nota seguinte: empregar apenas para a descrio
dos elementos da construo, como muros, fundaes, e telhados. Para
um programa de construo e para a sua utilizao, empregar o termo
especfico construo de casa, construo industrial";
elementos de sintaxe, para a ordem de apresentao dos descritores
ou para a utilizao das palavras ou dos sinais que permitam relacion-
los ou indicar seu papel (ver o tpico referente s linguagens com sintaxe"
deste captulo). Estes elementos podem ser explicitados por uma gramtica
limitada, por exemplo, sob a forma de um pequeno nmero de frases-tipo
que representem todas as associaes possveis entre as palavras da
linguagem natural de forma a expressar as noes teis no sistema
documental;
grficos que mostram os descritores e suas relaes.
Apenas a lista de descritores aparece sempre em uma linguagem
documental. Os outros elementos aparecem em funo das necessidades
e do tipo de linguagem.
A apresentao das linguagens documentais pode ser feita sob a forma
de documentos impressos ou de listas legveis por mquina; nos sistemas
informatizados estas duas formas coexistem. Ela pode comportar:
- uma introduo com explicaes sobre o contedo, a organizao,
as noes empregadas e a forma de utilizar a linguagem;
- uma lista de descritores. Esta lista pode ser alfabtica ou sistemtica
(por conjuntos e subconjuntos). Nos dois casos, estas listas podem trazer
ou no, as relaes eventuais entre os descritores. Se estas relaes
existem, elas devem figurar ao menos em uma das listas. Geralmente, as
linguagens documentais so apresentadas em duas formas: a lista alfabtica
que serve para verificar a existncia de um descritor e a lista sistemtica
que serve para verificar seu sentido ou seu valor em funo da categoria
a que pertence. O descritor carneiro poder, por exemplo, figurar no
conjunto Zoologia", com a descrio de todos os animais, mas um
documento que trate do aumento de uma tropa de carneiros dever ser
definido sob o descritor ovinos", que se encontra no conjunto Produo
animal" (ver figura 6);
- as listas de descritores desenvolvidas em mquina, podem dar, para
cada descritor, o nmero de referncias bibliogrficas onde ele citado. O
computador permite tambm a elaborao de listas alfabtico-permutadas,
isto , listas onde todos os termos idnticos aos descritores compostos por
vrias palavras aparecem em seu lugar na ordem alfabtica;
As linguagens documentais
apresentaes grficas, que mostram as relaes entre os termos
com base na lista sistemtica. Elas facilitam a percepo da linguagem
documental e por esta razo deveriam aparecer em todas as linguagens.
Elas podem ter a forma de crculos concntricos onde os descritores so
agrupados em segmentos ou em grficos. Os descritores podem ainda ser
ligados por flechas (esquema flechado), ou apresentados em grficos em
forma de rvore, ou em outras formas de grficos. Estas apresentaes
podem mostrar apenas um pequeno nmero de descritores de cada vez
(ver ilustrao no final do captulo). As listas e as representaes grficas
utilizam muitas vezes sinais convencionais ou caracteres tipogrficos
diferentes para indicar os diferentes tipos de descritores (nomes prprios,
nomes geogrficos, taxionomias). As linguagens que controlam um grande
nmero de termos da linguagem natural relacionadas a descritores podem
apresentar estes termos em uma lista especial, chamada de dicionrio de
acesso.
As linguagens documentais so diferenciadas umas das outras, em
funo de diversos critrios: o princpio de classificao ou de construo,
a extenso do campo do conhecimento coberto, os tipos de palavras
empregadas, os tipos de relaes entre as palavras, o tipo de arranjo, o
nmero de lnguas naturais controladas e o tipo de utilizao. O princpio
de classificao pode ser uma hierarquia sistemtica concebida a prior
como nas classificaes, ou a freqncia e o uso como nas listas de
cabealhos de assunto, nas listas de descritores, ou nas listas de autoridade,
ou ainda em funo de um ou de vrios pontos de vista como nas
linguagens facetadas.
O campo coberto pode ser o conjunto de conhecimentos, como nas
linguagens enciclopdicas, uma disciplina ou partes de diversas disciplinas,
como nas linguagens especializadas em uma disciplina, ou com um
objetivo especifico, ou especializadas em uma parte restrita de uma
disciplina ou de um campo do conhecimento, como no caso dos
microtesauros.
Os tipos de palavras utilizadas podem ser palavras simples (unicamente
no caso da linguagem unitermo), palavras simples e compostas que o
caso mais freqente, palavras compostas na ordem da linguagem natural
ou na ordem inversa, como nas listas de cabealhos de assunto.
As relaes entre as palavras podem ser inexistentes, neste caso, todas
as palavras so equivalentes (ao menos em teoria), como nas listas de
descritores implcitas ou explcitas por notaes e/ou por um arranjo
sistemtico, ou ainda submetidas a uma gramtica, como no caso das
linguagens com sintaxe.
O tipo de arranjo pode ser sistemtico, como nas classificaes:
alfabtico, como nas listas: decimal, como nas classificaes decimais:
misto; aberto, como nas linguagens suscetveis de serem modificadas; ou
fechado, como nas linguagens fechadas.
Uma linguagem pode ser produzida em uma nica lngua natural, em
As linguagens documentais
uma lngua natural com equivalentes em uma ou em vrias lnguas com
dicionrios de acesso para outras lnguas; em duas ou em vrias lnguas
naturais, como no caso das linguagens multilngues.
Elas podem ter uma entrada nica para cada informao, ou entradas
mltiplas (este o caso das linguagens combinatrias), para descries de
contedo sumrias ou aprofundadas, ou para servir de ponte entre vrias
linguagens, como no caso das metalinguagens e dos macrotesauros.
Cada linguagem pode apresentar uma combinao particular destas
diversas frmulas a fim de melhor responder s condies de utilizao.
Na realidade, se uma linguagem documental uma representao de um
conjunto de conhecimentos e de objetos, ela , antes de tudo, um
instrumento de trabalho que deve levar em conta as necessidades dos
usurios, a estrutura e o funcionamento do sistema documental, os tipos
de servios e produtos que podero ser executados, a qualificao dos
especialistas de informao que a utilizaro e o nmero e a natureza dos
documentos a serem tratados. Quanto mais especializada for a unidade
de informao, quanto mais numerosos forem seus documentos e mais
complexos seus produtos, mais estruturada e importante dever ser a
linguagem documental. Se o pessoal pouco qualificado nos assuntos
tratados, a linguagem documental deve ser mais reduzida, mais simples
e estruturada.
As linguagens completamente hierarquizadas e pr-coordenadas, como
as classificaes, foram, durante muito tempo, consideradas como opostas
s linguagens mais recentes, sem hierarquia ou com hierarquia descontnua
e combinatria, como as listas de descritores e os tesauros. As primeiras
refletem o estado do conhecimento em um momento preciso; todas as
combinaes das noes so estabelecidas previamente e, em princpio,
pode-se traduzir apenas um aspecto ou uma dimenso das informaes.
Estas linguagens so mais difceis de serem adaptadas. As ltimas podem
ser adaptadas facilmente e permitem todas as combinaes necessrias
para descrever todos os aspectos das informaes. Mas atualmente, esta
distino pode ser escamoteada; as facetas, em particular, permitem
introduzir uma pluralidade de pontos de vista nas classificaes, enquanto
as linguagens combinatrias devem ser mais estruturadas medida que
seu volume aumenta.
A pr-coordenao e a ps-coordenao so duas modalidades opostas
de organizao das linguagens documentais.
Na primeira, os descritores so, na maioria dos casos, palavras compostas
e cobrem a totalidade de uma noo, como, por exemplo cultura irrigada
de cereais". Se a linguagem documental tem uma estrutura pr-coordenada,
este descritor poder encontrar-se no subconjunto tcnicas de irrigao".
Um documento que trata deste assunto poder ser descrito imediatamente;
mesmo que este documento trate mais sobre a produtividade de diferentes
cereais do que sobre as tcnicas de irrigao, pode-se recuper-lo entre
outros documentos que tratam deste assunto.
As linguagens documentais
Na ps-coordenao, ao contrrio, as noes so reduzidas a seus
elementos constitutivos mais simples. Neste caso pode-se ter, por exemplo,
os descritores tcnicas de culturas, tcnicas de irrigao e cereais,
que sero associados para descrever o mesmo documento. Cada descritor
pertencer a um grupo diferente, o que permitir recuperar o documento
juntamente com aqueles que tratam de cada um destes pontos de vista.
A primeira frmula mais precisa, mais rgida, e limita a recuperao
da informao. A segunda exatamente inversa. Na prtica, esta escolha
determinada pelas condies concretas de funcionamento do sistema
documental; muitas vezes as duas frmulas so associadas pela combinao
de descritores pr-coordenados para obter a maior eficcia possvel.
As classificaes so linguagens documentais nas quais os descritores
que permitem representar todos os conceitos e objetos de um campo
determinado do conhecimento so ordenados de forma sistemtica em
funo de um ou de vrios critrios materiais ou intelectuais. So,
portanto, linguagens pr-coordenadas. Fundamentam-se nas relaes
hierrquicas entre os termos, no seu conjunto ou ao nvel das diversas
classes e subclasses. Esta hierarquia existe em funo de um ponto de
vista particular em um determinado momento. O termo adultrio, por
exemplo, ser, de acordo com a poca e o lugar, um crime, um vcio ou um
comportamento social.
De acordo com sua estrutura hierarquizada, as classificaes atribuem,
em geral, a cada descritor um ndice, que pode ser formado por nmeros,
por letras ou por uma combinao de nmeros e letras. Este ndice
expressa a posio de cada descritor, isto , sua importncia relativa e o
grupo ao qual pertence. Este ndice utilizado no lugar do descritor nas
diversas operaes, por ser mais curto e de manipulao mais fcil.
Algumas classificaes chamadas de decimais utilizam numerao com
dez signos, isto , cada classe e subclasse subdividida em dez partes (por
exemplo, classes principais de 0 a 9, classes de 00 a 90, subclasses da
classe 10 de 100 a 190 etc.) Esta notao tem a vantagem de uma
estrutura simples e contnua, mas pode obrigar a divises arbitrrias.
As classificaes aplicam-se bem a um domnio do conhecimento
limitado e estvel. bastante difcil atualiz-las ou transform-las para
acompanhar as mudanas da disciplina ou da atividade em questo,
mesmo que possa ser possvel deixar espaos livres. Com exceo das
classificaes muito especializadas, elas so utilizadas, na maioria dos
casos, para descrever o assunto principal de um documento de forma
nica. Cada documento recebe um ndice de classificao ou, em alguns
casos, dois ou trs ndices.
As classificaes podem servir no apenas organizao de catlogos,
mas tambm ao armazenamento dos documentos nas estantes. So
recomendadas para as bibliotecas onde os documentos so de livre
acesso, o que permite o browsing.
As linguagens documentais
As classificaes so as linguagens documentais mais antigas. Elas so
adaptadas sobretudo ao trabalho das bibliotecas. Existem vrios tipos de
classificaes.
As classificaes universais ou enciclopdicas cobrem todos os ramos
do conhecimento. So utilizadas por bibliotecas que possuem uma grande
variedade de assuntos ou que cobrem todos os assuntos, como as
bibliotecas nacionais, universitrias ou pblicas. Elas podem ser utilizadas
pelas unidades de informao que tenham um campo de ao
multidisciplinar.
As classificaes no servem para descrever assuntos muito precisos,
porque os ndices tornam-se muito longos. Devem ser atualizadas
regularmente e este procedimento algumas vezes muito demorado. As
unidades de informao fazem, muitas vezes, suas prprias adaptaes,
o que imposibilita as comunicaes e trocas diretas. As mais conhecidas
so a Classificao de Dewey (DC) e a Classificao Decimal Universal
(CDU).
A Classificao de Dewey (DC) de autoria do bibliotecrio Melvin
Dewey. A primeira edio data de 1876 e contava com 1000 entradas. A
edio atual, a vigsima, comporta 20 mil entradas. Existem edies
completas em ingls, francs e espanhol. Atualmente est sendo feita uma
traduo para o rabe. Existem vrias tradues parciais desta obra.
uma classificao decimal que comporta dez classes principais (O
Generalidades, 1 Filosofia, 2 Religio, 3 Cincias Sociais, 4 Lingstica, 5
Cincias, 6 Tcnicas, 7 Belas Artes, 8 Literatura, 9 Histria e geografia) e
subdivises comuns de lugar e de forma. A Classificao de Dewey
atualizada pela Library of Congress dos Estados Unidos. muito utilizada
em todo o mundo.
A Classificao Decimal Universal (CDU) foi elaborada pelos advogados
belgas Pierre Otlet e Henry Lafontaine a partir de 1895. Tem como base a
Classificao de Dewey e atualizada pela Federao Internacional da
Documentao (FID). Existem vrias edies completas, abreviadas e
especializadas (para a educao, ou para a meteorologia, por exemplo) em
vrias lnguas. Ela utilizada sobretudo na Europa. A FID publica
regularmente adies e correes que so realizadas por comits
especializados (ver as ilustraes no final do captulo).
A CDU retoma as classes da DC, mas as classes 4 (Lingstica) e 8
(Literatura) foram fundidas. A classe 4 encontra-se atualmente vazia. Esta
classificao tem trs categorias de ndices. Os ndices principais, que
dizem respeito aos conceitos e aos objetos esto disseminados entre as dez
classes de tabelas principais. As divises analticas referem-se a
caractersticas gerais e so aplicveis a todos os ndices principais ou s
subdivises. Figuram nas tabelas principais imediatamente depois do
ndice a que se referem (por exemplo: 636 Criao de gado, 636.084
Alimentao do gado). As divises comuns so as caractersticas de
As linguagens documentais
lngua, de forma, de populao, de tempo e de ponto de vista que podem
aplicar-se a qualquer um dos ndices principais. Alm disso, a CDU
recorre a sinais de pontuao para distinguir diversos tipos de ndices.
Desta forma, possvel combinar vrios ndices utilizando sinais de
relao (por exemplo, a relao geral traduz-se por (dois pontos); a
adio, pelo sinal + (sinal de mais); a extenso pela /" (barra oblqua).
Embora a CDU permita descrever, desta forma, assuntos complexos com
preciso, ela permanece sendo uma classificao hierarquizada e
enumerativa - como todas as classificaes - o que impossibilita, de certa
forma, as relaes entre os diversos assuntos.
As classificaes facetadas ordenam os conceitos e objetos em classes,
mas so multidimensionais, isto , so ordenadas no interior de cada
classe em funo de diversos pontos de vista. Os prdios, por exemplo,
podem pertencer classe principal das tcnicas e sero considerados em
funo dos materiais, como madeira, terra, tijolo e pedra; em funo da
sua utilizao, como para habitao, indstria, comrcio e servios; em
funo da sua altura (um, dois ou trs andares), de sua localizao (na
cidade ou no campo) e assim por diante.
Geralmente, as classificaes facetadas no enumeram todos os assuntos
possveis, mas somente os que so teis, classificados por facetas. As
facetas podem servir de guia para uma eventual extenso. Elas permitem
descrever com preciso assuntos complexos. Podem ser uniformes ou
adaptadas a cada categoria de assuntos.
Este sistema de classificao foi desenvolvido pelo bibliotecrio indiano
Shiyali Ramanrita Ranganathan, a partir dos trabalhos da American
Bliss. Ranganathan produziu, em 1933, uma classificao universal, a
Colon Classification (CC), baseada no princpio das facetas. Nesta
classificao as facetas tm cinco categorias fundamentais: personalidade,
matria, energia, lugar e tempo, que aparecem sempre na mesma ordem.
Ela utiliza uma notao complexa e relaes sintxicas para indicar as
relaes entre dois ndices, como, por exemplo, W og U: influncia da
geografia (U) sobre a cincia politica (W), onde (o) representa a relao
geral e (g) a natureza desta relao: relao de influncia. A notao
bastante complicada, mas trata-se de uma linguagem muito elaborada,
que permite uma descrio completa da informao. A Colon Classifica
tion bem menos utilizada que as outras classificaes universais, mas
este trabalho exerceu uma grande influncia nos estudos da rea. O
princpio das facetas muito utilizado em vrias linguagens documentais,
tanto em classificaes como em tesauros (ver as ilustraes no final deste
captulo).
As classificaes especializadas so elaboradas para responder s
necessidades de uma unidade de informao em especial, ou a categorias
de unidades que trabalham em um mesmo ramo do conhecimento. Estas
classificaes variam conforme sua extenso, seu princpio de elaborao.
As linguagens documentais
seu tipo de organizao e seu sistema de notao. Correspondem s
necessidades especificas das unidades de informao que as utilizam e
podem ser facilmente atualizadas. Esta vantagem , entretanto, minimizada
pela grande dificuldade de comunicao que originam (ver ilustrao no
final do captulo).
Existem classificaes especializadas facetadas, como a classificao
de educao do Institute of Education de Londres ou a da Society of
International Fumace Builders (SIFB), classificao da construo utilizada
em 23 pases. Existem classificaes especializadas prprias a uma nica
unidade e outras, como a classificao de Oxford, especializada em
florestas, que so empregadas no mundo inteiro.
As taxionomias e as listas sistemticas ou nomenclaturas so
classificaes especiais. So, ao mesmo tempo, o produto e o instrumento
da pesquisa cientfica. Os objetos so classificados em uma ordem
hierrquica, no em funo de um ponto de vista abstrato, mas em funo
de caracteres observveis organizados de forma lgica. As espcies animais
e vegetais, os minerais, as substncias qumicas, os solos e as camadas
geolgicas so objeto destas classificaes. Elas tm a vantagem de ser
muito precisas e de servir de referncia a todos os cientistas que trabalham
nestes assuntos. As unidades de informao especializadas nestes temas
devem utiliz-las como linguagem documental ou incorpor-las na
linguagem utilizada, de acordo com as necessidades e as possibilidades.
Elas so suscetveis de evoluir em funo do progresso da pesquisa na sua
rea. Deve-se utilizar as classificaes mais comumente admitidas pelos
especialistas da rea em questo.
Os cabealhos de assunto so elaborados a partir de palavras simples
ou compostas, escolhidas empiricamente, na maioria das vezes, a partir
do contedo do documento, de forma a descrever, com alguma preciso,
diversos assuntos. Cada descritor independente dos outros. Trata-se de
uma linguagem combinatria. Nas listas de cabealhos de assunto
encontram-se apenas remissivas de orientao (como, por exemplo:
linguagem documental", ver tambm classificao, documentao",
lingstica"). Podem ser utilizados um ou vrios cabealhos de assunto
para descrever um documento. Por exemplo, um documento que trata da
influncia da flutuao das moedas na balana de pagamento dos pases
em desenvolvimento poderia ser classificado em Economia". Pode-se
ainda atribuir os cabealhos flutuao de moedas", balana de
pagamentos", comrcio internacional, termos de troca e pases em
desenvolvimento", para que o documento seja recuperado de forma mais
precisa. O catlogo de assuntos organizado na ordem alfabtica dos
cabealhos e em cada rubrica podem ser encontradas as referncias aos
documentos do assunto em questo. possvel ainda combinar os
cabealhos entre si; estes cabealhos tornam-se ento subcabealhos. Por
exemplo, balana de pagamentos - pases em desenvolvimento"
As linguagens documentais
(subcabealho), pases em desenvolvimento-balana de pagamentos"
(subcabealho).
Os cabealhos e os subcabealhos, assim como as suas remissivas, so
organizados, em geral, em uma lista alfabtica que determina a organizao
do catlogo. A ordem das palavras nos cabealhos , muitas vezes, inversa
em relao linguagem natural, para facilitar os reagrupamentos (no
exemplo citado teramos provavelmente: moedas, flutuao das").
Este tipo de linguagem muito malevel, mas a pesquisa pode tornar-
se longa e cansativa se o nmero de cabealhos for muito grande. Isto
conduz utilizao de um pequeno nmero de cabealhos muito gerais
por documento. Desta forma impossvel fazer uma descrio aprofundada
das informaes. Este sistema utilizado sobretudo para catlogos
manuais das bibliotecas. uma linguagem de difcil controle. tambm
dificil conseguir uma homogeneidade na descrio dos assuntos.
As listas de palavras-chave so um outro tipo de linguagem combinatria
que foi desenvolvida a partir da automao das unidades de informao.
A distino entre palavra-chave e descritor muitas vezes arbitrria e
circunstancial. O termo palavra-chave empregado aqui para designar as
palavras extradas diretamente da linguagem natural dos documentos e
utilizadas da forma como se apresentam. O termo descritor empregado
para designar os termos que resultam de uma escolha e de uma elaborao
da linguagem posterior sua extrao.
As palavras-chave so escolhidas empiricamente nos documentos em
razo de sua aptido em expressar o contedo das informaes. Elas
permitem uma descrio muito aprofundada e so combinveis entre si
infinitamente. So reagrupadas em listas alfabticas. A dificuldade de sua
manipulao compensada pela utilizao do computador. Entretanto,
dificil assegurar a coerncia deste tipo de linguagem, o que leva a fazer
certas escolhas, isto , selecionar algumas palavras-chave que se tornam
descritores.
As listas de descritores podem comportar apenas as listas dos termos
escolhidos, em ordem alfabtica, mas pode-se acrescentar alguns sinnimos
da linguagem natural junto aos termos correspondentes. Pode-se, desta
forma, organizar um pouco a linguagem, estabelecendo relaes entre os
descritores: obtm-se, assim, uma lista estruturada. possvel ainda
reagrupar os descritores em conjuntos e subconjuntos: obtm-se desta
forma uma lista sistemtica. Quanto mais organizado for o vocabulrio,
maior a possibilidade de control-lo, isto, de evitar os duplos empregos,
a multiplicao de palavras muito precisas que dizem respeito apenas a
um nmero reduzido de documentos, ou ainda o uso errneo de descritores.
possvel descrever, por exemplo, um documento sobre a coordenao
entre o transporte ferrovirio e o transporte rodovirio pelo nmero de
classificao 551, utilizando um sistema de classificao hierarquizado.
3e for utilizada uma lista de descritores, este assunto ser expresso pela
As linguagens documentais
combinao de trs termos: transporte rodovirio", transporte ferrovirio"
e coordenao de transportes", que permitem conservar os trs aspectos
do documento.
Este tipo de linguagem permite uma descrio precisa das informaes
e permite tambm reagrupar os assuntos de todas as formas possiveis.
um sistema bastante flexvel que pode ser modificado sempre que se fizer
necessrio. Por ser muito semelhante linguagem natural seu emprego
simples e fcil.
Entretanto, as pesquisas complexas obrigam a utilizao de vrias
combinaes que, mesmo com a ajuda do computador, tornam-se
complicadas e os riscos de erro subsistem porque a organizao da
linguagem muito simples. As listas de palavras-chave, como as listas de
descritores, dificilmente podem ter mais de mil palavras. So sempre
especializadas e tratam de uma disciplina ou de um campo de atividade
especficos. Uma de suas vantagens a de poder reagrupar facilmente
todas as noes teis para uma atividade especializada, principalmente se
esta atividade interdisciplinar. Neste caso, a estrutura lgica de uma
classificao se adapta dificilmente.
Os tesauros
O tesauro representa uma forma de organizao de linguagem docu
mental combinatria muito utilizada. um conjunto controlado de termos
entre os quais foram estabelecidas relaes hierrquicas e relaes de
vizinhana. Tambm so estabelecidas, quando necessrio, relaes de
sinonmia com palavras da linguagem natural. Os tesauros aplicam-se a
um campo particular do conhecimento. O nmero de termos de um
tesauro pode variar entre algumas centenas e 20 mil termos. A maioria dos
tesauros tem cerca de trs mil termos. Estes termos tm um significado
nico e no ambguo, pela eliminao dos casos de polissemia e do
controle das sinonmias.
Um tesauro geralmente especializado, mas alguns cobrem um campo
bastante vasto do conhecimento, como o TEST (Thesaurus of engineering
and scientific terms do Engineering Joint Council) que tem mais de 17 mil
descritores '.
Os tesauros so organizados por tema e/ou faceta, ou ainda por
subconjuntos hierarquizados. Estas linguagens so cada vez mais
hierarquizadas. Cada subconjunto pode ter at 50 descritores. Tm, em
geral, uma parte sistemtica, onde os descritores so apresentados por
grupos e uma parte alfabtica.
As grandes vantagens dos tesauros so sua especificidade, maleabilidade
1. GID. Thesaurus guide: analytical directory of selected vocabularies for information
retrieval. Amsterdam/New York/Oxford: CEE, 1985.
As linguagens documentais
e capacidade de descrever as informaes de forma completa. Mas sua
elaborao requer um trabalho considervel. Raramente um tesauro pode
ser reutilizado sem sofrer modificaes. Atualmente, existe uma grande
proliferao deste tipo de linguagem, o que dificulta a comunicao entre
unidades de informao e exige grandes esforos de normalizao, de
pesquisa e de compatibilidade entre estes instrumentos.
As listas de autoridade so linguagens de aplicao limitada. So
destinadas a registrar os nomes prprios (nomes de pessoas, de
organizaes, nomes de lugares e siglas), que descrevem alguns
documentos, medida que so utilizados. So organizadas alfabeticamente,
algumas vezes com remissivas entre o nome antigo de uma organizao e
seu novo nome, ou entre o nome completo e sua sigla. Estas listas
garantem que os nomes sero mencionados sempre da mesma forma, o
que condiciona a eficcia da pesquisa. Na verdade, estes nomes apresentam-
se, muitas vezes, de forma diferente nos documentos. Estas listas so
utilizadas sempre com outra linguagem.
Os unitermos so descritores compostos unicamente por palavras
simples. O termo trfego rodovirio, por exemplo, ser expresso pelos
descritores trfego" e estrada". Este sistema leva lgica da ps-
coordenao ao extremo. Foi desenvolvido pelo americano Mortimer
Taube. Permite reduzir consideravelmente o vocabulrio, mas mal
adaptado a assuntos complexos.
As linguagens multilngues so utilizadas nas unidades ou nos sistemas
de informao regionais ou internacionais.
Este tipo de linguagem pode ser uma adaptao de uma linguagem-
fonte elaborada em uma lngua, para outras lnguas. A linguagem pode
ainda ser elaborada simultaneamente em vrias lnguas. A segunda
frmula melhor, porque obedece s particularidades de cada lngua.
Existem classificaes, listas de descritores e tesauros multilngues.
As indicaes de sintaxe so termos, sinais e convenes de escrita que
apontam, na descrio de uma informao, o papel ou a relao de um
descritor com referncia a um outro ou a vrios descritores. Este
procedimento evita qualquer ambigidade dos descritores e, eventualmente,
constri frases para uma descrio mais completa e menos ambgua das
informaes. Mas estas indicaes complicam as linguagens documentais
e sua manipulao delicada. Por esta razo so cada vez menos
utilizadas e substitudas com vantagens pelas pesquisas automatizadas
e pelas linguagens com sintaxe automatizada.
Na maioria dos casos, a descrio de uma informao por uma
linguagem documental traduz-se por uma justaposio de termos. Lendo
esta descrio dificil saber o que a causa de que, o que importante
e o que secundrio. Se um documento trata de importaes de trigo e de
exportaes de caf, ele poder ser descrito da seguinte maneira:
importao, exportao, trigo, e caf. Esta lista de descritores no
permite distinguir se o trigo exportado ou importado, ou ambas as
As linguagens documentais
coisas. Se estamos interessados na importao de caf, este documento
no nos serve. necessrio relacionar as descries apropriadas, de
forma que se possa fazer uma seleo precisa. Pode-se obter este resultado
impondo que os descritores associados sejam seguidos uns aos outros em
uma ordem pertinente (como, por exemplo, importao, trigo, Exportao,
Caf). Pode-se utilizar elos para obter este resultado, isto , marcar com
o mesmo sinal descritores que devem estar relacionados, como por
exemplo: (importao, Trigo), (exportao, caf) ou importao (1), trigo
(1), exportao (2), caf (2).
Pode acontecer que trs quartos do documento em questo se refiram
s importaes de trigo, o que a justaposio dos descritores no mostra.
Neste caso, podem ser utilizadas ponderaes, isto , sinais convencionais
que indiquem a importncia relativa do assunto no documento. Por
exemplo, o nmero 1", pode significar que o descritor muito importante,
o nmero 2" que o descritor importante e o nmero 3, que o descritor
secundrio. Neste caso, o documento acima poderia ser descrito da
seguinte forma: Importao (1), Trigo (1), Exportao (3), Caf (3). Pode-
se determinar que a ordem dos descritores indica sua importncia
relativa. Pode-se ainda ter necessidade de descrever relaes mais
complexas, como, por exemplo, distinguir causa e efeito ou provenincia
e destino. Para tal, utilizam-se smbolos que so justapostos aos descritores
de forma a indicar sua funo. Por exemplo, um documento cujo assunto
fosse: A seca provoca uma diminuio das exportaes de caf o que torna
necessrio um aumento das importaes de trigo, poderia ser descrito da
seguinte forma: Seca(C), Importao (R), Trigo(R), Exportao(R), Caf(R).
Neste caso C indica a causa e R a conseqncia.
As linguagens documentais com sintaxe tm uma preciso ainda maior
na descrio. Para tal, elas identificam um certo nmero de relaes
possveis e teis entre os descritores e os codificam por meio de smbolos,
ou de frases-tipo onde a ordem das palavras indica a natureza das suas
relaes recprocas. Algumas vezes estas duas frmulas so utilizadas ao
mesmo tempo. Estas linguagens podem ter, conforme os casos, um
nmero maior ou menor de relaes. No exemplo citado acima, pode-se ter
o seguinte caso: Seca=(Importao + Trigo)A + (Exportao + Caf) D, onde
o sinal =" indica que o descritor precedente a causa dos descritores
seguintes, o sinal de +" significa coordenao, a letra A", significa
aumento e a letra D", diminuio. Desta forma pode-se distinguir este
documento de outro que descreva: (Exportao + Caf) A = Importao +
Trigo./.Seca./ - onde o sinal ./." indica uma circunstncia conexa cujo
assunto seria: O aumento das exportaes de caf permite resolver a
necessidade de importao de trigo, apesar da seca.
Nos sistemas documentais manuais, a utilizao de linguagens com
sintaxe dificil, e no se justifica. Mas o uso da informtica e o progresso
da lingstica automatizada permitem um desenvolvimento bastante
As linguagens documentais
promissor destas linguagens, por meio da utilizao de frases-tipo,
bastante prximas da linguagem natural.
A informtica um instrumento de grande importncia na criao e
utilizao de um tesauro. O computador permite uma melhor manipulao
do vocabulrio, pelas triagens que pode fazer da classificao alfabtica e
das diversas formas de edio. Alm disso, pode assegurar um conjunto
de operaes de controle dos descritores (um descritor no pode ser, ao
mesmo tempo, descritor e termo equivalente) e das relaes.
Compatibilidade entre as
linguagens documentais
A compatibilidade entre as linguagens documentais permite que uma
noo expressa por um descritor em uma linguagem possa ser expressa
por um descritor equivalente em outra linguagem. Desta forma, pode-se
encontrar em quatro linguagens documentais determinadas, as seguintes
correspondncias:
Linguagem A
Prdio
Prdio pblico
Prdio hospitalar
Hospital
O descritor hospital" aparece nas quatro linguagens. Em princpio, um
documento descrito com a linguagem A, poderia ser incorporado em um
catlogo ou em uma base de dados que utilizasse qualquer uma das trs
linguagens. Na realidade, isto no completamente verdadeiro. Apresena
dos mesmos termos, ou de um nmero importante de termos idnticos, em
diferentes linguagens, mostra uma compatibilidade formal. Pode-se
verificar, por exemplo, que o descritor hospital" pertence a um mesmo
grupo, o grupo dos prdios, nas linguagens A e B, embora a nveis
diferentes. Na linguagem C este mesmo descritor aparece no grupo
equipamento", que uma noo maior, mas ainda relativa aos aspectos
materiais. Na linguagem D, ao contrrio, o descritor hospital encontra-
se no grupo sade pblica, onde considerado uma atividade, e no um
prdio. A compatibilidade formal entre as quatro linguagens ilusria.
Existe uma compatibilidade orgnica (de estrutura) entre as linguagens A
e B, existe uma possibilidade de equivalncia entre estas linguagens e a
linguagem C, mas no existe nenhuma compatibilidade entre a linguagem
D e as outras trs linguagens. A compatibilidade entre as linguagens
Linguagem B Linguagem C Linguagem D
Prdio Equipamento Sade pblica
Hospital Equipamento Servio de sade
hospitalar
Hospital Hospital
As linguagens documentais
essencial para a troca de informaes entre duas unidades que trabalham
em um mesmo assunto, ou em assuntos que tenham alguns pontos de
semelhana.
A soluo mais simples , evidentemente, a utilizao de uma linguagem
nica em uma ou em vrias linguas, mas isto pressupe que as condies
de funcionamento das unidades sejam bastante semelhantes.
Uma outra possibilidade consiste em utilizar uma estrutura comum
onde cada unidade desenvolva as partes da linguagem que lhe concernem.
Pode-se tambm estabelecer uma estrutura comum entre linguagens j
desenvolvidas. Pode-se, a rigor, estabelecer uma tabela de concordncia
entre as linguagens, o que uma forma de traduo. Mas esta tabela ser
mais dificil de construir se as estruturas entre as diferentes linguagens
forem muito distintas. A soluo deste problema deve ser buscada no
momento da escolha ou da construo de uma linguagem.
As metalinguagens ou as linguagens de converso no so utilizadas
para descrever diretamente as informaes, mas para estabelecer uma
ponte entre diferentes linguagens documentais. Elas exercem um papel
semelhante ao desempenhado pelas linguagens documentais com relao
linguagem natural. Elas devem integrar a estrutura das diferentes
linguagens documentais em uma estrutura nica e coerente e ordenar os
descritores de acordo com esta estrutura, de forma que existam
equivalncias e/ou ligaes convenientes a um grupo determinado de
descritores, ou ainda de forma a conserv-los como descritores especficos.
Estas metalinguagens permitem converter as informaes de uma
linguagem a outra. Se as linguagens que devem comunicar-se so volumosas
ou numerosas, esta comunicao s pode ser realizada de forma econmica,
pela utilizao da informtica.
Uma soluo mais simples, mas menos rigorosa, consiste em fundir as
linguagens documentais sem se ater s particularidades de suas estruturas.
Obtm-se, desta forma, uma lista alfabtica de todos os descritores. Esta
aproximao pode ser suficiente na prtica, sobretudo nas linguagens
especializadas em assuntos onde o vocabulrio natural bastante rigoroso.
Estes instrumentos so utilizados para poder recuperar
simultaneamente informaes em diferentes bases de dados ou catlogos.
O macrotesauro cobre apenas as noes essenciais em vrios campos
que comandam a estrutura de linguagens documentais especializadas
mais aprofundadas. Pode ser elaborado antes das linguagens
especializadas, o que prefervel, porque oferece uma estrutura nica
para o desenvolvimento destas linguagens. Mas os macrotesauros so
elaborados, muitas vezes, em fur o de linguagens preexistentes. Pode-
se represent-los pelo tronco e pelos ramos principais de uma rvore na
qual se justapem os ramos secundrios, produtos das diversas
especialidades. Permitem integrarem um conjunto coerente os catlogos
especializados provenientes de vrias unidades de informao. Pode-se,
desta forma, produzir um macrotesauro com termos bastante gerais como
As linguagens documentais
ponto de partida para o desenvolvimento de uma linguagem documental.
Um macrotesauro cobre, em geral, um campo extenso do conhecimento
como, por exemplo, as cincias e as tcnicas ou o desenvolvimento
econmico e social. Ele pode tambm ser produzido como suplemento de
uma linguagem documental para servir de orientao aos usurios. Neste
caso, ele pode ser apresentado em forma de grfico onde aparecem os
nomes das classes e das subclasses em sua organizao hierrquica. Esta
forma de apresentao particularmente til para mostrar as relaes de
vizinhana entre as classes.
A atualizao das linguagens documentais uma necessidade, porque
a linguagem natural evolui medida que os conhecimentos progridem e
que as atividades se diversificam. Esta atualizao permite levarem conta
a experincia adquirida pela unidade de informao na descrio e na
pesquisa das informaes: alguns descritores mostram-se inteis, outros
so muito precisos, outros muito gerais e outros ambguos.
necessrio, pois, controlar a forma como a linguagem empregada,
registrar as dificuldades que se apresentam e as solues adotadas,
controlando o nmero de documentos descritos com cada termo, para
adaptaes peridicas e registrar sistematicamente os termos que no
aparecem na linguagem e que poderiam ter sido teis em um caso
determinado, para decidir periodicamente sobre sua incluso eventual.
Pode ser necessrio criar novos descritores, estabelecer novas relaes,
substituir um descritor por outro, suprimir um descritor intil ou suprimir
relaes que conduzam a pesquisas erradas, introduzir notas para
descritores que se mostraram ambguos, modificar a redao de um
descritor, transformando-o, por exemplo, em uma palavra composta,
enfim, adaptar excepcionalmente a estrutura da linguagem. A manuteno
de um tesauro pode ser bastante facilitada pelo computador. A sua gesto,
sua atualizao, a supresso ou a adio de descritores, a modificao de
relaes que caracterizam os descritores suprimidos ou acrescentados, ,
em geral, feita com a ajuda do computador. Existem programas criados
especialmente para a gesto de tesauros como o Astute, utilizado pela
Comission des Communauts Europennes. Outros programas gerais de
pesquisa documental como o Minilsis, tm mdulos de manuteno de
tesauros.
Quando uma unidade documental integralmente responsvel por um
tesauro, ela pode efetuar as transformaes necessrias sua utilizao.
Mas, se ela utiliza uma linguagem produzida por outro organismo, no
pode modific-la. Pode, entretanto, sugerir modificaes ao organismo
responsvel. Deve ainda controlar a forma como a linguagem utilizada,
de maneira a instruir e treinar o pessoal que a utiliza.
As linguagens documentais evoluem constantemente. Geralmente, so
feitas atualizaes peridicas (por exemplo, a cada dois ou trs anos) e, no
Intervalo, so acumuladas informaes com esta finalidade. No possvel
fazer adaptaes dirias, pois elas poderiam confundir o usurio (ver as
As linguagens documentais
ilustraes no final do captulo). A manuteno de uma linguagem apia-
se igualmente na sua avaliao peridica, que pode ser feita pela crtica
de especialistas do assunto coberto, por testes de descrio de contedo
e de pesquisa e por clculos das taxas de preciso e de revocao (ver o
captulo Avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa da
informao"). Estas avaliaes podem ser parte da avaliao do sistema
documental.
A escolha de uma linguagem documental deve ser feita com muito
cuidado, pois ela o corao do sistema.
Para tal, deve-se definir com preciso todas as caractersticas do
sistema documental. Quem so seus usurios? Quantos so? Quais so
suas necessidades? Que solicitaes so feitas unidade? De que forma
so feitas estas solicitaes? Quais so os produtos e servios da unidade?
Que tipo de descrio de contedo estes servios necessitam? Quantas
pessoas trabalham na unidade? Qual a qualificao destas pessoas?
Quais os recursos financeiros disponveis? Qual o volume e a natureza
das informaes que sero tratadas? Quais os equipamentos disponveis
para o armazenamento e para a pesquisa da informao? Quais so as
relaes existentes entre a unidade e as unidades do mesmo assunto ou
de assuntos correlatos no pas e no exterior?
Estes parmetros definem o assunto a ser coberto, o desempenho da
linguagem, seu nvel de especificidade, e o rigor maior ou menor de sua
organizao.
Deve-se, ento, procurar saber se existe uma linguagem que responda
a estas especificaes, pela literatura especializada ou dos centros como
o Thesaurus Clearinghouse em Toronto, encarregado de repertoriar os
tesauros existentes em lngua inglesa, ou o centro do IINTE2em Varsvia
(Polnia), encarregado de repertoriar os tesauros existentes em outras
lnguas.
Se esta linguagem existe, necessrio test-la em um conjunto
significativo de documentos e de questes, para determinar se ela pode ser
empregada da forma como se encontra ou se necessita de adaptaes e
qual ser seu custo. Se o custo proibitivo ou se a linguagem escolhida
no satisfaz s necessidades essenciais, deve-se decidir pela construo
de uma linguagem.
Como existe atualmente um grande nmero de linguagens documentais,
como sua multiplicao um obstculo comunicao e como a construo
de uma linguagem uma tarefa dificil e cara, prefervel fazer uma
adaptao.
2. Institut Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej (Centro Nacional de
Informao Cientfica, Tcnica e Econmica).
As linguagens documentais
A elaborao de uma linguagem documental
Aelaborao de uma linguagem documental fundamenta-se inicialmente
na anlise detalhada do sistema de informao. necessrio construir um
Instrumento para uma situao bem precisa, e no apenas escolher e
reunir palavras logicamente satisfatrias. Feita a anlise do sistema,
examinadas as linguagens existentes e tomada a deciso de adaptar ou de
construir uma linguagem, deve-se fazer um plano de trabalho em funo
dos meios humanos, materiais e financeiros existentes. A adaptao ou a
construo de uma linguagem uma tarefa que leva vrios meses ou
alguns anos e necessita da colaborao de vrias pessoas.
Existem dois mtodos de elaborao: o mtodo apriori, que consiste em
recensear a terminologia existente, a partir de ndices, dicionrios, outras
linguagens documentais, taxionomias, e listas de termos fornecidas por
especialistas. O mtodo a posteriorl ou analtico, consiste em extrair os
termos de um conjunto representativo de documentos e de questes
tratadas durante as operaes documentais, em um perodo determinado.
Na prtica, combina-se em geral os dois mtodos.
A seguir, renem-se os dados lexicogrficos, depois faz-se a sua
seleo. Neste estgio comeam a ser feitas as relaes entre os descritores
em potencial e a reagrupar os conjuntos importantes. A seleo deve ser
feita de forma sistemtica. A seguir selecionam-se os descritores e
escolhe-se sua forma.
Neste momento feita a organizao do conjunto, que geralmente j foi
esboada e estabelecem-se as relaes entre os descritores.
necessrio testar a linguagem e avali-la por especialistas em um
nmero representativo de documentos e de perguntas.
A seguir, a linguagem editada.
Ela deve ser utilizada durante um determinado perodo com uma
superviso constante. Neste momento deve ser feita uma nova reviso e
uma nova edio que ser, na realidade, a primeira edio operacional.
Este trabalho necessita da colaborao de especialistas de informao
e de especialistas dos assuntos tratados. Se a linguagem extensa, deve-
se solicitar a colaborao de um especialista em construo de linguagens
documentais como conselheiro, ou como responsvel pela operao no
seu conjunto.
O volume da linguagem definido em funo da quantidade de
informaes a serem tratadas, mas tambm em funo da natureza do
assunto, do grau de especializao da unidade e das caractersticas de
seus produtos e servios. Sua organizao depende destes fatores, mas
sobretudo do equilbrio que se quer obter entre preciso e revocao.
153
As linguagens documentais
Questionrio de verificao
O que uma linguagem documental?
Quais so as diferenas entre linguagem natural e linguagem
documental?
Quais so as dificuldades que apresentam as linguagens naturais
para a descrio das informaes?
Qual a diferena que existe entre uma classificao e um tesauro?
O que ps-coordenao?
Como e por que se atualiza uma linguagem documental?
Como deve ser feita a escolha de uma linguagem?
Bibliografia
AITCHISON, J. et GILCHRIST, A. Thesssaurus construction : a practical
manual. 29 d. Londres. Aslib, 1987.
AUSTIN, D. W. et DALE, P. Cuide pour Vtablissement et le dveloppement
de thsaurus monolingue. 2 d. Paris, Unesco, 1981. (Doc. PGI-81/
WS/15.)
AUSTIN, D. W. et WATERS, J. Cuide pour Vtablissement de thsaurus
multilngues (texte rvis). Paris, Unesco, 1980. (Doc. PGI-80/WS/
12.)
CHAUMIER, J. Les langages documentaires. Paris, Entreprise moderne
d'dition, 1978.
FELDER, H. Manuel de terminologie. Paris, Unesco, 1984. (Doc. PGI-84/
WS/21.)
FOSKETT, A. C. The subject approach to innformation. 3- d. Londres,
Bingley, 1977.
GESELLSCHAFT FR INFORMATION UND DOKUMENTATION. Thesau
rus guide: analytical directory o f selected uocabulariesfor information
retrieval. Amsterdam, No th Holland, 1985.
International classijication and indexing bibliography. 1. Classification
systems and thesauri, 1950-1982. Francfort, Indeks Verlag, 1982.
LANCASTER, F. W. Vocabulary control f or information retrieval Washing
ton, Information Resources Press, 1986.
LANCASTER, F. W. Thesaurus construction and use: a condensed course.
Paris, Unesco, 1985. (Doc. PGI-85/WS/11.)
LAUREILHE, M.-T. Le thsaurus. Son rle, sa structure, son laboration. 2-
d. Lyon, Presses de l'ENSB, 1981.
As linguagens documentais
VICKERY, B. C. Classification and indexing Science. 29 d. Londres,
Butterworth, 1975.
Ver tambm bibliografia do captulo "A classificao"
155
As linguagens documentais
Lista hierarqulzada
1. BELAS ARTES
1.1 Arquitetura
va Ensino
da Arquitetura
1.2 Artes grficas
1.2.1 Desenho
va Fita formatada
1.2.1.1 Desenho
tcnico
1.2.2 Fotografia
1.3 Artes plsticas
1.3.1 Escultura
1.3.2 Gravura
Lista sistemtica
BELAS ARTES
Arquitetura
T G Belas Artes
va Ensino da
Arquitetura
Artes grficas
T G Belas Artes
T S.l Desnho
va Fita formatada
TS.2 Desenho tcnico
T S. 1 Fotografia
Artes plsticas
T G Belas Artes
T S. 1 Escultura
T S. 1 Gravura
Lista alfabtica
hieraquizada
Arquitetura
T G Belas Artes
va Ensino da
Arquitetura
Artes grficas
T G Belas Artes
T S . l Desenho
va Fita formatada
T S.2 Desenho tcnico
T S. 1 Fotografia
Artes grficas
T G Belas Artes
T S. 1 Escultura
T S. 1 Gravura
Fita formatada
va Desenho
Belas Artes
T S Arquitetura
va Ensino da
Arquitetura
T S Artes grficas
T S. 1 Desenho
va Fita formatada
T S. 2 Desenho tcnico
T S. 1 Fotografia
T S Artes plsticas
T S. 1 Escultura
T S. 1 Gravura
Desenho
T G Artes grficas
T S Desenho tcnico
Lista alfabtica
Arquitetura
Artes grficas
Artes plsticas
Fita formatada
Belas Artes
Desenho
Desenho tcnico
Ensino da Arquitetura
Gravura
Fotografia
Escultura
Lista alfabtica
permutada
Ensino da Arquitetura
Arquitetura
Belas Artes
Artes grficas
Artes plsticas
Belas Artes
Desenho
Desenho tcnico
Fita formatada
Ensino da Arquitetura
Artes grficas
Gravura
Fotografia
Artes plsticas
Escultura
Desenho tcnico
Figura 6. Diferentes apresentaes de listas de descritores.
As linguagens documentais
(1) Esquema flechado
Fila Formatada ' Desenho
Fotografia
(2) Esquema circular
Desenho
Tcnico
(3) Esquema em rvore
Belas Artes
Ensino Arquitetura Artes Plsticas
da Arquitetura |
Aries Grficas
Escultura Gravura Fotografia Desenho Fita Formatada
Desenho
Tcnico
Figura 7. Representaes grficas de uma linguagem documentria.
157
As linguagens documentais
6 3 1 / 6 3 5
6 3 1
6 3 1 . 1
. 1 6
6 3 1 . 2
6 3 1 . 3
. 3 1 1
. 3 1 2
. 3 1 3
. 3 1 4
. 3 1 5
. 3 1 6
319
6 3 1 . 3 3
. 3 3 1
. 3 3 2
3 3 3
. 3 3 4
. 3 3 5
. 3 3 6
6 3 1 . 3 5
. 3 5 1
. 3 5 2
. 3 5 3
. 3 5 4
. 3 6 1
. 3 6 2
Land- und Foratwirtschaft.
Tierzucht. Jagd. Fischerei
Pflanzenbnu. Forstwirtscbafl
AUgemeine Fragen der Landwirt-
scbaft
Landwirtccbaftliche Betriebalebre
Buchiihrnng. Schilanng. Taxation
Landwirtschaf tliche Gebiiude
Landwirtachaf tliche Maiwiinen und
Gerite
Bodenbearbcitungagerte
und -raaschinen
AUgemeine Maacbinen nnd Gerate
Pflge
Eggen
Walzen n. dgl.
Gartengerate
Knltivatoren. Grnbber
Sonatige Gerate. Pflanzgerte
Samaachinen. Dngeratrener
Samaachinen
Pflanzmuscinnen. Umpfianzmaacbinen
Dngeratrener. Dngnngatnaachinen
Simascfainen mit Dngeratreuern ver-
bnnden
Gerate f r Vermehrnng von Pflanzen
d urdi Ableger , Pfr o p fr eia er uaw.
Gerate zum Verpflanzen
Gerate zum Verpflanzen von Baumen
Gerate zur Pflege nnd zum Schutz
von Pflanzen. StiitaTorriefatungen.
Beregnungavorrichtungen uaw.
Erntegerate. Erntemaachinen
Handgerate. Sicheln. Sensen
Mahmaachinen f r Heuernte
Sonatige Heuerntemaschinen. Hen-
lader
Getreidemher. Bindemher. Mah-
dreacher
K artoffel- nnd Rbenerntemaachinen
Gerate und Maachinen fr die Auf*
bcreitung von Landbanerzengnissen
Dreechraaachinen fr Getreide
Gerate nnd Maachinen zum Reinigen
und Sortieren. Behlter, Siebe usw.
Vorridhtnngen zum Bndeln, Binden
und Preaaen
Agrieulture. Fores try. Stock-
breeding. Huntiug.
Fisheriea
Plant husbandry, Foreslry
Agrieulture, farming in general
Agrouomy
Farm management
Accountancy, eoating, valuation
Farine and farmyards
Agricultura! implementa, toola and
machinery
Soil working and tilling -equipment
Implementa f o r general use
Plongha
Harrows
Roilera, etc.
Garden toola: hoea, rakea, etc.
Cnltivatora. Grubbera
Drillplongba and other implementa
Sowing machinea. Mannre apreadera
Sowing implementa and machinea
Planting toola and equipment
Manure apreadera
Combined aower-manure apreadera
Plant d m din g and layering imple
menta
Tranaplantera
T r ee plantera
Implementa f o r eare, pruning, etc.,
aupporting, protectire, marking
and apraying devices
Harveating implementa, machinea
Hand implementa. Scythea. Sicklea
Mowing machinea
Haymaking machinea. Hay loadera
Combine harveatera. Bindera
P otato, beot digging machinea
Preparing, aconring, handling and
dreaaing machinea and eqnipment
Threahing, aheUing, coring, peeling
Sorting, aieving, cleaning, winno-
wing, washing, drying, fermenting
Bagging, bundling, aheaving, baling
Agrieulture. Sylviculture.
Zoolechnie. Chasse. Pcche
Cultores vgtales. Sylviculture
Agrooomie gnrale
Science de 1 exploitation agricole
Comptabilit. Evaluation. Taxation
Btimenta agricolea
Equipement et machinea agricolea
Appareila e t machinea ponr le travai!
du aol
Machinea et ontila en general
Charnxea
Heraea et pnlvriaeura
Rouleanx, etc.
Ontila de jardinage
Cuhivateura. Extirpateura
Autrea outila pour la prparation du
aol
Semoira. Diatributenra d'cngraB
Semoira
Plaatoira. Machinea pianter
Diatributenra d'engraia
Semoira-diatributeura d engraia com
binas
Outila pour 1 multiplication dea
plantea par marcottage, greffe, etc.
Tranaplanteura
Tranaplanteura d arbrea
Equipement ponr lea aoina anx plan
tes; proleetion, aoutien, rceptocles,
arroaage, etc.
Ontila et appareila de rcolte
Ontila main. Faucillea. Faux
Fauchenaea
Machinea diveraea pour la fenaiaon
et la miae en meulea
Moiaaonneusea. Moiaaonneuaea-lieusea.
Moiaaonneuaea-batteuaea
Arrachenaea de pommea de te r r e et
de betteravea
Outila et madiinea pour la prpara
tion dea produitB agricolea
Batteusea, cgrcncuaca, dnoyauteuaea
Ontila et appareila pour le nettoyage,
le calibrage, le echage, etc.
Bottelenra et preaaea
Classificao Decimal Universal. Edio desenvolvida trilinge, Berlim,
1958. Classificao hierrquica. Extrada das tabelas principais.
158
As linguagens documentais
Agglorar, combustible 662.81
matriaux de constructions 691.31
de tourbe 674.88
Agiotage, droit pnal 343.531
Agitateur, instrument de laboratoire
542.23
Agitation politique 323.2
Aguation, coutame 392.35
Agnosticisme, logique 165.73
Agrandiesement photographique 778.13
Agrieulture, assurance 368.5
enseignement 373.68
suprieur 378.938
ministre 354.83
questione gnrales 631
rglementation 351.823.1
Agronomie gnrale 631
Agronomiaation 338.922
Agrumes, arboriculture 634.3
Aide aux lecteura 028
conomique entre tats 341.232.3
intertatique 341.232
mutuelle, droit international 341.232
sociale 361
rnrale 361.2
urbaine 361.2
technique entre Etats 341.232.5
Aiguillage, voie ferre 625.151
Aiguille 672.82
A i l , horticulture 635.26
Aile volante, aronautique 629.135.24
Aimant, lectrieit 621.318.2
Aimantation, magntisme 538.24
Air, adduction, btiment 697.92 '
atmo8plirique, technologie des gaz
661.92
circulation dans les immeubles
697.95
composition 613.15
comprime, nergie pneumatique
621.51
dietribution dans les immeubles
697.92
humidification 697.93
humidit 551.57
hygine 614.7
liquide, produetion 621.6.036
ministre 354.73
purification 697.94
refroidisaement 697.97
schage 697.93
traitement dans les immeubles 697.9
Airelle, arboriculture 634.73
Ajournement, procdure 347.923
Ajustage, fabrication des calibres
621.753.2
Alaska (798)
Albanais, philologie 491.983
Albanie (496.5)
Albumine, industrie chimique 668.391
Albumineux, industrie alimentaire
664.38
Albuminoide, action physiologique
612.396/.398
Alcalis, produits cbimiques 661.3
Alcalide, chimie orKaniaue 54794.
Alcoolisme, inorale 178.1
Alcve 643.51
Alcoylne, chimie organique 547.313
Aldbyde8, produits chimiques 661.727
Alseuse, machine outil 621.95
Alaeuse-rodeuse, maebine outil 621.954
Algbre 512
Algrie (65)
Algonkin, stratigraphie 551.72
Algue, botanique 582.26
brune, id. 582.272
colorante, chimie organique 547.977
raarine, culture 639.64
rouge, botanique 582.273
verte, botanique 582.263
Alin, assistance 362.2
Alignement, urbanisme 711.64
Aliment, arts mnagers 641
concentre 664.87
minral 664.4
pbysiologie 612.392
proprits mnagres 641.1
provenance, Cuisine 641.3
solide, conservation 664
fabrication 664
vgtal, hygine alimentaire 613.26
vgtal, zootedbnie 636.086
zootechnie 636.085
Alimentation animale et minralc, zoo
technie 636.087
enfantine, puriculture 649.3
hygine 613.2
militaire 355.65
zootechnie 636.084
Alismatines, botanique 582.536
Allemagne (43)
gographie 914.3
histoire 943
Allemand = 3 0
philologie 430
race ( ~ 3 )
Alliage, mtallurgie 669.018
d acier 669.15
de fonte 669.15
ferreux 669.15
ferreux, fabrication 669.168
AUiance familiale, coutumes 392.3
Alligator, animal de chas*e 639.14
Allocation familiale, conomie sociale
331.226
Allongement, dformation de la matiere
539.382
Ailopathie, thrapeutique 615.53
Aotropie, dtiimie pure 541.7
physique 536.424
Allumage, moteur thermique 621.43.03
Allume-cigares 662.592
Allumettes 662.53
Aliumeurs pour lampes 683.88
Aliumoir lectrique 662.593
pour chauffage 683.98
Almanach, diviaion de forme (059)
gnral 059
A!og8me, philosophie 141.143
Alone, chimie organique 547.991
Alpes, diviaion de lieu (234.3)
Classificao Decimal Universal. Edio desenvolvida trilinge. Berlim,
1958. ndice.
159
As linguagens documentais
Tables auxiliaires
1. DIVISIONS COMMUNES
1A. Signes d'agrgation.d'addition et d'extension
1 B. Relation:
1C. Divisions communes de langue =
1 D. Divisions communes de forme (0...)
1E. Divisions communes de lieu (1 /9)
1 F. Divisions communes de peuple et de race (=...)
1G. Divisions communes de temps
1H. Divlsion alphabtique (A/Z) et numrique non dcimale
1 I. Divisions communes de point de vue .00
1J . Divisions communes par tiret-zro -0
2. DIVISIONS SPECIALES
(analytiques et synthtiques)
.0 - e t'
A 1'exception des signes d'agrgation (qui prcdent 1'indice
principal simple) l'ordre de classement des ndices composs munis
de signes auxiliaires est le mme ordre que celui dans lesquels
se trouvent les signes cl-dessus.
Classificao Decimal Universal. Tabelas auxiliares. Edio
desenvolvida, Lige, Ed. do CLPCF, 1986 (Por A. Canone, C. L'Hoest, C.
Lion et G. Lorphevre, FID, n9 652)
160
As linguagens documentais
CHA1TER J
AGRI C UL TUR E
JO Facets
Fotil 7fim (I\j b>
i**j
Plant
Emuurraiinn
nnd (A D)
|I>) (Array 1) Utilily
Knumrration
[I>j (Array 2) Part
Enumerai ion
11*-]
Organ
Eiimeraijun
|K) Proljlmi
Enumera! ion
|21*] (1) Naturc for 1Soil of [E]
Enumerai ion
(2) SultfUftcc for 2 Manurr of 11*]
Enumeraiion
(3) Substamv for 3 Propagalion of {1CJ Enumerai ion
(4) Cause for 4Disrasr of{E| Enumerai ion
(7) Material for 7 J larvrsliii" of [E| Enunvraiion
(2F.J [3IJ Oj)<*ration Emnneraiion
J1 Plant Number
J1 The firsl significam digit of a Plant Number is Utility
Number, lhe sccond is Part Number; the lliird is eithcr Genus
N um b e r or Species Number, representing the botanical genus
or species to which the plant bclongs. If the third significam digit
represents Genus, the fourth represents Species. The later digits
of a Plant Number represent a Cultivar, which is the trdmieal
term for Cultivated Yaricty. Thesc digits may be together called
Cultivar Number.
J l l Ulility Number
J11The 1tilitv Numlrr is ilrviscd s,, ns tu eive a favmirrri tn*a(mt*nt lo
ccriain plnnis. li is Irur ihai a piam mnv !>i* ntilisc! f,.r srvrral purpitNcs.
liut ii is tlic primary purpuM- ihal shimlil dri icli- tlu- L iiliiy Nunibi i ul a givi r>
1-104
Colon Classificatlon. Madras/Londres, Madras Library Associatlon/
Blunt, 1957 (Por S.R. Ranganathan). Classificao universal. Classificao
facetada. Extrada das tabelas principais.
161
As linguagens documentais
CHAPTER J
AGRICULTURE
J [P]= [E] [2P]r [2E]
32 Bulb
321 Onion
Foci in
1
Utility Array of [P]
Decoration
2
Feed
3
Food
4
Stimuiant
5
Oil
6
Drug
7
Fabric
8
Dye. Tan
91
Adhesive
92
Manure
93
Vegeta ble
94
Sugar producing plant
1
Foci in
Part Array of [P]
Sap
2
Bulb
3
Root
4
Stem
5
Leaf
6
Flovver
7
Fruit
8
Seed
97
Whole plant
I
Foci in [P]
Horticulture
15
Foliage
16
Florculture
169
Bulb (Botanical)
16911 Lily
16912
Tulip
16913
Daffodil
197
Whole plant
2
Feed
25
Leaf
251
Grass
3
Food
31
Sap
311
Sugarcane
33 Root
331 Beetroot
332 Tumip
333 Carro t
334 Radish
3391 Yam
34 Stem
341 Potato
342 Elephant-yam
346 Arrowroot
35 Leaf
3511 Rhubarb
3512 Spinach
3513 Cabbage
3521 Lettuce
36 Flower
361 Cauliflower
37 Fruit
371 Apple
372 Orange
373 Musa
3731 Plantain
374 Grape
3751 Mango
3752 Pineapple
3755 Date palm
3759 Fig
37943 Tomato
3795 Gourd
38 Seed
381 Rice
382 Wheat
383 Oat
384 Rye
385 Com
386 Barley
387 Millet
388 Pulse
389 Nut
2-66
Colon Classificatlon. Madras/Londres, Madras Library Associai ion/
Blunt, 1957. (PorS.R. Ranganathan). Classificao universal. Classificao
facetada. Extrada das tabelas principais.
162
As linguagens documentais
18
514/1 - Ar tisana t.
5 ) 4 /1 1 - C rc H il P arlis anat.
514/3 *>So c i t s .
515 Secteur cooprotif. Mouvement cooprotif.
515/2 - C o o p r a t i v e s dc production.
516 - Orgonismes semUpublics; Chambres de corr.merce, Bourses, Chambres d'agricultur...
517 - Conseil conoreique et social.
52 - AGRICULTURE. ALIMEHTATIOH.
520 Generalits. Malaise agricole.
520/0 - Production a g r i c o l e ; produits a g r i c o i e s .
520/1 - P o l i t i q u c a g r i c o l e .
5 2 0 / 1 1 - C r d i t o g r i c o l e .
520/ 2 - Dbouchs d e s produits a g r i c o i e s . F . O . R . M . A .
5 2 0 / 2 1 - C r o u p e me n t j dc p r o d u c t a ur s . S . l . C . A .
5 2 0 / 2 4 - I n i g r o tI o n d * 1 'o g ri c u ttu r e .
5 2 0 / 2 5 - E x p o r t o l i on % e t s ur pl u s a g r c o l a .
520/3 - R e la tion s conomiques ville-ca mpagne.
521 - Activit agricole.
521/ 1 Structures a g r i c o i e s .
5 2 1 / 1 0 G n r o l l t s . ( P r i x d * I o t e r r o , F . A . S . A . S . A . * t c . . . ) .
5 21 / 100 - P r o p r i t f o n c i r e : r e g i m e e t l g i s l a t i o n ( c u m u l s . . . ) .
5 21/ 101 - F e r ma g e , m l a y o g e e t a u t r e s mo d e a d V x p l o i l a l i on.
5 21 / 102 - R p a r t i t i o n du no i .
5 2 1 / 1 0 3 - F. t ude s mo n o g r a p h i q u e s .
5 2 1 / 11 - R e f o r ma s a g r o l r e s , r e me mbr e ma n t r ur al . S . A . F . E . R .
5 2 1 / 1 2 E n f r e p r l s e s I n d i v t d u e l l e s .
5 2 1 / 1 3 - E n t r e p r l s e s c o l l e c t l v a s : c o o p e r a t i v a s , G . A . E . C . , c . . .
521/2 - G e s tion de P e o t r e p r i s e agricoe.
5 21 / 21 - C a l c u l o o n o mi q u c , c o t s de p r o d u c t i o n .
5 2 1 / 2 2 - C o mp t a b i l i t a g r i c o l e .
5 2 1 / 2 3 - P r o d u c t i v i t .
521/3 - F acteurs de l a productivit a g r i c o l e .
5 2 1 / 3 1 E q u i p a ma n t da P o g r l c u l t u r e t m c o n I s a t l o n , a t e . . .
5 2 1 / 3 2 - F a c t e u r s n a t ur a i s , u t l l i s o t l o n et b o n i f i c o t i o n d a s s o l a .
5 2 1 / 3 3 - I r r l g o t l o n .
522 - Crales, Office national interprofessionnel des crales (O.N.I.C.).
* 522/1 - B l .
5 2 2 / 2 - R i z .
522/ 3 - Aut res c r a l e s .
Plano de classificao. Paris. Fundao nacional de cincias polticas.
Centro de documetao contempornea. Plano de classificao
especializada: atualidade poltica, econmica e social contempornea.
Classificao hierrquica.
163
As linguagens documentais
DESCRIPTORS
Note: The date appearing to the right of each Descriptor indicates the month
and yeaf that the term was eotered into the ERIC systam.
ABBREVIATIONS J an. 1969
UF Acronyms
RT Mnemomcs
Orthographic Symbols
Stenography
Wnting
ABILITY J ul. 1966
UF High Ability
Low Ability
NT Academic Ability
Cognitive Ability
Language Ability
Leadership
Nonverbal Abtiity
Skills
Student Abiiity
RT Ability Grouping
Abii*ty Identification
Acn.evement
Aspiration
Complexity Levei
G.fted
Handicapped
Mechamcal Skiils
Performance
Productivity
Readiness
Slow Learners
lented Students
ABILITY GROUPING J uL 1966
BT Homogeneous Grouping
Student Grouping
RT Ability
Ability Identification
Low Ability Students
ABILITY IDENTIFICATION J ul. 1966
BT Identification
RT Ability
Ability Grouping
Criticai inodents Method
Identification Tests
Probationary Period
ABLE STUOENTS J ul. 1966
SN Abitity to perform or aosorb educa-
tion at a specited levl
UF Capoble Students
BT Stuoents
RT Academic Abiiity
Academic Achievement
Advanced Students
Average Students
Gitied
Superior Students
Anormdi Psychology
ust PSYCHOPATHOLOGY
ABORTIONS Sep. 1970
RT lliegitimate Births
Medicai Services
Pregnancy
Unwed Mothers
Abreaction
USE CATHARSIS
Absenteetun
ust ATTENDANCE
Absotute Hurmdity
use HUMIDITY
Absoluto Pressure
ust PRESSURE
Abstract Bibliographies
ust ANNOTATED B1BU0GRAPHIES
ABSTRACTING J ul 1966
BT Library Technica! Processes
RT Abstracts
Annotated Bibliographies
Documentation
Indexing
Writing
ABSTRACTION LEVEIS J uL 1966
SN Leveis of abstract reasoning reached
in the process of developing succes-
sively broader generalizations refiect-
ed n language us8ge
UF Leveis Of Abstraction
RT Abstraction Tests
Abstract Reasoning
Cognitive Processes
Comprehension
Conservation (Concept)
Language Learning Leveis
Learning Processes
Semantics
ABSTRACTION TESTS J uL 1966
BT Psychologicai Tests
RT Abstraction Leveis
Cognitive Tests
Comparatve Testing
ABSTRACT REASONING J ul. 1966
UF Space (Concepts)
BT Thought Processes
RT Abstraction Leveis
Generaluation
Logical Thinking
Productive Thinking
ABSTRACTS J ut 1966
BT Reference Materials
RT Abstractmg
Annotated Bibliographies
Documentation
Indexes (Locatens)
Indexing
ACADEMIC ABIUTY J ul. 1966
UF Scholastic Ability
N T . Academic Aptitude
BT Ability
RT Able Students
Academic Achievement
Academicaliy Handicapped
Academic Aspiration
Average Students
Cognitive Ability
Intelligence
Low Ability Students
Student Ability
Students
Verbal Ability
ACADEMIC ACHIEVEMENT J ul. 1966
UF Academic Performance (Del J un74)
Academic Progress
Academic Success
Educational Achievement
Educational Attainment
Educational Levei
Scholastic Achievement
Scholastic Performance
School Achievement
School Performance
Student Achievement
Student Performance
NT Academic Failure
Student Promotion
BT Achievement
RT Able Students
Academic Ability
Academic Aptitude
Academic Aspiration
Academic Probation
Academic Records
Academic Standard*
Achievement Rating
Advanced Placement
Oegree Requirements
. Educational Accountability
Educational Assessment
Gifted
Grades (Scholastic)
High Achievers
Intelligence
Learning Difficulties
Low Achievers
Performance
Performance Contracts
Progressive Retardation
Readmg Achievement
Student Evaluation
Students
Superior Students
Underachievers
Tesauros ERIC. Extrado da lista de descritores com indicao das
relaes semnticas. Tesaurus oJERIC descriptors. 63d., p. 153.
164
As linguagens documentais
PGI-85/ WS/ 11
Paris, 1985
THESAURUS
CONSTRUCTION AND USE
A CONDENSED COURSE
PREPARED BY
F. W. LANCASTER
GENERAL INFORMATION PROGRAMME AND UNISIST
UNE S CO
165
A classificao
A classificao uma operao da descrio de contedo de documentos,
pela qual determina-se o assunto principal e, eventualmente, um ou dois
assuntos secundrios que so traduzidos para o termo mais apropriado
da linguagem documental utilizada1. Os termos da classificao so
expressos, em geral, por notaes. Mas podem ser utilizados tambm
termos genricos de uma linguagem combinatria, como os nomes dos
campos ou os grupos de uma lista de descritores ou de um tesauro (ver o
captulo As linguagens documentais).
No caso das perguntas, deve-se determinar de que forma e em que
classes e subclasses da classificao esto armazenadas as informaes
suscetveis de respond-las.
A classificao situa-se no meio da cadeia documental, no momento de
entrada dos documentos no subsistema de armazenamento e de pesquisa.
Objetivos
Esta operao tem por objetivo classificar:
- documentos primrios nas estantes, no caso de se fazer um
armazenamento por assunto:
- referncias bibliogrficas nos catlogos sistemticos;
- referncias bibliogrficas nos catlogos impressos ou em produtos
documentais como boletins bibliogrficos e boletins de resumos.
A vantagem de utilizar uma classificao est em permitir:
- eventualmente, a concordncia entre o armazenamento material
dos documentos e a organizao dos catlogos, o que simplifica a
1. Os tipos de classificao so mencionados no captulo geral sobre As linguagens
documentais."
A classificao
utilizao das colees, sobretudo se so de livre acesso;
classificar as informaes em uma ordem relativamente restrita de
categorias que podem corresponder cada uma ao campo de interesse
particular de um grupo de usurios. Pode-se ter, por exemplo, em uma
classe produo vegetal", as subclasses cereais", legumes", e frutos.
Desta forma os usurios especializados em cada um destes aspectos
podero encontrar informaes que lhes interessam;
- ordenar previamente as informaes em funo de seu assunto
principal em uma srie de categorias definidas logicamente.
Este acesso simples, rpido e denso mais rgido e menos preciso que
um acesso por descritor. Muitas vezes as unidades de informao utilizam
ao mesmo tempo uma descrio de contedo com uma linguagem docu
mental combinatria.
Etapas
As etapas da classificao seguem o modelo geral da descrio de
contedo. Elas comportam principalmente:
- a determinao do assunto principal do documento;
a determinao da classe a que pertence o assunto principal;
a determinao dos aspectos formais secundrios do documento
(lugar, tempo, forma do documento e lngua) nos casos em que a
classificao traz estas indicaes;
a pesquisa dos nmeros que correspondem classe escolhida;
a construo ou a seleo do nmero correspondente, de acordo
com as regras da classificao utilizada;
eventualmente, a elaborao do nmero de chamada do documento,
que, alm do nmero de classificao, comporta, em alguns casos, as
primeiras letras do nome do autor e o ano de publicao do documento.
Um documento de R.Duchemin sobre a utilizao de resinas no
reflorestamento na Frana, classificado pela CDU, pode receber, por
exemplo o nmero de classificao indicado a seguir:
Silvicultura traduz-se por 634.0
Na Frana, como subdiviso de lugar traduz-se por (44)
Duchemin, R. traduz-se por DUC
ou seja: 634.0 (44) DUC
a colocao do nmero de chamada no documento;
a indicao do nmero de classificao no formulrio, ou na ficha
bibliogrfica do documento, no local previsto para este fim.
Os elementos de um documento que podem indicar o assunto principal
so, em geral, aparentes. O ttulo permite, na maioria dos casos, esta
indicao de forma satisfatria, mas necessrio verificar se esta
A classificao
informao est correta, pelo sumrio, ou pelas principais subdivises do
texto, ou ainda pelo prprio texto.
O nome da coleo ou srie pode, se necessrio, confirmar e precisar o
ponto de vista, e a disciplina na qual se situa o documento. A sobrecapa
do livro traz muitas vezes uma apresentao da obra ou um extrato
significativo; sua funo essencialmente publicitria e seu valor
informativo bastante desigual. O resumo, o prefcio e a introduo
permitem, muitas vezes, determinar rapidamente os aspectos essenciais
do documento. O sumrio e os ttulos dos captulos tambm esclarecem
o assunto. Na maioria dos casos, no necessrio examinar o documento
em detalhe.
Determinao dos assuntos
A determinao do assunto principal no requer, na maioria dos casos,
um conhecimento especializado na disciplina tratada. Em muitos casos,
a determinao do assunto principal no pode ser explicitada por uma
srie nica de termos. O autor pode tratar aspectos diferentes do assunto
sendo necessrio definir a importncia relativa de cada aspecto e suas
relaes. O documento citado anteriormente poderia, por exemplo, dar
um desenvolvimento igual s diferentes espcies de resinas utilizadas, s
suas caractersticas de crescimento e de resistncia s pragas, ao seu
interesse econmico e aos mtodos de reflorestamento, embora o ttulo
explicite apenas o primeiro e o ltimo tema.
necessrio determinar de que trata o documento buscando delimitar
mais o assunto, do que procurar identificar o tema principal.
A determinao do assunto deve ser realizada ressaltando os pontos de
vista prprios unidade de informao, que podem levar eliminao ou
ao reagrupamento de certos assuntos, ou ainda a design-los por termos
mais genricos. Neste momento possvel formular o assunto principal do
documento por uma combinao equilibrada dos termos selecionados.
Esta formulao pode ser expressa por um termo ou por um grupo de
termos extrados diretamente do documento, ou induzidos por uma
formulao. Desta forma, no exemplo precedente, os quatro temas esto
expressos no termo genrico silvicultura.
Seleo dos nmeros de
classificao
A seleo dos r meros de classificao correspondentes uma operao
de traduo. O caso mais simples aquele em que o termo escolhido para
representar o assunto principal do documento figura da mesma forma na
classificao utilizada. til verificar nas tabelas sistemticas se o
A classificao
descritor est empregado no sentido preciso, de acordo com os temas
tratados no documento. Pode acontecer que o descritor figure no cdigo de
classificao, mas esteja subordinado a uma classe que o limite em alguns
aspectos. Pode acontecer que o termo escolhido no conste no cdigo de
classificao utilizado. Neste caso necessrio determinar o nmero de
classificao mais prximo com a maior preciso possvel. Para tal,
necessrio um bom conhecimento, ou uma boa compreenso do assunto.
A consulta a dicionrios, enciclopdias e manuais poder ajudar. No
exemplo da silvicultura a classificao pode ter o termo rvore, na classe
espcies vegetais e o termo florestas na classe atividade agrcola".
Neste caso, escolhe-se o ltimo termo que corresponde melhora orientao
do documento e sua possvel utilizao.
Se fosse possvel representar por crculos o campo coberto pelo descritor,
pelo assunto principal do documento e por sua utilizao previsvel,
escolher-se-ia um descritor onde estes crculos se recobrissem da maior
forma possvel.
indispensvel confrontar o termo escolhido com o documento,
assegurando-se que ele representa, da forma mais exata possvel, o
assunto principal do documento tratado de acordo com as particularidades
da linguagem utilizada. A classificao no deve ressaltar termos que
apaream no documento apenas de forma secundria. Ao mesmo tempo,
a designao do assunto deve ser bem precisa, isto , no devem ser
utilizados termos muito gerais, nem muito especficos. Isto ser decidido
em funo das necessidades dos usurios. Deve-se imaginar em que
rubrica os usurios esperam encontrar o documento que lhes interessa.
Esta segunda verificao deve ser feita no prprio documento.
A utilizao de nmeros gerais de classificao , ao mesmo tempo,
cmoda, e algumas vezes indispensvel, em alguns casos, mas traz muitos
riscos. Esta utilizao deve ser feita com cuidado e de acordo com regras
bem definidas. Geralmente, as classificaes trazem entradas intituladas
generalidades", ou "outros", no interior de cada classe. Deve-se empreg-
las com discernimento. Estas rubricas so, em geral, reservadas a
documentos que se referem a vrios assuntos especficos, quando a
classificao em um destes assuntos no se justifica.
A classificao de assuntos secundrios algumas vezes autorizada
pelo sistema documental. Ela limitada, na maioria dos casos, a uma ou
duas entradas, alm do assunto principal. Procede-se da mesma forma
que para a classificao do assunto principal. possvel efetuar as duas
operaes simultaneamente, mas prefervel definir, em primeiro lugar,
o assunto principal, a seguir, os assuntos secundrios, e s ento
selecionar e verificar os nmeros de classificao correspondentes.
Em geral so admitidos dois tipos de assuntos secundrios:
quando o documento trata de dois ou trs assuntos com a mesma
profundidade. Neste caso, escolhe-se como assunto principal o mais
interessante para os usurios e os outros dois aparecem como secundrios.
A classificao
No exemplo anterior, se os quatro temas - espcies de resinas,
caractersticas de crescimento e de resistncia, interesse econmico e
mtodo de reflorestamento - tm um tratamento igual no documento, uma
unidade de informao especializada em botnica poderia escolher um
dos dois primeiros temas ou sua combinao como assunto principal.
Uma unidade de informao especializada em ecologia poderia escolher o
ltimo tema;
quando o documento tem um assunto principal, e necessrio
ressaltar alguns aspectos particulares deste assunto. Esta frmula
interessante, porque tem a vantagem de limitar o recurso s rubricas de
generalidades" e de permitir um acesso mais direto s informaes.
A verificao dos assuntos secundrios deve ser feita com relao ao
documento, como no caso do assunto principal, e com relao ao assunto
principal. Deve-se assegurar que os assuntos secundrios representam
um aspecto particular do documento. Este aspecto deve ter um interesse
especifico para os usurios, independentemente do assunto principal. O
assunto secundrio no deve estar includo no principal. As caractersticas
de crescimento, de resistncia s doenas e o interesse econmico
poderiam fazer parte do mesmo conjunto das espcies de resinas para o
especialista em florestas. Entretanto, para um economista, estes aspectos
devem ser ressaltados.
Areclassificao consiste em classificar novamente documentos. Muitas
vezes as unidades de informao que utilizam uma classificao
especializada recebem referncias bibliogrficas classificadas com um
sistema de classificao geral (como a Classificao de Dewey ou a da
Library of Congress). O mesmo problema ocorre quando a unidade de
informao muda de classificao.
Esta operao comparvel seleo do nmero de classificao a
partir dos termos escolhidos para descrever o assunto principal. Se no
foi estabelecida uma tabela de concordncia entre as duas classificaes,
verificar-se o documento original, ou o seu resumo. Mesmo que exista uma
tabela de concordncia, prefervel examinar o documento original. A
primeira classificao apresenta muitas vezes entradas mais gerais que a
segunda classificao ou fundamenta-se em critrios diferentes. Deve-se
ento comparar as duas tabelas sistemticas para assegurar-se qual o
campo coberto por cada descritor. Na medida do possvel, deve-se manter
uma coerncia lgica entre os descritores das duas classificaes. Um
problema semelhante ocorre quando a descrio de contedo feita
utilizando ao mesmo tempo uma classificao para o assunto principal e
uma linguagem combinatria para a indexao. Neste caso, a pesquisa
pode ser realizada no conjunto da descrio de contedo.
O enriquecimento do ttulo uma operao elementar da descrio de
contedo. Recorre-se a esta operao, quando o ttulo do documento um
dos meios utilizados para a pesquisa, e quando o ttulo original no
A classificao
significativo. Na realidade, mesmo nas publicaes cientficas, o ttulo
algumas vezes ressalta apenas um aspecto do documento. No exemplo
citado anteriormente, o documento "A utilizao de espcies resinosas no
refiorestamento" poderia referir-se sobretudo ao interesse econmico
destas espcies e o ttulo poderia ser As vantagens econmicas do
refiorestamento com espcies resinosas" ou ainda um ttulo mais polmico
como Uma revoluo no refiorestamento. Algumas vezes os ttulos so
muito gerais, como Aspectos recentes do refiorestamento.
Quando os ttulos so utilizados como meio de seleo dos documentos,
preciso enriquecer os ttulos no significativos. Para tal, faz-se uma
descrio de contedo sucinta, para identificar bem o assunto. A seguir
determinam-se os termos que devem ser acrescentados ao ttulo original,
para expressar corretamente o assunto principal do documento. Em
alguns casos, como, por exemplo, para a elaborao de boletins de
informao, cria-se artificialmente um novo ttulo. No exemplo acima,
poder-se-ia criar o seguinte ttulo: Revoluo no refiorestamento (com
espcies resinosas na Frana)".
A Association pourlaClassification, com sede em Frankfurt, Alemanha,
publica, sob o patrocnio da FID, a revista International Classification.
Esta associao publica ainda estudos sobre a teoria dos conceitos, a
terminologia sistemtica e a organizao do conhecimento. A Fdration
Internationale des Associations de Classification estuda os mtodos
matemticos aplicveis neste campo.
A classificao automatizada
As operaes de classificao podem ser objeto de uma automao
parcial. A inteligncia humana continua a ser indispensvel para selecionar
o assunto principal e determinar as informaes secundrias. Atualmente,
a classificao automatizada utilizada apenas em algumas bibliotecas,
a ttulo experimental. Ela baseia-se no seguinte princpio: se os objetos de
uma coleo so caracterizados por uma srie de atributos (como data,
forma, lngua e tema) possvel comparar os objetos dois a dois e definir
para cada conjunto o nmero de atributos comuns. O resultado leva a
reunir os objetos que possuam caractersticas comuns, isto , constituir
classes no a priori, mas a posteriorL O interesse da classificao
automatizada est na pesquisa documental. Ela no til para o
armazenamento fsico de documentos, pois no consegue criar
automaticamente um esquema classificatrio. A criao de uma linguagem
classificatria e a classificao do fundo documental so, ainda, tarefas
executadas essencialmente pelo homem.
172
A classificao
Questionrio de verificao
O que classificao?
Qual a finalidade da classificao?
Que informaes a classificao pode dar sobre um documento?
Quais as diferenas existentes entre a classificao principal
e a classificao secundria?
Em que partes do documento possvel identificar o assunto principal?
O ttulo do documento exprime sempre o assunto principal?
Como se faz a reclassificao?
Bibliografia
Bibliographical survey o/UDC ditions. La Haye, FID, 1982.
Classification dcimale universelle (CDU). dition abrge, FID, n? 652,
tablie par A. Canonne, C. L'Hoest, C. Lion et G. Lorphevre. Lige, d. du
CLPCE, 1986.
COATES, E. et al. Systme gnral de classemen: tables et index. La
Haye, FID. 1981.
DUJOL., A. La classification. Das: W.E. Batten (dir. publ.) Handbookof
especial librarianship an information work, 4- d., chap. VII. Londres,
Aslib, 1975.
LMAY ROUSSEAU, F. Classification des images, matriels et donnes,
2* d. Longueil (Qubec). M.-F. Rousseau, 1984.
LERMAN, I. C. Classification automatique: classification et analyse
ordinale des donnes. Paris, Dunod, 1981.
MALTBY, A. Classification in the 1970s. A second look. Londres/
Hamden (Conn.), Clive Bingley. Linnet Books, 1976.
MANIEZ, J. Les langages documentaires et classiflcations: conception,
construction et utilisation dans les systmes documentaires. Paris, Les
ditions d'organisatlon, 1987.
RANGABATHAN, S. Colon Classification, 7- d. Bangalore, Documenta
tion Research and Training Centre, 1987.
ROBINSON, G. CDU: une introduction. La Haye, FID. 1982.
SALVAN, P. Esquisse de 1'volution des systm de classification. Paris,
ENSB, 1967.
Ver tambm a bibliografia do captulo "As linguagens documentais.
173
A indexao
A indexao uma das formas de descrio de contedo. a operao pela
qual escolhe-se os termos mais apropriados para descrever o contedo de
um documento. Este contedo expresso pelo vocabulrio da linguagem
documental escolhida pelo sistema e os termos so ordenados para
constituir ndices que serviro pesquisa. a operao central do sistema
para a armazenagem e pesquisa das informaes. Situa-se, na maioria das
vezes, no meio da cadeia documental, no momento da entrada dos
documentos no subsistema de armazenamento ou no momento da pesquisa.
As perguntas devem ser descritas nos mesmos termos que os documentos
para que se possa comparar o contedo dos dois conjuntos e determinar
que documentos respondem cada questo. Entretanto, a indexao pode
ser feita no momento da produo de um documento primrio, se o seu
volume o justifica. Neste caso, o autor, ou o especialista, organiza a lista
dos assuntos tratados na obra, remetendo cada assunto s pginas onde
estas questes so desenvolvidas.
Os produtos da indexao so ndices, isto , listas de termos
significativos. Podem ser impressos no documento primrio, ou em
publicaes secundrias correntes ou ocasionais. Os ndices podem
tambm ser incorporados a fichrios manuais ou legveis por mquina,
que permitem selecionar os documentos em funo dos assuntos tratados.
Em ambos os casos, os ndices tm como objetivo recuperar informaes
e selecion-las para responder s necessidades dos usurios.
O nvel de indexao varia de acordo com as necessidades e as
possibilidades da unidade de informao. A indexao pode referir-se
apenas aos assuntos principais. a indexao genrica, que se assemelha
muito classificao, com a diferena de que ela geralmente mltipla,
isto , pode identificar vrios assuntos, enquanto que a classificao , em
geral, nica, isto , deve identificar o assunto principal do documento.
A indexao
A indexao pode referir-se ao conjunto dos assuntos tratados nos
documentos, identificados com termos relativamente gerais - a indexao
mdia, que pode conter at uma dezena de descritores. Ela pode referir-
se ainda a todos os assuntos descritos de forma bastante detalhada, com
mais de dez descritores - a indexao feita em profundidade. Pode
finalmente referir-se totalidade do documento, praticamente frase por
frase - a indexao exaustiva, utilizada sobretudo para um trabalho
aprofundado nos textos (como as decises de justia).
Como todas as descries de contedo, a indexao pode ser seletiva,
isto , reter apenas as informaes que possam interessar os usurios de
uma unidade documental determinada.
A influncia das caractersticas do sistema de informao na indexao
muito grande. A descrio dos assuntos tratados por um documento
pode ser bastante precisa e exaustiva, a ponto de tornar-se uma espcie
de reformulao normalizada do documento no seu conjunto. Mas,
mesmo se este trabalho fosse possvel, ele no serviria para nada. Como
todas as atividades de informao, a indexao , antes de tudo, um
instrumento de trabalho. Ela permite a recuperao das informaes teis
para categorias bem precisas de usurios. O nvel de indexao deve ser
definido para que estas necessidades possam ser satisfeitas com o menor
custo possvel.
Alm disso, a qualificao do pessoal disponvel, o volume de informaes
que devem ser tratadas e a sua natureza, o sistema de armazenamento e
de recuperao da informao, a natureza e a materialidade dos produtos
e dos servios de informao e os meios financeiros disponveis impem
igualmente limites na escolha do nvel e dos procedimentos de indexao.
As pessoas que fazem a indexao devem ter uma especializao no
assunto tratado. Esta exigncia pode variar de acordo com o nvel de
indexao exigido pelo sistema. Quanto mais aprofundada for a indexao,
mais necessrio conhecer os assuntos tratados, para realizar o trabalho
de forma satisfatria. Esta exigncia ainda mais importante para a
indexao das perguntas, porque necessrio compreender o que o
usurio procura e o que ele deseja fazer com as informaes que quer
obter.
Modalidades da indexao
As modalidades da indexao so variveis. Ela pode ser nica e
realizar-se, aps a descrio bibliogrfica, por uma pessoa responsvel
por todo o tratamento intelectual. A indexao pode ser realizada
sucessivamente por vrias pessoas responsveis pelas diferentes fases da
operao (extrao dos termos, formulao dos termos em linguagem
documental, verificao). Ela pode ser ainda feita pelos responsveis por
cada um dos nveis, isto , em nvel genrico, em nvel mdio e em
A indexao
profundidade. Pode ser feita em sua totalidade por uma pessoa, depois
verificada sistematicamente por outra com mais experincia, e ainda por
vrias pessoas. Os resultados so comparados na descrio final, o que
garante uma indexao mais adequada e homognea possvel. Esta ltima
operao realizada apenas para controle, ou no caso de sistemas muito
sofisticados. importante fazer verificaes coletivas sistematicamente.
A estrutura e a apresentao dos formatos constituem instrumentos
auxiliares de indexao. Em muitos sistemas, existem guias e manuais
que expem as normas e os procedimentos para transcrio dos descritores
e do exemplos dos casos mais freqentes, das principais dificuldades e
de solues concretas. Podem ser organizados esquemas de anlise para
os diferentes tipos de documentos com a lista dos vrios elementos de
descrio. A indexao pode ser feita com o auxlio do computador, que
manipula a linguagem documental. O computador pode indicar, por
exemplo, os descritores retidos para representar certos termos da linguagem
natural, os descritores relacionados a um tema determinado e o nmero
de documentos j indexados com um descritor. Ele pode ainda auxiliar na
extrao das noes significativas a partir do ttulo e do resumo, ou a
partir do texto, de acordo com tcnicas de indexao automatizadas. Nos
casos em que a indexao feita com uma linguagem hierarquizada, o
computador utilizado freqentemente para incorporar automaticamente
os descritores do nvel superior, ou os descritores relacionados com os
termos escolhidos pelo indexador. O computador pode ainda ser utilizado
para verificar se os descritores escolhidos existem e se esto escritos
corretamente.
Etapas da indexao
As etapas sucessivas da indexao seguem o modelo geral de descrio
de contedo j exposto no captulo A descrio de contedo". So elas:
- lembrar os objetivos da operao, se for o caso;
- tomar conhecimento do documento;
- determinar o assunto principal do documento;
- identificar os elementos do contedo que devem ser descritos e extrair
os termos correspondentes;
- verificar a pertinncia dos termos escolhidos;
- traduzir os termos da linguagem natural nos termos correspondentes
da linguagem documental, se for o caso;
- verificar a pertinncia da descrio;
- formalizar a descrio se o sistema prev regras particulares de
apresentao ou de escrita.
Se a indexao comporta vrios nveis, este processo deve ser repetido
a cada nvel. A indexao pode ser feita a partir do ttulo, se ele for
significativo. Desta forma obtm-se um nmero limitado de descritores,
A indexao
muito gerais. Se o resumo for bem feito, ele pode fornecer o essencial da
indexao, o que representa uma economia de tempo. Mas sempre
aconselhvel verificar a validade da descrio no documento na integra.
Uma indexao muito aprofundada, ou que responde a critrios muito
especficos, somente poder ser feita a partir do documento original.
sempre prefervel fazer a indexao a partir do prprio documento.
Deve-se comear tomando conhecimento do documento, para
determinar sua naturezae seu objeto. Estes aspectos podem ser decorrentes
da forma do documento. Uma tese, por exemplo, expe os resultados de
uma pesquisa cientfica, e deve, em geral, apresentar conhecimentos
novos, enquanto que um folheto de divulgao dirigido ao grande pblico
e apresenta os aspectos essenciais do conhecimento sobre um determinado
assunto, em uma linguagem simples. importante caracterizar
rapidamente o documento ou a questo, isto , saber do que trata e qual
o seu objetivo. Se a descrio bibliogrfica no traz estes elementos de
descrio, ou no utilizada nas operaes de pesquisa, estes elementos
devem ser includos na indexao, pois so elementos importantes para
julgar um documento.
Em todos os nveis de indexao deve-se sempre determinar o assunto
principal do documento. Isto permite orientar o trabalho.
A seguir faz-se um exame mais aprofundado, analisando o conjunto do
documento em funo do nvel de indexao desejado. A indexao dos
termos significativos deve ser feita de acordo com a organizao do
documento. imprescindvel notar a importncia relativa dos vrios
assuntos tratados.
Deve-se obter uma imagem to exata quanto possvel do documento
original, isto , o indexador deve extrair todos os termos que julga teis
para descrever completamente todos os conceitos e todos os objetos
tratados no documento capazes de interessar aos usurios de uma
unidade documental determinada. Deve-se selecionar estes termos em
funo destes interesses e das possibilidades de pesquisa. Esta escolha
pode ser feita imediatamente, ou em uma segunda etapa, o que mais
aconselhvel, sobretudo para os termos cuja utilidade possa ser posta em
questo. Os temas que no interessam unidade de informao sero,
conforme o caso, simplesmente mencionados em termos genricos ou
eliminados. Os temas particularmente interessantes para os usurios
devero ser assinalados, mesmo quando no so muito desenvolvidos. Ao
se indexar um relatrio de pesquisa para uma unidade de informao de
um centro de pesquisa, por exemplo, deve-se ressaltar no apenas o
problema abordado e suas concluses, mas tambm o mtodo e o universo
estudado.
Depois de escolhidos, os temas so selecionados. Um documento pode
comparar, por exemplo, vrios fertilizantes, cujos nomes sero identificados
no momento da anlise, mas estes termos podem no interessar aos
usurios. Eles sero nto substitudos por um termo mais geral, como
A indexao
fertilizantes ou fertilizantes qumicos". Um indexador com muita prtica
pode realizar esta operao no momento da extrao dos termos, mas
prudente distinguir estas duas etapas.
A indexao deve responder s questes que o usurio faz para saber
qual o objetivo de um documento e em que este documento pode servi-
lo. Pode-se lembrar estes objetivos sistematicamente pelas seguintes
perguntas: O que? De que forma? Como? Quando? e Onde?"
O que?" leva a determinar os assuntos ou temas tratados pelo
documento ou pela pergunta, como, por exemplo, as tcnicas de irrigao,
os fertilizantes e as tcnicas culturais.
De que forma?" leva a precisar a forma como os assuntos apresentam-
se como, por exemplo, o estudo de uma rede de irrigao e o clculo das
necessidades de gua.
Como?" leva a precisar as diversas circunstncias que cercam a ao,
as causas, as conseqncias, os objetivos, como, por exemplo, a introduo
de novas culturas e a seca persistente, assim como certas formas prticas
de realizar uma ao, como a irrigao por asperso e a utilizao de um
modelo para estudo.
Quando?" leva a precisar a data ou o perodo em que se desenvolve a
ao, que geralmente diferente da data do documento.
Onde?" leva a precisar o lugar onde se desenvolve a ao, quando se
trata de uma zona geogrfica determinada. Algumas informaes
necessitam ser localizadas apenas por pas, mas outras devem ser
localizadas em escala menor, por estado, cidade, bairro ou regio agrcola.
Em geral, traduz-se os termos escolhidos em uma linguagem documen
tal. Muitas vezes, apenas esta fase designada como indexao. No caso
da indexao feita no momento da produo do documento primrio, no
se coloca o problema de compatibilidade de indexao entre vrios
documentos. Faz-se apenas uma lista dos termos significativos teis do
texto em ordem alfabtica, ou por tema. O mesmo acontece em uma
unidade de informao que utiliza uma linguagem livre. Quando se utiliza
uma linguagem documental, podem aparecer vrios casos:
1. o termo extrado figura tal qual na linguagem documental. Esta
verificao feita na parte alfabtica da linguagem. Pode-se transcrev-lo,
mas prudente verificar na parte sistemtica, ou a partir das relaes, se
o termo est empregado da mesma forma. Se isso no acontece, d-se o
tratamento descrito no terceiro caso:
2. o termo pode figurar com uma remissiva a um outro termo escolhido
como descritor. Deve-se empregar o ltimo termo;
3. o termo no aparece na linguagem documental. necessrio definir
a que categoria, grupo ou classe de termos ele pertence, conforme a
classificao adotada pela linguagem documental. A seguir, procura-se na
parte sistemtica da linguagem o descritor mais apropriado. O termo
irrigao por asperso", por exemplo, pode no existir na linguagem
utilizada. Entretanto, a linguagem pode permitir a utilizao do descritor
A indexao
Procedimento de irrigao", que pertence ao grupo Cultura irrigada,
toda vez que for descrita uma forma especial de irrigao.
Pode acontecer de um descritor que aparece na linguagem documental
no ser satisfatrio para traduzir uma noo determinada. Neste caso,
escolhe-se o descritor que, hierarquicamente, ou pelas suas relaes, o
mais prximo da noo que se quer exprimir. Prope-se, ao mesmo tempo,
a criao de um novo descritor.
Em todos os casos, o descritor escolhido deve estar no mesmo nvel de
especificidade do termo extrado do documento ou da pergunta, ou, no
nvel exatamente superior, se isto no for possvel.
Quando a linguagem documental tem regras de escrita ou utiliza uma
sintaxe, necessrio organizar os descritores. Esta organizao segue as
regras particulares da linguagem. O sistema pode impor aos indexadores
que mencionem, alm dos descritores especficos escolhidos, os descritores
genricos ou os seus termos relacionados (no caso de redes de irrigao",
acrescenta-se, por exemplo infra-estrutura agrcola).
No caso das perguntas, a organizao dos descritores segue as regras
impostas pela lgica de pesquisa utilizada. Em geral, organizam-se grupos
de descritores que se precisam, se completam ou se excluem mutuamente,
na ordem em que a pesquisa ser efetuada (ver o captulo A pesquisa da
informao"). A reviso da indexao assegura sua qualidade e se ela est
de acordo com as regras do sistema. Ela sempre feita ao menos uma vez
pelo indexador e, eventualmente, por seu superior imediato. No plano
formal, verifica-se se as regras de escrita foram respeitadas, se os
descritores utilizados existem e se esto escritos corretamente.
A qualidade da indexao pode ser julgada a partir de vrios critrios:
- exaustividade, isto , verificar se todos os temas, objetos e conceitos
tratados pelo documento foram bem representados na indexao:
- seletividade, isto , verificar se foram retidas apenas as informaes
que interessam ao usurio;
- especificidade, isto , ver se a descrio traduz da forma mais precisa
possvel, o contedo do documento e que no utiliza descritores muito
gerais ou muito especficos em relao s noes expressas no documento;
- uniformidade, ou consistncia, isto , verificar se os indexadores
descrevem um mesmo documento, ou documentos, sobre um mesmo
assunto, da mesma forma.
A reviso pode ser feita comparando a indexao ao documento original
ou aos termos extrados originalmente, simulando algumas perguntas
para ver se o documento pode ser recuperado, buscando informaes
sobre um dos assuntos de que ele trata, ou comparando, se for o caso,
documentos similares.
180
A indexao
Indexao de documentos no-escritos
A indexao de documentos no-escritos tem problemas prprios sua
natureza e a sua forma de consulta, bem como a multiplicidade das
necessidades que eles so capazes de responder. Algumas vezes estes
documentos so acompanhados de uma apresentao escrita que pode
ser utilizada pelo indexador. Mas, na maioria dos casos, preciso
conhecer o documento no seu todo.
Um documento audiovisual apresenta-se em vrias dimenses e
compreendido, em geral, mais emocionalmente do que um documento
escrito. Um documento escrito pode, por exemplo, relatar a apresentao
de um novo modelo de trator. Uma fotografia do mesmo trator pode ter
algumas informaes que podem aparecer no texto, mas que sero
percebidas mais especificamente a partir da foto. Pode-se reconhecer as
pessoas na foto? O trator encontra-se parado ou em movimento, encontra-
se em um campo ou na fbrica onde foi construdo? Conforme os casos,
a fotografia poder ser utilizada diferentemente (ela pode, por exemplo,
ilustrar a modernizao da produo agrcola se for tomada em um
campo). Se se tratar de um filme, as vrias seqncias podem mostrar
diferentes fases da apresentao do trator, assim como som com rudos do
motor e palavras (discursos e comentrios do jornalista).
O primeiro problema a ser resolvido o da unidade de descrio
(unidade documental), que deve ser a menor parte visvel ou audvel,
possvel de ser explorada. Mas, o usurio pode buscar, por exemplo, a foto
de um trator qualquer, de um determinado trator, de um trator
movimentando-se em um campo noite, ou da esquerda para a direita.
O segundo problema o da descrio dos conceitos e dos objetos. Quais
devem ser os graus de profundidade de cada descrio? No exemplo acima,
os conceitos so mquinas agrcolas", mecanizao", novos produtos",
e os objetos trator", campo", "condutor e pblico. Embora o
procedimento de anlise seja o mesmo que o utilizado para os documentos
textuais, este procedimento deve ser mais formalizado para os documentos
no-textuais. Devem ser organizados esquemas de anlise para guiar os
passos dos indexadores e evitar que eles passem de um nvel a outro
(conceito-objeto, conjunto-detalhe) desordenadamente.
Os problemas de tratamento documental da imagem e a importncia
cada vez maior deste suporte tornaram-se mais atuais devido a vrios
fatores como a propagao da infografia eletrnica1, as imagens de
sntese e a apario dos novos suportes particularmente apropriados a
este tipo de documentos, como o videodisco. Os bancos de dados de
imagens, para os quais foram criados mtodos de indexao especficos,
desenvolvem-se cada vez mais (ver o formulrio de anlise de imagens da
rede Urbamet).
1. "Infografia: campo da informtica que tem por objeto a produo automtica de
desenhos e imagens.______________
A indexao
Indexao automatizada
A indexao automatizada consiste em fazer o computador reconhecer
palavras que aparecem no ttulo, no resumo do documento, ou no seu
prprio texto. Os termos reconhecidos so incorporados em um arquivo de
pesquisa e servem para recuperar o documento. A indexao automatizada
uma tcnica cada vez mais utilizada, com muito futuro, apesar dos
problemas que ainda encontra.
Ela pressupe que se introduza no computador o texto do documento,
ou ao menos o ttulo e o resumo do autor. O computador utiliza diferentes
mtodos para identificar os termos significativos.
Pode-se, por exemplo, comparar pelo computador, os termos do resumo
com os descritores da linguagem documental. Cada vez que um descritor
aparece no resumo, o documento indexado com o termo correspondente.
Este mtodo eficaz apenas em campos muito especficos do conhecimento
onde a linguagem natural e a linguagem documental so muito prximas.
Pode-se fazer tambm anlises estatsticas em uma amostragem dos
textos e determinar a freqncia com que aparecem as palavras. Aquelas
que aparecem constantemente so consideradas como sem significado.
So as palavras vazias ou no-informativas, como os artigos e as
preposies, que constituem o dicionrio de palavras vazias ou o
antidicionrio. Um segundo grupo formado pelas palavras que aparecem
com menos freqncia e que so consideradas como significativas. Um
terceiro grupo formado pelas palavras que aparecem raramente e que
so consideradas como muito especficas. A partir da indica-se ao
computador qual deve ser a freqncia das palavras que sero selecionadas
para a indexao. O computador calcula a freqncia das palavras no
texto integral dos documentos ou dos seus resumos e extrai as palavras
que se situam entre as freqncias consideradas como timas". Este
mtodo, que pode ser aplicvel a um domnio definido do conhecimento,
mais eficaz que o precedente. Sua principal desvantagem est em
considerar cada palavra isoladamente, e permite apenas definir que um
conceito ou um objeto encontra-se em um documento, sem definir seu
papel. Este mtodo no considera, por exemplo, o problema da sinonmia.
Uma mesma informao pode aparecer vrias vezes em um texto sob
diversas formas. Isto ignorado no clculo de freqncia de palavras feito
pelo computador. Pode-se organizar dicionrios de sinnimos, mas eles
complicam a utilizao do sistema.
Um outro mtodo consiste em enriquecer a indexao humana pela
colocao de termos genricos. Neste caso, todos os termos extrados pela
indexao humana sero automaticamente complementados pelo
computador com os descritores hierrquicos genricos de cada termo. Por
exemplo, em uma indexao onde foram retidos os descritores ciclista",
ejeo" e indenizao", pode-se acrescentar os seguintes descritores
hierrquicos retirados do tesauro:
A indexao
Termos acrescentados
automaticamente usurio da estrada segurana em legislao
caso de acidente seguro
condutor
Descritores originais ciclista
coliso
eieco
cdigo de estrada
indenizao...
Os mtodos lingsticos introduzem tratamentos morfolgicos para o
reconhecimento das estruturas mais significativas. A indexao faz-se
ento em duas fases. A primeira consiste em determinar as unidades
lxicas do documento a ser analisado. Para tal registra-se, na memria do
computador, uma lista de separadores (espao em branco, vrgula,
ponto...) que permite reconhecer as palavras. A seguir, o computador faz
o reconhecimento morfolgico das palavras retidas (desinncia verbal,
grupo nominal), a partir de um arquivo de terminaes e de ligaes. As
variantes morfolgicas so reduzidas a uma forma lxica nica (como, por
exemplo, o substantivo). A segunda fase consiste em fazer o reconhecimento
semntico dos termos retidos ou classilic-los em trs grupos: no-
significativos, no-ambgos e ambguos, em relao a uma linguagem
livre normalizada ou no. Os termos no-ambgos so utilizados para a
indexao. Os termos ambguos so objeto de um tratamento especfico.
Existem atualmente mtodos sintticos que acrescentam ao mtodo
descrito anteriormente uma interpretao sinttica feita pelo computador.
Os descritores isolados utilizados para a indexao so objeto de um
tratamento gramatical que permite o estabelecimento de relaes
sintagmticas entre os termos. Este mtodo aproxima-se das operaes
efetuadas pelo homem, mas mais dificil de ser executado.
Estes mtodos podem ser combinados entre si. Aindexao automatizada
dificultada pela necessidade de alimentar o computador com textos
completos ou resumos e dicionrios volumosos, o que longo e caro. Esta
dificuldade ser ultrapassada progressivamente, pela generalizao da
composio automtica de textos.
Embora o homem seja capaz de levar em considerao os parmetros
sutis e numerosos que comandam a indexao existem atualmente meios
de produzir programas bastante sofisticados que possibilitam fazer uma
indexao automatizada eficaz. Esta indexao, cada vez mais
aperfeioada graas aos esforos conjuntos dos analistas e dos lingistas.
Entretanto, ela apenas limitada aos documentos textuais. Existe uma
enorme variedade de sistemas de indexao automatizada ou semi-
automatizada utilizados em grandes centros de informao. Nos ltimos
anos, foram desenvolvidos vrios sistemas de indexao assistidos pelo
computador destinados a unidades de informao pequenas ou de tamanho
mdio. Estes sistemas fundamentam-se no seguinte princpio: em uma
primeira fase o computador trata o texto e prope ao documentalista
A Indexao
descritores extrados de uma lista de autoridade. O documentalista
estabelece, ento, um dilogo com a mquina, que permite afinar a
primeira lista e torn-la mais pertinente.
Questionrio de verificao
Onde se localiza a indexao na cadeia documental?
Qual a finalidade da indexao?
Em que nveis a indexao pode ser feita?
Para que serve um esquema de anlise?
Como o computador pode auxiliar na indexao?
A que perguntas a indexao deve responder?
Quais so os meios utilizados para assegurar a uniformidade
da indexao?
Quais so os contedos de uma imagem fixa suscetveis
de serem indexados?
Quais so os principais mtodos de indexao automatizada?
Bibliografia
ANDREWSKY, A. et FLUHR, C. Analyse automatique du language :
application la documentation. Paris, Dunod, 1985.
AUSTIN, D. Precis : a manual of concept analysis and subject indexing.
Londres, The British Libraiy, 1984.
BORKO, H. et BERNIER, C. L. Indexing concepts and methods. New York,
Academic Press, 1978.
BROWN, A. G. An introduction to subject indexing. Londres, Clive Bingley,
1982.
CALDERAN, L. ; HIDOINE, B. et RAMBERT, P. Guide pratique pour la
description des audiouisuels scientifiques et techniques. Le Chesnay,
INRIA, 1982.
COLLISON, R. L. Indexes and indexing. 5- d. Londres, Benn, 1969.
FOSKETT, A. C. The subject approach to information. 39 d. Londres, Clive
Bingley, 1977.
GLEYZE, A. Pour une mthode d'indexation alphabtique de matires.
Villeurbanne, ENSB, 1983.
HARTNER, B. An introduction to au.omated literature searching. New York,
Dekker, 1981.
JONKER, F. Indexing theory indexing methods and searchdevices. Metuchen
(N.J.), Scarecrow Press, 1964.
A Indexao
LANGR1DGE, D. W. et MILLS, J. An introduction to subject indexing.
Londres, Clive Bingley, 1982.
NATIONAL FEDERATION OF ABSTRACTING AND INDEXING SERVICES/
UNESCO. Indexing in perspective education kit. Philadelphie, NFAIS,
1979.
RICHTER, N. Crammaire de 1'indexation dcimale. Le Mans, Bibliothque
de 1'Universit du Maine, 1987.
ROY, R. Classeretindexer: introduction 1indexation documentaire. 28d.
Le Mans, Bibliothque de l'Universit du Maine, 1987.
VAN SLYPE, G. Les langages d'indexation : conception, construction et
utilisation dans les systmes documentaires. Paris, Les ditions
dorganisation, 1987.
UNESCO/UNISIST. Prncipes d indexation, version prliminaire. Paris,
Unesco, 1975. (Doc. SC-75/WS-58.)
185
A indexao
(WH
i a i a a
m
iwi
m
rtfc
Un
T iiiiic
-J VPAH3lH J r t A Z i i '} AS>^3h-?____
n - 1 ^03 uj d o u y u ^j a d U-Bd ^ . uj el o I S - * ujio 6S
H-Hl Q p J > ~ > ) J
Fwjeti
it
dftrioppflWS!
m
0tKri|*ttr*
i t p t t f ,
1S8: /.E e n ..&h i .J . 4sfAU LT4>N Ve Or&TAlrr/
Ml
rtuwt
*j2).$...<Lu.H.e. TeeHNJ ty ,g 7 fu& LA. /.HIS6 ft/__
V/Ucug gr.fcil C4>LE f 2>Eir /f.jL mer a e D infiCrnt^/
h._____ L f jfcuMA____NE..BA AtS lAj._______________________________________
k - J -gTu.ae HE Lfi S1J .UA12.0M___ ?4>Tg/VTTf t- L fi
fiAL.6A.6Jr tic_ / f P c t Q g ie c I f l f i l G r v e F S ^
/ * i 4 L. ti L f i l J s., / .Cj;42 /V EfJ EAOI f l f t j P L AHT F f
ti A tl Al <ZHfi ./S.___ CAL.C.]j1 i>l / C .uT CJ E.
P/g^Dct 2<fr/V/----^-----C<fcH PftlS---- ___^ C ^ u r OF La
h &i /w J ^ v t r y tia___g.^rx ^
^0 ne.?/ , l e {S / i x i n j ET f>c cxjtEA^t
ttA&Aa C Hflfifg.-fia L a a/ m/p& } Pt
\ iALil.Ei// / VAL BUA .... J L Xu.T E E / T /*.i /P. u / t u r r
^ f ..?/>.gT2.TJA/ XS f e l l MerAfS. Av .fg-r/v SP a
/eatfftrAftTsv j>j /SAHeiJ, zpL.
D e s e a z P T i t f j De* glfgiteA/TS ' /ry P* h - .ca. )
/T.HtVl<?uG C.UL.T tiH.Al.Gjf
/...#L I u I E (L {____________________
Ar ...SM ATT 9 IJ<r- SuA-
n rMdn
KW un
t Mmt
2ftrifinuw
wn
3 PrrftntiM
4- Nrifiotin
Modelo de formulrio de anlise. Centro nacional de documentao
agrcola, Tunsia.
186
A indexao
8
sanbiti<1i'<f>oiiqiq soduoji^u
Exemplo de formulrio de anlise e Indexao de imagens animadas
(filmes, fitas de vdeo) Urbamet.
8 ! 8
ur
2;
f
uT
ur
cs
J
vf
h*
3
<
X
tf
UT
O
_r r
C
ct
_
f
i
z <
Ui a
vD
J
P
z
Ul
l*
Z*
<n J
J z
J
o $
-
o e ;
Q o i <
cc
* 2
UJ
0. ;u . cc'
\ | \ sv
\ V
i <
187
O resumo
O resumo uma operao que permite diminuir sensivelmente o volume
de informao primria e destacar aspectos que interessam
particularmente ao usurio. Os resumos (abstracts, em ingls),
apresentam-se, na maioria dos casos, como textos curtos que acompanham
o documento original, ou o substituem.
Um resumo pode ser feito:
- no'incio da cadeia documental, no momento da produo do
documento primrio. Neste caso, o resumo elaborado, em geral, pelo
autor do documento:
no meio da cadeia documental, quando os documentos ingressam
no sistema de armazenamento, pesquisa e difuso da informao;
- no final da cadeia documental, quando uma questo foi tratada e
os documentos primrios selecionados so resumidos para dar uma
resposta mais apropriada ao usurio (como, por exemplo, no caso de uma
bibliografia analtica feita sob demanda).
A utilizao dos resumos tem por objetivo a difuso da informao; a
seleo da informao pelo usurio final; e a pesquisa da informao,
sobretudo nos sistemas automatizados.
O computador permite extrair as palavras-chave dos resumos para
armazenar as informaes ou comparar os termos extrados do documento
com as questes, no momento da pesquisa.
Tipos de resumo
Os resumos diferenciam-se por:
- seu tamanho, que pode variar entre dez e mil palavras;
- o nvel de detalhe do seu contedo;
- a presena ou ausncia de elementos de crtica, que podem dar
O resumo
subsdios para avaliar o documento;
- o fato de o resumo considerar o documento na sua totalidade, ou
apenas os aspectos capazes de interessar ao usurio;
- a linguagem utilizada, que pode ser natural ou artificial
(convencional) com menor ou maior dose d formalizao.
Estas caractersticas permitem formar a seguinte tipologia:
o ttulo, considerado como resumo, se este traduz o contedo
principal do documento. Este o caso do ttulo de alguns artigos
cientficos;
- o resumo indicativo, que explicita sumariamente o documento;
- o resumo informativo, que descreve o documento de forma completa
e apresenta as principais concluses do autor;
o resumo crtico, no qual o autor do resumo apresenta suas
concluses pessoais. Este tipo de resumo deve ser assinado;
- o extrato, constitudo por citaes do texto analisado;
- o review, resumo que analisa um conjunto de documentos que
tratam de um mesmo assunto.
Os resumos podem tambm ser Identificados pela pessoa que os faz.
Assim, pode-se distinguir o resumo de autor e o resumo do analista. O
resumo de autor acompanha muitos documentos primrios, principalmente
os documentos cientficos. A normalizao impe cada vez mais ao autor
a obrigatoriedade de fornecer um resumo de seu texto para que o
documento seja editado. O resumo de autor permite uma economia de
tempo e de esforos no tratamento e na utilizao do documento. Entretanto,
os pontos de vista do autor e do sistema de informao podem ser
diferentes; por esta razo til verificar a pertinncia do resumo de autor
antes de introduzi-lo no sistema.
Contedo do resumo
O contedo principal de um resumo constitudo pela sntese do
documento original. O resumo pode indicar:
o assunto ou os assuntos tratados;
a natureza do documento (como, por exemplo, um ensaio ou a
apresentao dos resultados de uma experincia);
- a finalidade do trabalho descrito;
os mtodos ou os tipos de mtodos empregados;
os resultados obtidos;
as concluses ou as perspectivas propostas pelo autor (o local, a
data ou, se necessrio, as circunstncias em que foi realizado o trabalho);
- uma apreciao da importncia relativa do documento, no caso de
um resumo crtico.
A leitura do resumo deve permitir ao usurio:
- conhecer o documento com preciso;
O resumo
- determinar se ele necessita ler o documento original. Se este no for
o caso, o resumo deve poder substitu-lo para as necessidades elementares
de informao. Isto particularmente importante no caso de resumos de
documentos escritos em lnguas que o usurio no conhece.
O contedo secundrio de um resumo pode trazer:
na parte informativa, uma descrio mais detalhada dos principais
pontos do documento e a descrio de alguns aspectos particulares ou
marginais que interessem especialmente aos usurios. Deve-se detalhar
tambm alguns aspectos, como mtodos, equipamentos e resultados,
sobretudo quando se tratam de dados novos. tambm importante
descrever a forma como os assuntos so tratados;
na parte crtica, eventualmente, a discusso dos diferentes aspectos
do documento, em funo do estado dos conhecimentos ou de algumas
preocupaes dos usurios.
Mtodo de realizao
As etapas da preparao de um resumo so as mesmas dos outros tipos
de descrio de contedo (ver o captulo A descrio de contedo). Se o
resumo for feito aps a classificao e a indexao, o que representa uma
ordem lgica de acordo com a complexidade crescente do tratamento
documental, o documentalista poder utilizar-se do resultado obtido nas
etapas anteriores. O inverso tambm possvel e a preparao do resumo
pode ser feita em primeiro lugar para acelerar a difuso da informao.
A extrao dos termos faz-se de forma ordenada, isto , por tema e em
funo das categorias de informaes que o usurio espera obter. A ordem
de apresentao e a importncia relativa dada aos vrios aspectos do
documento so elementos a considerar. Todos estes aspectos no devem
necessariamente estar refletidos no resumo, a menos que sejam
particularmente significativos (como, por exemplo, no caso de um
documento intitulado Crescimento e proteo do abricoteiro", onde trs
quartos do documento referem-se ao crescimento). Os diferentes temas
devem ser identificados desde o momento da caracterizao do documento.
Os termos no so extrados isoladamente, mas por grupo, na forma de
frases do texto original, ou pela composio de novas frases para indicar
as relaes entre os termos.
As qualidades do resumo so:
- sua conciso. Deve-se evitar o uso de expresses que possam ser
substitudas por palavras. Entretanto, a conciso no deve prejudicar a
preciso. necessrio evitar o emprego sistemtico de termos e de frases
muito gerais, que condensam o texto original, mas que no o caracterizam
bem. Deve-se utilizar expresses exatas e especficas e respeitar o nmero
de palavras recomendado;
- o resumo deve ser auto-suficiente. A descrio do documento deve
ser completa e inteligvel, sem que seja necessrio referir-se a outra fonte;
O resumo
- sua objetividade. Devem ser evitadas interpretaes ou apreciaes
pessoais do autor do resumo. O documento primrio deve ser descrito tal
como se apresenta, em funo das necessidades do usurio. No caso de
um resumo crtico, os elementos objetivos de apreciao devem estar
explcitos. O pior defeito de um resumo ser vazio, isto , constituir-se de
uma parfrase do ttulo. No caso de um resumo informativo deve-se evitar
a composio de frases do tipo: O autor descreve o mtodo e os resultados
de um estudo sobre a aplicao do congelamento para a conservao de
frutos". Neste caso, para ser informativo, o resumo deve descrever o
mtodo, definir o congelamento a partir de dados quantitativos, explicitar
o objetivo da conservao e informar os tipos de frutos utilizados.
Pode-se fazer resumos por computador. Entretanto, esta tcnica ainda
no est bem desenvolvida. Existem obstculos de ordem prtica: o
computador dever ter o texto integral na memria. Os obstculos de
ordem terica podem ser resumidos da seguinte forma: o computador deve
no apenas compreender o texto, mas ainda produzir o resumo
corretamente. A compreenso da linguagem natural pelo computador
um dos temas de pesquisa da inteligncia artificial que tem ainda um
grande caminho a percorrer (ver o captulo A unidade de informao e as
novas tecnologias").
A lngua do resumo geralmente a do autor do documento primrio ou
a do servio que o produz. Quando este idioma no muito conhecido os
resumos podem ser feitos ao mesmo tempo em uma outra lngua de maior
difuso.
Atualmente possvel fazer resumos com traduo automatizada em
vrias lnguas. O sistema Titus permite este tipo de traduo. No se deve
empregar a primeira pessoa na elaborao de resumos. A linguagem deve
ser clara, rigorosa e neutra. Todos os termos empregados devem ser
inteligveis pelos usurios. Esta regra aplica-se especialmente s
abreviaturas e aos smbolos. Deve-se utilizar somente os smbolos de uso
corrente. Os termos do resumo devem ser precisos e dar informaes reais.
A apresentao material dos resumos segue, em geral, regras estritas,
que permitem sua incluso em publicaes ou sua introduo em catlogos
manuais ou automatizados.
Paralelamente s normas gerais, cada servio estabelece regras
particulares com relao ao tamanho, paginao e composio dos
resumos. Se estas regras no so respeitadas, o resumo no poder ser
introduzido no sistema.
Existem tipos particulares de resumos. Alguns utilizam os descritores
atribudos aos documentos no momento da indexao. Estes descritores
so ligados entre si por meio de palavras livres formando frases. Na
maioria dos casos so aplicadas regras precisas para a sua composio:
os descritores so organizados em funo de seu nvel hierrquico e dos
diferentes pontos de vista impostos pela descrio. Nos resumos elaborados
para a traduo automatizada a ordem dos termos e o seu arranjo nas
O resumo
frases seguem regras preestabelecidas. Este tipo de resumo deve ser
redigido em uma linguagem particular que tem sua prpria lgica e a sua
prpria gramtica e deve ser inteligvel por qualquer pessoa que conhea
as lnguas utilizadas pelo sistema.
Problemas ligados a tipos
particulares de documentos
Alguns tipos de documentos apresentam caractersticas especficas e
permanentes que o resumo deve considerar. Na maioria dos casos, estes
documentos apresentam uma srie de elementos em uma ordem fixa. Este
o caso, por exemplo, dos projetos e dos relatrios de pesquisa, dos
relatrios tcnicos, dos relatrios de reunies, dos relatrios peridicos,
das bibliografias, das recenses crticas e das colees de estatsticas. O
contexto no qual estes documentos so produzidos , muitas vezes, um
elemento de apreciao importante. Esta informao deve aparecer no
resumo, mesmo se no estiver explicitada no documento. Muitas vezes
estes documentos podem estar relacionados a outros de mesma natureza
ou de natureza diversa. Este o caso de um relatrio de sntese que pode
estar relacionado com um relatrio sobre a anlise dos dados brutos. O
resumo deve explicitar esta relao. Se possvel, importante dar
informaes sobre os documentos relacionados de forma a permitir a
compreenso de seu contedo.
Na medida em que estes documentos comportam elementos fixos e
sobretudo se estes elementos so apresentados em uma ordem fixa, o
resumo deve trazer, se possvel, as informaes, para cada tipo de
documento, na mesma ordem. Por exemplo, um projeto de pesquisa deve
apresentar uma hiptese e uma definio do problema, uma reviso de
literatura, o material, a metodologia, o desenvolvimento do estudo, os
resultados e as suas aplicaes.
O autor do resumo pode ser o autor do documento primrio ou uma
pessoa especialmente contratada para este fim. necessrio conhecer
bem o assunto do documento, isto , ter uma formao e uma experincia
na rea, para fazer um resumo correto.
193
O resumo
Questionrio de verificao
Quais so as vantagens e as desvantagens de um resumo de autor?
Os resumos podem ser feitos no finai da cadeia documental?
Um resumo que retoma o ttulo do documento primrio com
algumas modificaes aceitvel?
Pode-se utilizar no resumo, para ganhar espao, abreviaturas que
no fazem parte da linguagem corrente dos usurios?
Um resumo pode ser feito apenas ressaltando um aspecto
marginal de um documento?
Quem pode fazer resumos?
Qual deve ser o estilo de um bom resumo?
Bibliografia
Abstraction and indexing services directory . Detroit, Gale Research
Compagny, 1983. 3 vol.
ARMOGATHE, D. Le traitement linguistique de Vinformation : 1'analyse
documentaire. 3- d. ParisEntreprise modeme d'dition, 1988.
CHAUMIER, J. Le traitement linguistique de Vinformation: Lanalyse
documentaire, 3- d. Paris, Entreprise modeme d'dition, 1988.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. Uanalyse
ddocumentaire. Genve, ISO, 1982.
. Rsums d'auteur. Cenve, ISO, 1982.
ROWLEY, J. E. Abstracling and indexing. Londres, Clive Bingley, 1982.
Exemplo de resumo de um documento
Ttulo original
J.G. e H. Tschinkel
Contributiona la protection des combustibles ligneux: performance et
conomie de quatre types de rchauds (21 p.)
Resumo do autor
Em muitas regies ridas, a destruio da cobertura vegetal, resultante
das necessidades de madeira para aquecimento e de carvo de madeira
O resumo
atingiu propores alarmantes e levou os governos a encorajar a utilizao
do gs e do petrleo como substituto dos combustveis vegetais. Para
permitir uma escolha racional deste tipo de aquecedor que convenha
melhor s zonas rurais, foges com uma boca foram testados em laboratrio.
So estes: 1) o fogo de presso a petrleo; 2) o fogo a petrleo com chama
regulvel; 3) o fogo a petrleo com chama fixa; 4) o fogo a gs butano ou
gs propano. Comparou-se a economia de combustvel, a produo
mxima de calor, a regulagem e as propriedades de funcionamento. O
fogo a petrleo com presso mostrou-se superior em quase todos os
planos. Embora as propriedades de aquecimento do fogo a gs sejam
similares, o preo elevado do gs propano na Tunsia torna o fogo de
presso a petrleo mais econmico.
Resumo com base em descritores
Economia, Floresta
Estudo de economia domstica/em/Zona rural. Comparao de quatro
tipos de foges para o/cozimento/dos alimentos levou a concluir em favor
do fogo a/Petrleo.
Estudo que contribui para a/Proteo da floresta/evitando utilizao da/
madeira para fogo/que leva destruio da/Cobertura vegetal
Resumo indicativo
Estudo Comparativo das propriedades fisicas e econmicas de quatro
tipos de foges a petrleo e a gs, utilizveis na zona rural da Tunsia.
Resumo informativo
Estudo comparativo feito em laboratrio, do fogo a petrleo de presso,
do fogo a petrleo com chama fixa, do fogo a petrleo com chama varivel
e do fogo a gs butano ou propano com relao economia de combustvel,
produo mxima de calor, capacidade de regulamento e s propriedades
de funcionamento. Na Tunsia, o fogo a petrleo com presso mais
econmico, se levar-se em conta o preo do gs propano. A performance
deste tipo de fogo superior. A utilizao desta forma de aquecimento na
zona rural permitir diminuir a destruio da cobertura vegetal.
195
Os catlogos e os
fichrios
Um catlogo uma srie ordenada de referncias ou de inscries que
registram as peas de uma coleo. Existem catlogos comerciais que
indicam os produtos fabricados e/ou distribudos por uma empresa em
um momento determinado. Trataremos aqui apenas dos catlogos das
unidades de informao que descrevem os documentos primrios e/ou as
informaes que eles contm, isto , aqueles que trazem a descrio
bibliogrfica dos documentos (ver o captulo A descrio bibliogrfica").
Existem vrios tipos de catlogos que podem ser classificados de acordo
com o suporte utilizado (em papel, em fichas e em suportes legveis por
mquina, entre outros), de acordo com seu arranjo ou com seu contedo.
Geralmente, utilizam-se ao mesmo tempo vrios tipos de catlogos.
Com o desenvolvimento da automao, os catlogos apresentam-se
cada vez mais em formatos legveis por mquina e o termo arquivo
substitui o termo catlogo. Eles so a memria das unidades de informao.
Todas as operaes dos servios aos usurios e as de gesto tm como base
a explorao dos catlogos. A utilizao mltipla e eles tm como
objetivo:
- identificar documentos primrios;
- localizar documentos primrios;
recuperar documentos primrios capazes de fornecer
informaes a partir de nomes de autores, de assuntos e de
paises, entre outros;
- gerenciar o fundo documental. Os catlogos permitem conhecer
a composio deste fundo em detalhe.
Os catlogos e os fichrlos
Apresentao material
A apresentao material dos catlogos pode ter diversas formas:
catlogos manuais: so os catlogos tradicionais organizados em
registros, em folhas, ou em fichas. As grandes unidades de informao os
publicam em forma de livros.
os catlogos impressos pelos mtodos tradicionais desatualizam-se
rapidamente. A utilizao da informtica permite acelerar sua produo
e facilitar sua atualizao. Os catlogos impressos por computador so
apresentados em forma de listas impressas e atualizadas, em geral,
mensalmente, com edies acumuladas anuais;
catlogos semi-automatizados: so feitos em fichrios especiais
que necessitam de um equipamento de registro e de seleo manual
eltrica ou tica. Estes catlogos tendem a desaparecer com a
democratizao e o desenvolvimento da microinformtica;
- catlogos automatizados: so registrados em suportes legveis por
mquina (cartes perfurados, fitas magnticas ou discos) e organizados
em forma de arquivos. A consulta a estes catlogos feita pelo computador.
Procedimento de organizao
A organizao dos catlogos feita a partir das descries bibliogrficas.
A descrio bibliogrfica e a descrio de contedo do origem ficha
principal ou ficha matriz. Nos catlogos manuais esta ficha reproduzida
tantas vezes quantas for necessrio. Para cada catlogo coloca-se em
evidncia o elemento que serve como entrada (por exemplo, nome do autor,
pas, assunto, ou nmero de classificao). Os catlogos manuais
produzidos pelo computador reproduzem a ficha matriz e suas diferentes
entradas, como em uma bibliografia. Esta ficha pode aparecer apenas
uma vez na sua forma integral no catlogo de autor ou no catlogo de
registro. O nmero desta ficha mencionado nas rubricas dos outros
catlogos (neste caso, os outros catlogos so apenas ndices).
Nos catlogos semi-automatizados, a ficha principal reproduzida em
uma ficha especial e as diferentes rubricas dos catlogos so perfuradas,
para constituir um catlogo nico com entradas mltiplas. Nos catlogos
automatizados, a ficha principal constitui um arquivo bsico e os outros
catlogos so organizados pela reproduo de cada ficha principal. A
utilizao do computador permite fazer pesquisas no arquivo principal a
partir de qualquer elemento da descrio bibliogrfica.
Os catlogos podem ser organizados a partir de qualquer elemento da
descrio bibliogrfica, incluindo a classificao e a indexao. Como sua
organizao e sua atualizao so bastante complicadas, deve-se manter
apenas os catlogos passveis de ser utilizados medida que facilitem a
pesquisa documental, o acesso informao e a gesto dos fundos. Cada
Os catlogos e os fichrios
unidade de informao deve determinar que catlogos organizar em
funo das necessidades dos seus usurios e das caractersticas do seu
fundo documental.
Geralmente, as unidades de informao tm um catlogo de autor e um
de assuntos. Os outros mais freqentes so os geogrficos, os cronolgicos,
os de ttulo e os topogrficos (ver os exemplos de fichas para cada catlogo
no final deste captulo).
Chama-se entrada ou ponto de acesso cada elemento de descrio em
funo do qual so ordenados os diferentes catlogos.
Tipos de catlogos
O catlogo de autor apresenta as fichas na ordem alfabtica dos nomes
dos autores. Quando existem mais de trs autores, ou quando o documento
no tem autor, as fichas so ordenadas alfabeticamente em alguns
sistemas, pelo ttulo.
O catlogo de autor repertoria os autores pessoas fsicas e os autores-
entidade, bem como os autores secundrios, como os editores cientficos,
os tradutores, os ilustradores e os prefaciadores. Pode-se organizar ainda
um catlogo especial de entidades.
No caso dos pseudnimos ou das mudanas de nomes, o catlogo de
autor deve trazer remissivas. Este catlogo permite responder s seguintes
perguntas: - A unidade de Informao tem tal documento de tal autor? -
Que documentos de tal autor a unidade de informao possui?
O catlogo de assunto apresenta as fichas na ordem alfabtica dos
cabealhos de assunto ou dos descritores, que analisam o contedo dos
documentos. No interior de cada rubrica, as fichas so ordenadas
alfabeticamente (por autor e/ou por ttulo) ou por nmero de registro.
Existem dois tipos de catlogo de assunto:
- o catlogo alfabtico de assuntos, no qual as entradas so ordenadas
alfabeticamente, como em um dicionrio. Faz-se tantas fichas quantas
forem necessrias. As remissivas permitem precisar ou completar algumas
entradas e orientar o usurio para noes prximas do assunto que busca.
Este catlogo permite recuperar a referncia de um documento cujo
assunto se conhece e saber que documentos a unidade de informao
possui sobre determinado assunto:
o catlogo sistemtico, no qual as fichas so ordenadas em funo
de um plano de classificao preestabelecida, pelo nome ou nmero que
corresponde ao assunto. Este catlogo permite, alm do acesso por
assuntos, saber quais so os temas cobertos pela unidade de informao
e conhecer a riqueza do fundo documental. Possibilita ainda fazer pesquisas
por categoria de assunto ou por temas relacionados, limitando a
manipulao do catlogo. Por este catlogo possvel fazer o inventrio
dos documentos que a unidade possui.
Os catlogos e os fichrios
O catlogo geogrfico traz as fichas pelo nome dos pases e/ou das
regies. As entradas podem ser ordenadas alfabtica ou sistematicamente,
como para os assuntos. No primeiro caso, necessrio fazer remissivas
devido s vrias relaes que podem existir entre os termos geogrficos.
Ele permite responder ao mesmo tipo de perguntas que o catlogo de
assuntos. Se necessrio, pode-se organizar um catlogo similar para os
locais de edio ou de Impresso dos documentos.
O catlogo cronolgico apresenta as fichas na ordem da data de
publicao dos documentos, na ordem da sua data de entrada no sistema
ou ainda na ordem do seu nmero de registro, para que o documento mais
recente aparea em primeiro lugar. Este tipo de catlogo muitas vezes
utilizado como principal, porque pode ser facilmente atualizado. Serve
essencialmente para identificar os documentos de acordo com sua idade,
em combinao com os catlogos de autor ou de assunto, para responder
a questes do tipo: A unidade tem um documento recente, sobre tal
assunto?". A classificao cronolgica pode ser combinada com o catlogo
alfabtico de autor, ou com outros tipos, quando a data do documento
um critrio essencial de seleo. possvel organizar tambm um catlogo
cronolgico por data de publicao ou pela data das Informaes de cada
documento (para os documentos histricos). Neste caso, as entradas so
organizadas por perodos histricos. Este tipo de entrada pode ser tambm
combinado com o catlogo de assuntos.
O catlogo de ttulo apresenta as fichas na ordem alfabtica dos ttulos.
Ele permite identificar o documento pelo seu ttulo. As obras com mais de
trs autores, as antologias e as obras coletivas so classificadas por ttulo,
o que justifica a existncia deste tipo de catlogo.
O catlogo topogrfico organiza as fichas pela ordem de armazenamento
dos documentos nas estantes, isto , pelo seu nmero de chamada. Ele
indispensvel para fazer o inventrio; como cada ficha corresponde a um
documento, fcil verificar se este documento encontra-se em seu lugar.
Ele auxilia os usurios a recuperar os documentos nas bibliotecas com
livre acesso e fornece uma representao imediata do fundo documental,
indicando o nmero de documentos existentes em cada assunto. Este
catlogo justifica-se apenas se a coleo suficientemente grande e se o
arranjo material segue uma ordem particular que no corresponde
ordem de nenhum outro catlogo da unidade de informao. Nas unidades
de informao com servios descentralizados, ou no caso de redes,
organiza-se uma espcie de catlogo topogrfico que classifica as fichas
pela unidade onde se encontram os documentos, com a indicao do seu
nmero de chamada ou do seu nmero de registro, para facilitar o
emprstimo entre-bibliotecas.
O catlogo-dicionrio apresenta em uma nica ordem alfabtica as
fichas por autor, ttulo e assunto. Este tipo de catlogo no aconselhado
para unidades de informao com grandes colees. pouco utilizado.
200 O catlogo sintico constitudo por fichas que oferecem de uma s vez
Os catlogos e os fichrios
um conjunto de informaes. A ficha com a descrio bibliogrfica traz em
seu bordo superior as vrias entradas que correspondem s informaes
contidas no documento (nmero de classificao, assunto e data, entre
outros), simbolizados por cdigos ou por cores. As fichas so ordenadas
por autor, ttulo, ou cronologicamente; as outras informaes da ficha so
visveis simultaneamente.
Os catlogos por tipo de documento permitem recuperar facilmente um
documento em funo de sua natureza. Eles podem ser organizados por
ttulo, ou por nmero de identificao do documento. Este tipo de catlogo
til quando a unidade de informao possui uma grande variedade de
documentos suscetveis de serem procurados por tipo.
Os catlogos de peridicos so muito utilizados. Deve-se conhecer os
peridicos pela sua descrio bibliogrfica, acompanhar a evoluo de sua
coleo medida que se atualiza, para gerenci-la, e responder aos
pedidos dos usurios. Existem catlogos especiais, que permitem ao
mesmo tempo registrar a descrio bibliogrfica do peridico, o que
indispensvel para sua identificao, e anotar a chegada de cada fascculo
e, desta forma, controlar permanentemente o estado das colees.
Estas fichas so geralmente organizadas em ordem alfabtica de ttulo,
em fichrios especiais conhecidos como Kardex, ou Forindex (ver o
captulo As Instalaes e os equipamentos"). As descries de artigos de
peridicos feitas a partir da anlise do seu contedo podem ser organizadas
em catlogos especiais por autor ou por assunto, ou incorporadas aos
catlogos gerais, eventualmente com um sinal que as diferencie (como
uma ficha de cor diferente, por exemplo).
Os catlogos coletivos renem os catlogos de vrias unidades de
informao relativos a uma mesma categoria de documentos ou a um
mesmo assunto. So organizados em geral por autor ou por ttulo. Cada
documento traz a identificao das unidades que o possuem (eventualmente
com seu nmero de chamada). Estes catlogos apresentam-se, muitas
vezes, em forma impressa e so produzidos em cooperao com as vrias
unidades. Eles so indispensveis para a colaborao entre unidades de
informao, como, por exemplo, a aquisio cooperativa, e o emprstimo
entre bibliotecas. Existem catlogos coletivos de livros como o National
Union Catalogue, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, catlogos
coletivos de peridicos, como o IPPEC, da Frana, que passou a chamar-
se CCN1, a partir de 1983, e catlogos coletivos relativos a um tipo
especfico de documento (como as teses) ou a um assunto especfico (como
a medicina).
1. Inventaire des prodiques trangers et des publications en srie trangres reues
en Franca par les bibliothques et organismes de documentation (IPPEC), publicado e
atualizado pela Bibliothque Nationale, que passou a chamar-se Catalogue colectif national.
Os catlogos e os fichrios
Eles podem existir em forma de fichrios e de catlogos impressos ou
microfilmados. Atualmente, grande parte dos catlogos coletivos so
organizados com o auxilio do computador e da telemtica. Os catlogos
coletivos com acesso on-line so cada vez mais freqentes e permitem a
recuperao de informaes atualizadas. Nos Estados Unidos e no Canad
este tipo de catlogo bastante comum.
O mais antigo e mais importante deles o catlogo interativo americano
da OCLC 2. Na Europa, algumas bibliotecas nacionais e especializadas
participam de aes deste tipo, como, por exemplo, o LOCAS, na Inglaterra
e o CCN, na Frana. Estes catlogos so muitas vezes conhecidos pela
sigla OPAC (On-line Public Access Catalogue). Podem ser consultados
diretamente pelos usurios.
A organizao dos catlogos varia em funo de seu contedo e de seu
tipo. Mas eles so, em geral, classificados por ordem numrica (por
nmero de aquisio, de classificao, e de chamada), ou alfabtica.
A intercalao a operao pela qual introduzem-se as novas fichas nos
catlogos, medida que os documentos so tratados. indispensvel
criar regras claras de intercalao e seguir sempre estas regras. Uma ficha
colocada fora de ordem uma ficha perdida. O arranjo alfabtico pode ser
feito de duas formas: palavra por palavra ou letra por letra. A primeira
frmula permite reagrupar as palavras compostas.
As remissivas orientam o usurio porque relacionam entradas
semelhantes entre si. Quanto mais numerosos forem os pontos de acesso,
mais fcil a utilizao do catlogo e mais complicada sua gesto.
No caso de um elemento de descrio com uma palavra composta como
Pesquisa matemtica", podero ser feitas duas fichas, uma com a
entrada Pesquisa matemtica" e outra com a entrada Matemtica-
Pesquisa".
As remissivas so utilizadas para simplificar o acesso ao catlogo. Elas
podem ser de ordem tcnica ou intelectual.
As remissivas tcnicas estabelecem uma relao entre um termo geral
e termos especficos e vice-versa, como, por exemplo, Pesquisa
matemtica", ver Pesquisa, ou ainda Costa do Marfim-Demografia", ver
Demografia-Costa do Marfim".
As remissivas de ordem intelectual estabelecem a relao entre um
termo pouco utilizado e o descritor ou a palavra-chave que o descreve,
como, por exemplo, Onomstico, ver Nome do Lugar. Elas servem
tambm para orientar o usurio a rubricas de assuntos prximos, como,
por exemplo, Cncer", ver tambm Leucemia".
Conforme a especificidade, o interesse do assunto e o nmero de
referncias em uma rubrica, as fichas podero aparecer em uma nica
entrada ou em vrias entradas.
2. Ohio College Library Center
202
Os catlogos e os fichrios
Questionrio de verificao
O que um catlogo?
Como se organiza um catlogo?
Para que serve um catlogo coletivo?
Quais so os diferentes tipos de catlogos de assunto?
Como se pode passar de uma entrada a outra em um catlogo?
Para que servem os catlogos topogrficos?
Cite as formas que pode tomar um catlogo.
Que progressos a telemtica trouxe para a organizao e
para a utilizao dos catlogos?
Bibliografia
1. Sobre os catlogos
BLANC-MONTMAYEUR, F. et DANSET, F. Coix de vedettes-matires
lintention des bibliothques. 2* d. Paris, Cercle de la libraire, 1987.
CANONNE, A. Manuel lmentaire de catalographie. Lige, d. du CLPCG,
1986.
CARTER, R. Education and training f o r catalogers and classifers. New
York/Londres, Haworth Press, 1987.
CHAN, L.-M. Cataloging and classification: an introduction. Londres, Mac
GrawHUl, 1981.
DUSSERT-CARBONE, I. et GAZABON, M.-R. Le catalogage : mthodes et
pratiques. Paris, Cerle de la libraire, 1987.
Cuidelines f o r authority and reference entries recommended by the IFLA
working group on an intemational authority system. Londres, IFLA,
1984.
Rgles de catalogage anglo-amricaines. Version franaise, 2 d. Montral.
ASTED, 1981.
2. Sobre os catlogos coletivos
BOUFFEZ, F. et GROUSSEAUD, A. Les publications en srie el
Vautomatisation. Deux secteurs cls : catalogues collectifs et gestion
(bulletinage et rclamations) dans quelques pays anglo-saxons. Paris,
Cercle de la libraire, 1977.
MATTHEWS, J.-R. Public acess to online catalog, 2- d. New York, Neal-
Schuman Publishers, 1985. (Library automation planning guide
series.)
MITEV, N.; VENNER, G. et WALKER, S. Designibg an oline public acess
Os catlogos e os fichrios
catalogue: on a local area network. Londres, BLRD, 1985. (Library and
information research report, n? 39.)
Prncipes directeurs pour Vtablissement de catalogues collectifs de publi
cations en srie. Paris, Unesco, 1984. (PGI-83/W/1.)
VONDRAN, R.-F. National Union catalog experience: implication f o r net
work planning. Washington, Library of Congress, 1980.
Ver tambm a bibliografia do captulo A descrio bibliogrfica .
Anexo
Textos normativos da IFLA, relativos descrio bibliogrfica
ISBD (A): Antiquarian. 1980
ISBD (CM): Cartographic materiais. 1977
ISBD (G): General. 1977
ISBD (M): Monographic publications. lre.ed.standard rev.1978 ISBD
(NBM): Non-book materiais. 1977
ISBD (PM): Printed music. 1980
ISBD (S): Seriais, lre.ed. standard 1977
Manual of annotated ISBD (M) Exemples. 1981
Annotated Bibliography of the ISBD. 2e.d.rv. 1980 (Occasional paper,
n.6)
Textos normativos da IFLA relativos a entradas
Names of persons. 3e.ed. 1977
Supplement to names of persons. 3e.ed. 1980
Form and structure of corporate headings. 1980
Names of States. 1981
List of uniform headings for higher legislative bodies in European coun-
tries. 2e.ed.rev. 1979
African legislative and ministerial bodies. 1980
Annonymous classics. 1978
List of uniform titles for liturgical works. 2e.ed.rev. 1981 Guidelines for
authority and reference entries. 1984
Textos normativos da IFLA relativos a formatos de intercmbio
Unimarc 2e.ed.rev. 1980
Unimarc handbook. 1983
International access to Mark records. 1980 (Occasional paper, n.7)
International Marc network: bibliographie study. 1977. Occasional Inter
national Marc
Network: bibliographie study. 1977 (Occasional paper, n.4)
Os catlogos e os fichrios
Coto E0BK2T (atai ). S1LVU (Robort).
- La Rtfunicn / torto, R. Robort, B. Salrat ;
photographla, K. Foloo. - apooto i Bditiona
du Paoiiqu f Parla t diffuaioo Baohtto ,
1916. - 128 p. ) 111. os noir ot en coul.
22 oa. - (Oollootioa 11")
D.L. 77-04111. - ISBK a-05TO(>-004-9 Rol.
Catlogo - AUTORES
Fichas podem ser
desdobradas para os
autores secundrios.
Salrat (Robort).
Poloo (K.) Phot.
faurlsaa. La Rfanlon
ndio du plan do olaflaoaont
Cote
Tnm la La Hunloo.
ROBEBT (Ron). SALYJff (Robort).
- La Uunlon / toxto, R. Robort, R. Salrat |
Catlogo - ASSUNTOS
Cote La R^uoion / tarta, R. Robort, R. Salrat |
Catlogo - TTULOS
Cot
Indioo
R0BB9 (BaaiJ, a AL VAI (Robort).
- La R*unlon / torto, R. Robort, R. Salrat !
Catlogo SISTEMTICO
Conforme o ndice do
sistema de classificao.
Coto
La Runlozu Yoorlxat
ROBEKT (Bta). 8ALTJT (Robort).
- La Runioa / taxt. R. Robort. R. Salrat l
Catlogo GEOGRFICO
(TOPOGRFICO)
Exemplos de (conjuntos de) regras bibliogrficas que servem de base aos diferentes (tipos de) catlogos.
BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE. Bibliothque nationale, France.
205
Os catlogos e os fichrios
FICHA DE AUTOR:
Umnico autor e indicao
dos assuntos principais.
8257. U RI (Pierre).
- L Europe se gaspille: remise en question des donnes, des ides, des politiques /
Pierre Uri. [Paris]: Hachette, 1973 (27-Mesnil-sur-l Estre: impr. Firmin-
Didot). 357 p.; 23 cm. (Colleclion Les Grands rapports.)
[8o R. 75703 (4)
D. L. 25400-73. Br.: 37 F.
Economie. Europe. 20e s, (ml-
lieu).
Dois autores.
77-1192.1. ROBERT (Ren). SALVAT (Robert).
- l^a Runion / texte, R. Robert, R. Salvat ; photographies, M. Folco. - Papeete :
ditions du Pacifique ; (Paris] : [diffusion_Hachette], 1976 (impr. au Japon). - 128 p. : ill.
en noir et en coul. ; 22 cm. - (Collection lex.) [8* G. 20553 ( 1 0 )
D.L. 77-04171. - ISBN 2-85700-004-9 RcL : 48 F.
Annimo (autor annimo
77-11927. " r c W o log fe de PAfrique antique : bibliographie des ouvrages parus en... /
[publi par le) CN. R- S. [Centre nationai de la recherche sdenufique], Institut d archologie
mditerranenne. - Aix-en-Provenca: C R_ A .M . [Centre de recherches sur r Afriqu e
mditerranenne]: [puis] Institut d archologic mditerranenne, [1967]>. - 27 puis 30
cm. [4*' Q. 7156
Chnymtaz d-ediwr penir de Vaeo6e 196<
1976 / bibliographie e t complment des annes antrieures runis par Danile Terrer.
- ,1977 ( 1 3-Aix-en-Provence : Impr. de !*LAJM!A - 42 p.
Iodcx - 0 4 - 77-12836. - ISSN 2-9017-03-J Br. : bx.
206
Os catlogos e os fichrios
Annimo por excesso
(Mais de trs autores).
76-14865. *AnaIyse et raodlbation de Ticoulement superficiel d un baasin tropical :
influence de la mise en culture, C5te d'Ivoire, Korhogo, 1962-1972 / H. Caraus, P.
Chaperon, O. Girard, M. Molioier. - Paris : Office de Ia recherche saentifique et technique
outre-mer, 1976 (Paris : Impr. COPDITH). - II-lI-81-{84] p. : i l l ; 27 cm. - (Travaux tx
documents de rORS.T.OM. ; 51) [4* R. 12051 (52)
Bibliogr. p. SI. - DX. 76-15688. - ISBN 2-709*0407-1 Br. : 44 F
Um autor, diversos
volumes.
8934. * MICHEL (Pierre).
Les Bassins dea fleuves Sngal et Gamble: tude gomorphologique... /
Pierre Michel,... Paris: Office de la recherche scientifique et technique outre-mer,
1973. 3 vol. { Mmoires / O . R . S . T . O . M . ; 63.)
Bibliogr. p. 689 i 723j D. L . 20201-20103-73. Br.: 200 F.
1. [Texte], (21-Dijon; impr. Darantire). 365-[18] p. -[1] dpl.: ill.; 27 cm.
[4o R. 10733 (63, I)
2. [Texte]. (21-Diion:.impr. Darantire). P. 378 752-[20] p.: ill.; 27 cm.
[4o R. 10733 (63, I I )
3. [Planches et cartesj. (Paris: Impr. du Bureau de recherches gologiques
et minires). (16] dpl. en noir et en coul.; 78 cm. [Gr. FoL R. 179 (63)
Sngal (fleuve) (BaIn). Go- Gambie (fleuvc) (BaKn).Go-
morphologie. morphologie.
Autoria coletiva de
carter territorial.
77-1459.*FRANCE. Plan (Commissariat gnral). Commission Dpartemenls d*Ouire-
met.
Rapport de ia Commission DpartementJ d Outro-mer / Commissariat gnral
du plan. Paris : la Documentation franaise, 1976 (42 Saint-Just-la-Pendue :
impr. Chirat). 87 p.; 24 cm. (Prparatln du 7 plan.) [8o Lf**. 298 (44)
D.L. 76-29661. Br. ; IS FF.
Exemplos de fichas para os diferentes catlogos, criadas segundo (a partir de) um conjunto de regras da
BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE. Bibliothque nationale, France.
207
Os catlogos e os fichrios
Autoria coletiva
Instituio pblica
(com assuntos principais).
8935.' O F F IC E DE L A RECHERCHE SCIENTIFIQUE E T TECHNIQUE
OUTRE-MER. [Paris-1 Centre de Nouma.
Les Eaux du Pacifique Occidental 170 E entre 20 S et 4o N : coupes ct
cartes I dresses par les ocanographes du Centre O.R.S.T.O.M. de Nouma;
prsemes par H. [Henri] Rotschi, Ph. [Philippe] Hisard et F. (Franois] Jarrige.
Paris: Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, 1972 (93-
Bondy: Impr. S.S.C.). 113 p.: ill.; 27 cm. - (Travaux et documents deVO.R.
S . T . O . M . ; 19.) [4 R. 12051 (19)
Bibliogr. p. 21 24. D. L . 7506-73. Br.: 24 P.
Ocanographie phyrique. Obser- Pacifique (sud).Mridien.
vations. Pacifique (sud). Mri- 170 E. Ocanographie phy-
dien. 170 E, si que. Observations.
Autoria coletiva
Organizao
internacional.
77-1742. COMMUNAUTS EUROPENNES. [Bruxelles.] Statistique (Office).
A.C.P. : [Afrique, Caraibes, Pacifique], annuaire des statistiques du commerce
extrieur : synthse 1968-1973 /Office statistiques des Communauts europennes
A.C.P. : [African, Caribbean, Pacific countries], yearbook o f foreign trade statis-
ties : staristieal abstracts : 1968-1973 /Statlstlcal Office o f the European comntuniies.
Luxembourg : Office des publications officieltes des Communauts europennes,
1975. 95 p.; 21 X 30 cm. [4 Gw. 3387 (1973)
D . L 77-01791. Br. : 13.30 DM : 2 J0 : 24,70 FF.
Ficha de conferncia
(Anais).
77-444. CONFRENCE I.NTERGOUVERNE.MENTALE.
(1975, 25 octobre-6 no*embre. Accra.|
- Rapport final /Confrence intergouvernememale sur les politiques cuitureiles
en Afrique organise par 1'Unesco avec la coopration de l'O.U.A. (Organisaiion
de 1'Unil africaine), Accra. 27 oclobre-6 novembre 1975. Paris : Unesco. (19761.
107 p.; 30 cm. ( S H C - M D ; 29.) (4 Gw. 3255 (1975)
1976 Taprs Ic texte. Index. D.L. 76*18770. Br.
208
Os catlogos e os fichrios
Ficha de colquio
(Anais).
Ficha de microficha.
Ficha de mapa
(Carta geogrfica).
J
79-51. -COLLOQUE INTERNATIONAL UNITS ET MONNAIES DE COMPTE.
[1977. Paris.]
- Unifs et monnaies do com pt e : travaux / du Ciloque International. Paris, 24-25
octobre 1977 ; or ganis par Jean-Louis Guglielmi.... Maric Lavigne,... - Paris :
Economica, 1978 (Paris : impr. Jouve). - XIII-139 p. : graph. ; 24 cm. - (Recherches
Panthon-Sorbonne : Srie Sciences conomiques : tudes
internationales.) [8* R. 81456 (2)
Notes bibliogr. Textesen franais et en anglais. - D L 78-19899. - ISBN 2-7I78-OI22-7 Br : 50 F.
77-11931. BARBOU (Alfred).
- H isto ire de Ia guerTe au Dahomey / par Alfred Barbou. - Paris : Bibliothque nationale,
1977 (Paris : photo Bibliothque nationale). - 2 microfiches actate de 49 imagcs,
diazofques : ill. ; 105 X 148 mm. Impr. [Microfiche m. 7043
Rrprwl e fW . <k Pam, J. Pegai, 1893. 154 p.. J4' Lh4. 1914. - DX. Mc 77-0145. - 20 F.
77-290.*MATAM-KIDIRA (Rgion). Sois. 1976. Rpttblique du Sng: Office
de la recherche scientifique et technique Outre-Mer. Centre de Dakar. tude des
pturages naturels du Ferlo-Boujidou. arte pdologique de reconnaissance de
la zone Matam-Bakel-Kidira. Dresse par C. Feller et P. Mercky I : 200 000.
(Paris,) O.R.S.T.O.M., 1976. 1 flJe en bistre et noir 725 x 785. (D.L. imp. 530,
1976.] [Ge. B. 12613
209
Os catlogos e os fichrios
Ficha de atlas
(Atlas geogrfico).
77-294. MONDE. Atlas. 1976. Atlas gnral Laroussc. Avec la collaboration de
Harold Fullard... H.C. Darby... direction et coordination Georges Reynaud-
Dulaurier... [Nouvelle dition mise jourj. Paris, Librf hc Larousse, 1976.
30 cm, 1S4 cartes en coul., index 128 p. [D.L. 877, 1976., [Ge. EF. 2096
O o t i c e jointe 19 p. : Ailcu general Larousse... Statlstlques...)
Ficha de peridico
(com indicao de
mudana de titulo).
77-3990. *BuUetin d Information - Centre de docuxneatation et de recherches bibliogra-
phiques /Universit des langues et lettres de Grenoble. Grenoble (fdomaioe
universitaire de Saint-MartLn-d Hres], 38040 cedex) : Universit des langues et
lettres de Grenoble, C.D.R.B., 1977 mars (n 29) . 30 cm. [4o Jo. 19717
Trime*lrieJ. Fai uiic : * Builctln d*informaiion du Centrt de documentatioa et de recbcrcbt
bibliogTaphlquci , mime ISSN, mime cote, donl la publicatioa avait t uipeodue ea 1971.-
D.L.P. 77-0931. 01.
ISSN 0017-4149
210
As instalaes e os
equipamentos
A instalao material de uma unidade de informao compreende os
locais, as instalaes, como iluminao, gua, aquecimento, equipamentos
de segurana, a organizao dos interiores e dos diversos equipamentos
para as atividades, como armazenamento dos documentos e pesquisa da
informao, os equipamentos para impresso, reprografia, microcpia,
informtica, telecomunicaes, transportes e os equipamentos para a
leitura de documentos audiovisuais. As instalaes e os equipamentos
tm uma grande influncia tanto no funcionamento interno da unidade,
quanto nas suas relaes com os usurios e com outras organizaes.
Cada tipo de unidade de informao tem uma organizao fsica
especifica. Cada operao necessita de um tipo de equipamento apropriado.
Aescolha, a instalao e a manuteno das instalaes e dos equipamentos
so relativamente complexas e caras. Elas devem ser feitas em funo de
um plano de conjunto e de uma anlise detalhada de cada tarefa. Este
estudo preliminar deve ser efetuado por uma equipe composta por
responsveis da unidade, arquitetos, funcionrios e, se possvel, por
usurios.
Desenvolvimento do estudo
preliminar
O estudo preliminar deve levarem conta as consideraes gerais, como
os recursos financeiros, local disponvel ou necessrio, recursos humanos
e sua qualificao, objetivos e funo da unidade, operaes decorrentes
dos objetivos, usurios, necessidades em documentao, infra-estrutura
existente, infra-estruturas de informao disponveis nas proximidades e
evoluo das tecnologias de informao. Deve-se considerar tambm as
As instalaes e os equipamentos
condies tcnicas. O estudo preliminar deve definir quais so as melhores
condies de utilizao do espao e dos equipamentos, de conservao dos
documentos, de conforto dos usurios e do pessoal, em funo dos
seguintes elementos:
- condies climticas. Tanto a falta de umidade, como o seu excesso,
so nefastos. A climatizao, que parece ser a melhor soluo, sobretudo
nos paises tropicais, muito cara se utilizada continuamente, pouco
eficaz, se utilizada de forma descontnua e nem sempre bem aceita.
Pode-se substitu-la por materiais que assegurem uma boa proteo
trmica, uma ventilao conveniente, bem como uma boa repartio do
espao disponvel;
- condies de iluminao. Uma insolao forte estraga os documentos.
A iluminao artificial pode ser muito cansativa e desconfortvel se for
utilizada durante todo o dia. Alguns tipos de documentos (como as
microformas e os diapositivos) devem ser consultados com pouca luz
ambiente. Nem todos os ambientes da unidade de informao, como a
sala de leitura, os locais de trabalho e os depsitos de documentos,
necessitam da mesma iluminao;
- condies acsticas. necessrio separar as reas de trabalho das
zonas barulhentas, como as reas de circulao, e de consulta de
documentos sonoros;
- cuidados especiais com a conservao e a utilizao dos documentos
audiovisuais, com as microformas, com os discos magnticos, com o peso
dos equipamentos e sobretudo das estantes. Muitas vezes necessrio
reforar a estrutura fsica do edifcio;
- problemas de proteo. Deve-se prever proteo contra o fogo pelo
emprego de materiais apropriados e de dispositivos de segurana.
necessrio proteger ainda contra a gua, que nefasta para o p a p e l ,
contra os parasitas, com tratamento dos documentos e dos locais por
fumigao, e contra a poeira, pela ventilao. Alm disso, necessrio
proteger contra o roubo, pelo controle dos acessos e pelo uso de dispositivos
magnticos especiais. Deve-se prevenir ainda contra o desgaste dos
documentos, utilizando a encadernao e o emprego sistemtico de
cpias, e contra a eletricidade esttica.
Os critrios de escolha fundamentam-se na apreciao correta destes
diversos parmetros. Para as instalaes principais deve-se considerar
no apenas a situao atual, mas tambm sua possvel evoluo nos
prximos cinco ou dez anos.
Com relao ao espao, deve-se procurar:
a melhor adaptao possvel aos problemas especficos de
umaunidade de informao, notadamente em funo das consideraes
tcnicas;
a facilidade de acesso e/ou de comunicao com os usurios,
212 capacidade de acolhida, um bom sistema de telecomunicaes e
As instalaes e os equipamentos
um espao de trabalho suficiente e bem dividido para o pessoal tcnico.
No se deve esquecer que a documentao ocupa multo espao;
uma capacidade de armazenamento que permita a conservao
correta das colees e espao para a sua expanso;
uma circulao interna to reduzida quanto possvel;
instalaes tcnicas corretas, como iluminao, eletricidade,
refrigerao e instalaes telefnicas;
- facilidades de conservao.
Com relao ao equipamento, necessrio evitar:
a aquisio de equipamentos com uma capacidade de produo que
ultrapasse muito as necessidades previsveis normais (por exemplo, a
aquisio de uma mquina que seja utilizada apenas algumas h o r a s
por semana, ou que efetue trabalhos a um custo mais elevado do que a
mo-de-obra local, sem obter um ganho de tempo considervel), ou a
aquisio de material inutilizvel (por exemplo, por falta de pessoal
qualificado, por falta de equipamentos apropriados ou ainda por falta de
manuteno).
a ausncia de mquinas e de equipamentos indispensveis, que
impeam unidade proporcionar os servios que os usurios esperam, ou
que imponham atrasos excessivos, ou ainda a aquisio de produtos de
m qualidade, como, por exemplo, fotocopiadoras em ms condies de
funcionamento, ou que no possam funcionar por falta de papel.
A escolha e aquisio do equipamento devem ser feitas a partir de um
detalhamento de cada funo, o que permite estabelecer a lista completa
dos itens necessrios.
A consulta aos fabricantes deve ser feita de acordo com especificaes
precisas, isto , indicaes do tipo e de todas as caractersticas do material
solicitado, bem como as suas condies de uso. preciso consultar vrios
fornecedores sobre os preos, sobre o material, sobre os servios que sero
executados e sobre o prazo de entrega, de forma a poder compar-los. Em
muitos pases so abertas concorrncias para as compras de equipamento.
O material escolhido deve ser:
- de boa qualidade, isto , capaz de conservar-se durante muito
tempo em bom estado, mesmo se for o material mais caro. A economia na
hora da compra traduz-se, muitas vezes, por um aumento de despesas
de manuteno;
- fcil de ser utilizado;
- com contrato de manuteno, de forma que as peas de reposio
e a manuteno sejam asseguradas ;
- de uma marca nacional, ou de uma marca que disponha de
representantes no pas, prximos da unidade, de forma a assegurar um
servio de manuteno eficaz e rpido (como consertos, reposio de
peas, e formao de pessoal, se necessrio). Este tipo de servio pode ser
assegurado por um contrato de manuteno.
As Instalaes e os equipamentos
Finalmente, necessrio que o material fornecido corresponda s
especificaes e seja, se possvel, normalizado, ou corresponda aos
modelos mais utilizados no pas. Esta a melhor forma de facilitar a
cooperao com outras unidades de informao e uma garantia de
manuteno suplementar, pela existncia provvel de um mercado
suficiente que garanta bons servios do fabricante ou do seu representante.
A esttica, o conforto e a variedade no momento da escolha e da
organizao dos equipamentos e do mobilirio devem ser considerados em
segundo plano em relao solidez e segurana. Atualmente, a
ergonomia tenta conciliar estes aspectos '.
Em certos casos possvel experimentar equipamentos. til sobretudo
informar-se com as pessoas que j utilizam os equipamentos, de forma a
verificar seu desempenho e suas condies reais de emprego e de
manuteno.
Local e mobilirio
O espao fsico de uma unidade de informao deve ser dividido em trs
reas principais: o espao aberto ao pblico, o espao reservado aos
funcionrios e o espao reservado documentao.
Deve-se considerar ainda o espao necessrio circulao interna. A
circulao muito importante e deve ser estudada de forma mais
cuidadosa se a unidade dispuser de pouco pessoal.
A importncia relativa de cada rea varia de acordo com a natureza e
as funes da unidade de informao. Uma biblioteca, por exemplo,
necessita de um grande espao para o armazenamento. Num centro de
orientao este espao pode no ser necessrio.
O planejamento permite organizar o espao de acordo com um programa
funcional que leve em conta as evolues provveis e que preveja as
instalaes necessrias.
Os funcionrios tm geralmente necessidade de um espao maior pois
precisam ter mo fichrios, obras de referncia, documentos a serem
tratados e material de trabalho. Eles devem estar confortavelmente
instalados de forma a ter um bom rendimento no trabalho. Neste ponto
tambm a economia se traduz em desperdcio a longo prazo. As funes
que correspondem a uma mesma operao ou a operaes sucessivas
devem estar prximas, de forma a facilitar a interao entre as pessoas e
a limitar os deslocamentos.
O espao de armazenamento d :ve ser concebido, antes de tudo, em
funo dos imperativos de segurana. Seu acesso deve ser fcil e sua
1. A ergonomia o conjunto de estudos e de pesquisas relativos organizao metdica
do trabalho e a organizao do equipamento em funo das possibilidades do homem.
214
As instalaes e os equipamentos
capacidade suficiente para armazenar documentos durante o maior
tempo possvel. O armazenamento de documentos de forma acumulada
conduz inevitavelmente desorganizao do trabalho.
O mobilirio necessrio a uma unidade de informao compreende todo
o tipo de material de escritrio, como mesas, cadeiras, poltronas,
escrivaninhas, armrios e carrinhos para transportar documentos e
vitrines de exposio. O mobilirio deve ser forte e, se possvel, modular,
isto , composto de um nmero limitado de modelos com dimenses
comuns que possam acoplar-se.
Materiais e equipamentos
O material de escritrio bastante variado. As mquinas de escrever
devem ser de boa qualidade para que os documentos produzidos pela
unidade de informao sejam legveis. O computador permite a automao
dos trabalhos de datilografia pelo tratamento de texto, feito por operaes
de entrada, manipulaes, correes, formatao e edio de qualquer
tipo de documento. O tratamento de texto permite ainda a conservao,
a consulta, a reunio, a atualizao e at a transmisso de textos
distncia ou telefacsmile. Existem vrios tipos de equipamentos para
tratamento de texto que vo da mquina de escrever com memria e sem
tela aos sistemas com recursos compartilhados. O custo destas mquinas
est diminuindo - algumas custam mais barato do que as mquinas de
escrever tradicionais. Toda unidade de informao deve equipar-se com
mquinas de tratamento de texto com o objetivo de melhorar a qualidade
de apresentao dos documentos que publica.
O neologismo francs bureautique surgiu em 1976, adaptado do termo
ingls ojflce automation (automao de escritrio) e traduz o esforo de
modernizao dos escritrios. A bureautique o conjunto de tcnicas e de
meios utilizados na automao das atividades de escritrio, principalmente
o tratamento e a comunicao da palavra, da escrita e da imagem"2. O
tratamento de texto e a edio assistida pelo computador so parte
importante da automao de escritrios.
As unidades de informao utilizam um grande nmero de materiais,
como fichas, formulrios, tinta, carimbo, papel e lpis. O estoque deve ser
sempre suficiente para que as atividades no se interrompam. Muitas
vezes o tempo do fornecimento de material longo nos pases em
desenvolvimento.
Este material deve ser forte, adaptvel, extensvel, denso (que ocupe o
menor espao possvel) e bem adaptado s formas de utilizao previstas.
2J ournal Offidel de Ia Rpublique Franaise, 17 janvier 1982.
As Instalaes e os equipamentos
A forma de armazenamento determinada em funo do tipo de
documento, do espao disponvel, da disposio do local, da importncia
da coleo e da sua utilizao. Deve-se escolher o mtodo de armazenamento
melhor adaptado forma e freqncia da utilizao dos documentos
primrios e secundrios.
Existe uma grande variedade de equipamentos de armazenamento -
fixos ou mveis, estticos ou rotativos que correspondem aos diversos
formatos e utilizao dos diversos tipos de documentos, como estantes,
mveis especiais para os peridicos, mapas, diapositivos, filmes, fitas
magnticas e dossis, entre outros. As estantes devem ter dimenses
normalizadas e podem ser em madeira ou metal, fixas ou mveis, manuais
ou por comando eltrico. Alguns materiais so protegidos contra o fogo, o
calor e a umidade, por um revestimento especial e so recomendados para
o armazenamento dos documentos frgeis, como as fitas magnticas e os
filmes.
Os fichrios em madeira ou em metal so disponveis em vrios
modelos: fixos ou mveis, com gavetas, rotativos e com tambor, conforme
o tipo de ficha a ser utilizado. A escolha deste material deve ser feita com
critrio, comparando os diversos modelos existentes no mercado.
O equipamento de armazenamento e de pesquisa da informao
compreende os diferentes fichrios, manuais descritos anteriormente, o
equipamento de informtica, os sistemas semi-automatizados e os sistemas
de microformas (para o equipamento de informtica ver o captulo A
informtica e as unidades de informao").
Os sistemas semi-automatizados utilizam fichas de formato variado
(quanto maior a ficha, maior a capacidade do sistema), aparelhos de
perfurao manuais, mecnicos ou eltricos, aparelhos de seleo manuais
eltricos ou ticos, e fichrios.
Os sistemas de seleo visual por superposio (como o Peek-a-boo, o
Selecto, o Sphincto e o Thermatrexj so organizados com base em uma ficha
que descreve as caractersticas do documento. As fichas com a descrio
dos documentos so numeradas e armazenadas em um fichrio principal.
Quando um documento possui uma ou vrias caractersticas que
interessam ao sistema, perfura-se cada ficha na posio que corresponde
ao seu nmero. Para fazer a seleo, colocam-se as fichas com as
caractersticas procuradas em uma mesa de leitura luminosa e a luz que
passa nas perfuraes comuns a cada ficha designa os nmeros dos
documentos que tm estas caractersticas (ver as ilustraes no final do
captulo).
Estes sistemas tm uma gran> le capacidade de armazenamento e sua
manipulao rpida. Mas a pesquisa deve ser feita em dois tempos:
busca dos nmeros e acesso s fichas e aos documentos. Uma manipulao
intensa das fichas pode deterior-las tomando a coincidncia entre as
perfuraes aleatria. Estes sistemas, cada vez menos utilizados nos dias
atuais, representam uma etapa na histria do tratamento dos fundos
As Instalaes e os equipamentos
documentais. O custo e o desempenho dos equipamentos de informtica
e principalmente a microinformtica foram um dos motivos que levaram
estes sistemas ao desuso.
Os sistemas de microformas utilizam um microfilme que recebe a
descrio bibliogrfica e uma rea de codificao feita por marcas. Um
leitor especial detecta a presena das marcas nas posies que representam
os cdigos procurados, pra o filme e projeta o documento solicitado.
Assim que o usurio toma conhecimento do documento, o filme continua
a desenrolar-se at o prximo documento pertinente. Este dispositivo
complexo, delicado e caro, e suas possibilidades de pesquisa so
relativamente limitadas. interessante sobretudo para o tratamento do
texto Integral dos documentos.
O equipamento para a utilizao de documentos audiovisuais
compreende mesas de luz, projetores de diapositivos, moviolas e projetores
de filmes, gravadores e toca-discos para os registros sonoros e leitores de
videodiscos. Existe no mercado um grande nmero de equipamentos
especializados e a sua normalizao no muito regulamentada, o que
toma a escolha dificil. Trata-se, em geral, de um material caro e delicado,
que necessita de condies especiais de armazenamento e de manipulao.
Este material deve ser mantido em bom estado de conservao para que
os documentos no se deteriorem.
O equipamento de telecomunicao compreende:
- postos e centrais telefnicas que ligam os aparelhos entre si e com
o exterior. A utilizao do telefone cada vez mais importante para a
transmisso de documentos;
- secretrias eletrnicas, que so gravadores automticos ligados ao
telefone. Elas permitem receber, gravar ou comunicar automaticamente
mensagens na ausncia do operador e oferecer vrios servios, inclusive
a difuso de informaes.
Os equipamentos de telemtica compreendem:
- os telefacsmiles, para fotocpias distncia por rede telefnica:
- os terminais de telex, para a transmisso de textos escritos. Ligados
s redes pblicas de telecomunicaes, estes equipamentos permitem
uma comunicao direta, rpida e segura entre instituies. Estes
equipamentos tm um dispositivo de impresso que permite preparar os
textos ou as mensagens com antecedncia e envi-los em conjunto:
os equipamentos para teleescrita, ou criao e disseminao de
informaes grficas manuscritas em uma tela de televiso distncia;
- os terminais de interrogao de bancos e bases de dados.
O desenvolvimento simultneo dos sistemas de transmisso de dados
distncia, os sistemas de conexo entre computadores distncia, os
circuitos de televiso a cabo e a utilizao de novos canais de transmisso,
como os satlites artificiais e as fibras ticas, tornam os equipamentos e
as tcnicas de telecomunicaes cada vez mais importantes para as
unidades de informao.
As instalaes e os equipamentos
O equipamento volante deve ser adaptado s condies locais. Este
equipamento pode constltulr-se por bicicletas, motocicletas, veculos
leves para compras, caminhonetes, micronibus e, ainda, por veculos
maiores, para os servios de carro-biblioteca e para as exposies
itinerantes.
A unidade de informao deve dispor permanentemente de um mnimo
de veculos que podero oferecer os servios necessrios. O parque de
veculos pressupe uma manuteno cara e deve ser limitado s
necessidades da unidade.
A unidade de informao deve dispor, na medida do possvel, de
equipamento de impresso e de duplicao. prefervel, entretanto, que
ela possa beneficiar-se dos servios especializados do organismo de quem
depende, ou de empresas que faam este tipo de servio. Na prtica,
qualquer unidade de informao importante deve poder resolver as suas
necessidades correntes de impresso, com equipamento de duplicao,
sobretudo se as empresas que fazem este tipo de servio no forem
eficientes. Qualquer boletim peridico que saia com muito atraso perde
seu interesse e seus leitores.
A duplicao feita com a ajuda de um suporte intermedirio, o clich
sobre o qual o documento original reproduzido. A cpia feita pela
passagem da tinta do clich para o papel. Os trs mtodos mais conhecidos
so a hectografia, o estncil e o offset. Eles utilizam equipamentos
diferentes e servem a necessidades especficas.
A hectografia ou duplicao a lcool utiliza um clich entintado,
passado nas cpias umidiflcadas com uma soluo alcoolizada. Esta
tcnica permite at uma centena de cpias de baixa qualidade e que se
conservam mal. Mas uma tcnica simples e econmica.
O estncil utiliza um clich feito em um material impermevel tinta.
Os caracteres so gravados neste material e a tinta passa por eles no
momento da impresso. Os duplicadores de estncil funcionam
manualmente ou eletricidade. Este procedimento simples, barto,
rpido e de boa qualidade. Existem mquinas que utilizam um estncil de
pequenas dimenses, indicadas para a reproduo de fichas dos catlogos
tradicionais.
O offset utiliza clichs sobre os quais a tinta fixa-se nas partes
impressas, enquanto uma soluo aquosa deposita-se nas outras partes.
Este procedimento permite grandes tiragens de qualidade comparveis s
tiragens de uma impressora. Existe uma enorme variedade de mquinas
offset , das mais simples s mais sofisticadas. Seu funcionamento
delicado, necessita de pessoal qualificado e de instalaes adequadas.
Algumas mquinas permitem reproduzir automaticamente estnceis e
placas offset a partir de um documento original. Existem tambm aparelhos
que transpem clichs fotogrficos para placas offset.
218
As instalaes e os equipamentos
Nas grandes unidades de Informao utilizam-se cada vez mais aparelhos
de fotocomposio (com clichs fotogrficos) acoplados a computadores
para a preparao de boletins bibliogrficos.
Algumas mquinas permitem a composio automtica dos ttulos dos
documentos e dos textos, determinando corretamente o tamanho das
linhas. A Informtica est revolucionando h alguns anos as tcnicas de
Impresso. Atualmente, a edio com o auxlio do computador (PAO), ou
microedio comum nos escritrios. Ela pode ser utilizada por qualquer
unidade de informao, grande ou pequena. Graas s inovaes
tecnolgicas, como a grande capacidade de memria dos
microcomputadores, a democratizao das impressoras a laser e o
desempenho dos programas grficos, a edio de brochuras, de boletins
e de outros tipos de publicaes est acessvel a qualquer servio de
informao.
Muitas vezes as unidades de informao possuem cortadores de papel,
bem como diversos tipos de mquinas de encadernao para o acabamento
dos produtos.
O material de reprografia serve para duplicar documentos.
Indispensvel e de uso corrente nas unidades de informao. Existe
atualmente uma grande variedade de mquinas que permitem reproduzir
cpias em diversos suportes, em formato original ou em formato reduzido,
por unidade ou em srie, a partir de documentos de tamanho original ou
em microformas.
Algumas mquinas utilizam papis especiais. Estas mquinas, que
necessitam tambm de tintas especiais e utilizam produtos txicos, so
cada vez mais raras. Outras utilizam papel comum e outros tipos de
suportes como as transparncias, por exemplo. s vezes, utiliza-se
produtos qumicos. Antes de escolher um equipamento, verifica-se com
preciso as necessidades (nmero e freqncia das cpias, tipo de
documentos originais e tipo das cpias) e comparam-se as marcas
existentes no mercado, levando em conta o seu preo (preo de compra,
de fornecimento de equipamentos, de manuteno e de mo-de-obra) e as
exigncias de cada material.
Os procedimentos de reproduo existentes so:
- a reproduo por contato, onde o suporte de cpia colocado
diretamente em contato com o original. Entre estes tipos de reproduo
pode-se citar a eletrocpia, onde um p negro fixado pela luz, que o
procedimento mais utilizado; a diazocpia, onde alguns sais so destrudos
por raios infravermelhos, utilizada sobretudo para documentos grandes,
como plantas, mapas e desenhos; e o telefacsmile;
- a reproduo tica, que compreende fotografia clssica, para cpias
em filme transparente e a cpia xerox;
A cpia em cores comea a aparecer no mercado. Existem atualmente
quatro tipos de reproduo em cores:
As instalaes e os equipamentos
- a eletrocpia, cujos princpios so os mesmos utilizados para a
cpia em preto e branco. A cor obtida a partir de ps de quatro cores
(amarelo, magenta, azul e preto) sobrepostos sucessivamente;
- a xerografla, com aplicao da tricromia;
- a fotografia em cores;
- a cor em laser, baseada na digitalizao da imagem e na aplicao
da quadricromia.
O material de microfilmagem serve para reproduzir ou ler as microformas.
Sua importncia aumenta cada vez mais nas unidades de informao
devido economia de espao que representam. Existem dois tipos de
microformas: os microfilmes, nos quais as imagens so representadas em
um suporte contnuo nos formatos de 16mm e 35mm; e as microfichas nas
quais as imagens so apresentadas em suporte descontnuo. As microfichas
podem conter um nmero varivel de reprodues e trazem, na sua parte
superior, visvel a olho nu, a referncia bibliogrfica do documento, bem
como outras informaes, como, por exemplo, o seu nmero de identificao.
Elas podem ser produzidas diretamente, ou a partir de partes de um
microfilme de 16mm inseridas em jaquetas. Devido utilizao freqente
deste tipo de cpia, toda unidade de informao deve ter ao menos um
leitor de microfichas.
Existem no mercado leitores simples e leitores reprodutores de
microformas que podem fornecer cpias de documentos em tamanho
natural. Existem vrios aparelhos deste tipo, de tamanho varivel, mais
ou menos aperfeioados. Uns dispem de um sistema automtico de
seleo de documentos, podem ter vrias lentes e permitem regular a
intensidade da luz; outros permitem utilizar apenas um tipo de microformas;
e outros ainda permitem a utilizao de dois tipos de microformas.
O preo deste tipo de aparelho varia muito. Atualmente, j se encontram
pequenos leitores de microfichas de qualidade razovel e de baixo custo.
A leitura de microformas necessita um esforo especial do usurio, em
parte, por falta de hbito. O equipamento deve ser escolhido com cuidado.
Deve-se verificar a qualidade da imagem, a qualidade da tela (nitidez,
luminosidade), a capacidade de visualizao e a facilidade de utilizao
(regulagem e avano das microformas). Alguns mveis especiais de vrios
tipos permitem armazenar microformas.
O equipamento de produo de microformas compreende cmaras
estticas ou dinmicas para microfilmes e/ou microfichas, que funcionam
de forma descontnua ou contnua; cmaras para a microfilmagem de
mapas, plantas e documentos de grandes formatos; e cmaras portteis.
As microformas em cores no esto ainda muito desenvolvidas.
So ainda necessrias mquinas automticas para revelar os filmes e
para duplicao (a primeira cpia deve ser sempre conservada em arquivo),
e ainda aparelhos de controle de qualidade, como os densmetros.
Existem ainda aparelhos para montar as jaquetas que permitem
produzir microfichas a partir dos microfilmes.
As instalaes e os equipamentos
Um equipamento de produo de microformas pode ser acoplado a
equipamentos de sada de um computador ( o procedimento conhecido
como COM - Computer output on microform). Os aparelhos COM permitem
transcrever diretamente em microforma os dados da memria de um
suporte magntico. Substituem as impressoras em papel e so tambm
conhecidos como impressoras catdicas. Os equipamentos COM produzem
principalmente as microchas de tamanho A6. Este equipamento requer
pessoal qualificado e representa um grande investimento, que se justifica
somente para uma grande unidade de informao. Os equipamentos de
informtica so descritos no captulo sobre a informtica e as unidades de
informao; os equipamentos para a leitura das memrias ticas so
descritos no captulo referente s novas tecnologias.
Questionrio de verificao
O que necessrio para a instalao material de uma unidade de
informao?
O que um estudo preliminar de instalao?
Cite os diferentes equipamentos que podem ser encontrados em uma
unidade de informao.
Quais so os equipamentos de telecomunicao necessrios em uma
unidade informao?
O que microcpia?
Quais so as formas de duplicao em papel mais utilizadas?
Bibliografia
1. Locaux et quipements de bureaux
Adaptation ofbuildings to library use. Proceedings of a seminar, Budapest,
3.7.1985. Munich, K. G. Sar, 1986. (IFLA publications, n9 39.)
BISROUCK, M. -F. La bibliothque dans la uille, concevoir-construire-
quiper (avec vlngt ralisations rcents). Paris, d, du Moniteur, 1984.
DUCHEIN, M. Les btiments d'archives, construction et quipements.
Paris, Archives nationales, 1985.
ENGLER, J.-P. ; LOBRY, C. et LAFLEUR, D. Classement, codification et
matrielde bureau. Paris, Hachette, 1985.
GASCUEL, J. Un espace pour le livre. Paris, Cercle de la librarie, 1984.
GIRAULT, O. Classement et matriel de bureau. Paris, Foucher, 1981.
KOHL, P.-F. Administration personnel, buildings and equipment: a hand-
bookfor library management. Santa Barbara (Ca.), ABC-Clio informa-
tion services, 1985.
As instalaes e os equipamentos
Mlanges Jean Bleton. Construction et amnagement des bibliothques.
Paris, Cercle de la librairie, 1986.
2. Micrografia
Encyclopdie des matriels de micrographie. Paris, CNRS-INIST, 1983.
GOULAR, C. et LEJAIS, D. Microfdms et microfiches. Paris, d. Hommes
et techniques, 1985. (Coll. Informatiguides.)
KEENE, J. et. ROPER, M. Planning, equipping and stajjing a document
reprographic Service: a RAMP study with guidelines. Paris, Unesco,
1984. (Doc. PG1-84/WS/8.)
Service dvaluation des matriels de micrographie. Appareils de lecture,
lecteurs-reproducteurs : Jiche rcapitulative des essais. Paris, CNRS,
1986.
3. Sobre as novas tecnologias
BEGOUEN-DEMEAUX, J.-F. Du traitement de texte la bureautique.
Paris, Les ditions dorganisation, 1984.
GIRARD, B. Le guide de ldition d'entreprise. Paris, AFNOR, 1988.
GLATZER, H. Introduction au traitement de texte. Paris/Berkeley/
Dsseldorf, Sybex. 1963.
Les nouvelles technologies de la documentation et de 1information :
guide dquipement et d'organisation des centres de documentation
des administrations publiques et des collectivits territoriale. Pierre
Pelou et Alain Vuillemin (dir. publ.), Paris, La Documentation
franaise, 1985. 2 vol.
POL1TIS, M. Techniques de la bureautique. 2 d. Paris, Masson, 1985.
222
A informtica nas
unidades de
informao
A importncia da informtica nas unidades de informao tem crescido
em um ritmo acelerado. Qualquer servio de informao nos dias de hoje
direta ou indiretamente dependente da informtica. Dentro de alguns
anos as redes integradas de informao automatizadas, atualmente
planejadas, sero bastante comuns.
Os sistemas de informao precisam manipular grandes quantidades
de dados para realizar tarefas relativamente simples e repetitivas. Alm
disso, estes servios realizam tarefas de gesto bastante prximas das
tarefas de gesto de empresas comuns. O computador o instrumento que
melhor se adapta a este tipo de trabalho.
As aplicaes da informtica neste campo concentraram-se inicialmente
na pesquisa documental e na elaborao de boletins bibliogrficos e de
ndices. Mas, pouco a pouco, estas aplicaes se estenderam ao conjunto
das operaes tcnicas, s operaes de gesto e aos servios aos
usurios.
Atualmente, muitas unidades de informao automatizaram total ou
parcialmente o seu sistema de aquisio, a catalogao, a indexao, a
elaborao de catlogos, a pesquisa documental, a elaborao de produtos
documentrios, como os boletins, os ndices e o DSI, o emprstimo, a
pesquisa e a explorao de dados e as operaes de controle e de gesto
administrativa correntes.
Entretanto, os sistemas informatizados devem ser concebidos, mantidos
e alimentados por pessoas. Isto significa que estes sistemas no substituem
completamente o homem, mas exigem dele mais qualificao e quase tanto
trabalho quanto antes. Este trabalho naturalmente diferente, e deve ser
realizado para utilizar com vantagens a capacidade de tratamento dos
sistemas informatizados.
importante assinalar que a tecnologia da informtica evolui
rapidamente. Ela est atualmente acessvel, tanto por seu preo, quanto
A informtica nas unidades de informao
por suas condies de utilizao, maioria dos organismos em qualquer
pas, e, brevemente a qualquer indivduo. O computador no representa
mais um luxo, mas tornou-se um objeto familiar. Saber utiliz-lo quase
to importante quanto falar a sua prpria lngua.
Definio
Um sistema de informtica compe-se de pessoal especializado; mate
rial de tratamento eletrnico de informao, isto , o computador e seus
perifricos; meios de comunicao, se for o caso; e programas, isto , o
conjunto de instrues que permitem s mquinas executar as tarefas
previstas.
Cada um destes fatores deve ser adaptado s necessidades prprias de
cada caso, isto , o nmero, a qualificao e o desempenho destes
elementos podem variar. Atualmente, encontra-se no mercado uma gama
variada de servios e produtos de informtica.
possvel tambm utilizar meios disponveis em outros organismos,
como, por exemplo, o material, uma parte do pessoal e os programas que
informatizaro algumas atividades sem necessitar arcar com os custos de
um sistema completo. Esta uma prtica corrente. Pode-se recorrer, por
exemplo, a uma empresa de servios de informtica, ou ao centro de
informtica de uma outra empresa, ou participar de uma rede informatizada.
Como qualquer equipamento, o computador, sobretudo quando se
trata de uma mquina de grande porte, deve ser utilizado em toda sua
capacidade. Os grandes centros de informtica trabalham geralmente
com o revezamento contnuo de equipes.
Pessoal especializado
O pessoal especializado necessrio para um sistema de informtica
compreende:
- os engenheiros de sistemas, que so encarregados de supervisionar
o planejamento do sistema e sua manuteno, que compreende todo o seu
funcionamento;
os analistas, que tm como tarefa estudar as aplicaes, isto , os
trabalhos que sero informatizados e preparar a sua adaptao ao
computador;
- os programadores, que elaboram, a partir das indicaes dos
analistas, as sries de instrues que permitiro ao computador executar
os trabalhos necessrios e que devem ser redigidos em uma linguagem
acessvel mquina;
- os operadores, que colocam os trabalhos que sero executados no
computador e supervisionam a sua execuo. Uma no especial deste grupo a
224 do operador do sistema que utiliza o terminal que comanda o computador;
A informtica nas unidades de informao
- os operadores de sada, encarregados da sada dos dados e de sua
transcrio em suportes legveis por mquina.
De acordo com a importncia dos centros de informtica, algumas
destas funes podem ser executadas pela mesma pessoa (este , muitas
vezes, o caso do analista-programador) ou executadas por pessoas
diferentes. Quando o centro de informtica de um organismo muito
grande, desenvolve-se uma estrutura hierrquica, de forma a facilitar os
problemas de gesto. O pessoal qualificado para realizar a manuteno
das mquinas e dos programas geralmente fornecido pela empresa que
instala o computador.
A formao do pessoal especializado em informtica realizada em
cursos universitrios. Eles podem especializar-se em algumas aplicaes,
como o clculo cientfico ou a gesto de sistemas. O pessoal que realiza as
funes mais simples pode ser formado por cursos ad hoc /treinamento
em servio de curta durao. A reciclagem deste pessoal em novos
sistemas, linguagens e materiais tambm pode ser feita por meio de cursos
desta natureza.
Equipamento: unidade central e perifricos
O equipamento compreende duas categorias essenciais de mquinas:
a unidade central, que trata as informaes, e os perifricos, que realizam
as funes de entrada, de sada e o armazenamento das informaes.
Pode-se representar sumariamente as relaes destas duas unidades
pelo seguinte esquema:
P erifricos Interface Unidade central
Figura 8. Relaes entre a unidade central e os perifricos.
Estas mquinas so constitudas por dispositivos eletromecnicos e
eletrnicos que permitem efetuar operaes de leitura e de gravao, de
memorizao, de clculo matemtico e de raciocnio lgico (triagem e
comparao).
A Informtica nas unidades de informao
Os equipamentos de entrada dos dados destinados traduo das
informaes em suportes legveis por mquina tambm fazem parte do
equipamento de informtica. Estes equipamentos podem funcionar de
forma isolada ou conectados ao computador. Para a conservao dos
produtos de informtica so utilizados diversos equipamentos, como os
armrios protegidos contra o fogo e as variaes climticas para o
armazenamento dos discos e das fitas magnticas. necessria uma
instalao especial para garantir a segurana e o bom funcionamento das
mquinas, notadamente ar condicionado, proteo contra poeira, contra
incndio e inundaes, dispositivos reguladores de corrente eltrica, bem
como a limitao de acesso apenas s pessoas autorizadas. A utilizao de
equipamentos como o no break muito importante *.
As informaes introduzidas na mquina so expressas em cdigo
binrio, isto , uma numerao compreendida por dois signos, 0 e 1, que
significam que o suporte magntico do computador foi sensibilizado ou
no, isto , recebeu ou no um impulso. Cada caractere de um sistema de
signos naturais expresso por uma srie de cifras binrias. Existem vrios
sistemas de codificao prprios aos vrios computadores. Os dois
principais so o EBCDIC (extended binary-coded decimal interchange
code) e o ASCII (American standard code for information interchange).
Neste ltimo sistema, o nmero 1" representado por 0011000, a letra
A por 0100 0001 e a letra a por 0110 0001. A codificao interna pode
criar dificuldades quando necessrio utilizar dados produzidos em
outros sistemas ou trocar informaes entre instituies. Cada unidade
elementar de informao (0 ou 1) chama-se bit. Oito bits formam um byte,
que corresponde, na maioria das vezes, a um caractere. Entretanto, a
definio do nmero de bits por caractere na mquina depende tambm
do modelo de computador.
A unidade central de processamento (CPU) a parte principal do
computador. nesta unidade que so feitos todos os processamentos.
ela que comanda o funcionamento do conjunto. Esta unidade
compe-se de:
- uma memria central, onde so registrados os programas internos
da mquina e os aplicativos e os dados que devem ser tratados. Estes
dados, medida que so recuperados, fornecem os resultados
Intermedirios e os resultados finais. A memria central constituda por
circuitos Integrados nos quais passa uma corrente eletromagntica. Os
dados que so armazenados nesta memria podem ser transferidos
1.0 no break um dispositivo especfico que oferece uma segurana contra as
panes de eletricidade. Em informtica, uma pane de eletricidade significa a perda de
tudo o que est na memria central no momento do corte. indispensvel salvar
sistematicamente os dados. Em caso de pane durante o trabalho no computador, o no
break permite salvar os dados ou continuar o trabalho. Tudo depende da autonomia
do funcionamento do no break de alguns minutos a algumas horas, de acordo com o
nmero de baterias que ele contm.
A informtica nas unidades de informao
diretamente s unidades de processamento (diz-se ento que memria
enderevel);
- uma unidade de controle, encarregada de executar sucessivamente
as instrues dos programas pelos diferentes elementos do computador e
de controlar seu funcionamento;
- uma unidade aritmtica e lgica, que executa os processamentos
de dados propriamente ditos, ou seja, as triagens, os clculos e as
comparaes.
As unidades perifricas so distintas da unidade central, fisicamente
independentes e podem estar distantes desta unidade. Entretanto, elas
esto ligadas unidade central e so comandadas por ela. Cada unidade
central pode estar conectada a um nmero fixo, mas muito extenso de
perifricos, escolhidos em funo das necessidades. Eles compreendem
dois tipos de equipamentos: as unidades de entrada/sada e as memrias
externas.
As unidades de entrada/sada permitem ler, gravar ou ainda realizar
estas duas operaes. So os instrumentos de comunicao entre o
usurio e a mquina.
As memrias auxiliares so utilizadas para armazenar os dados antes
e depois do seu tratamento. Elas recebem, em geral, arquivos muito
grandes.
Alguns suportes especiais so utilizados nestes equipamentos para
traduzir as informaes para o computador. So eles:
- as fitas e os cartes perfurados. Estes suportes esto desaparecendo
e sendo substitudos pelos suportes magnticos, que apresentam melhores
resultados, so mais baratos e, sobretudo, ocupam menos espao;
as fitas magnticas so fitas de material plstico recobertas por
uma substncia magnetizada. Uma fita magntica dividida de forma
fictcia em um certo nmero de pistas (7 ou 9) nas quais so registradas
as informaes em forma de conjuntos de bits que correspondem s
modificaes do estado magntico da fita. Uma destas pistas reservada
ao registro de um bit de paridade, ou cdigo de controle. A quantidade de
informaes que podem ser armazenadas depende no apenas do tamanho
da fita, mas tambm da densidade de registro utilizada. As densidades
mais correntes so 200, 556, 800, 1600, 3200 e 6250 BPI (bit per Inch}.
Uma fita de tamanho normal (de 2400 ps, ou cerca de 730 m, em
1600 BPI) pode conter cerca de 40 milhes de caracteres. As velocidades
de processamento no momento da leitura variam de 10 mil a 120 mil
caracteres por segundo. Os problemas causados pelo acesso seqencial
contribuem para aumentar o tempo de pesquisa. Sua utilizao necessita
da presena de um operador. Seu baixo preo e sua confiabilidade tornam
estas fitas teis como memria de arquivo para armazenar grandes
volumes de informao. As fitas magnticas devem ser guardadas em
armrios climatizados;
A Informtica nas unidades de informao
- os discos magnticos compem-se de uma placa metlica recoberta,
nas suas duas faces, por uma substncia magnetizvel. Existem diversos
tipos de discos magnticos: os hard disks (discos rgidos) fixos ou
no-removveis, ou removveis, concebidos para serem facilmente
transportados:
- os disquetes, minidiscos ou Jloppy disks.
A tendncia que os discos tomem-se as nicas memrias utilizadas
porque so de acesso direto e rpido. As caractersticas dos discos variam
muito conforme os modelos utilizados:
- entre os discos rgidos, distinguem-se os discos fixos ou
no-removveis, onde as cabeas de leitura e o disco so incorporados
unidade de leitura, e os discos removveis. Estes discos so fechados em
cartuchos localizados, no momento de sua utilizao, sobre a unidade de
leitura. Os discos rgidos tem 130 a 350mm de dimetro. Sua capacidade
de armazenamento varia entre doismilhes e vrias centenas de milhes
de caracteres. O tempo de acesso informao varia entre 2 e 100
milissegundos. As duas caractersticas mais importantes de um disco
para o usurio so sua capacidade, isto , a quantidade de informaes
que pode conter e o seu tempo de acesso mdio, isto , o tempo necessrio
para que a mquina recupere a informao:
- os disquetes so discos magnticos de tamanho pequeno, em
plstico flexvel, fechados em uma embalagem de proteo selada. Existem
disquetes de vrios tamanhos. Os mais comuns so os de 31/2e de 51/4
polegadas. Sua capacidade varia de acordo com a sua densidade de 100
mil a 1 milho e 200 mil caracteres. Os disquetes so o suporte de
informao privilegiado da microinformtica. Eles substituram os cartes
perfurados:
- os discos ticos, termo que designa o conjunto de discos nos quais
os dados so lidos por um procedimento tico. Entre eles pode-se
distinguir os discos ticos numricos ou DON, os videodiscos,
ambos com 30 cm de dimetro e os discos compactos, com 12 cm de
dimetro. Este tipo de suporte est descrito no captulo A unidade de
informao e as novas tecnologias".
reconhecimento de caracteres: em alguns casos, os documentos
originais podem ser utilizados diretamente pelo reconhecimento
de caracteres impressos ou magnticos.
O reconhecimento de caracteres impressos normalizado sob o nome
de OCR (reconhecimento tico de caracteres). Existem dois tipos de
reconhecimento: o OCR-A e o OCR-B. Os sistemas de reconhecimento
mais simples so especializados em um destes tipos. Estes sistemas
tratam apenas os documentos impressos no tipo de caracteres que eles
podem reconhecer. Alguns sistemas podem reconhecer vrios tipos de
caracteres.
No campo de reconhecimento de caracteres magnticos, os caracteres
representados por barras verticais com espaamento e espessura variadas
A informtica nas unidades de informao
podem ser lidos por leitores magnticos. Existem vrios tipos de cdigos
de barras. A normalizao deste sistema est em curso de realizao.
O cdigo mais utilizado tem como funo identificar objetos para
automatizar o reconhecimento desta identificao no momento da
circulao do objeto. O cdigo de barras cada vez mais utilizado nas
bibliotecas para o emprstimo de documentos.
As memrias auxiliares constituem-se de unidades que permitem a
leitura e a gravao de fitas magnticas ou de discos. Em geral, so
utilizados estes dois tipos de suporte. Cada sistema composto por um
nmero variado de equipamentos, de acordo com as necessidades.
Existe no mercado uma grande variedade de equipamentos.
As memrias em discos so endereveis, isto , possvel localizar com
preciso a posio das informaes (ver figura 9). As memrias em fita so
seqenciais, isto , devem ser lidas em seqncia at que a informao
seja encontrada.
As unidades de entrada/sada levam os dados e as instrues ao
computador e recebem os dados tratados, conforme mostra o esquema da
figura 10.
Alm das funes de entrada e sada realizadas pelas memrias
auxiliares, a entrada de dados realizada tambm por diversos tipos de
leitores: unidades de discos, minidiscos e leitores ticos que utilizam
documentos impressos com caracteres especiais que so analisados e
traduzidos em sinais magnticos ou leitores OCR. A gravao pode ser
feita pelos seguintes equipamentos:
- impressoras. Existem vrios modelos de impressoras: de impacto,
em que um caracter mvel bate em uma fita sob a qual se encontra o papel,
so as impressoras de agulhas e em margarida: as impressoras sem
Impacto que reconstituem a imagem do texto com a ajuda de tcnicas
semelhantes s tcnicas da telecpia so as impressoras trmicas, a jato
de tinta e a laser. A velocidade de uma impressora pode variar de 300 a 2
mil linhas por minuto, ou 40 pginas por minuto, at 13 mil linhas por
minuto ou 260 pginas. As impressoras a laser tem uma velocidade de
21 mil linhas por minuto. Existem vrios modelos de impressoras para
a microinformtica a custos acessveis e com velocidades que variam de
10 a 240 caracteres por segundo;
- monitores com tubos de raios catdicos, semelhantes a telas de
televiso, ou telas planas feitas com a tecnologia de cristal lquido ou de
plasma. Os dados so exibidos nas telas, geralmente em 24 linhas, e
substitudos por outros a seguir, conforme as instrues do usurio.
Estas telas no produzem documentos permanentes;
- tracejadores de curvas ou plotters que fazem grficos e desenhos.
Este equipamento produz documentos em papel;
- equipamentos COM (computer output microform) onde os dados
afixados em uma tela catdica so microfilmados automaticamente;
A informtica nas unidades de informao
Memrias em fiUs magnticas
pista 1
Memrias gravadas em discos magnticos.
NB: Os entrelaamentos de setores. Termo designado para significar que
setores no seguem (no continuam, um aps outro).
Figura 9. Memrias em fitas e em discos.
Documento
original
Equipamento
de captura
Suporte
legvel pelo
computador
Unidade de
leitura
perifrica
Unidade Central
Instrues
registradas na
unidade
central
Unidade
perifrica de
gravao
Documento
de sada
Memrias
externas
Figura 10. Relaes das unidades de entrada e sada do computador.
A informtica nas unidades de informao
- dispositivos de entrada/sada atravs da voz. Dois problemas
decorrem do uso destes dispositivos: o do reconhecimento da voz humana
pelo computador e o da sntese da palavra. A recuperao atravs da voz
atualmente objeto de vrias pesquisas. Estes estudos encontram-se
ainda em estgio experimental. Entretanto, o procedimento da sntese
da palavra, ou da restituio de mensagens faladas pelo computador, j
funciona perfeitamente.
Os terminais so aparelhos de entrada/sada que possuem um teclado
como os das mquinas de escrever, com teclas especiais de funo e uma
impressora e/ou uma tela de visualizao. Eles servem para dar instrues
ao computador, recuperar dados e para a entrada e sada de dados.
Existe ainda uma grande variedade de perifricos com desempenhos
variados que podem responder s mais diversas necessidades.
Os equipamentos de captura de dados compreendem os terminais; as
unidades de captura-leitura em disquetes; e mquinas de escrever eltricas
com equipamentos de escrita em caracteres OCR.
Os equipamentos de informtica esto em contnuo crescimento. Os
computadores esto atualmente em sua terceira gerao. Cada nova
gerao representa um aumento da capacidade de processamento, ligada
ao progresso tecnolgico, notadamente no campo dos componentes
eletrnicos. Os minicomputadores caracterizam-se pela miniaturizao
de sua estrutura fsica, guardando capacidades de memria comparveis
s dos computadores de terceira gerao. Os microcomputadores tm
capacidade limitada, mas podem realizar vrias aplicaes, principalmente
em nvel individual. Amicroinformtica cada vez mais utilizada atualmente
no mundo profissional. O desenvolvimento da inteligncia artificial surgiu
ligado a essa nova gerao de computadores.
As caractersticas do equipamento de informtica so essencialmente:
sua capacidade de memria, que expressa em nmero de palavras,
de caracteres ou de bytes, ou em milhares destas unidades (por exemplo
K bytes, muitas vezes indicado simplesmente pelo smbolo K). A capacidade
de memria pode variar at vrios milhares de K;
- seu tempo de acesso, que corresponde ao tempo de execuo de
uma instruo ou de acesso a uma informao na memria. Este tempo
expresso em milissegundos (milsimos de segundos) ou em nanosegundos
(milionsimos de segundos);
- sua velocidade de leitura, de gravao ou de transmisso, que
expressa em caracteres por segundo ou em linhas por minuto.
Quanto mais potentes forem os equipamentos, maior sua capacidade
de memria e sua velocidade, e menor o seu tempo de acesso. importante
que estas caractersticas sejam compatveis, de forma a evitar problemas
em funo das aplicaes.
A configurao de um sistema de informtica definida pelo tipo de
equipamento escolhido e por suas caractersticas. Algumas aplicaes
necessitam de uma configurao mnima, isto , equipamentos que
A informtica nas unidades de Informao
tenham uma determinada capacidade e, eventualmente, uma determinada
velocidade. Em geral, o tratamento de dados bibliogrficos requer uma
capacidade de reserva central de 64K, unidades de entrada e sada e vrias
unidades de discos e de fitas.
O custo dos equipamentos de informtica est diminuindo
sensivelmente. Os equipamentos podem ser alugados ou comprados. Seu
custo atual bastante variado. Alm do custo de compra, necessrio
contabilizar o custo de manuteno, que deve ser feita regularmente.
Os meios de telecomunicao ocupam um lugar cada vez mais importante
no funcionamento dos sistemas de informtica, com o desenvolvimento
das redes informatizadas, ou telemtica. Trata-se da utilizao de
computadores distncia, com terminais ligados unidade central por
rede de telecomunicaes. A distncia entre os terminais e a unidade
central no influi no acesso, da mesma forma que o nmero de terminais
ou de unidades centrais interligadas que executam funes diversas (ver
o captulo A unidade de informao e as novas tecnologias").
Os programas
Os programas so conjuntos estruturados de instrues que permitem
ao computador executar os trabalhos que lhe so destinados. Estas
instrues so expressas em uma linguagem diretamente inteligvel pelo
computador ou linguagem de mquina", fundamentada na numerao
binria, ou em uma linguagem evoluda, linguagem de programao,
que traduzida pelo computador em linguagem de mquina. A comunicao
entre o homem e o computador passa, desta forma, pelos seguintes
intermedirios:
Figurai 1. Da linguagem natural linguagem de mquina.
Existem duas categorias de programas: os do fabricante, que so
incorporados unidade central no momento da fabricao da mquina e
que comandam o funcionamento do computador em todas as suas
A informtica nas unidades de informao
funes; e as linguagens de aplicao, elaboradas especialmente por um
usurio para uma determinada tarefa.
Os programas do fabricante, tambm chamados de programas de base,
gerenciam o funcionamento do computador e dos perifricos de entrada
e sada. Estes programas so constitudos essencialmente por:
um sistema de explorao, ligado a um determinado tipo de
computador que realiza os procedimentos internos de trabalho;
os compiladores, que traduzem as linguagens evoludas em
linguagem de mquina com o auxlio de analisadores sintticos e
montadores;
- os sistemas de gerenciamento de bases de dados (SGBD). Este
termo est empregado aqui em seu sentido mais genrico.
Os programas de aplicao so muito numerosos. Alguns so fornecidos
pelo fabricante; outros podem ser adquiridos pelos servios especializados;
outros ainda podem ser elaborados pelo usurio em funo de suas
necessidades. Eles so, em princpio, destinados a uma aplicao bem-
definida, como a pesquisa documental, a gesto do estoque e a gesto do
emprstimo ou o teledechargement (ou teletransferncia) 2.
Existem conjuntos de programas ou pacotes que realizam uma srie de
operaes especficas que correspondem a uma cadeia de trabalhos
interligados e que se referem a operaes complexas, como aquisio,
criao de arquivos, edio de boletins bibliogrficos e pesquisa
documental, como, por exemplo, o Integrated set of information systems
(ISIS).
Todo programa composto por uma srie integrada de programas que
realizam tarefas elementares. A apresentao de dados na entrada e sua
sada, bem como a estrutura dos arquivos, so definidos pelos formatos.
Alguns programas podem converter dados de um formato em dados de
outro formato. As descries bibliogrficas do formato Agris podem ser
transferidas em formato ISIS, por exemplo. Estes programas so conhecidos
como interfaces.
Existem programas que permitem gerenciar as comunicaes entre os
sistemas de informtica.
A anlise informtica a tcnica bsica de elaborao dos programas.
Ela divlde-se em duas fases: a anlise funcional e a anlise orgnica. A
anlise funcional consiste no estudo detalhado do problema a ser resolvido
e das solues possveis. Cada tarefa deve ser analisada na seqncia de
aes elementares que a compem, pois o computador incapaz de
realizar qualquer ao sozinho. Para cada operao de uma certa
importncia so analisados no apenas os tratamentos informticos,
propriamente ditos, mas tambm todas as operaes anteriores e posteriores
2.0 teledechargement (ou teletransferncia) umaoperao que constitui em carregar
a memria de um terminal a partir de um computador atravs de uma rede de comunicao.
Esta operao feita nas unidades de informao em virtude de razes essencialmente
econmicas (ver o captulo: "A unidade de informao e as novas tecnologias").
A informtica nas unidades de informao
que possam influenciar o programa. A constituio de um formato de
recuperao, por exemplo, deve ser realizada em funo das informaes
disponveis neste estgio e das informaes necessrias para explorao
ulterior, levando em conta as condies de trabalho das pessoas que
realizam esta funo. A anlise funcional definir, a seguir, os arquivos
que devem ser constitudos e descrever os tratamentos que devem ser
feitos.
A anlise orgnica, que se sucede anlise funcional, consiste em
determinar os elementos do computador que devem intervir em cada fase,
a organizao dos arquivos, os formatos e a lista dos processamentos.
O analista reconstitui, desta forma, o caminho que permitir chegar ao
resultado esperado, sem esquecer nenhuma operao.
Os instrumentos mais utilizados para a anlise so os fluxogramas que
descrevem graficamente as operaes e sua seqncia atravs de smbolos
normalizados e as tabelas de deciso que explicitam detalhadamente o
fluxograma de uma matriz.
A programao consiste em traduzir em uma srie de conjuntos
estruturados de instrues, ou programas, as diferentes operaes previstas
pela anlise. Todo o programa descreve os dados que devem ser tratados,
indica o seu endereo, isto , a sua localizao no computador, as sries
de instrues que correspondem ao encadeamento das tarefas elementares
e descreve os dados que devem ser fornecidos, como, por exemplo, ler tal
dado em tal lugar no primeiro registro; se este dado igual a X, gravar este
dado em tal arquivo de tal forma; ler o segundo registro, e assim por diante.
Um programa pode ser tambm descrito e preparado por meio de um
fluxograma. Desta forma, ele pode limitar o nmero de manipulaes e o
tempo de execuo. Depois de escrito, o programa deve ser testado,
corrigido, se for o caso, depois armazenado em um suporte de memria
para que possa ser instalado no computador, quando necessrio.
Os programas de informtica documentria
Os programas de informtica documentria so programas,
procedimentos e regras relativos ao funcionamento de um conjunto de
tratamento de informao concebidos especificamente para as tarefas
documentais.
Existem dois tipos de programas de informtica documentria:
- os programas standard ou integrados, desenvolvidos para tratar
um conjunto de aplicaes documentais e de gesto de bibliotecas;
- os programas dedicados a uma tarefa especfica, concebidos para
uma aplicao precisa da cadeia documental, como, por exemplo, o
emprstimo, o tesauro e o acesso a bases de dados. Existe um grande
nmero de programas standards para documentao.
A informtica nas unidades de informao
Aquisio
* comando, seguido de comandos
inscrio no inventrio
registro
Gesto das entradas procedimento de entrada
controle ---------------------
ajuda ao registro
1catlogo
>anlise
indexao
Gesto dos instrumentos-
instrumentos,
lingsticos
tesauros
lxicos
CAMPOS DE
INTERVENO
DE UM PROGRAMA
DOCUMENTAL
Gesto dos arquivos criao e atualizao
restaurao
salvamento
Pesquisa documental >pergunta e resposta
pesquisa retrospectiva
DSI
Edio
triagem
edio
1grfica
ndice
boletim
Administrao
estatsticas
gesto financeira
gesto do emprstimo
F i g u r a 12. F u n e s d e u m p r o g r a m a d o c u m e n t a l .
Alguns destes programas funcionam em grandes computadores. Os
mais conhecidos so Basis, ISIS, Stairs, Golem e Mistral. Outros funcionam
em equipamentos de potncia mdia. So o Minlsis e o Milor. O Minlsis
apresentado em anexo neste captulo. Em todos os programas standards
encontram-se as mesmas funes e os mesmos servios (ver figura 12).
A automao de cada uma destas funes descrita nos captulos
respectivos.
Os critrios para a escolha de um programa documental dependem do
estudo de oportunidade de informatizao que ser descrito a seguir.
Existem documentos que avaliam os diferentes programas. Os peridicos
de cincia da informao publicam estudos que fazem a comparao entre
vrios programas. As pessoas encarregadas da automao de uma unidade
de informao devem consultar estes documentos.
A informtica nas unidades de informao
Linguagens de programao
As linguagens de programao so linguagens artificiais que permitem
apresentar as instrues ao computador por meio de uma estrutura fixa
de regras e de regras de escrita limitadas. As principais linguagens so
Fortran e Algol, para as aplicaes de clculo cientfico, Basic e APL, para
as aplicaes em time sharing, Cobol, para as aplicaes de gesto, PL/1,
para qualquer tipo de aplicao. Pascal, para os programas estruturados,
e Lisp e Prolog para a programao de aplicaes de inteligncia artificial.
Modalidades de utilizao
As modalidades de utilizao de um computador variam em funo de
sua configurao. Os computadores de primeira gerao permitiam apenas
a execuo de um programa de cada vez. As mquinas modernas executam
vrios programas simultaneamente: a multiprogramao. Isto possvel
porque as operaes de leitura e de gravao so mais lentas que as
operaes lgicas. Vrios usurios podem ter acesso ao mesmo tempo a
um mesmo computador a partir de terminais e podem executar
simultaneamente seus programas. Esta a tcnica de time sharing que
apoiada na multiprogramao.
Quando um usurio est ligado a um computador por um terminal ele
pode solicitar que seus trabalhos sejam executados imediatamente: este
o tratamento on-line ou em tempo real. Mas ele pode solicitar que seus
trabalhos sejam efetuados posteriormente: o tratamento em batch.
O tratamento em lote consiste em reunir vrios trabalhos idnticos de
origem diferente e solicitar ao computador que os execute em conjunto.
Desta forma, economiza-se o tempo de tratamento.
Quando um sistema de informtica utilizado com acesso on-line, as
informaes circulam entre o computador central e os terminais. Um
sistema de emprstimo de uma biblioteca pode, por exemplo, ingressar no
arquivo de emprstimo a notificao de retirada de uma obra ou verificar
se esta mesma obra est com algum usurio. Alm disso, os sistemas de
informtica evoluem em direo a um dilogo com o usurio. Em um
sistema de catalogao, por exemplo, no o bibliotecrio que ingressa os
diversos campos da descrio bibliogrfica, mas o computador que
solicita os diversos campos sucessivamente e previne o usurio em caso
de erro ou de omisso. Esta forma de trabalho conhecida como
conversacional ou interativa. utilizada, sobretudo, para a pesquisa
documental. Esta capacidade de dilogo particularmente desenvolvida
em redes nas quais o usurio tem acesso aos recursos de todos os que
compartilham da rede.
236
A informtica nas unidades de informao
Os dados e os arquivos
A entrada de dados em um sistema de informtica baseia-se na
estrutura dos registros que definida anteriormente em funo da
natureza das informaes e das necessidades de pesquisa. Existem dois
tipos de registros nos suportes de entrada e nas memrias do computador:
os arquivos lgicos e os registros fsicos. Os arquivos lgicos correspondem
organizao intelectual dos dados, os registros fsicos correspondem
sua localizao. Na prtica, um registro ou arquivo lgico pode ser
localizado em um ou em vrios registros fsicos e pode ser apresentado na
mesma ordem, ou no, conforme as limitaes do sistema.
Um registro corresponde a um conjunto de dados relativos a uma
mesma entidade, como os elementos da descrio bibliogrfica de um
livro. Ele constitudo por subconjuntos hierarquizados, conforme mostra
a figura 13.
Registro 1..................
Grupo 1.1 rea 1.1.1
rea 1.1.2
rea 1.1.3
rea 1.1.4
Grupo 1.2 rea repetitiva 1.2.1
rea 1.2.2
Grupo 1.3 rea 1.3.1
Figura 13. Subconjuntos de um registro.
Cada rea corresponde a um dado elementar. Se este dado tiver
diversos valores como, por exemplo, os vrios autores de um mesmo
artigo, pode-se utilizar uma rea repetitiva.
Os grupos correspondem a dados que tenham ligaes mais estreitas
entre si, como, por exemplo, o ttulo, o subttulo e o ttulo traduzido de um
artigo.
Algumas reas so obrigatrias. Outras tm tamanho fixo e no podem
ultrapassar um determinado nmero de caracteres. Esta disposio
A informtica nas unidades de informao
facilita o endereamento dos dados ou sua localizao na memria e pode
ser utilizada quando possvel determinar o tamanho mximo de um
dado.
Deve-se definir tambm o tipo de caracteres que devem ser utilizados
para exprimir um dado em cada rea, determinando, por exemplo, que
este dado deva ser representado exclusivamente por nmeros. As regras
de escrita devem ser extremamente precisas. Elas so descritas rea por
rea em um manual de operaes.
Um arquivo de informtica constitudo por um conjunto de registros
da mesma natureza, como, por exemplo, os perfis idnticos de usurios de
um servio de DSI. Ele pode ser organizado, fsica e intelectualmente, de
vrias formas.
O acesso aos arquivos pode ser paralelo, isto , o seu contedo pode ser
comparado simultaneamente em uma mesma instruo. Ele pode ser
tambm endereado, isto , necessria apenas uma instruo, mas a
comparao feita seqencialmente. O acesso pode ser direto ou aleatrio.
Pode ser seqencial, quando deve ser lido desde o princpio at que seja
terminada a comparao.
Em uma organizao seqencial, os registros seguem a ordem de
entrada. Se se organiza um arquivo alfabtico desta forma, seria necessrio
reescrever todo o aquivo para inserir um novo registro entre Da e Do. por
exemplo. O encadeamento permite evitar este problema, indicando no fim
do ltimo registro de cada categoria, a localizao fsica da memria onde
ser escrito o registro seguinte. Pode-se ainda utilizar um arquivo de
localizao conectado ao arquivo principal.
As listas so outro tipo de apresentao nas quais cada dado
identificado em uma tabela que indica sua posio na memria e a posio
do dado seguinte, conforme mostra a figura 14.
Figura 14. esquerda aparece a posio na memria; direita, o endereamento.
O X significa o final da lista. Cada elemento pode ser constitudo por uma lista
secundria.
Em um arquivo de acesso seqencial indexado, deve-se proceder por
etapas para recuperar um dado. Deve-se consultar inicialmente, por
exemplo, o ndice dos cilindros (conjunto de posies paralelas em um
A informtica nas unidades de informao
disco), que informa o endereo do indice das trilhas nos diferentes discos,
de forma a encontrar a trilha onde est o registro seqencial.
O tratamento dos arquivos compreende essencialmente duas operaes:
a triagem e a fuso, independentemente de sua leitura e gravao.
A triagem um tratamento que permite armazenar o registro em um
arquivo, classificado em uma ordem determinada em funo de um
determinado critrio. Pode-se classificar, por exemplo, em ordem
cronolgica, o ano de publicao das referncias bibliogrficas que j se
encontram ordenadas alfabeticamente por autor.
A fuso consiste em integrar dois arquivos ordenados, de acordo com
o mesmo critrio, em apenas um, de acordo com este mesmo critrio. Pode-
se, por exemplo, transferir novos registros de um arquivo de novas
aquisies para um arquivo bibliogrfico.
Um sistema de informtica compe-se de vrios arquivos. As operaes
de leitura podem ser organizadas em seqncias fixas, isto , a pesquisa
ser realizada de um determinado arquivo a outro, de acordo com uma
ordem previamente estabelecida. Mas pode-se tambm trabalhar com
seqncias variveis. Na prtica, isto significa que o usurio pode decidir
por qual arquivo quer comear o tratamento e que arquivo quer acessar
a seguir.
Quando se define a estrutura e a organizao de um arquivo, deve-se
considerar que os registros podem ser modificados, corrigidos,
acrescentados, eliminados e ligados a outros registros. A manuteno dos
arquivos um aspecto essencial ao bom funcionamento do sistema.
A segurana dos arquivos tambm um elemento importante. No caso
de falha de segurana, todo o sistema pode ser afetado. por esta razo
que, medida que as transaes so executadas, os arquivos so copiados
em fitas magnticas que so regularmente compactadas. Alguns
dispositivos de proteo evitam apagar por engano os arquivos e detectam
os principais problemas. Alm disso, o uso de senhas e cdigos probe o
acesso de pessoas no autorizadas ao sistema.
As operaes de sada podem ser feitas pela simples reproduo dos
arquivos existentes no sistema ou em formatos especiais.
Quando a sada feita em uma tela catdica, onde o nmero de linhas
inferior ao dos registros, a visualizao feita por partes. Se a sada
feita em um formato especial, os dados so preparados em um arquivo
especial com um programa de edio que d as instrues sobre a
paginao. importante criar formatos de edio, para produzir
documentos de qualidade, com a utilizao da reprografia, a partir das
listas fornecidas pelas impressoras, como, por exemplo, reduo das
listas por procedimentos fotogrficos e reproduo em ojjset.
Os grandes sistemas tm equipamentos de fotocomposio acoplados
ao computador, permitindo, desta forma, a impresso automtica de
documentos. Nestes sistemas os equipamentos COM podem produzir
microfichas diretamente. 239
A Informtica nas unidades de informao
Estudo de oportunidade
Qualquer tipo de automao deve ser objeto de um estudo prvio que
defina rigorosamente os objetivos visados, bem como o exame dos meios
utilizados para se chegar a estes objetivos. Este estudo de oportunidade
deve ser concludo pela redao de um manual, tarefa difcil e delicada,
mas indispensvel. O estudo de oportunidade, realizado por um tcnico,
deve relacionar todas as pessoas envolvidas na automao e deve
compreender:
- uma anlise do que existe, apresentando as atividades do organismo
ou do servio em questo, sua estrutura e as funes existentes e
uma descrio das atividades realizadas em cada uma destas funes;
- uma crtica da situao atual com apresentao dos problemas ou
das disfunes constatadas e um diagnstico;
- os objetivos que devem ser alcanados com um inventrio das
possveis solues. Um estudo dos meios, do tempo e dos custos
necessrios para a realizao das diferentes solues ;
- custos e condies contratuais;
- calendrio de execuo.
A partir do estudo de oportunidade feita a anlise funcional das
decises tomadas. A escolha de uma soluo deve ser feita em funo de
um conjunto de critrios como o equipamento, o produto, os perifricos,
os problemas materiais e os servios.
Foram desenvolvidos alguns mtodos para realizar estes estudos de
oportunidade. O mtodo Merise, por exemplo, alm de dar assistncia na
concepo do projeto, auxilia no seu desenvolvimento.
O estudo de oportunidade e o manual resultante deste estudo sero a
base para o dilogo e o entendimento entre as pessoas que trabalharo em
conjunto. Alm disso, estes estudos so o documento necessrio para a
tomada de preos dos fornecedores e fabricantes de sistemas, constituindo-
se tambm em prova jurdica do trabalho efetuado.
Questionrio de verificao
Quais so as aplicaes da informtica em uma unidade de informao?
Quais so os principais elementos que compem um computador?
O que um programa?
Qual o papel do analista?
Qual o papel do programador?
O que representa o estudo de oportunidade da informatizao?
240
A Informtica nas unidades de informao
Bibliografia
ADBS. Linformation documentaire en France. Paris, La Documentation
franaise, 1983.
BOULET, A.; KERIGUY, J. et MARLOT, L. Informatique et bibliothque :
pourquoi et comment informatiser une bibliothque. Paris, Cercle de la
librairie, 1986.
BRESSIN, M. et JOBARD, J. Micro-informatique. Besanon, Centre rgional
de documentation pdagogique, 1985. 2 fascicules.
COOK, M. An introduction to archiual automation: a RAMP study with
guidelines. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/15.)
LE CROSNIER, H. La micro-informatique : un nouueau secteur de la
bibliothque. Paris, Cercle de la librarie, 1986. (coll. Bibliothques.)
DEWEZE, A. Informatique documentaire, 2d. Paris/New York/Barcelone,
Masson, 1986. (Mthodes et programmes.)
DOLLAR. C. M. Electronics reconds management and archiues in Interna
tional organizations: a RAMP stuty with guidelines. Paris, Unesco,
1986. (Doc. PGI-86/WS/12.)
GILSCHRIST, A. Minis. micros and terminais f o r libraries and information
services. Chichester, Wiley and sons, 1981.
INTERPHOTOTHQUE. Comment informatiser unephotothque ? Gestion
et traitement documentaire. Paris, La Documentation franaise, 1984.
International inuentory o f softwarepackages in the informationfield. Paris,
Unesco, 1983. (Doc. PGI-83/WS/28.)
LASFARGUE, Y. Vivre Vinformatique : micro-informatique, bureautique,
robotique, tlmatique. 39 d. Paris, Les ditions dorganisation/
Institut franais de gestion, 1988.
MATTHEWS, J.-R. Choosing an automated library system. Chicago, ALA,
1983.
MATTHEWS, J.-R. Directory o f automated library systems. New York/
Londres, Neal Schuman Publishen, 1985.
MOUNT, E. Role o f computers in sci-tech libraries. New York/Londres,
Haworth Press, 1986.
Second International Conference on the application o f micro-computers in
information, documentation and libraries. Baden-Baden, 17-24 mcarch
1986. Munich, K. G. Sar, 1987.
WEBB, T. D. The in-house option: professional issue o f library automation.
New York/Londres, Haworth Press, 1987.
241
A informtica nas unidades de informao
Anexo
O programa Microlsis
Esta descrio do programa Microlsis foi escrita por M.R.Gimilio para
a revista Documentaliste (vol.25,n.3, mai-jun 1988). A atualizao da
verso 2.0 foi copiada do Bulletin de VUnisist[v.l6, n.3,1988). Agradecemos
revista Documentaliste que nos autorizou a reproduo deste texto.
CDS/ISIS um programa de gesto de bases de dados documentais
para microcomputadores 1BM-PC e compatveis, desenvolvida pela Unesco.
Este artigo apresenta a estrutura, o funcionamento e a ergonomia deste
programa que permite ao usurio a criao, a concepo e a pesquisa de
referncias, a gesto dos lxicos de acesso e a permuta de dados com
outros sistemas.
O programa Microlsis (em sua verso 1.0) foi criado oficialmente em
dezembro de 1985. A Division de la Bibliothque, des Archives et de la
Documentation (LAD) da Unesco organizou nesta poca uma srie de
cursos de uma semana cada um sobre este programa. Os cursos de
formao continuaram acontecendo em ritmo acelerado, bem como as
atualizaes, o que permitiu aperfeioar continuamente o programa. Esta
apresentao do programa de gesto de bases de dados documentais para
microcomputadores IBM/PC ou compatveis XT ou AT funcionando em
MS-DOS foi baseada na introduo do Manuel de reference do programa.
O Microlsis diretamente derivado do programa ISIS, criado em 1985, pelo
Bureau International du Travail em CDS/ISIS para computadores IBM
360-370.
O programa Microlsis permite construir e gerenciar bases de dados
estruturadas e no-numricas, derivadas de colees de objetos
homogneos como as bases de dados constitudas principalmente de
textos destinados descrio.
Embora o programa Microlsis trate de texto e de palavras, ele faz mais
que um simples redator de textos. Alm de oferecer a maior parte das
funes deste tipo de programas, os textos tratados so estruturados em
fichas que contm os campos compostos por dados elementares cuja
definio e emprego so controlados pelo computador.
Em termos genricos, uma base de dados CDS/ISIS um arquivo de
dados interligados que so recolhidos para satisfazer s necessidades de
uma comunidade de usurios. Esta base pode ser, por exemplo, um
simples arquivo de endereos ou um arquivo mais complexo, como o
catlogo de uma biblioteca ou um repertrio de arquivos de pesquisa. Em
todos estes arquivos cada unidade de informao constituda por dados
elementares, como, por exemplo, o nome de uma pessoa, um ttulo ou c
nome de uma cidade, que podem ser definidos e manipulados de diversas
242 formas pelo programa.
A informtica nas unidades de informao
O programa Microlsis permite essencialmente:
- definir bases de dados com os dados elementares necessrios e/ou
modificar a definio das bases existentes;
- ingressar novos registros em bases existentes;
- modificar, corrigir ou apagar registros existentes;
- manter e construir automaticamente arquivos de acesso rpido
para cada base de dados;
- recuperar registros pelo seu contedo, a partir de uma linguagem
de pesquisa elaborada;
- selecionar registros de acordo com as seqncias desejadas;
fixar registro no todo ou em parte de acordo com as necessidades;
- imprimir catlogos contendo o todo ou parte de uma ou de vrias
bases de dados com ou sem os ndices necessrios;
- fazer troca de dados, com a ajuda de um suporte e de um formato
normalizados (ISO 2709 adaptado aos disquetes) no todo ou em
parte, com ou sem reformatao.
A verso nvel l.XX do programa Microlsis constituda por um
conjunto de programas que executam as diferentes funes do sistema. O
Manuel de rfrence, publicado pela Unesco, distingue dois tipos de
programas: os programas usurio, que trabalham com as bases do
sistema, e os programas sistema, concebidos para o administrador das
bases de dados com a finalidade de criar novas bases e realizar as
diferentes tarefas do sistema. Seis programas so distribudos juntamente
com esta verso inicial.
Os quatro programas usurio so:
- o ISIS que permite a pesquisa, a entrada e a correo de dados em
uma base de dados;
o ISISPRT, que permite imprimir o todo ou parte de uma base de
dados de acordo com critrios definidos pelo usurio;
- o ISISINV, que permite atualizar e imprimir os lxicos de acesso s
bases de dados;
- o ISISXCH, que fornece as funes necessrias para a troca de
dados com outros sistemas, bem como as funes utilitrias de
arquivamento e de manuteno no arquivo principal (masterfile).
Os programas sistema so:
- o ISISDEF, que fornece as funes de definio de novas bases de
dados e de modificao das definies das bases existentes;
- o ISISUTL, que fornece as funes utilitrias dos formulrios e dos
menus do sistema.
Os programas deste sistema tm algumas caractersticas comuns que
so:
- navegao por menus, submenus e solicitaes;
- assistncia para o registro de dados on-line;
- possibilidade de escolher qualquer lngua de trabalho cujo alfabeto
gerado pelo computador;
A informtica nas unidades de informao
- linguagem potente para a manipulao, impresso, extrao e
reformatao de dados;
editor potente na prpria pgina da tela, comum a todos os
programas do CDS/ISIS.
A verso atual ser substituda por um programa nico, cujo menu
principal assegura a realizao das funes da verso antiga. Esta verso,
testada por ns pessoalmente, ser objeto de apresentao a seguir.
Caractersticas mnimas de
funcionamento
O equipamento para Microlsis deve dispor de uma memria central
mnima de 512Kb (o ideal 640 Kb), uma unidade de floppy diskde dupla
face e dupla densidade (MD2-D) e um disco rgido de 10 Mb no mnimo.
Um grande nmero de equipamentos foi testado at o momento,
especialmente o equipamento compatvel, de provenincia francesa e
europia. A Organizao Pan-Americana de Sade (OPAS) utilizou tambm
uma memria de massa de disco compacto CD-ROM. A Liga rabe e a
Unesco difundem uma verso do Microlsis com duplo alfabeto (rabe e
latino) para microcomputadores PC equipados com uma tela especial.
Existe uma verso especial para equipamento Wang-PC, e est sendo
desenvolvida uma verso Vax para microcomputador.
A compatibilidade com o MS-DOS/PC-DOS possvel graas utilizao
das funes do sistema operacional (de nvel mnimo 2.11), bem como o
emprego da linguagem de programao Pascal-ISO. Desta forma pode-se
assegurar um funcionamento seguro e otimizado. O objetivo visado a
mxima portabilidade a partir de uma nica linguagem de programao,
reagrupando em um nico mdulo, comum ao conjunto, a totalidade de
ordens do sistema operacional.
Funcionamento
Em modo degrad possvel fazer o funcionamento no computador,
utilizando apenas duas unidades de disquetes para produzir pequenas
bases de dados. E te modo til para o ensino ou para a produo de
pequenas bases que sero posteriormente fundidas. Para tal, necessria
uma organizao especial dos dados e programas. Entretanto, seu
funcionamento afetado pela lentido de acesso informao em disquetes.
possvel carregar os dados na memria de mquinas que dispem
apenas de um nico leitor de disquetes e de um disquete. Porm,
necessrio lembrar que o funcionamento do sistema nestas condies no
seguro. Qualquer pane de eletricidade pode levar destruio da base
de dados tratada desta forma.
244
A Informtica nas unidades de Informao
Procedimentos de segurana
Os fabricantes do sistema dedicaram uma ateno especial segurana
dos dados em caso de destruio ou de alterao dos suportes,
homogeneidade e coerncia entre os diversos arquivos, bem como
construo de uma base correta. A verso Microlsis (bem como todas as
outras verses existentes) possui seu prprio sistema de arquivamento de
dados integrado. Este arquivamento refere-se exclusivamente ao contedo
das bases de dados e dos arquivos (arquivo mestre e arquivo invertido).
O arquivo mestre periodicamente lido pelo programa de arquivamento,
por iniciativa do usurio e copiado em disquetes. Esta operao
independente dos possveis back ups do programa de arquivamento
fornecidos pelo sistema operacional (programa de back up do MS-DOS).
O programa Microlsis verifica se no ficou faltando nenhuma atualizao
dos arquivos e se toda a informao est coerente. O programa efetua
ainda uma recompresso do espao em disco, que foi disperso no
momento das atualizaes.
A utilizao de uma unidade de back up em cartucho acoplada
unidade de vrios jogos de suportes permite uma segurana mxima com
a realizao de back ups (back ups fsicos com MS-DOS e utilizveis com
Microlsis). Esta funo ser especialmente apreciada pelos documentalistas
que j perderam alguma base de dados e que no puderam recuper-la.
Menus e solicitaes
Uma caracterstica Interessante do Microlsis sua facilidade e sua
ergonomia particularmente estudadas. Este programa tambm
parametrizado.
As operaes que devem ser executadas por cada programa so
escolhidas pelo prprio usurio e propostas em forma de solicitaes. O
Microlsis utiliza trs formas de solicitao: os menus, os submenus e as
solicitaes on-line. Estes trs tipos de solicitao podem ser combinados
entre si, assistem e guiam permanentemente o usurio.
Exemplos de menus
No momento da abertura, o sistema mostra o menu de abertura que
permite a realizao das funes do programa.
Cada opo oferecida pelo programa constituda por um nico
caractere chamado de identificador de opo como,por exemplo, a letra C.
Este caractere seguido de um pequeno texto explicativo chamado de
descrio de opo. Neste momento, o cursor pisca direita de um ponto
de interrogao atendendo digitao de um dos comandos. Basta
escolher a opo desejada. Um controlador de menus verifica ento a
A Informtica nas unidades de informao
validade da escolha. Qualquer escolha de um comando que no consta do
menu ocasiona um sinal sonoro. Na verso que estamos descrevendo, o
Identificador de opo pode ser trocado por um Identificador mnemnico.
Neste caso, necessrio cuidar para que o mesmo identificador no seja
utilizado duas vezes no mesmo menu.
Para a escolha de uma base de dados, por exemplo, deve-se digitar um
. Esta digitao ocasiona o aparecimento de uma solicitao de linha que
aparecer na parte inferior esquerda da tela. A digitao da opo R mostra
o menu FXGEN, que d acesso s funes de pesquisa e de exibio. A
opo E mostra o menu FXE1 que d acesso a todas as funes de
modificao, de criao e de registro da informao. Cada descrio de
opo resume no menu as funes que podem ser acessadas.
Comandos de linha
A digitao de uma opo vlida ocasiona imediatamente uma ao.
No necessrio confirmar esta ao pela tecla ENTER. No caso da escolha
de uma base de dados aparece a seguinte pergunta: Nome da base de
dados?". A resposta esperada uma cadeia de no mximo seis caracteres
que corresponde ao nome da base de dados existente no repertrio de
trabalho que foi escolhido. Se a base de dados escolhida existe, o menu
reaparece com um certo nmero de identificaes sobre a base escolhida.
No caso da base no existir, aparece uma mensagem com esta indicao.
Outros comandos de linha podem ser utilizados no sistema. O Manuel
de rjrence do programa traz a lista destes comandos e sua explicao
detalhada.
Submenus
A realizao de algumas funes, como o comando de modificao de
um registro da base de dados, provoca o aparecimento de um formulrio
de registro na tela. As trs ltimas linhas so reservadas para afixar um
submenu. As linhas de nos. 1 a 21 correspondem s reas do formulrio
de entrada. O texto em destaque corresponde ao contedo dos campos do
registro n.l da base, na primeira pgina do formulrio.
O cursor pisca no canto Inferior direito da tela, na linha de nmero 24.
Basta escolher uma das opes e digit-la. A letra M (Modificar) provoca
o posicionamento do cursor na primeira zona do registro (conferncia) e
apaga o submenu O editor de campos ento ativado com todas as
funes de tratamento de textos.
246
A informtica nas unidades de Informao
Dilogo multilngue
O programa Microlsis, em sua verso livre, totalmente interativo e
multilnge. Esta ltima possibilidade permite escolher, no momento de
sua instalao, uma lngua de trabalho corrente. Os menus, as mensagens
e as solicitaes de submenus sero afixados nesta lngua. A qualquer
momento, se o usurio do sistema no inibiu esta possibilidade, possvel
solicitar o menu de escolha de lngua. O programa Microlsis pode
funcionar em rabe, gerando uma tela especial que muda o modo de
registro de caracteres, de acordo com a escolha da lngua. O exemplo do
menu FXLNG ilustra um modelo de menu bloqueado, no qual algumas
opes que do acesso a outras lnguas foram suprimidas.
Emprego de telas
Uma tela uma mscara afixada no visor do computador utilizada para
o registro de dados. o equivalente de um formulrio que deve ser
preenchido. Como um formulrio, a tela contm um determinado nmero
de campos ou rubricas. Cada campo corresponde a um nmero de rea e
tem um espao em branco onde sero registrados os dados correspondentes.
Em alguns casos, determinados campos podem ter dados registrados
previamente: so os valores default". Quando a tela do monitor no
suficiente para conter todo o formulrio, ele dividido em tantas pginas
quantas for necessrio. Neste caso, necessrio utilizar os comandos
apropriados dos submenus para paginar a tela. Existem dois tipos de tela:
as de sistema e as de entrada de dados.
O programa Microlsis utiliza uma tela de sistema para obter os
parmetros necessrios para a execuo de uma determinada funo. Se
se deseja, por exemplo, fazer uma impresso com a ajuda do programa
ISISPRT, o sistema mostra uma tela de sistema para solicitar os parmetros
necessrios, como o tamanho das linhas e o nmero de linhas por pgina.
A tela de sistema FYSI especialmente destinada a trocar e salvar dados
em formato normalizado ISO 2709 e fornece ao programa os parmetros
destinados a gravar a informao em disquete.
Uma tela de registro/entrada de dados (tela CDSF) contm todos os
campos que podem ser definidos para o registro de um determinado tipo
de ficha. Como estas telas devem ser definidas para cada tipo de base de
dados, o Microlsis fornece um editor de telas que sero formatadas em
funo das necessidades. Como a ordem da disposio dos campos
arbitrria, possvel ter tantas telas quantas for necessrio, com dados
que podem ser dispostos de forma diferente em cada tela.
247
A Informtica nas unidades de informao
A linguagem de tratamento de dados
Averso Microlsis, bem como as verses para computadores de grande
porte, possui uma linguagem de tratamento de dados potente e concisa.
Esta linguagem est baseada na seleo de um dado elementar (campo ou
subcampo) destinada a produzir um texto. Podem ser associados a estes
setores literais antes ou depois do texto ter sido produzido. Estes literais
podem ser incondicionais, ou condicionados, presena ou ausncia de um
campo, ou podem repetir-se a cada ocorrncia de um campo. Os seletores
e os literais podem ser combinados para agregar o contedo de vrios
campos. Uma clusula especial (MDU.MHU ou MPU) permite transformar
uma cadeia de caracteres inicialmente registrada em tipografia rica, em
maisculas pobres.
O conjunto dos seletores, clusulas de registro e literais compem um
formato de registro. Se este formato utilizado para impresso, ele pode
ser complementado por especificaes de espaamento, colunas, e
insero de linhas brancas. O texto pode ainda ser explorado para
produzir ndices dos pontos de acesso ou dos novos campos exportados ou
importados pelo formato ISO 2709. conveniente investir o mximo de
tempo possvel na aprendizagem e na prtica para tirar o melhor proveito
desta linguagem. Sua utilizao interativa com visualiza<~ imediata
dos resultados. Esta interao aplica-se ao conjunto do programa. Esta
linguagem apresentou poucos problemas no perodo de teste. Algumas
publicaes detalham alguns aspectos particularmente interessantes do
programa.
Processamento do programa
Parmetros de lanamento
A verso mais antiga do programa necessitava que cada programa que
compunha o produto, fosse rodado individualmente. Com a nova verso,
isto no mais necessrio. Os dados so tambm separados dos programas.
Os acessos podem ser parametrizveis e permitem utilizar outros discos
em uma rede local, se o usurio desejar.
Quando o programa est instalado, um pequeno procedimento roda o
programa unificado. O primeiro comando do programa pode ser
parametrizado pelo usurio para perguntar o nome do diretrio onde esto
instaladas as bases de dados visa das. Esta uma opo que deve ser feita
no momento da instalao. O usurio pode, igualmente, designar desta
forma qualquer unidade de disco ou disquete onde ele localizou sua base
de dados.
Se o caminho de acesso aos dado est correto, o sistema mostra o
segundo comando que o menu geral descrito anteriormente.
A Informtica nas unidades de informao
Help
Os menus, os submenus e os comandos constituem um help permanente
ao usurio. Uma outra forma de assistncia so as mensagens que podem
ser exibidas na base da tela quando o cursor est localizado no incio de
um campo de uma tela de registro ou de uma tela do sistema. Estas
mensagens so exibidas para o usurio no momento da criao ou da
modificao de uma tela. Uma tela de registro de dados pode conter, no
espao de duas linhas, as regras de uso de um campo. A mensagem
aparece na base da tela quando a tecla F1 pressionada.
A terceira linha da base da tela mostra o estado do documento que est
sendo modificado, quando o cursor est localizado no incio do campo
chamado Sries/P/C... e quando o editor de campo est ativado. As
mensagens so as seguintes:
- mensagem de editor EDIT: Prompt que avisa que o modo de correo
est ativo. Uma presso na tecla ENTER ativa o modo Insero e transforma
a mensagem em EDIT: Insere;
- mensagem do programa de edio/modificao/criao de menus
avisando que existem ainda pginas de tela disponveis para o
menu, cujo nmero exibido direita;
- nmero do menu, cujo contedo est sendo registrado ou modificado.
A mensagem da primeira e da segunda linhas da parte inferior da tela
traz um resumo da estrutura do campo fixado pelo usurio. Em todas as
verses do programa CDS/ISIS possvel criar subcampo. O caractere A"
o separador. Este caractere, associado a uma letra ou a um nmero,
identifica um determinado subcampo dentro de um campo.
Ergonomia do sistema
O sistema oferece um editor de textos potente que ativado toda vez que
for necessrio modificar o contedo da mensagem de um campo. Por este
editor possvel criar, modificar ou apagar um campo em uma tela do
sistema; formular uma equao de pesquisa e modificar, criar ou registrar
uma mensagem de help.
Os comandos esto ao nvel dos melhores sistemas de tratamento de
textos disponveis atualmente e exploram todas as funes do teclado dos
PCs: insero, deleo, tesoura e cola, deleo de uma cadeia de
caracteres em bloco, utilizao dos comandos de segurana no caso de
problemas anulando modificaes indesejveis. As duas mos do operador
so igualmente solicitadas e utilizam as teclas mais comumente empregadas
na maioria dos programas para PCs.
249
A Informtica nas unidades de informao
Principais inovaes presentes
na segunda verso do Microlsis
A principal modificao inserida pela segunda verso, do ponto de vista
do usurio a integrao de todos os programas
(ISIS,ISISINV,ISISDEF,ISISUTL e ISISXCH) em um s. As funes
associadas a cada programa so selecionadas por meio de um menu
principal.
Do ponto de vista do sistema foram feitas vrias modificaes
importantes. Entre elas, podem-se citar:
- a presena de uma opo de programao que permite o
desenvolvimento de aplicaes especiais que necessitem de funes no-
previstas no programa standard. A verso da linguagem de programao
Pascal para Microlsis foi concebida para este caso. Para utilizar estas
aplicaes necessrio conhecer a linguagem Pascal, mas no
indispensvel conhecer em detalhe as caractersticas internas de CDS/
ISIS, como a estrutura dos arquivos e o formato de registro. A especificidade
do Pascal Microlsis est no conjunto de procedimentos definidos
previamente, que permitem um acesso simples e cmodo maioria das
funes do Microlsis. Desta forma, pela chamada da funo Menu,
possvel afixar e solicitar qualquer menu do sistema ou outro menu
concebido pelo usurio para uma aplicao especfica. As funes Criao
e Modificao permitem ao usurio criar e editar um registro em modo
interativo, utilizando todas as funes de entrada do Microlsis.
A biblioteca Pascal CDS-ISIS, alm de fornecer uma interface potente e de
alto nvel com o programa Microlsis, torna os programas usurios
independentes da verso do sistema utilizado. Isto permite a segurana de
funes bem testadas. O Pascal/CDS/ISIS (Isispas) parte integrante do
programa Microlsis e contm um compilador, um interpretador e uma
biblioteca. O compilador produz um pseudocdigo que executado pelo
interpretador. Como o cdigo independente da mquina, os programas
de aplicao escritos em Pascal CDS/ISIS so compatveis com toda a
gama de computadores que utilizam CDS/ISIS. Desta forma, uma
aplicao desenvolvida em microcomputador IBM-PC pode rodar sem
nenhuma modificao em um computador VAX. Os programas podem ser
concebidos para ser utilizados pelo usurio, ou para integrar-se em menus
e/ou funes do Microlsis. Este um meio eficaz de aumentar a
funcionalidade do programa;
- aumento da base de dados, que pode conter mais de 16 milhes de
registros e possibilidade de converso da estrutura do arquivo da base de
dados feita com a verso 1 para a verso 2;
- possibilidade de armazenar as vrias categorias de arquivos (menus
e folhas de programao, arquivos de mensagens e arquivos de
bases de dados) em diferentes diretrios e/ou unidades de discos. Esta
caracterstica permite otimizar a repartio dos arquivos na mquina
A Informtica nas unidades de informao
utilizada. Para a verso VAX, esta caracterstica permite gerar sistemas de
proteo dos arquivos em funo das aplicaes;
- maior rapidez do programa de triagem, tanto para a criao de
arquivos invertidos, como para a impresso;
- aumento do formato de registro, que passa de 2000 a 4000
caracteres;
- aumento do nmero mximo de palavras de limite, que passa de
100 a 799;
- melhoria da integridade dos dados graas ao fechamento de todos
os acessos do arquivo-mestre aps cada registro ou atualizao de
registros, o que impede a alterao dos dados em caso de corte de energia
ou de parada do programa;
- possibilidade de personalizar os identificadores de menu e de
submenus para responder s especificidades da lngua utilizada;
- possibilidade de personalizar as ordens de triagem (para as sadas
impressas) para responder s especificidades da lngua utilizada;
- possibilidade de memorizar de forma permanente as modificaes
feitas em um formato de sada utilizando a opo F do menu EXGEN
(tecla F8);
- possibilidade de agir diretamente nos resultados da pesquisa (por
exemplo, solicitar a mostra de alguns resultados) sem ter que voltar ao
menu;
- no momento da entrada de dados, a mensagem de help pode ser
solicitada em qualquer ponto do campo.
Alm disso, a verso 2 do Microlsis pode ser utilizada para gravar CD-
ROM. Um CD-ROM experimental foi desenvolvido com este programa pela
Organizao Pan-americana de Sade, em Washington.
Difuso do programa
Este programa um produto particularmente interessante. Apenas as
instituies com fins no-lucrativos, como as universidades, os
departamentos ministeriais, os estabelecimentos de ensino superior, as
associaes, as fundaes, os centros de documentao e os arquivos
podem receb-lo. A cesso do programa gratuita, mas necessria a
assinatura de um compromisso formal de no difundi-lo sem a autorizao
expressa da Unesco. Esta atitude pode ser entendida pelos fabricantes de
programas documentais como concorrncia desleal. Entretanto,
necessrio considerar que a Unesco age apenas para assegurar o
desenvolvimento das trocas de informao em nvel mundial.
251
A unidade de
informao e as
novas tecnologias
A expresso novas tecnologias um termo genrico que designa um
conjunto de equipamentos, de procedimentos e de mtodos utilizados no
tratamento da informao e da comunicao. Estas tecnologias intervm
no exerccio de vrias profisses do setor tercirio e tm implicaes de
carter econmico, jurdico, social e psicolgico, entre outras. O termo
bureautique foi criado na Frana para indicar o fenmeno da automao
das tarefas de escritrio. O escritrio um campo particular de interveno
das novas tecnologias (o escritrio aqui definido como um local onde a
informao tratada, estocada e difundida). O bureautique designa o
conjunto de tcnicas e de meios necessrios para automatizar as atividades
de escritrio, notadamente o tratamento e a comunicao da palavra, da
escrita e da imagem. O desenvolvimento desta atividade foi possvel graas
ao crescimento rpido do uso das tecnologias de memorizao, de
comunicao, de coleta e de recuperao da informao combinadas com
a informtica.
A introduo das novas tecnologias est revolucionando as unidades de
informao. Elas intervm nas principais funes da cadeia documental.
Algumas destas tecnologias intervm em atividades gerais das unidades
de informao, como a teleconferncia e o tratamento de textos; outras
intervm em atividades especficas, como o acesso a bases de dados
bibliogrficas ou o arquivamento eletrnico de dados.
Pode-se distinguir trs linhas de interveno das novas tecnologias:
- na comunicao: as novas tecnologias intervm para melhorar o
desempenho da comunicao entre pessoas (grupos ou indivduos),
a comunicao de textos escritos, grficos e imagens e a comunicao
de sons. Este o campo da telemtica;
- na informao: as novas tecnologias intervm cada vez mais para
assistir o homem nas operaes de produo, de tratamento e de
A unidade de Informao e as novas tecnologias
gesto da informao. Este o campo da informtica e especialmente
das aplicaes das pesquisas em inteligncia artificial;
no armazenamento e na consulta das informaes e dos documentos,
isto , na sua conservao e no seu arranjo. Este o campo da
documentao eletrnica, que permite a edio ou o arquivamento
em memrias ticas.
As novas tecnologias possuem algumas caractersticas comuns que so
descritas a seguir;
- a eliminao do tempo e do espao: as novas tecnologias tendem a
minimizar ou a abolir os problemas ligados a estas duas noes. O
tempo de comunicao diminui muito e , s vezes, anulado. A
distncia um obstculo, em parte, eliminado;
- estas tecnologias evoluem de forma semelhante. No momento em
que surgem, as novas tecnologias so complexas e sofisticadas.
Com o passar do tempo elas tendem a se tornar mais simples. Os
procedimentos de conexo para o acesso s bases de dados, por
exemplo, reduziram-se muito e atualmente limitam-se a uma ou
duas operaes bsicas. H cinco anos eram necessrias
quatro ou cinco operaes para fazer esta conexo. A ergonomia dos
programas foi tambm simplificada;
a diminuio dos custos. Os primeiros microcomputadores eram
muito caros. Em alguns pases eles se tomaram objetos familiares,
acessveis a qualquer pessoa. O custo dos computadores diminuiu
em decorrncia da difuso das novas tecnologias;
- a normalizao. A novidade dos produtos e as rivalidades entre os
fabricantes dificultam a elaborao e a aplicao de normas.
Organismos como a ISO, a Union Internationale des
Tlcommunications (UIT), a Comit Consultatif International
Tlegraphique et Tlphonique (CCITTV e a Commission lectronique
Internationale (CEI) ocupam-se destes problemas em nvel
internacional.
A compatibilidade dos procedimentos e equipamentos um problema
essencial. Os profissionais da informao no devem perder de vista os
aspectos de normalizao e compatibilidade, pois so de vital importncia.
Muitas vezes os equipamentos tornam-se inteis por problemas de
compatibilidade. Por esta razo importante fazer um estudo de
oportunidade antes da compra ou da escolha de um equipamento. Ao
escolher um equipamento necessrio verificar no apenas os custos e o
seu desempenho, mas tambm as possibilidades de interconexo com os
outros equipamentos da unidade de informao. A escolha e a compra de
um equipamento no devem ser feitas ao acaso, mas planejadas a partir
de um programa a longo prazo. Deve-se prever a evoluo dos servios da
unidade e as compras efetuadas pelas outras unidades de informao, e
254
1. Comit criado para resolver os problemas telegrficos e telefnicos junto ao IUT.
A unidade de Informao e as novas tecnologias
se a Instituio faz parte de uma rede. Deve-se tambm solicitar o conselho
de especialistas e utilizar a experincia de outras unidades de informao.
Comunicao, telecomunicao
e telemtica
Definies
Em uma unidade de informao, as comunicaes condicionam o
trabalho dos documentalistas e se apresentam nas formas orais, escritas,
diretas e indiretas.
O fenmeno da comunicao abordado na introduo desta obra. Este
fenmeno designa todos os tipos de trocas que podem existir entre as
pessoas. Ele representa ao mesmo tempo uma ao, o objeto de uma ao
(a mensagem, a notcia) e os meios tcnicos pelos quais as pessoas se
comunicam. Este ltimo aspecto coberto pelas novas tecnologias e
especialmente pelas telecomunicaes.
As telecomunicaes so definidas pela UIT como qualquer transmisso,
emisso ou recepo de sinais, signos, caracteres escritos, imagens e sons
ou elementos de inteligncia de qualquer natureza, emitidos por fios,
rdio, procedimentos ticos ou por qualquer outro sistema. As
telecomunicaes cobrem, portanto, o conjunto de tcnicas de transmisso
distncia.
O termo telemtica pode ser definido como o conjunto de servios, de
tcnicas e de mtodos que utilizam simultaneamente as telecomunicaes
e a informtica. Pode-se afirmar tambm que a telemtica designa o
conjunto de servios de natureza ou de origem automatizada que podem
ser oferecidos pela rede de telecomunicaes.
A ligao telemtica
Os meios utilizados pela telemtica so muito diversificados. Eles
correspondem grande variedade de informaes a serem transmitidas:
informaes sonoras, textuais e grficas. Entretanto, a maioria das
aplicaes da telemtica realizada por um mesmo procedimento que
pode ser decomposto em cinco etapas (ver figura 15):
1. a codificao da informao: a informao, antes de ser emitida,
tratada pela informtica. Ela deve, portanto, apresentar-se em um formato
utilizvel pelo computador:
2. a informao tratada enviada por uma rede de transmisso. Como
estas redes (com exceo das redes com grande capacidade) no utilizam
o mesmo modo de representao da informao, os dados devem ser
convertidos em informaes utilizveis pela rede telefnica que os transmite. 255
A unidade de informao e as novas tecnologias
1.Equipamento terminal de tratamento de dados
2.Equipamento terminal de circuito de dados
Figura 15. A ligao telemtica.
Este o papel do modem;
3. a informao transmitida por vrios tipos de redes de transmisso,
como as de telex ou as pblicas;
4. e 5. as etapas 4 e 5 repetem, de forma inversa, as etapas 1 e 2, isto
, convertem a informao em dados informatizados.
A troca de informaes entre um terminal e um computador codificada
por um conjunto de regras chamadas de protocolos . A ligao telemtica
definida por uma norma ISO e tem sete nveis: protocolo fisico ou de
linha, protocolo de ligao de dados, de rede, transporte, seo,
apresentao e aplicao. Se forem respeitadas estas normas possvel
trocar informaes com qualquer tipo de equipamento de informtica (ver
item deste captulo As redes locais).
Os equipamentos de telemtica
O equipamento bsico de telemtica compreende um terminal de
computador; um modem e um telefone.
O terminal o instrumento de acesso a um computador situado
distncia. A ligao com o computador feita por uma linha de transmisso
de dados pelo modem e pelo telefone. Existem dois tipos de terminais: os
leves e os pesados. Os terminais leves podem ser do tipo teleimpressor
(teclado+impressora), cada vez menos utilizados, ou do tipo console de
visualizao (teclado+tela) que funcionam interconectados. Os terminais
pesados compostos por equipamentos de entrada/sada e por uma
unidade de controle permitem o tratamento local das informaes
transmitidas. Os terminais capazes de transmitir dados, de difundir os
resultados e de realizar algum tipo de tratamento so conhecidos como
terminais inteligentes. Um terminal porttil de tamanho pequeno e pode
ser facilmente transportado. Pode-se conectar o terminal a um computador,
por uma linha telefnica comum, por intermdio de um acoplador acstico.
Existe uma grande variedade de terminais. Alguns so especializados em
uma determinada funo, como os terminais para pontos de venda,
concebidos para compatibilizar as vendas e a gesto de estoque; os
grficos, que permitem a visualizao de figuras geomtricas; os vocais,
A unidade de Informao e as novas tecnologias
que permitem simular a voz humana; e os de controle de acesso.
Um terminal clssico, utilizado, por exemplo, para o acesso a bases e
bancos de dados, compe-se de um teclado e/ou de uma tela de visualizao
e/ou de uma impressora. O teclado possui teclas alfa numricas que
permitem dialogar com o sistema e teclas de funo para pontuar o
dilogo. As teclas de funo obrigatrias asseguram a conexo, a anulao
de comandos ou a correo de erros.
A tela permite visualizar o dilogo e, principalmente, as respostas do
sistema, mas ela no armazena as operaes, ao contrrio da impressora,
que absolutamente indispensvel no caso de edio on-line das
referncias bibliogrficas, por exemplo (ver captulo A informtica e as
unidades de informao").
O modem um dispositivo que permite modular e demodular um sinal,
isto , adaptar um canal numrico a um canal analgico e vice-versa. Ele
permite, desta forma, ligar os computadores a linhas telefnicas e adaptar
os sinais do computador largura da faixa disponvel no canal de
transmisso2. O modem pode apresentar-se fisicamente de diversas
formas:
- os modems integrados so cartes de interface incorporados ao
terminal que permitem conect-lo diretamente com a linha telefnica.
Este o caso dos terminais do tipo minitel;
- os modems profissionais so caixas diretamente conectadas linha
telefnica. No momento do estabelecimento da comunicao, um interruptor
faz a ligao do terminal com o telefone;
- os acopladores acsticos previstos para os terminais portteis.
Alguns modems no necessitam de ligao eltrica direta, mas utilizam
um intermedirio que permite conectar-se a qualquer aparelho telefnico:
so os acopladores acsticos. As transmisses pelos modems so feitas
em velocidades distintas e de acordo com caractersticas variveis, conforme
as normas emitidas pela CCITT (normas V25 e V24).
O telefone o instrumento bsico para todas as ligaes telemticas.
A eletrnica, a informtica e os microprocessadores revolucionaram
profundamente a tecnologia do telefone tradicional. A noo de telefone
de conforto" designa o conjunto de servios, desempenhos e utilizaes do
novo telefone. O teclado com freqncia vocal mais confivel e mais
rpido na composio de nmeros, alm de memorizar os nmeros mais
utilizados.
O telefone moderno e permite a comunicao com uma central de
informaes telefnicas e se constitui no primeiro terminal simples de
telemtica.
2. Por definio, a largura de faixa de um canal o intervalo entre as freqncias mais
altas e as mais baixas. Este intervalo determina a capacidade de transmisso dos dados do
canal.
A unidade de Informao e as novas tecnologias
As redes de telecomunicaes
e os transportadores
As redes so o conjunto de tcnicas ou de meios materiais criados para
interligar os equipamentos de informtica entre si. As redes so interativas
quando permitem o dilogo. So difusas quando a comunicao
unidirecional, isto , pode ser realizada apenas em um sentido. Este o
caso da rede de video texto Antiope, na Frana.
Existem redes pblicas e privadas. As redes pblicas podem ser
reagrupadas em dois tipos: as redes comutadas e as ligaes especializadas.
A comutao o conjunto de tcnicas suscetveis de estabelecer uma
ligao temporria entre duas linhas de transmisso durante o tempo de
uma comunicao. As ligaes especializadas, ao contrrio, permitem
uma ligao permanente entre os usurios.
As redes comutadas so redes de telex com pequena capacidade (50 a
200 bits por segundo), e redes pblicas, concebidas especificamente para
transmisso de dados, como a Transpac na Frana.
As tcnicas de comutao variam conforme as redes. As redes de
comutao por circuitos constituem-se de um pequeno nmero de centrais
interligadas por canais de transmisso rpidos. Um circuito unindo dois
interlocutores estabelecido pela ligao de dois circuitos parciais. Este
circuito fica ligado at o fim da comunicao. A comutao por circuito
permite uma transmisso de qualidade, mas as linhas congestionam-se
facilmente e seu preo elevado. por esta razo que a comutao por
pacotes mais utilizada. Neste tipo de transmisso, os dados so enviados
em forma de pacotes, ou blocos de tamanho fixo, acompanhados de
informaes de servio que permitem identificar o emissor e o destinatrio.
Se existem vrias linhas de transmisso, ser utilizada a linha menos
congestionada, seja qual for a distncia a ser percorrida e a ordem dos
pacotes. Esta tcnica permite aumentar o rendimento dos circuitos de
comunicao. Ela mais barata e mais segura que a comunicao por
circuitos3.
O faturamento das comunicaes por redes comutadas feito em
funo da sua durao e, no caso da comutao por pacotes, na base do
volume e da velocidade das informaes transmitidas.
As ligaes especializadas so circuitos de transporte de grande
velocidade de transmisso, ligadas infra-estrutura geral de
telecomunicaes que no utilizam o comutador telefnico. A ligao
feita de forma permanente e disponvel a um usurio de forma exclusiva,
de acordo com o princpio de locao. A estrutura de uma rede complexa
est representada de forma esquemtica na figura 16. A extenso da rede
3. O procedimento de transmisso por pacotes regulamentado pelo CCITT, pela
norma X 25 utilizada por vrios pases, como o Canad, os Estados Unidos, o Japo e todos
os pases europeus, para a implantao da sua rede.
A unidade de informao e as novas tecnologias
Implica a instalao de equipamentos complementares - os concentradores,
pequenos computadores especializados na gesto de linhas, e os
computadores front-end, que servem de auxiliares aos computadores
centrais.
Concentrador
Concentrador,
Concentrador Concentrador
Concentrador
Concentrador,
Concentrador
Computador
-/ Satlite J
Computador
oncentrador
Computador
o Modems
Terminais
Nvel de comunicao
Computador
Central
Frontal
Figura 16. Esquema de uma rede.
259
A unidade de Inlrmao e as novas tecnologias
As redes privadas podem tomar vrias formas:
redes de servios gerais, que se utilizam, geralmente, dos servios
pblicos para o suporte das comunicaes e oferecem servios gerais a
seus usurios. Este o caso da rede franco-europia CISI que permite a
utilizao de inmeros servios;
- as redes locais, que constituem uma categoria especial no conjunto
das redes telemticas. So sistemas de comunicao que permitem
interconectar computadores ou outros equipamentos de informtica em
uma regio geogrfica limitada. Estes sistemas tm a mesma funcionalidade
das redes pblicas de comutao por pacotes. Criadas pelas empresas
para interligar o conjunto de seus equipamentos de informtica, como
mquinas de tratamento de texto, telefacsmiles, terminais pesados e
microcomputadores, as redes locais so utilizadas principalmente por
sistemas que repartem as unidades de tratamento entre vrios terminais.
Estas redes tm como finalidade permitir a utilizao comum de um
mesmo recurso. A maioria dos grandes construtores de computadores,
como a Burroughs, a Univac e a IBM desenvolveu sua prpria arquitetura
de redes permitindo a interconexo de mquinas e de terminais de seus
fabricantes e definindo seus protocolos de utilizao. Diante da
multiplicidade deste tipo de redes, a ISO organizou um comit tcnico
encarregado de estudar uma normalizao que permita interligar mquinas
heterogneas. O modelo OSI (interconexo de sistemas abertos) define um
conjunto de regras que permitem a troca de dados entre usurios que
possuam equipamentos distintos;
- evoluo das redes: as redes do futuro sero interligadas pela
integrao de um conjunto de tcnicas e de servios de telecomunicao
em um modo nico (o modo numrico ou digital) e por um nico suporte
de transmisso (fibra tica ou satlite). A rede numrica de integrao de
servios (RNIS) permitir ao seu assinante beneficiar-se dos servios de
telemtica (transmisso de texto, voz e imagem), alm das transmisses
telefnicas.
Os canais de transmisso
A implantao do RNIS possibilita o desenvolvimento de novos canais
de transmisso, como os satlites e as fibras ticas. Os outros canais
existentes, como os cabos submarinos e as ondas hertzianas, tomaram-
se mais eficiente graas ao progresso tecnolgico.
Os satlites:
O desenvolvimento cada vez maior das necessidades de comunicao
levaram engenheiros, pesquisadores e industriais de telecomunicaes a
estudar as possibilidades de transmisso via satlite, a partir de 1957.
O lanamento do primeiro satlite de telecomunicaes pelos Estados
Unidos, em 1962, o Telstar, cinco anos aps o envio do Spoutnick, pela
A unidade de informao e as novas tecnologias
Unio Sovitica, e o prodigioso desenvolvimento das tcnicas espaciais
permitiram colocar em rbita mais de 150 satlites de telecomunicaes
at o momento.
O telefone, a televiso, a transmisso de dados e a teleconferncia
permitem, hoje, prever que nos prximos anos sero lanados inmeros
satlites com funes diversas, conforme a misso que vo realizar.
necessrio distinguir dois tipos principais de satlites, dedicados s
comunicaes, com as seguintes funes:
- transmisso da televiso espacial, com retransmisso mundial,
continental ou nacional:
- transmisso das telecomunicaes terrestres de ponta a ponta, sob
a forma de sons e de imagens. Estas duas funes esto em geral
acopladas em um mesmo satlite.
Os satlites de terceira gerao oferecem perspectivas inditas para a
transmisso de imagens e de sons.
Os satlites de telecomunicao so instalados a 36 mil km de altitude
acima do Equador. Eles devem estar localizados em um espao de 30 km2
e sua antena deve estar apontada para a terra com uma preciso de um
dcimo de grau, o que eqivale a mirar uma moeda a lOm de distncia.
Alm disso, estes sistemas eletrnicos devem funcionar constantemente,
sem manuteno, por um perodo de cerca de dez anos. Ainda no
possvel consert-los no espao. As panes, que inutilizam um satlite,
podem custar at US$ 100 milhes.
A alimentao de eletricidade do satlite feita por clulas fotoeltricas
que captam a energia solar. A quantidade de energia disponvel , apesar
de tudo, pequena. Um canal de televiso, ou ainda 500 circuitos telefnicos
de transmisso por satlite consomem entre 5 e 20 watts, o que eqivale
ao consumo de uma lmpada eltrica de um refrigerador. Esta nfima
quantidade de energia captada na terra por antenas parablicas de
vrios tamanhos. Estas antenas concentram a energia como o refletor de
um farol ou de uma lmpada de bolso. Se o satlite serve a todo um
hemisfrio, ele deve difundir suas ondas em uma grande superfcie e sua
antena repetidora deve ter grandes dimenses, de at 30 metros de
dimetro. Se a difuso feita para uma regio de superfcie menor, as
antenas podem ser menores. Quanto mais concentrada for a transmisso,
mais claro o sinal e menores so as antenas repetidoras.
O primeiro satlite de telecomunicaes foi colocado em rbita h
apenas 30 anos. Atualmente, quase todos os pases do mundo esto
interligados por estes satlites.
As fibras ticas
Existem dois tipos de cabos: os cabos coaxiais e as fibras ticas. Os
cabos coaxiais so compostos por um fio de cobre cilndrico localizado no
centro de um longo cilindro de cobre. Este tipo de cabo tem grande
A unidade de informao e as novas tecnologias
capacidade, mas concebido para transmisses em um nico sentido. Por
esta razo, no adaptado para conversas telefnicas ou para servios de
telemtica. A fibra tica, entretanto, utiliza a luz como meio de transmisso,
particularmente as ondas luminosas situadas no limite do infravermelho
e da luz visvel. Em uma transmisso por fibra tica, a informao
transmitida por uma onda modulada, cuja freqncia prxima da
freqncia dos raios invisveis. A luz modulada reenviada em uma fibra
de silcio que trabalha como um guia de luz.
Enquanto um cabo coaxial oferece uma nica faixa de 20mHz, uma
nica fibra, cinco vezes mais fina do que um cabelo, pode substituir dez
mil cabos telefnicos. A comunicao tica totalmente insensvel aos
parasitas eletromagnticos e no oferece perigo nos ambientes explosivos.
Desta forma, possvel avaliar as enormes vantagens que esta tecnologia
oferece. A introduo da fibra tica representa para o grande pblico a
exploso da capacidade de transmisso de imagens animadas, interativas
e comunitrias, entre outras. Estas qualidades fazem da fibra tica o
suporte das telecomunicaes do futuro.
Os organismos de telecomunicao encontram-se atualmente propensos
a reforar as redes existentes, diversificadas e muitas vezes pouco
adaptadas s novas tecnologias, ou reconverter seus servios em redes de
fibras ticas. Esta escolha muitas vezes dificultada por razes financeiras.
Os equipamentos de telemtica
Estes equipamentos so numerosos e muito diversificados. Eles
permitem a comunicao pela palavra (telefone e reunio distncia), pela
imagem (facsmile), pelo texto (telex e teletexto) e pela mensagem eletrnica.
A comunicao pela palavra
Pode-se distinguir meios individuais e coletivos de comunicao pela
palavra. Os meios individuais so semelhantes ao telefone, a partir do
qual desenvolveu-se uma gama de produtos que visam facilitar sua
utilizao. Os geradores automticos de nmeros, a secretria eletrnica
e o acesso aos servios de telemtica simples so alguns exemplos.
Os instrumentos coletivos permitem comunicaes em grupo ou reunies
distncia, como a reunio por telefone e a teleconferncia.
A reunio por telefone permite um dilogo entre trs, quatro e at 20
interlocutores em uma mesma linha.
A teleconferncia compreende a audioconferncia, na qual os
participantes comunicam-se sem se ver. As unidades de informao
podem utiliz-la para trabalhos de equipe, como a elaborao de um
tesauro. A videoconferncia associa a comunicao imagem animada
dos interlocutores na tela. Ela permite realizar reunies face a face, mas
no substitui as reunies clssicas que respondem a uma necessidade
A unidade de Informao e as novas tecnologias
fsica de comunicao entre pessoas distantes. As vantagens das reunies
distncia so a economia de tempo, a possibilidade de contatos mais
freqentes entre pessoas distantes e a economia de transporte, entre
outras. As reunies distncia so ainda pouco utilizadas pelas unidades
de informao devido ignorncia com relao s possibilidades oferecidas
e por razes psicolgicas e econmicas.
A teleconferncia, novo meio de comunicao a servio das unidades de
informao, pode ser utilizada nos seguintes casos: na formao de
usurios e na colaborao entre tcnicos de uma rede de informao,
como, por exemplo, na redao de um artigo ou na reviso de um tesauro.
Com a teleconferncia surgiu a noo de congresso eletrnico" ou
congresso on-line, que conta com a contribuio de outros instrumentos
como a teleescrita e o telefacsmile. As pessoas dialogam e participam de
um colquio sem precisar deslocar-se
A comunicao por imagem, ou
correio eletrnico
As unidades de informao gerenciam no apenas informaes textuais,
mas tambm informaes grficas, como tabelas desenhos e planos que
podem ser transmitidos por telefacsmile. O telefacsmile uma tcnica
que permite a transmisso distncia de documentos, que tm como
suporte o papel, por aparelhos que utilizam geralmente a rede telefnica.
Esta forma de comunicao tambm conhecida como correio eletrnico,
porque necessita de um suporte intermedirio, o papel, ao contrrio das
mensagens eletrnicas. O funcionamento muito simples. Os
correspondentes devem dispor de um telefacsmile compatvel ligado ao
sistema telefnico. O emissor da mensagem, depois de chamar seu
correspondente por telefone, aperta a tecla de transmisso. Neste momento,
o texto transmitido. O receptor recebe um texto (em formato A4) um ou
seis minutos aps seu envio. O tempo de transmisso varia conforme o
tipo de aparelho utilizado.
Os telefacsmiles4 existentes no mercado no so todos compatveis
entre si. Na realidade, existem duas famlias de equipamentos incompatveis
entre si: os telefacsmiles lentos (dos grupos um e dois) e os rpidos (dos
grupos trs e quatro). Os telefacsmiles lentos transmitem a imagem de um
documento em forma analgica pela rede telefnica.
Os equipamentos do grupo um fazem a transmisso em seis minutos,
os do grupo dois, em trs minutos. Os telefacsmiles rpidos transmitem
a imagem de um documento em forma numrica (isto, informatizada). Os
equipamentos do grupo trs fazem a transmisso em um minuto; os do
4. O sinal que representa a informao pode ter a qualquer momento, qualquer valor,
em oposio ao sinal numrico, onde a informao representada, naquele momento, por um
valor em um conjunto definido.
A unidade de informao e as novas tecnologias
grupo quatro transmitem em alguns segundos. A transmisso dos
telefacsimiles do grupo quatro feita por ligaes especiais. Sua cpia
de tima qualidade. Eles so teis aos usurios que fazem transmisses
de grandes volumes de textos, como jornais, peridicos e livros.
Algumas pesquisas demonstram que uma transmisso por telefacsmile
custa menos que uma carta registrada ou que um telegrama, mas custa
mais caro que uma carta comum.
O telefacsmile muito utilizado nas unidades de informao para o
fornecimento eletrnico de documentos. Este servio pode ser utilizado
tambm para a aquisio de documentos.
Algumas experincias de utilizao do telefacsmile na aquisio
permitiram reduzir enormemente os prazos de expedio e de recepo de
solicitaes de documentos nos Estados Unidos.
Um grande nmero de bibliotecas norte-americanas e algumas
bibliotecas europias utilizam o telefacsmile para o fornecimento de
documentos. Este equipamento deve desenvolver-se muito nos prximos
anos.
A teleescrita permite a transmisso de textos manuscritos, ou tabelas
e grficos, escritos pelo emissor em uma tabuleta grfica ligada a uma
caneta especial e a um processador conectado a um televisor e a uma linha
telefnica por um modem. O texto reproduzido imediatamente nas duas
telas. A teleescrita muitas vezes associada teleconferncia ou
comunicao telefnica para ilustrar os relatos dos interlocutores.
A transmisso de uma mensagem que no tem informaes
alfanumricas pode ser feita por um aparelho de telex conectado a uma
mquina de tratamento de texto.
Os aparelhos tradicionais, baseados na perfurao de fitas de papel,
tendem a desaparecer e esto sendo substitudos por terminais de telex
ligados a microprocessadores. Dotados de memrias e de uma tela, estes
novos aparelhos oferecem as funes de tratamento de texto, facilitando,
desta forma, o preparo da mensagem. A transmisso feita
automaticamente. Alguns distribuidores de microinformtica propem
opes que permitem a transformao de microcomputadores em terminais
de telex. O telex um excelente meio de comunicao. Ele indicado para
mensagens breves e para a transmisso de instrues claras e precisas.
Eles funcionam de acordo com uma norma internacional em uma rede
especfica de pequena capacidade.
O teletexto ou teletratamento de texto um sistema, um servio e uma
norma de comunicao de textos que permite a recepo de informaes
emitidas por um terminal na forma do texto original. Trata-se da
transmisso de documentos (de formato A4) registrados pgina por pgina
no teclado do emissor e transmitidos em alguns segundos para o terminal
do receptor. O teletexto recomendado para a transmisso de longos
textos datilografados, como relatrios e circulare.
O teletexto tem ainda poucas aplicaes especficas nas unidades de
A unidade de informao e as novas tecnologias
informao devido relativa novidade deste meio de difuso de informao
e ao custo do equipamento. Como o uso do teletexto complexo,
necessrio um treinamento para oper-lo. Ele exige uma linha telefnica
dedicada. Os equipamentos de teletexto funcionam obrigatoriamente sem
interrupo e implicam a utilizao exclusiva de um aparelho telefnico.
Apesar destes obstculos, o teletexto dever ter em breve aplicaes
documentais, como a difuso de dados entre unidades de informao e a
difuso de servios de pergunta e resposta.
Mensagem eletrnica textual
Embora o telex e o teletexto sejam equipamentos para mensagens
textuais, este termo tem uma acepo mais vasta. Ele designa, na
realidade, todos os servios de transmisso de mensagens entre terminais,
distncia, com a possibilidade de armazenar estas mensagens (em geral
curtas, exceo feita ao teletexto) em caixas postais eletrnicas de um
computador central ou de vrios computadores. A comunicao feita
ojfline, isto , o emissor e o destinatrio no necessitam estar presentes
no momento da transmisso. O destinatrio toma conhecimento das
mensagens recebidas em sua ausncia, consultando sua caixa postal por
uma chave de acesso, a partir de qualquer terminal. As mensagens
recebidas podem ser classificadas e arquivadas, destrudas ou duplicadas
para serem comunicadas a outros destinatrios. Os servios de mensagem
eletrnica so disponveis por redes pblicas ou privadas, em forma de
servios de transmisso alfa numrica clssica (em terminais profissionais)
ou em forma de servios de videotexto (em terminais do tipo minitel).
As mensagens eletrnicas e, em particular o videotexto, so utilizados
cada vez mais nas unidades de informao, principalmente para o
emprstimo entre-bibliotecas. Elas suprimem o correio tradicional, que
mais lento. A transmisso eletrnica pode ser feita em alguns minutos ou
at em alguns segundos, conforme o sistema adotado.
A produo, a gesto e o tratamento da
informao: a inteligncia artificial
Os progressos mais surpreendentes em tecnologia informtica durante
os ltimos 30 anos foram realizados graas ao desenvolvimento da
microeletrnica. O tamanho dos computadores diminuiu. Eles se tornaram
mais confiveis e mais baratos e esto ao alcance de quase todas as
pessoas. Os profissionais da informao utilizam a informtica h algum
tempo para o tratamento e a gesto das atividades documentais. O
captulo sobre a informtica documentria descreve estes equipamentos
e seus princpios de funcionamento.
A utilizao do computador, generalizada a todos os aspectos da cadeia
A unidade de informao e as novas tecnologias
documental, como aquisio, descrio bibliogrfica, elaborao de
linguagens documentais, indexao e pesquisa documental tratada em
outros captulos desta obra.
A informtica influenciada pelas pesquisas ligadas inteligncia
artificial, que um conjunto de tcnicas utilizadas para tentar criar robs
que realizem operaes prximas ao raciocnio humano. A pesquisa em
inteligncia artificial est ligada ao surgimento de novos tipos de
computadores.
Os novos computadores
Os novos computadores tm as seguintes caractersticas: novas
tecnologias de fabricao, nova arquitetura, linguagens de programao
prximas linguagem natural, utilizao de inteligncia artificial e novos
mtodos de comunicao com o usurio.
As novas tecnologias de fabricao
O componente bsico dos circuitos dos processadores atuais o silcio.
Os circuitos MOS (metal oxyde semi-conductor) constituem-se de vrias
centenas de milhares de transistores em uma mesma pastilha de silcio,
apresentados em forma de microplaquetas de alguns milmetros quadrados
e reunidas em mdulos chamados de circuitos integrados. Os computadores
do faturo tero seu desempenho aumentado pela utilizao do arsenluro
de galllum (As Ga) que permitir aperfeioar a capacidade das memrias
e a velocidade de transmisso de dados.
Esto sendo utilizadas pesquisas para desenvolver o biocomputador.
Este computador ser fabricado com semicondutores orgnicos, como,
por exemplo, uma protena. Ele poder funcionar com circuitos cem mil
vezes menores, consumindo menos energia e despendendo menos calor
que os computadores atuais.
Novas arquiteturas
As mquinas atuais so construdas de acordo com a configurao
tradicional de Von Neumann, descrita na figura 10, do capitulo A
informtica nas unidades de informao. Os comandos de execuo dos
computadores atuais so seqenciais. O rgo de comando envia uma
instruo unidade aritmtica e lgica que executa uma operao em elementos
de dados extrados da memria para este efeito. Os novos tipos de computadores
permitiro a manipulao de grandes quantidades de informao em paralelo.
Estas informaes sero tratadas por rgos de comando e de clculo que
efetuaro os tratamentos em paralelo com a possibilidade de trocar, ao mesmo
tempo. Informaes entre sL o que se chama de paralelismo, baseado no princpio de
funcionamento do crebro humano.
A unidade de Informao e as novas tecnologias
Novas linguagens de programao
As linguagens de programao atuais so do tipo seqencial: as
operaes a serem realizadas so descritas uma por uma, numeradas e
executadas em uma ordem que constitui o programa, segundo a lgica de
arquitetura da mquina de Von Neumann. Sua rigidez as torna mal
adaptadas redao de programas de inteligncia artificial. Foram
criadas novas linguagens de programao que permitem manipular
melhor os smbolos e a programao lgica. So as linguagens do tipo
funcional como Lisp, ou do tipo lgico como Prolog. Estas duas famlias de
linguagens tm em comum uma aproximao com o modelo de raciocnio
natural.
A inteligncia artificial ou LA
A inteligncia artificial comporta inmeros aspectos. Nem todos ligados
diretamente ao desenvolvimento dos novos tipos de computadores. A
expresso inteligncia artificial foi utilizada pela primeira vez por Mac
Carthy, conceptor da linguagem Lisp, nos anos 50. Os fundadores desta
nova disciplina so lgicos, matemticos, lingistas, tericos da informao
e psiclogos, entre outros. A inteligncia artificial no concerne apenas
informtica. Ela encontra-se no cruzamento de um conjunto de pesquisas
centradas na inteligncia natural ou humana.
Pode-se definir IA como a parte da informtica relativa concepo de
sistemas inteligentes, isto , de sistemas com caractersticas que podem
ser associadas com a inteligncia humana, como compreenso da
linguagem, aquisio de conhecimentos, raciocnio e resoluo de
problemas, entre outros. A IA pode ser definida ainda como a parte das
cincias cognitivas (psicologia e biologia do crebro) relativas anlise e
formao dos processos cognitivos"5. A IA a cincia que permite que
as mquinas realizem tarefas que necessitariam de inteligncia se fossem
efetuadas pelos homens 6. Falar de inteligncia artificial uma fora de
expresso, porque o programa de IA permite ao computador verificar em
um conjunto de fatos j conhecidos, se a afirmao que lhe est sendo
dada verdadeira ou no, enquanto que o homem pode estabelecer
relaes a partir de elementos completamente novos. Os mecanismos de
raciocnio que permitem ao computador resolver os problemas no podem
ser comparados aos do homem. O termo LA. significa, na realidade, que
existe simulao da inteligncia humana. Os temas fundamentais do
conceito de IA so engenharia do conhecimento, resoluo de problemas
como deduo e inferncia, aprendizagem, compreenso da linguagem
natural e programao automtica.
5. A.Barre E.A. Feigebaum, The handbook of artificial intelligence. Londres, Pitman,
1981.
6. M.Minsky, A framework for representing knowtedge. Londres Bradfort Books, 1980.
A unidade de Informao e as novas tecnologias
A engenharia do conhecimento
uma nova disciplina que trata do desenvolvimento de tcnicas e de
sistemas pela manipulao de conhecimentos. Se os computadores
manipulam tanto os conhecimentos quanto os dados, necessrio dar-
lhes meios de compreender estes conhecimentos. Os pesquisadores
tentaram identificar os tipos de conhecimentos necessrios construo
de um sistema de IA. Barr e Feigenbaum distinguiram quatro tipos: os
objetos do mundo real, os acontecimentos ligados ao tempo e s relaes
de causa e efeito, o know-how e os metaconhecimentos ou conhecimentos
sobre os conhecimentos.
A resoluo de problemas
O clculo e a demonstrao de teoremas, por exemplo, utilizam
mtodos intelectuais e estratgias baseadas em regras que permitem a
resoluo de problemas. O mais utilizado o raciocnio do tipo discursivo.
Pode-se representar este raciocnio sob a forma do silogismo clssico ou
de proposies que levam a uma concluso (se. .,se.., ento..). A manipulao
de conhecimentos e a resoluo de problemas constituem a base dos
sistemas especialistas.
O aprendizado
Os sistemas de IA esforam-se no sentido de dar mquina a capacidade
de aprender, para poder interpretar qualquer problema ou situao no
prevista. As pesquisas estudam principalmente problemas relacionados
com o reconhecimento de objetos fsicos no meio ambiente, o
reconhecimento de formas visuais, como a escrita, os sinais grficos e os
objetos, ou de formas sonoras, como a palavra.
A compreenso da linguagem natural
um dos assuntos essenciais da IA. Esta compreenso fundamenta-
se na pesquisa do que representa a compreenso quando o homem
comunica-se por um texto ou pela palavra. Os pesquisadores encontram
enormes dificuldades para escrever programas que permitam aos
computadores compreender a linguagem natural. desta pesquisa que
depende a criao de sistemas de indexao ou de traduo automtica.
268
A unidade de informao e as novas tecnologias
A programao automtica
Consiste em uma automatizao do processo de programao e est
ligada compreenso da linguagem natural. J existem geradores
automticos de programao. O mais conhecido o GAP IBM. Estes
programas podem gerar outros programas a partir do momento em que
recebem a estrutura dos resultados que devem ser obtidos e a estrutura
dos dados necessrios ao tratamento. O computador recebe, desta forma,
uma informao redundante. O homem no necessita deste tipo de
informao, pois dotado de raciocnio Imaginativo que nenhum
computador possui.
Depois de muito tempo confinada aos laboratrios de pesquisa, a IA
tornou-se atualmente operacional. Vrios sistemas de IA encontram
aplicaes nos campos da agricultura, da indstria e do armamento. A
apario de sistemas especialistas, de interfaces originais para a
comunicao homem-mquina e a robtica so as principais testemunhas
disso.
Os sistemas especialistas
Este termo define-se como um conjunto de programas que exploram os
conhecimentos explcitos relativos a um campo em particular - o campo
de uma especialidade - para oferecer um comportamento comparvel ao
de um especialista humano. O trabalho deste sistema consiste em simular
o raciocnio de um especialista humano, da forma mais exata possvel.
Quando o homem confrontado a um problema, ele raciocina por uma
srie de regras e de estratgias empricas que consistem em testar
solues para descobrir qual a melhor, utilizando seus conhecimentos
no campo abordado. Este conjunto de conhecimentos e de regras estar
representado no computador. O sistema especialista vai trabalhar com
este conjunto de conhecimentos para resolver problemas.
Estrutura de um sistema especialista
Nos programas clssicos, distinguem-se os programas e os dados. Nos
sistemas especialistas (ver figura 17) distinguem-se trs componentes:
Em primeiro lugar, a base de conhecimentos, que uma memria
onde so armazenados os conhecimentos dos especialistas consultados
para constituir o programa. Esta base escrita em uma linguagem de
representao de conhecimentos, onde o es pecialista
pode definir seu prprio vocabulrio. Num programa clssico, as
informaes so armazenadas desordenadamente, a ordem no
influi nos resultados. Cada elemento de conhecimento, visto
isoladamente, compreensvel por si mesmo. Em um sistema
especialista, como no esprito humano, os conhecimentos so armazenados
na base de conhecimentos na forma que o espe cialista
2
7
0
Especialista
humano
+->
Diretrio de
conhecimentos
Intrprete de
estrutura de
comandos
motor de
inferncias
(raciocnio e
explorao dos
conhecimentos)
Figura 17. Estrutura geral de um sistema especialista.
A
u
n
i
d
a
d
e
d
e
i
n
f
o
r
m
a
o
e
a
s
n
o
v
a
s
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
s
A unidade de informao e as novas tecnologias
utilizou para expressar-se. Por exemplo, a informao o . pato um
palmpede" poderia ser inscrita desta mesma forma em uma base de
conhecimentos de um sistema especialista, desde que ele tenha
sido codificado preliminarmente na linguagem do programa
escolhido. Entretanto, na maioria dos sistemas especialistas atuais,
a forma de expresso de conhecimentos mais difundida a das
regras de produo. Estas regras so escritas da seguinte forma: se
existem ps unidos por uma membrana logo pato . Outros
sistemas especialistas utilizam redes semnticas. Neste caso o pato
ser caracterizado da seguinte forma:
- a base de fatos. Esta base contm dados prprios aos problemas que
sero tratados. Ela exerce tambm um papel de memria auxiliar.
No estudo de um caso preciso, ela contm, a cada instante, tudo o
que o sistema sabe sobre o caso e se enriquece medida que o
sistema faz o encadeamento das inferncias. Portanto, as informaes
comunicadas pelo usurio e as concluses que o sistema pode tirar
esto armazenadas na base de fatos.
- o motor de inferncia um programa que utiliza os conhecimentos
e a heurstica contida na base de conhecimentos para resolver o
problema especificado pelos dados contidos na base de fatos. Este
programa trata as inferncias por encadeamento para a frente ou
deduo ou por encadeamento para trs ou induo.
Encadeamento para trs: se A.conduz a B, e se se quiser provar que
B verdadeiro, pode-se procurar provar que A verdadeiro.
Encadeamento para a frente: se A conduz a B e se A verdadeiro, logo
B verdadeiro. (Ver figura 18).
pato
-------
palmpede
----------
ave
possui
f
possui possui
r
bico grande
palma
Figura 18. Representao dos conhecimentos em um sistema especialista.
A utilizao dos sistemas especialistas
Vrios sistemas especialistas foram desenvolvidos e so utilizados no
campo da prospeco geolgica petrolfera, no armamento, na medicina e
na indstria, principalmente para detectar e localizar problemas e panes.
A unidade de informao e as novas tecnologias
Desenvolveram-se tambm programas especialistas na gesto industrial
para auxilio deciso, na gesto de bancos e de companhias de seguro.
Atualmente, os sistemas especialistas cobrem todos os campos da atividade
humana. necessrio distinguir os grandes sistemas especialistas, que
possuem milhes de regras e enormes bases de conhecimento, dos
sistemas acessveis s pequenas e mdias empresas, que funcionam em
microcomputadores. Estes ltimos possuem cerca de uma centena de
regras e bases de conhecimento pequenas. Os sistemas especialistas na
rea de cincia da informao so recentes. As principais aplicaes so
na catalogao, na concepo de sistemas de informao, na pesquisa
documental e na anlise de textos.
Na Inglaterra, o sistema Catalyst permite assistir os documentalistas
na catalogao segundo as regras da AACR2. As dificuldades ligadas
compreenso da linguagem natural pelo computador impedem, pelo
momento, a criao de sistemas especialistas para a descrio de contedo
de textos e para a criao de resumos. Existem sistemas de assistncia
indexao automtica. A principal dificuldade est na criao da base de
conhecimentos e na formalizao do know-how de um indexador. Se o
computador tiver recebido todas as regras referentes indexao e um
tesauro, o programa trabalha no texto e tenta aplicar as diversas regras
seguindo estratgias precisas. Por exemplo, se uma palavra-chave tem
uma ocorrncia no texto, o texto indexado por esta palavra, ou se a
freqncia de uma palavra no texto est compreendida entre tal e tal valor,
o texto pode ser indexado por esta palavra. Entretanto, os sistemas
especialistas no substituem o indexador. O trabalho humano continua
indispensvel. Mas, estima-se que o sistema possa assistir o homem em
uma proporo que pode significar de 50 a 80% do seu trabalho. A
pesquisa da informao o campo de aplicao mais freqente dos
sistemas especialistas.
Vrios sistemas especialistas, cuja funo aconselhar o usurio na
pesquisa de referncias bibliogrficas, j esto operacionais nos Estados
Unidos e funcionam em microcomputadores. So o Byte into books, o
Booksbrain, o Book seller's assistant, o Pointer e o Grundy. Alguns
sistemas funcionam em minicomputadores ou em computadores de
grande porte. O sistema Itada (Individualised instruction aids for data
access), que funciona com as bases do Dialog, um sistema de formao
e de assistncia pesquisa documental multibase. O RITA (Rule Intelli-
gent Terminal Agent) um sistema especialista de dilogo para acessar o
banco de dados do New York Times. A National Libraiy of Medicine utiliza
o CITE (Current Information Transfer in English), baseado no seu tesauro
da rea mdica, o MESH. O programa CITE concebido para compreender
pesquisas em linguagem natural e compar-las com a indexao dos
documentos da NLM em linguagem controlada. Os sistemas especialistas
existentes no campo da pesquisa documental tm geralmente objetivos
muito limitados. Eles so sobretudo programas de assistncia ao
A unidade de informao e as novas tecnologias
documentalista, mas no permitem ao usurio final. executar suas
pesquisas sem o auxlio de um intermedirio.
A comunicao homem-mqutna
Um dos principais objetivos da pesquisa em informtica desenvolver
computadores fceis de utilizar, principalmente para os leigos no assunto.
A comunicao com o computador pela palavra um dos campos
importantes de pesquisa dos programas de quinta gerao.
Mtodos de entrada/sada
A experimentao de novos mtodos de transmisso de informaes
para um computador e de recepo de respostas j uma realidade. A
caneta tica (ou eletrnica), a tela tctil e o mouse so utilizados em vrios
sistemas para facilitar a entrada de informaes pelo usurio. A utilizao
destas interfaces de entrada/sada mostra uma distino entre o modo
conversacional e o modo transacional. O modo conversacional representa
a possibilidade de dialogar com o computador por meio de um nmero
limitado de escolhas, representadas no menu. A escolha de uma informao
ou de um tipo de tratamento faz-se por intermdio de uma lista limitada.
O modo transacional (o teclado) oferece, para quem conhece a linguagem
dos comandos, a possibilidade de criar o encadeamento dos comandos, ou
de escolher diretamente o comando que lhe interessa.
A caneta tica utilizada para escrever na tela. Na sua extremidade
existe um dispositivo sensvel luz que registra a posio do ponto no qual
a caneta fixada. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para fazer pesquisas
em um catlogo afixado na tela, para elaborar grficos e para buscar um
nome em uma lista de usurios.
Alguns sistemas permitem ao usurio comunicar-se com o computador
por um toque na tela. Esta a tela tctil, prevista para dilogos simples,
com menus sucessivos permitindo ao usurio resolver problemas.
O mouse apresenta-se na forma de uma pequena caixa de plstico, com
uma bola metlica. Esta bola manipulada em uma superfcie plana. Ela
desloca um ponto luminoso na tela comandando o cursor. O mouse um
verdadeiro prolongamento da mo para manipular informaes.
Outras pesquisas destinam-se a reconhecer a escrita manuscrita pela
mquina, suprimindo desta forma a etapa intermediria do teclado.
Alguns sistemas fundamentam-se no estudo das palavras escritas. Outros,
no movimento da escrita. possvel, por exemplo, reconhecer assinaturas,
verificando as mudanas de direo e as aceleraes e desaceleraes da
escrita. Entretanto, os sistemas existentes atualmente no so satisfatrios.
Eles impem, por um lado, problemas de escrita inadmissveis para o
grande pblico. Por outro lado, seu desempenho irregular.
A unidade de informao e as novas tecnologias
Reconhecimento da palavra
A palavra um dos meios de troca de informao mais diretos utilizados
pelo homem. Embora a sntese da palavra (reconhecimento vocal pelo
computador) seja um problema resolvido, o problema do reconhecimento
da palavra pelo computador ainda no foi superado. A linguagem falada
apresenta um determinado nmero de caractersticas, como ausncia de
silncio entre as palavras, sotaque e entonao que tomam este tratamento
complexo.
O reconhecimento da palavra baseia-se na associao entre a emisso
de um som desconhecido e um certo nmero de sons conhecidos e na
escolha da melhor concordncia. Para realizar sistemas de reconhecimento
da palavra, so utilizados dois procedimentos: a abordagem global e a
abordagem analtica. A primeira consiste em reconhecer globalmente
palavras isoladas ou encadeadas que pertencem a vocabulrios reduzidos,
pronunciados por uma nica pessoa. A abordagem analtica permite
tratar o problema do reconhecimento da palavra contnua, eventualmente
de vrios locutores, pelo reconhecimento de sons elementares que compem
a lngua, e depois por uma explorao mais detalhada que permita
reconhecer a frase efetivamente pronunciada. Quanto mais reduzido for
o vocabulrio mais fcil ser criar um sistema de reconhecimento confivel
e eficaz. Os sistemas de reconhecimento de palavras so utilizados, na
prtica, h algum tempo, principalmente na indstria, mas tambm nos
escritrios. As vantagens da comunicao oral homem-mquina so a
liberao da vista e das mos, a codificao reduzida ao mnimo e margem
de erro reduzida.
Tratamento da linguagem natural
Um outro campo de pesquisa da IA capacitar o computador para
compreender uma lngua natural, escrita ou falada. J existem programas
que compreendem frases simples referentes a um assunto preciso. Para
compreender de forma aprofundada uma lngua, os programas devero
dispor de uma enorme quantidade de conhecimentos e de raciocnio.
Princpio de funcionamento
A maioria dos sistemas informatizados decompem o tratamento de um
texto em cinco etapas morfolgicas nas quais as palavras da busca so
identificadas.
Isolar uma palavra no muito difcil, - ao menos para a lngua escrita.
Existem separadores explcitos como o ponto, a vrgula e o espao. Basta
registr-los na memria. Entretanto, podem surgir problemas com as
palavras compostas que utilizam o trao de unio. Estes problemas so
resolvidos geralmente em uma segunda etapa lexical, que tem por objetivo
A unidade de informao e as novas tecnologias
verificar se as palavras identificadas pelo analisador morfolgico existem
realmente e situar cada palavra em uma categoria preestabelecida no
sistema: adjetivo, verbo, advrbio, ser animado, ser inanimado, objeto e
ao, entre outros.
A terceira fase a etapa sinttica que analisa a frase, utilizando uma
gramtica, para a conhecer sua estrutura. Por exemplo, pode-se analisar
a seguinte frase:
um advrbio: naturalmente"
um artigo: o"
um substantivo comum: computador"
um verbo: "
um adjetivo: eficiente
A quarta etapa a etapa semntica que traduz esta estrutura em uma
frmula que deve expressar o sentido do texto inicial. Estas quatro etapas
so chamadas pelos analistas de fases de compreenso.
A quinta fase de execuo confronta esta frmula com os dados
armazenados na mquina para elaborar uma resposta. Este conjunto de
procedimentos pode ser comparado ao esforo que uma pessoa faria se
quisesse traduzir um texto escrito em uma lngua completamente
desconhecida dispondo apenas de um dicionrio e de uma gramtica.
Uma palavra que falte ou uma regra no explicitada levam a paralisar o
processo de traduo.
Uma das aplicaes dos sistemas de compreenso de lnguas naturais
a pesquisa documental. Existem alguns programas com esta aplicao
como o Saphir e o Spirit.
Percepo uisual
O desenvolvimento de dispositivos visuais um meio que permite
melhorar a capacidade dos computadores em reconhecer formas e objetos
no ambiente. Este , essencialmente, o domnio da robtica. A viso
artificial objeto de inovaes tcnicas cada vez mais numerosas. Os
robs, por exemplo, so equipados com captores ou sensores que lhes
permitem se reconhecer em um ambiente. Uma cmara rene os dados
que so interpretados por um computador. O desenvolvimento dos
sistemas visuais so orientados atualmente para aplicaes industriais.
Entretanto, j existem robs que executam trabalhos manuais em unidades
de informao. Existem bibliotecas com armazenamento feito por robs,
como em Columbus, Ohio. A videoteca de Paris, inaugurada em 1988,
dispe de um rob que armazena discos.
As memrias ticas
O termo memrias ticas designa produtos novos e novas tecnologias,
com vrias aplicaes. As memrias ticas so um conjunto de suportes
A unidade de Informao e as novas tecnologias
de armazenamento em alta densidade, de som, de texto e de imagem. A
leitura destas memrias feita por procedimentos ticos. Elas
revolucionaram a gesto da informao e o armazenamento de documentos.
Os seus principais campos de aplicao so o arquivamento eletrnico e
a edio eletrnica. Em comparao com os outros suportes existentes,
como as microformas e os suportes magnticos, as memrias ticas
apresentam as seguintes vantagens: enorme capacidade de
armazenamento, durao superior, maior confiabilidade, facilidade de
conservao, duplicao mais fcil e mais barata. As memrias ticas
podem ser classificadas de acordo com seu suporte, com sua forma e com
sua funo principal. Segundo sua forma pode-se distinguir os suportes
rotativos, como os discos, e os suporte lineares, como os cartes, as fitas
e os cassetes.
Segundo seu suporte, pode-se distinguir as memrias ticas que
utilizam tcnicas videogrficas com codificao analgica, mais apropriadas
ao tratamento da imagem, como os videodiscos; e as memrias ticas que
se utilizam de tcnicas informatizadas, como codificao alfa numrica e
destinadas ao arquivamento ou edio de multimdias, como os discos
ticos numricos e o CD-ROM, entre outros. As memrias ticas podem
ainda ser classificadas de acordo com sua aplicao: pode-se distinguir as
memrias de arquivamento, se o suporte tico inscritvel pelo usurio
(DON), e as memrias de difuso, se o suporte inscritvel pelo fornecedor
(CD-ROM). Por analogia, a diferena existente entre um caderno e um
livro.
Dados gerais
As memrias ticas so suportes de armazenamento que utilizam um
raio laser para a gravao e para a leitura dos dados registrados em forma
numrica ou analgica. So os videodiscos, os DON, os discos compactos,
os discos magneto-ticos, os cartes laser e as fitas ou cassetes ticos. Sua
superfcie constitui-se de uma sucesso de microssulcos. Cada transio
entre um microssulco e as superfcies do suporte representa a cifra binria
1", ou seja, uma impulso eltrica. Cada segmento plano representa a
cifra binria 0. A informao veiculada por um sinal que representa
uma modificao do ambiente. Este sinal registrado por captores que o
transformam em sinal tico. Este sinal analgico, quando um sinal
eltrico, cujas variaes seguem a grandeza representada fielmente e sem
descontinuidade. Ele numrico, quando um sinal constitudo por uma
cadeia de impulsos retangulares, cujas caractersticas representam, de
forma convencional, uma cadeia de elementos binrios. No momento do
registro dos dados, a superfcie sensvel ao suporte modificada pelo
aquecimento por raios laser. A leitura feita tambm por raios laser que
detectam as modificaes, traduzindo a presena de informaes.
A unidade de informao e as novas tecnologias
O sistema tico compreende quatro elementos: um disco, um motor de
rotao do disco, um dispositivo de leitura/gravao e um telecomando
eletrnico. Este sistema pode ser conectado por uma interface a um
computador ou a um microcomputador.
O disco ou o carto compem-se, em geral, de uma superfcie muito fina
de metal inserida em um envelope de plstico ou de vidro, que os torna
insensveis s variaes do ambiente. So suportes praticamente
indestrutveis e de fcil conservao.
O dispositivo de leitura/gravao constitui-se de um raio luminoso
intenso com uma preciso micromtrica. No existe contato entre o disco
e o dispositivo de leitura, eliminando portanto os riscos inerentes ao
contato mecnico.
H cerca de 20 anos vm sendo realizados estudos e pesquisas relativos
s memrias ticas. Entretanto, estes suportes surgiram no mundo da
informao h pouco tempo, juntamente com uma nova indstria que
compreende os produtores de equipamentos, de programas, e os editores.
Os produtores de equipamentos produzem os suportes. Os principais
so a Sony, a Kodak, a Philips e a Thomson. Entre os fabricantes de
leitores, pode-se citara Sony, a Philips, a JVC e aATG. Os produtores de
sistemas so a Philips, a Control Data e a Kodak. Os produtores de
programas criam programas de pesquisa, como Micro-Basis e Bibliofile ou
sistemas de explorao como o Microsoft.
Os editores so os principais usurios das memrias ticas. Entre estes
pode-se citar os editores tradicionais, como Springer Verlag, Grolier e
Hachette, fornecedores de programas como Logovision e Eduvision e as
sociedades de informtica, como Dialog e Tlsystme. Devido enorme
capacidade de armazenamento dos suportes ticos,para acessar
rapidamente as informaes deve-se descrev-las em bases de dados,
para que o resultado das pesquisas possa fornecer um nmero razovel
de documentos pertinentes. A gesto das bases de dados feita por um
programa especfico ou por um sistema de gesto de bases de dados
(SGBD).
Os programas documentais
As referncias registradas so separadas por campos (como autor,
ttulo e descritor) que permitem fazer pesquisas em lgica booleana e com
operadores de adjacncia (ver o captulo A pesquisa da informao").
Existem trs tipos de sistemas de gesto de bases de dados:
os sistemas hierrquicos. Neste sistema, os dados so organizados
em arborescncia. A estrutura hierarquizada insuficiente para
representar as estruturas lgicas complexas da informao;
- sistema em rede: uma extenso do modelo hierrquico;
- sistema relacionai: a utilizao da informao feita, em geral, em
forma de quadros, denominados de relaes, que tm as seguintes
A unidade de Informao e as novas tecnologias
propriedades: qualquer elemento deste quadro diretamente
acessvel ao usurio por todos os valores contidos no quadro ou pela
combinao lgica destes valores.
Em 1980, existiam no mundo trs indstrias de produo de suportes
ticos. Em 1988, existiam mais de cem. Os produtores de CD-ROM eram
30 em 1980. Em 1988, existiam cerca de mil produtores. Estes nmeros
demonstram a importncia destes novos suportes e sua progressiva
popularizao.
As memrias ticas tm grandes problemas de normalizao. A ISO e
os outros organismos de normalizao, como a CEI, esto fazendo esforos
neste sentido.
A normalizao deve ser realizada em trs nveis:
- ao nvel fsico das memrias ticas: dimenses, caractersticas
mecnicas e tica;
- ao nvel lgico: estrutura dos arquivos e volumes dos arquivos;
ao nvel das aplicaes: programas de pesquisa e programas de
indexao, entre outros.
A normalizao deve afetar os fabricantes de equipamentos, os
produtores de programas, os produtores de informao, os editores e,
naturalmente, os usurios.
Os videodiscos
Os videodiscos so suportes ticos de 30cm de dimetro, concebidos
essencialmente para armazenar imagens fixas ou animadas e som. So,
em geral, inscritveis uma nica vez e no podem ser apagados. Existem
duas famlias de videodiscos: o concebido para o grande pblico ou
passivo, e o institucional, profissional ou ativo.
O videodisco concebido para o grande pblico no pode ser apagado.
Tem 60 minutos de programa. Seu acesso seqencial. Isto significa que
o tempo de acesso informao longo. Seu modo de leitura baseado em
um procedimento capacitivo (seu dispositivo de leitura um dispositivo de
safira ou de diamante).
O videodisco profissional de acesso direto, o que permite aplicaes
interativas. As imagens so de fraca definio e subordinadas a trs
normas: a norma americana NTSC, a norma francesa Secam e a norma
europia Pal.
O mais utilizado o videodisco laservision. Ele responsvel por 75%
do mercado mundial e foi desenvolvido pela Philips. Sua principal
caracterstica seu sistema de leitura por raio laser helio-neon, que
permite uma utilizao ilimitada. A informao codificada em forma de
sulcos microscpicos.
O videodisco tem grandes capacidades interativas. O registro feito
imagem por imagem, o que, aliado facilidade de movimentao do
dispositivo de leitura (sem contato), permite efeitos especiais, como
A unidade de informao e as novas tecnologias
acelerao, cmara lenta, parada da imagem, retomo e recuperao por
imagem ou por seqncia (de 1 a 69). Sua capacidade de armazenamento
de 54 mil imagens animadas de cores fixas por lado, para os discos de
30 minutos de uso institucional. Seu tempo de acesso seqencial de 4
segundos (para os vdeos laservision em formato CAV).
Os videodiscos laservision em formato CLV tm dupla capacidade de
armazenamento (100 mil imagens). Seu tempo de leitura de 60 minutos
por lado7.
Existem verses diferentes destinadas a aplicaes diversas. A verso
para teletexto permite sobrepor texto e caracteres grficos com informaes
de vdeo em modo normal ou em modo de pesquisa. Averso microcalculador
permite o boot de um programa interativo a partir de um computador
exterior, de um disco com um programa incorporado (computer dump) ou
de um cartucho EPROM8. A verso de sincronizao externa permite a
sincronizao de vrios leitores. Alm disso, a interface IEEE permite
interligar e comandar videoleitores em paralelo, por um computador. Esta
interface compatvel com os leitores Pioneer, Sony e Hitachi, que tambm
comercializam videodiscos.
O LV-ROM um videodisco laservision. Fabricado pela Philips, tem
capacidade de 54 mil imagens e de 324 Mo de dados numricos por face.
Ele armazena, portanto, dados numricos (arquivos ou bases de dados),
imagens e sons.
O videodisco registrvel de 20cm de dimetro foi desenvolvido pela
Panasonic, de acordo com a norma NSTC. Este videodisco no compatvel
com os outros modelos existentes. Sua capacidade de 24 mil imagens,
recuperveis a partir de uma cmera de vdeo ou de um aparelho de
videocassete.
Aplicaes
O videodisco, suporte privilegiado de difuso de informao, graas
sua facilidade de reproduo e ao seu baixo custo, tem aplicaes em
vrios campos, como a educao, a promoo de produtos, a venda por
teleconsulta e aplicaes culturais, como, por exemplo, a descoberta de
um museu, jogos e a inteligncia artificial.
Para os profissionais de informao, o videodisco significa bancos de
dados de imagens. A imagem, fonte de informao, pode ser explorada,
graas ao videodisco.
7. A CLV ou velocidade linear constante e a CAV ou velocidade angular constante
marcam a velocidade de rotao dc disco.
8. EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory. Esta sigla designa uma
memria semimorta, isto , os programas a serem registrados podem ser modificados
excepcionalmente. Neste caso, possvel apagar o contedo registrado.
A unidade de informao e as novas tecnologias
A questo principal que se colocam os conceptores/produtores de
bancos de imagens relativa sua organizao. Como recuperar, em um
fundo armazenado em um videodisco, todas as imagens relativas a um
tema em especial?
Vrias solues foram propostas. Cada soluo prope um tipo de
organizao diferente, que vai da recuperao visual associao de um
banco de dados de imagens com um banco de dados lxico.
O princpio mais simples o de associar um videodisco a um banco de
dados bibliogrficos ou iconogrficos. Este o caso de vrios bancos de
dados, como a base de dados Urbamet, do IAURIF, a base de dados Iconos,
da Documentation Franaise e a base de dados ADS (Advertising Data
System), entre outros.
A explorao da coleo de imagens s possvel se o banco textual, ou
conjunto de descritores j foi elaborado. A realizao de uma estrutura
para tal supe um duplo trabalho:
- o armazenamento dos documentos primrios, ou fotografias, do
conjunto do fundo, na memria do videodisco, o que uma tarefa comum
a qualquer banco de imagens.
- a elaborao de um tesauro, onde cada descritor permite a descrio
das imagens e o acesso a elas.
Um sistema deste tipo baseia-se no princpio de organizao das
fototecas. O acesso ao fundo de documentos primrios realizado pela
linguagem, pois o banco textual a chave de acesso s imagens. Este um
inconveniente, pois a gesto das imagens baseia-se na coerncia do
tesauro e no no fundo de imagens. Alm disso, a criao de um banco
de imagens demanda muito tempo.
por esta razo que se criaram bancos de dados de imagens, baseados
na possibilidade de visualizar direta e rapidamente as imagens, sem ser
necessrio passar por intermdio da linguagem. Isto implica uma nova
concepo e uma nova organizao do banco de imagens, ou seja, novas
formas de programas documentais especficos para o tratamento de
imagens, bancos de imagens divididos e novas especializaes, como o
sistema imageur documentaire.
Pode-se recuperar, por uma memria de imagens, as fotos de um ou de
vrios videodiscos em um monitor preto e branco de alta definio (500
linhas x 500 linhas), dividido em 16 partes. As imagens, recuperadas em
cada uma das partes podem ser eliminadas ou memorizadas, redistribudas
em pilhas, ou classificadas de acordo com temas escolhidos. Este sistema
deve possuir duas outras telas: um televisor, que permite visualizar em
tamanho grande e em cores cadc uma das imagens do banco, e uma tela
alfanumrica que mostra os dad >s textuais e as operaes de utilizao.
Um sistema deste tipo pode ser concebido para arquivar, bem como para
consultar e gravar em disquete as pesquisas. As selees de imagens so
ativadas pelo sistema de base de dados, que permite recuperar as imagens
2gQ ou os textos.
A unidade de informao e as novas tecnologias
Estas trs telas permitem uma viso do geral ao particular, ou seja:
- uma visualizao das referncias textuais, dos modos de acesso e
sobretudo dos elementos de uma linguagem baseada na manipulao
de uma grande coleo de imagens;
- uma visualizao de telas de 16 imagens, voluntariamente
monocromtica. Na realidade, parece que 80% da informao
semntica das imagens est contida na imagem em preto e branco,
em relao imagem colorida. Estas telas, destinadas a
serem visualizadas rapidamente, permitem um acesso fcil s
informaes assim formatadas9.
As vantagens de organizao da pesquisa de imagens a partir do
sistema imageur documentaire so muitas:
- utilizando o recurso de visualizao direta das imagens na tela, o
sistema deixa ao usurio a livre escolha para dirigir sua pesquisa
sem estar fechado na estrutura de um tesauro;
- a descrio, proposta em uma tela dividida em 16 imagens, mais
rpida do que a descrio textual. Esta tcnica de leitura instantnea
de documentos permite uma pesquisa rpida em um fundo volumoso.
A rapidez explica-se por qualidades prprias imagem: dez minutos
so suficientes para examinar 500 slides em uma mesa de luz. Para
escolheros dados pertinentes em 500 referncias bibliogrficas, necessrio
muito mais tempo.
Este sistema utilizado para gerir fundos documentais de imagens e
para a anlise de imagens cientficas, como, por exemplo, imagens de
teledeteco.
Um outro conceito semelhante ao precedente, o conceito do acesso por
navegao, foi criado para a organizao de bancos de dados de imagens.
A Biblioteca Saint Genevive, em Paris, desenvolve um banco de dados
deste tipo para gerenciar uma coleo de manuscritos da Idade Mdia.
No momento da entrada no sistema, proposto um sumrio de palavras
chaves, com cinco possibilidades de escolha: 1. Por tema; 2. Por assunto;
3. Por sculo; 4. Por manuscrito; 5. Por usurio. Se for escolhido o nmero
1, aparecem sete temas possveis. medida que a pesquisa especificada,
tem-se acesso diretamente s imagens afixadas na tela. Este mtodo
estritamente analtico.
A partir deste momento possvel navegar" na base de imagens como
se se estivesse folheando um livro de ilustraes, acelerar a visualizao,
voltar atrs, parar a imagem, sempre dentro de um mesmo tema. A cada
imagem corresponde uma lista de descritores relacionados com o tema
escolhido.
A partir de uma imagem possvel, ainda, estabelecer relaes com
outras imagens sistematicamente prximas, mudar de tema, enfim,
circular livremente dentro do banco de dados.
9. H.Hudrisier. Uconothque. Paris, La Documentation Franaise, 1982.
A unidade de informao e as novas tecnologias
Os discos tico-numrtcos ou DON
Os DON foram concebidos para armazenar qualquer tipo de informao
codificada em forma numrica. A gravao feita por um raio laser de forte
intensidade. O laser utilizado para a leitura de menor intensidade. Os
DON so aconselhados para arquivar grandes quantidades de informao.
Existem dois tipos de DON. O primeiro gravvel/formatvel apenas uma
vez. oWORM (wrtteoncereadmany). Osegundo regravvel/reformatvel.
o WMRA ( write many read always).
O disco WORM, o mais difundido, fabricado a partir de duas
operaes: confeco da matriz e duplicao, de acordo com uma tecnologia
sofisticada. Este disco tem, em geral, duas faces. Entretanto, a leitura e
a gravao so feitas em uma das fases de cada vez. A durao das
informaes tem garantia de dez anos aps a gravao, de acordo com
ensaios feitos em laboratrio, mas seguramente o seu tempo de durao
maior.
Existem vrios tipos de DON. Eles se diferenciam de acordo com as
seguintes caractersticas:
- a forma de escrita, que difere conforme o fabricante (Philips,
Thomson ou Sony):
- o tamanho do disco. Os dois formatos mais comuns so o de 12
polegadas (ou 300mm) e o de 5 polegadas e 1/4 (ou 130mm). Os
outros formatos so o de 14 polegadas (400mm), o de 8 polegadas
(200mm) e o de 3 polegadas e 1/2 (90mm);
o suporte fsico: vidro, alumnio ou polmero e as camadas sensveis
que o recobrem:
- a velocidade de rotao do disco: velocidade angular constante
(CAV) e velocidade linear constante (CLV) que permite maior capacidade
de armazenamento, como acontece com o videodisco:
- a capacidade de memria que varia de um fabricante a outro de 0.2
a 1,3 gigaoctetos10. O tempo de leitura varia de 2 a 24 Mbits por
segundo.
- o tempo de acesso informao. Encontram-se no mercado
Juke-box, ou justaposies, de 20 a 100 discos, de acordo com modelos
que permitem uma capacidade de armazenamento quase ilimitada.
O megadoc da Philips, por exemplo, com um Juke-box de 64 DON, tem
uma capacidade de armazenamento de 2 560 mil pginas em formato A4.
O WMRA tem as mesmas aplicaes que os discos magnticos clssicos,
mas tem uma capacidade de armazenamento e uma confiabilidade
superiores. Ele apagvel e, portanto, regravvel.
10. A ttulo indicativo, um gigaocteto permite estocar 60 fitas magnticas de 1600 bpi
(ver o capitulo A informtica nas unidades de informao"), 2600 disquetes de 380 ko e 500
mil pginas de tratamento de texto.
A unidade de informao e as novas tecnologias
O DON um suporte Informtico. Suas Interfaces so da mesma
natureza que as Interfaces dos discos magnticos. A conexo de uma
unidade DON a um computador feita, em geral, por uma Interface SCSI
(Small Commuter Standard Interface), mas pode tambm ser feita de
acordo com as normas IEEE. Existem Interfaces DOS que permitem ao
DON ser reconhecido pelos sistemas como um disco clssico. Existem
tambm vrios programas de gesto documental que permitem a consulta
das Informaes.
As vrias tecnologias existentes no nvel do equipamento so um
obstculo para o usurio em potencial. Os fabricantes e os organismos de
normalizao no conseguiram ainda normalizar os quatro pontos
essenciais: o suporte fsico, as caractersticas tecnolgicas, as interfaces,
a estrutura e o formato dos dados registrados.
Aplicaes
O DON foi concebido originalmente para substituir os sistemas
originais de micrografa, isto , exclusivamente para o armazenamento.
Atualmente existem aplicaes mltiplas para este suporte. Entre elas
pode-se destacar as seguintes:
na gesto administrativa das empresas. As administraes e os
bancos podem estocar todos os documentos relativos vida da
empresa;
- na gesto da documentao tcnica dos escritrios de estudos para
conservar todos os estgios sucessivos de planejamento;
- no arquivamento informatizado, o DON pode substituir as fitas
magnticas para armazenar dados.
Para os tcnicos de informao, o DON significa sobretudo acesso aos
documentos primrios referenciados em bancos de dados de vrios
sistemas.
A organizao de um banco de dados de documentos originalmente em
suporte de papel, associado a um ou a vrios bancos de dados j
existentes, constitui o objetivo do projeto europeu de fornecimento
eletrnico de documentos Transdoc.
O Centre National dtudes des Tlcommunications utiliza o DON no
sistema Sarde (Systme electronique darchivage et recherche de
documentation). O sistema Transdoc descrito no anexo deste captulo.
Os discos compactos
Os discos compactos so discos de 12 cm que permitem armazenar
informaes em forma numrica. A gravao e a leitura so feitas
utilizando a tecnologia do laser. Estes discos so gravveis apenas uma
vez pelo procedimento de prensagem e so facilmente duplicveis. So
suportes privilegiados de difuso de informaes e de edio eletrnica.
A unidade de informao e as novas tecnologias
Existem discos compactos destinados ao grande pblico (CD-audio e
CD-I) e discos compactos destinados a aplicaes profissionais, como o
CD-ROM. Os CD-ROM surgiram em 1985 e esto revolucionando as
tcnicas documentais.
O CD-audio permite registrar sons musicais. Este suporte tem uma
durao de 72 minutos de som estereofnico, e est substituindo o disco
tradicional de vinil.
O CD-I (interativo) poder tomar-se um auxiliar do computador destinado
ao grande pblico no futuro. Este suporte ao mesmo tempo um leitor de
videodisco, um leitor de CD-audio e um leitor de CD-ROM. Ele pode ser
conectado a um aparelho de som e a um televisor e poder ter aplicaes
ligadas vida cultural e ao lazer.
O CD-ROM um disco compacto feito de macrolon (plstico refiexor),
tem 12cm de dimetro, pesa 20 gramas e tem 1,2 mm de espessura. Um
disco compacto tem uma capacidade til de 600 a 650 megaoctetos, o que
representa 18 fitas magnticas, 1600 BPi, 1500 disquetes e 280 mil
pginas de texto (formato A4). O tempo de leitura de 1,4 Mbits por
segundo. Atualmente, o CD-ROM j tem seu formato normalizado, mas a
normalizao relativa ao seu funcionamento est ainda em discusso.
Os CD-ROM podem ser lidos por leitores profissionais desenvolvidos
especialmente pelos fabricantes Philips, Sony e RCA, entre outros. Eles
podem tambm ser lidos em microcomputadores de vrios tipos, desde
que equipados com uma interface apropriada.
O CD-ROM utilizado atualmente apenas para a edio e publicao.
Alguns tipos de edies so destinadas ao grande pblico, como os
dicionrios e as enciclopdias. Mas o CD-ROM tem uma vocao
essencialmente profissional.
Vrias obras de referncia esto sendo editadas em CD-ROM: dicionrios
especializados como o Eurolexique, publicado pela Hachette e. a Encyclopedie
Crolier, com 21 volumes e nove milhes de palavras. Esta enciclopdia
utiliza apenas 20% do espao do CD-ROM. Foram editados ainda o
anurio Wer leifert was (quem produz o que?), que um anurio de
fornecedores alemes, catlogos de produtos ou catlogos de bibliotecas
como o Booksellerss assistant e manuais profissionais.
Existem ainda programas de ensino em CD-ROM assistidos por
computador, como o National item bank, que uma srie de testes para
estudantes.
Os bancos de dados so a aplicao mais desenvolvida dos CD-ROM.
Vrios bancos de dados publicaram informaes em discos compactos.
Este o caso do Eric (educao), da Excerpta Medica, do Datex (dados
financeiros), do Nicem (audiovisual), do Chemical Abstracts, do Medline,
do Embase (farmcia), do Hsline (sade), do Cis (trabalho) e do Disclosure
(finanas). As bibliotecas das unidades de informao que assinam estas
bases em CD-ROM economizam tempo de conexo e dispem de uma base
284 de dados integral. Entretanto, existe ainda o problema da atualizao.
A unidade de informao e as novas tecnologias
As perspectivas de desenvolvimento dos discos compactos esto
modificando as formas de difuso da informao e a edio.
O CD-ROM revoluciona a gesto da aquisio e da pesquisa documen
tal. Na opinio de algumas pessoas, o CD-ROM, como suporte relativamente
barato, pode ser uma ajuda importante para os pases em desenvolvimento.
Esta a razo do projeto de produo de CD-ROM desenvolvido pelo
Commonwealth Agricultural Bureau International ou do projeto da rede
de informao da Organizao Pan-americana de Sade para a Amrica
Latina e Caribe.
Outros suportes ticos
O carto laser foi desenvolvido pela sociedade Drexer, nos Estados
Unidos. Ele tem o tamanho de um carto de crdito, contm dados
numricos e gravvel apenas uma vez. Sua capacidade de 2 Mo ou de
800 pginas datilografadas. A primeira aplicao deste carto foi para
produzir-o lifecard que uma espcie de dossi mdico pessoal. Este
carto, que pode ter futuramente uma capacidade de 16 Mo, um suporte
com muitas possibilidades de utilizao. Ele poder ser utilizado para a
difuso eletrnica de documentos, de programas e para a atualizao de
dados armazenados em um suporte que no pode ser apagado.
Existem outros cartes deste tipo como o Danippon, no Japo e o carto
da Optical Recording Organization (ORC), nos Estados Unidos. Todos
estes cartes tm as vantagens de capacidade de armazenamento da
informao, confiabilidade e facilidade de utilizao.
A capacidade de armazenamento de informao das fitas e dos cassetes
ticos variam muito conforme o fabricante.
As memrias ticas so ainda muito recentes para que se possa emitir
opinies a respeito. Elas ocupam um lugar importante no sistema de
armazenamento de informaes. Representam uma soluo para o acesso
aos documentos primrios, revolucionando a pesquisa documental e a
aquisio de documentos. O futuro destes suportes depende de algumas
condies tcnicas e econmicas. Um dos imperativos para que existam
condies tcnicas de desenvolvimento a normalizao e o
desenvolvimento de mtodos de codificao dos documentos.
As memrias ticas deveriam ser, em geral, solues baratas para o
armazenamento de informao. Entretanto, elas necessitam de
equipamentos especficos, como microcomputadores e interfaces
apropriadas, e sua aplicao nas unidades de informao deve corresponder
a necessidades reais dos usurios.
O grande problema das memrias ticas a durao destes suportes.
Os testes de laboratrio permitem prever uma durao de cerca de dez
anos ou mais. Entretanto, esta informao no completamente segura.
Podero aparecer outros suportes que tornaro as memrias ticas
obsoletas. As pesquisas em holografia e em criogenia que esto em 285
B
I
B
L
I
O
T
E
A unidade de informao e as novas tecnologias
andamento levam a crer que esta hiptese no absurda. O que acontecer
com os milhares de documentos armazenados em memrias ticas, se os
fabricantes cessarem suas atividades e se no existirem mais equipamentos
de leitura para estes suportes? Este o caso das informaes armazenadas
em cartes ou em fitas perfuradas que atualmente esto inacessveis.
Os equipamentos necessrios sua leitura j no existem mais.
Neste captulo foram apresentadas apenas as tendncias mais
importantes das novas tecnologias. Os tcnicos de informao levantam
algumas questes com relao a este problema. Qual o futuro de uma
profisso to ligada e to modificada por novos mtodos, novos poderes e
um novo know-how? Como adaptar-se a estas novidades? As necessidades
de formao contnua so imensas e nem sempre simples de solucionar.
A novidade provoca muitas vezes entusiasmo, mas tambm medo de
mudanas e angstia.
Ao finalizar este captulo, os profissionais de informao devem
conscientizar-se de dois pontos:
- a necessidade imperativa de estar sempre informado. Todos os dias
surgem novos bancos de dados e novos dados tecnolgicos. O
documentalista deve seguir com muita ateno estas informaes:
segundo algumas opinies, as profisses ligadas informao esto
em plena mutao. Outros afirmam que estas profisses esto
passando por uma revoluo ou por uma adaptao. As trs
palavras significam a mesma coisa: que as profisses ligadas
informao esto vivas e tem um grande futuro pela frente. (Ver o
captulo A profisso").
Qu es t i o n r i o de v er i f i c a o
Qual o equipamento bsico de telemtica?
Descreva os principais canais modernos de transmisso.
Qual a estrutura geral de um sistema especialista?
Quais so as caractersticas das memrias ticas?
Quais so as principais aplicaes documentais das memrias ticas?
286
A unidade de informao e as novas tecnologias
Bibliografia
1 .Generalidades
ANGEL, C. Information, new technology and manpower: the impact o f new
tecnology and demand f o r information specialists. Londres, British
Library, Research and Develoment Departament, 1987.
BLASIS, J.-P. (DE). Labureatique: outils et applications. Paris, Les ditions
d'organisation, 1984.
Innovation et nouvelles tecnologies de Vinformation, tude prside par J.
Treffel et dirige par P. Pelou et A. Vuillemin. Paris, La Documentation
franaise, 1987.
Martineau, J. La bureautique, 3- d. Paris, Mc Graw Hill, 1982.
2. Telemtica
ANGELIN, C. et MARCHAND, M. Le vidotex : contribulion aux sur la
tlmatique. Paris/New York, Masson, 1985. (Coll. Techniques et
scientiflques des tlcommunications.)
ERES, B. K; BAAL-SCHEM, J.: SASLOVE, B. ETFENICHEL, H.Adecision-
maker's guide to videotex and teletex. Paris, Unesco, 1986 (Doc. PGI-
86/WS/7.)
GAUTHRONET, S. La tlmatique des autres: les expriences vidotex en
Europe. Paris, La Documentation franaise, 1983.
MASTRODDI, F.-A. Dveloppment de la foumiture lectronique de docu-
ment et dition lectronique das les pays de la CEE. Luxembourg,
Commission de la communaut europenne, 1984.
MATHELOT, P. Latlmatique, 2- d. Paris, Presses Universitaires de
France, 1985. (Que sais-je? , n9 1970.)
PATIN, J.Utiliser le vidotex. Paris/New York, Masson, 1985. (ABC des
langages.)
PUJOLLE, G. ; SERET, D. ; DROMARD, D. et MORLAI, E. Rseaux et
tlmatique. Paris, Evrolles, 1985.
RUDNIANSKI, M. Archilecture des rseaux : le modle ISO, rle et
fonctionnalits. Paris, ditest, 1986.
3. Inteligncia Artificial
BONNET, A. L'intelligence artificielle, promesses et ralites. Paris,
Interditions, 1984.
BORKO, H. Experts systems and library information Science. New York/
Oxford, Pergamon Press, 1987.
DREYFUS, H. Intelligence artijicille : mythes et ralits. Trad. de l'anglais
par R.-M Vassab. Paris Flammaripn, 1984.
A unidade de informao e as novas tecnologias
FARREMY, H. Les systmes experts : prncipes et exemples. Toulouse,
Cepadues ditions, 1985. (Techniques avances de 1'informatque.)
GONDRAN, M. Introduction aux sistmes experts, 3- d. Paris, Eyrolles,
1986.
Intelligence des mcanismes, mcanismes de lintellegence. Intellegence
artiflcielle et sciences de la cognitiion. Ouvrage coordonn par J.-L.
Lemoigne. Paris, Fayard, 1986.
0'SHEA, T. et EISENTADT, M. Artificial intelligence: tools, tecchniques and
applications. New York, Harper and Row, 1984.
4. Memrias ticas
AXIS. Les mmories optiques : la gestion de Vinformation de demais. Paris.
comedia, 1988.
BOWER, R. The optical electronic publishing directory : Carmel Valley,
Information Arts, 1986.
ISAILOVIC, J. Videodiscs and optical memory systems. New York, Prentice
Hall, 1986.
LELOUP, C. Mmoires optiques : la gestion lectronique de Vinformation.
Paris, Entreprise moderne d'dition, 1987.
PRITCHARD, J. A.T. Introducing eletronic archiuing. Chichester, Wiley and
sons, 1985.
4.1. Videodisco
BROSSAUD, G. Les vidodisques. Paris, Masson, 1986.
GERMAIN, G. et GABRIEL, M. Le vidodisque: banque d'images interactives.
Paris, Cedic-Nathan, 1985.
Les logiciels documentaires de pilotage de vidodisques. Enqute ralise
et rdige par S. Simmo et D. Degez-Vataire : coproduit par la
Bibliothque publique d'information et la Direction des bibliothques,
des muses et de l'information scientifique. Paris, La Documentation
franaise, 1987. (Interphonotque, guide pratique des phonotques.)
Le vidodisque, mmoire d'images. Paris, Bibliothque d'information,
Centre Pompidou, 1986. Dossier technique n- 4.
4.2. DOU e discos compactos
CD-ROM. Le nouveau papyrus? Paris, Cedic-Nathan, 1987.
HENDLEY, T. et SHWERIN, J. International initiatives f o r CD-ROM
Standards. Oxford, Learned Information, 1986.
De la musique au texte Vimage. Premier colloque franais sur le CD-ROM
et ses applications. Versailles, 18-19 juin 1986. Paris, ADI, 1986.
288
A unidade de informao e as novas tecnologias
Anexo
Este texto foi redigido por Jacques Soule, diretor do Groupement
Transdoc. Agradecemos a autorizao para a sua reproduo.
Transdoc (Transmisson lectronique de documents).
Este programa experimental de arquivamento e de difuso eletrnica de
documentos permitiu, durante o perodo de 1983 a 1985, as seguintes
atividades:
- experimentar diversas tcnicas disponveis no mercado, que
permitem o armazenamento de documentao eletrnica como
digitalizao de imagens e arquivamento em disco tico numrico.
- conhecer o impacto destas tecnologias na cadeia de tratamento da
informao desde a constituio de bases de dados at a restituio
do texto integral e seu armazenamento.
Formou-se um grupo de especialistas para desenvolver este programa
sob a iniciativa do Centre National de la Recherche Scientiflque (CNRS) da
Frana.
Descrio geral
O programa consiste em conceber, desenvolver e organizar um sistema
que integre o conjunto de funes de um sistema geral de informao, ou
seja:
a entrada e o armazenamento do texto integral de um fundo
documental selecionado a partir de tcnicas de tratamento de
imagem conhecidas como fac-simile,
- a utilizao conjugada do sistema de arquivamento com vrias
bases de dados de difuso internacional por um sistema que permita
o acesso ao documento:
- a restituio eletrnica dos documentos, armazenados em disco
tico numrico ou em microficha, em tela de alta definio ou
em uma impressora a laser, no local onde os documentos encontram-
se armazenados, em uma primeira fase.
O sistema Transdoc experimentou duas formas de armazenamento
eletrnico de documentos: em disco tico numrico (DON) e em microficha.
Em ambos os casos, o dispositivo de acesso aos documentos armazenados
um computador Mini 6/Bull que gerencia a ligao entre a referncia
lgica (referncia documental) e a referncia fsica (localizao) do
documento.
289
A unidade de informao e as novas tecnologias
Este computador de gesto recebe a referncia documental de duas
formas:
- por meio de um sistema interativo de entrada de dados (Questar
Buli);
para os documentos distncia por meio de um servio de bases de
dados com as referncias bibliogrficas dos documentos.
O sistema armazena todas as transaes para permitir a contabilidade
(faturao dos clientes), as estatsticas e o tratamento relativo aos direitos
de reproduo.
Embora integre um conjunto de funes para necessidades prprias
experimentao, esta arquitetura salienta a modularidade e a
complementaridade dos sistemas. O Transdoc toma-se um sistema
complementar dos servios de bases de dados bibliogrficos. um sistema
aberto com a possibilidade de ser conectado a outros sistemas e para a
difuso distncia da informao armazenada.
A experimentao
A experimentao apoiou-se em:
- um fundo documental cientfico e tcnico;
- bases de dados produzidas pelos seguintes organismos, que so
bastante difundidas: Centre de Documentation Scientifique etTechnique
(CDST), CNRS, Institut National de la Propriet Industrielle
(INPI) e Elctricit de France/Gaz de France EDF/GDF);
- um servio de bases de dados internacional Tlsystmes-Questel;
- um grupo de editores, a FNPS, para o estudo dos problemas de
direitos autorais, cujos textos jurdicos deveriam ser reestruturados;
- usurios europeus, como pesquisadores ou laboratrios de pesquisa,
industriais, universitrios da Facult de Mdecine da Universit
Catholique de Louvain e da Facult de Lausanne, entre outros. Pelos
meios tradicionais de acesso aos servios de bases de dados e das
pesquisas bibliogrficas, os usurios confirmam suas escolhas e
obtm, de forma transparente e automtica, o acesso ao texto
integral do documento armazenado em Transdoc. Em uma primeira
etapa, o texto enviado por correio, depois de ter sido impresso em
laser. A partir de 1986, o texto ser enviado por telecpia ou
transmitido via satlite.
O projeto permitiu:
- adquirir uma experincia no domnio do arquivamento e da difuso
eletrnica de documentos. Esta experincia permite a cada organismo
participante decidir e promover estas tecnologias nos seus prprios
campos para modernizar suas atividades ou criar novos servios.
Embora no tenha sido este seu objetivo principal, nem a motivao dos
participantes do programa, o Transdoc contribuiu muito para
A unidade de Informao e as novas tecnologias
melhorar e estabilizar produtos industriais que atualmente so
comercializados;
- informar e sensibilizar o pblico sobre as possibilidades que estas
tecnologias oferecem, por meio de publicaes, de relatrios, de
congressos, de conferncias e de visitas. O Transdoc recebeu mais de
lmil visitantes em um ano;
- compreender os problemas jurdicos dos direitos autorais. Sero
propostas solues para este problema em um curto espao de
tempo, que podero contribuir para a criao de uma legislao
mais adaptada;
conceber canais de produo, estimar os custos e os preos da
pgina armazenada ou da pgina difundida;
- avaliar, com a ajuda dos especialistas da CEE, o conjunto da
experimentao no plano tcnico, econmico e de servio aos
usurios.
Os resultados destes estudos sero expostos em relatrios enviados
CEE, em 1986 pelos especialistas. De forma geral, estes resultados
referem-se ao tempo e qualidade dos servios, aos custos, e ao nvel de
satisfao dos usurios.
Os desenvolvimentos Juturos
O domnio dos sistemas de armazenamento e a experincia adquiridos
pelo programaTransdoc permitiro a cada um dos organismos participantes
desenvolver, a partir desta experincia, prottipos de servios futuros,
paralelamente aos estudos e desenvolvimentos que esto sendo realizados
no campo do armazenamento eletrnico de documentos.
Uma das propostas do programa difundir eletronicamente documentos
aos usurios por telefacsmiles do grupo III, por redes pblicas comutadas,
ou por redes de transmisso de grande capacidade utilizando os servios
de Tlcom 1, Transdyn ou Transcom, em 64 Kbits por segundo.
A experincia Transdoc foi positiva. Ela permitiu verificar a possibilidade
tcnica de arquivamento eletrnico e a organizao necessria para por
em prtica novas tecnologias; e a adequao dos servios experimentados
s necessidades dos usurios e criao de novos servios para tornar os
j existentes mais eficientes.
Alm dos testes, exclusivamente tcnicos, a experincia demonstrou a
possibilidade de uma utilizao corrente destes servios e da avaliao
das necessidades dos usurios futuros.
O programa Transdoc permitiu verificar que as novas tecnologias vo
modificar consideravelmente o mercado da informao em todas as suas
formas.
291
.
' ! V . : ; ! . , ? T V - "
.
A indstria da
informao
A telemtica tornou possvel o desenvolvimento de um mercado de
informao. Este o campo de aplicao mais importante para as
unidades de informao, porque a telemtica permite a qualquer usurio
equipado, acessar fundos documentais distantes para pesquisar
informao. A possibilidade de acessar bancos e bases de dados
distncia no caracteriza apenas o mundo profissional. Na realidade, os
bancos de dados so um fato social. Eles fazem parte no apenas da vida
profissional, mas tambm da vida diria. Eles permitem recuperar, de
forma circunstancial e imediata, a qualquer momento, informaes
pertinentes e exaustivas.
Atualmente existem 3 mil bases e bancos de dados cientficos acessveis
distncia no mundo. A maior parte destes bancos e bases americana.
Os especialistas de informao estimam que 20 mil bases deveriam ser
suficientes para cobrir o essencial do conhecimento humano. Atualmente,
surgem no mundo cerca de duas bases de dados por dia. O mercado da
informao cresce mais de 25% ao ano.
Estas bases representam imensos tesouros de informao. O world
brain, mencionado por H.G.Wells, e a rede mundial de informao,
mencionada pelo PGI, esto se tornando uma realidade. Assiste-se
atualmente a uma exploso da indstria da informao. Este fato provoca
inmeros problemas ticos, polticos e econmicos em nvel mundial
porque tende a agravar ainda mais as diferenas existentes entre pases
industrializados e pases em desenvolvimento. Os desafios polticos,
econmicos e sociais so enormes. Os desafios humanos so imensos.
Para melhor compreend-los, necessrio descrever esta indstria da
informao, apresentar todos os seus componentes e salientar o papel das
novas tecnologias. A indstria da informao est fundamentada na
conjugao de duas tcnicas: a informtica e as telecomunicaes.
A indstria da informao
Usurio final
Servios CAN/OLE
Dialog ESA/IRS Orbit Ouestel Fiztechnick
Base Elelric
Power (F)
Eletric
Power (F)
EPIA (RB) EDF DOC
(RB)
HSFEC (F)
VDE. V (RB)
Produtores
Usurio intermerdirio
Redes de telecomunicao
Edison Electric Institut (Estados Unidos)
Electric Power Research Institut (Estados Unidos)
lectricit de France (Frana)
Ente Nationale per 1Energia Electtrica (Itlia)
VDE Verlag Gmbh (Alemanha)
Zentral Verband der Elektrotechnischen Industrie (Alemanha)
F: bancos de dados factuais
RB: bancos de dados bibliogrficos
Figura 19. Acesso a bases e bancos de dados.
A informao sobre eletricidade acessvel on-line.
Um estudo de caso: a informao em eletricidade acessvel on-line na Frana
por um usurio determinado.
O computador, graas sua capacidade de memria, e ser o suporte
ideal desta imensa memria coletiva. As telecomunicaes so o seu
sistema nervoso central.
A indstria da informao compe-se de vrios agentes. Cada um
exerce uma funo bem determinada (ver figura 19).
294
A indstria da informao
Os produtores
Os produtores coletam informaes originais produzidas pelos autores
e editadas em todas as formas (manuscritas, impressas e sonoras). Eles
selecionam, identificam e analisam esta informao. o tratamento
documental. Este tratamento automatizado. A partir da, os produtores
preparam discos magnticos ou ticos para os servios que criam bancos
ou bases de dados l . Uma base de dados um conjunto organizado de
referncias bibliogrficas de documentos que se encontram armazenadas
fisicamente em vrios locais. O acesso a estas bases provoca o problema
do acesso aos documentos primrios. Os bancos de dados tratam
informaes fatuais, numricas ou textuais diretamente utilizveis.
importante que o usurio compreenda qual a natureza do dado recuperado,
quando faz uma pesquisa on-line (ver figura 20). Um usurio que busca
uma informao em uma base de dados bibliogrfica recupera uma
referncia que lhe indica as seguintes informaes: o ttulo do documento,
os autores, o tipo de documento, a lngua, a fonte, a data de publicao,
o resumo do artigo e as palavras-chave ou descritores. No exemplo
escolhido na figura 20 o usurio dever recuperar o n. 12, v. 12 da revista
Search. Alguns servios de bancos de dados, em acordo com os produtores,
oferecem cada vez mais a possibilidade de acesso on-line ao documento
para resolver este problema.
ttulo
autor
instituio
do autor
1 referncias
Jbibliogrfica
| descritores
resumo
Figura 20. Exemplo de uma referncia bibliogrfica
1. Foram utilizados os dois termos para explicar suas diferenas. Entretanto,
necessrio salientar que a lngua francesa utiliza, em princpio, apenas a expresso banco de
dados.
THE USES OF NEW MASS INFORMATION MEDIA
LUMBERS (J).
AF: CSIRO, SCI COMMUNICATION UNIT/DICKSON
ACT/AUS
SEARCH (SYD); 0371-2516;AUS;Date: 19.1.1982
Vol. 12;n. 12;p.:438-445;20 ref.
Code:4437;Langue:Anglais Type:TP,LA
CC: 101.A.01.B
DS: DIFFUSION INFORMATION/TLTEXTE/VIDOTEXT/
AGRICULTURE ASPECT SOCIAL/ETATS UNIS/FRANCE/
ROYAUME UNI/INFORMATION DISSMINATION/TLTEXT/
VIDOTEXT/AGRICULTU RE/SOCIAL/ASPECT/
UNITED STATES/FRANCE/UNITED KINGDOM/
PRSENTATION DES EXPR1ENCES D'UTILISATION DU
VIDO TEXT DANSLES ACTIVITS COMMERCIALES ET
AGRICOLES AU ROYAUME-UNI, EN FRANCEET AUX ETATS UNIS.
A indstria da informao
As bases de dados bibliogrficas foram as primeiras a surgir no
mercado de informao. A necessidade de informaes diretamente
utilizveis possibilitou a criao de bancos de dados de outro tipo. Um
usurio que consulta, por exemplo, o banco de dados ADHEMIX sobre
colas, produzido pelo Commissariat 1Energie Atomique (CEA) da Frana,
encontrar as seguintes informaes:
N.notice
Nom
Fournisseur
Adresse
Code Postal
Tlphone
Nature
Nbre comp.
Temps prise
Temprature
Viscosit N
Viscosite
Rigidit
TH Continu
TH pointe
Collage
Observation
659
PERMABOND A 150
PERMABOND FRANCE SA
18, rue Jean-Marie POULMARCH
94200IVRY/SEINE
46 72 72 31
ANAEROBIE
1
TPH=05
20 DEGRS C.
V1SN=50 POISE(S)
V1SA=FLUIDE NOME DO PRODUTO
RIGIDE
150 DEGRS C.
200 DEGRS C.
MTAUXMATIRES PLAST1QUES AVEC
ACCLRATEUR
:BLOCAGE COAXIAL FORT DE FILETAGES ET
EMMANCHEMENTS LISSES. JEU MAXI DE
0.12MM.
Nome do produto
Aplicao
parmetros ligados
realizao de
uma colagem
Figura 21. Exemplo de um dado diretamente utilizvel
Neste caso, no necessrio passar por um intermedirio, como o
livreiro, o editor ou uma unidade de informao para explorar a pesquisa.
I Bancos bibliogrficos
Figura 22. Natureza dos dados acessveis distncia.
A indstria da Informao
O acesso aos bancos de dados aumenta em detrimento do acesso s bases
de dados. Este fenmeno provoca uma srie de interrogaes sobre as
profisses de informao.
Os bancos de dados esto repartidos no mundo da seguinte forma2(ver
figura 22):
Quadro n.4. Natureza da informao dos bancos e bases de dados
Natureza do dado Exemplo de
bases e dados
Produtor Campo do
conhecimento
1. Referncias Bibliogrficas
artigos ASFA-Agris FAO
teses e relatrios Energirap CEA
patentes Inpadoc OMPI
normas Noriane AFNOR
Problema: acesso literatura primria referenciada
Oceanografia
Energia
Propriedade
intelectual
Normalizao
2. Dados diretamente utilizveis
2.1 Dados numricos
estatsticas
dados cientficos
SIC
Thermodata
INSEE
Thermodata
Economia
Dados trmicos
2.2 Referncias fatuais
calendrio de congressos
pesquisas em andamento
end.de organismos
agenda
Meeting
ENREP
Kompass
CEA
CEE
DAFSA
Colquios cient.
Energia
Empresas
2.3 Referncias textuais
cientficas
de atualidade
jurdicas
terminolgicas
Drugline
Agora
Joel
Normatcrm
Druginformation center Farmcia
AFP Atualidade
Dir.Journaux Direito Officiels
AFNOR Normalizao
Os bancos de dados diferem ainda em funo do volume de
informaes armazenadas que podem variar muito e em funo do
campo de conhecimento coberto3 (ver figura 23).
Estes grficos permitem tirar algumas concluses:
- os Estados Unidos desenvolveram muito sua produo de bancos
de dados numricos;
a Europa tem uma produo muito grande de bases de dados
bibliogrficas. Estas bases de dados correspondem cada vez menos
demanda dos usurios. Ainda que estas bases forneam
2. J . Chaumier. Systmes d'information: march et technologies. Paris, Entreprise
Moderne d'Edition, 1986.
3. J .Chaumier, op.cit.
A indstria da informao
possibilidades de resposta, sua explorao dificultada pelo
problema do acesso ao documento original;
o desenvolvimento de bancos de dados textuais tem aumentado
muito. Entretanto, os programas de pesquisa em texto integral
ainda precisam ser aperfeioados. O volume de informaes a serem
recuperadas outro obstculo.
As cincias exatas, as tcnicas e a economia so os campos privilegiados
da indstria da informao. Entretanto, as bases de dados em cincias
humanas e sociais comeam a desenvolver-se (ver o captulo Os tipos de
unidades de informao e as redes).
Frara
Figura 23. Campos cobertos pelas bases de dados.
Cincia* e Tcnico
Os servios de bancos de dados
No seu papel de distribuidores, os servios de bancos de dados so as
peas fundamentais da sociedade de informao que est nascendo. Estes
servios so organismos pblicos ou privados que gerenciam bancos de
informaes e autorizam o acesso a estes bancos sob certas condies (ver
o captulo Os servios de difuso da informao).
Os servios de bancos de dados tm um duplo papel; tcnico e de
distribuio. Suas atividades tcnicas so:
armazenar no computador os bancos de dados fornecidos pelos
produtores;
gerenciar os fundos documentais;
- fazer funcionar os programas de interrogao.
Como distribuidores, os servios de bancos de dados realizam as
seguintes atividades:
- comercializam o sistema, organizam a promoo e o marketing do
seu servio;
- garantem a formao dos usurios do sistema, pelo ensino do uso
dos programas de interrogao e do uso das bases de dados;
1 **
ezza Eiudo* Unido* daAmfrici
Cinciu humanai Barco* e/ou base* dedado*
Multidiidplinare*
A indstria da informao
- fornecem o servio aos usurios e asseguram a assistncia tcnica.
Os servios de bancos de dados atuais esto organizados sobretudo
para fornecer referncias bibliogrficas. Entretanto, progressivamente
est surgindo uma nova gerao de servios mais especializados na
comunicao com os usurios e na venda de produtos diretamente
utilizveis. Os servios de bancos de dados utilizam as pesquisas efetuadas
no campo da inteligncia artificial para conceber programas mais prximos
da linguagem natural. Um dos obstculos atuais a quantidade de
programas de acesso existentes no mercado.
Para utilizar o servio ESA/IRS, por exemplo, o usurio deve conhecer
o programa de consulta Quest; para consultar o Dialog, o usurio deve
conhecer o programa Dialog; para consultar o servio Synorg, o usurio
deve conhecer o programa BRS. Esto sendo estudados programas de
interface que permitiro ao usurio que conhece o programa Quest, por
exemplo, consultar qualquer um dos servios de bancos de dados
disponveis.
Uma outra evoluo que est sendo realizada a possibilidade de
consulta simultnea de vrias bases de dados dentro de um mesmo
servio ou de vrias bases de dados de servios diferentes. Alguns servios
de bancos de dados, como o Dialog e o ESA/IRS, j permitem ao usurio
realizar pesquisas em vrias bases de dados ao mesmo tempo, para
comparar os resultados, ao invs de interrogar sucessivamente cada uma
delas.
Os servios de bancos de dados utilizam memrias ticas para oferecer
aos seus usurios alguns servios. As memrias ticas permitiro distribuir
o texto original dos documentos, fotografias e documentos sonoros. Os
servios atuais distribuem apenas documentos textuais.
T eletr ansferncia
A consulta aos bancos e bases de dados custa caro s unidades de
informao. Os custos variam entre 300 e 1000 francos franceses, alm
dos custos de telecomunicao e dos custos de impresso. A impresso
o f f line realizada como medida de economia. Depois de recuperar a
informao, o usurio tem duas possibilidades:
- visualizao das referncias on-line, o que possvel se sua pesquisa
for pequena;
a expedio das referncias selecionadas. O servio de banco de
dados envia a lista das referncias pelo correio. Desta forma, o
usurio pode explorar os resultados de sua pesquisa com calma.
Este servio mais econmico.
Um outro procedimento consiste no tldchargement (ou
teletransferncia). Uma primeira pesquisa feita na bases permite ao
usurio fazer uma seleo preliminar das referncias bibliogrficas.
A indstria da informao
Este conjunto transferido para a memria de um microcomputador e
explorado localmente por um programa apropriado.
Desta forma, uma unidade de informao pode constituir uma minibase
de dados, e explor-la gratuitamente. Isto permite aperfeioar os resultados
da pesquisa e a sua apresentao pela eliminao das referncias
duplicadas, pela fuso dos resultados das pesquisas feitas em vrias
bases, da seleo das referncias e da reformatao das referncias
extradas. Em algumas bibliotecas, a base de dados constituda a partir
do tldchargement, utilizada para a formao de usurios. As unidades
de informao que trabalham em rede, podem trocar, desta forma, o
resultado de pesquisas feitas em diferentes servios de bancos de dados.
A maioria destes servios oferece aos seus usurios a possibilidade de
utilizar este procedimento. Os programas Mikrotel, no servio ESA/IRS,
e Microquestel no servio Questel, entre outros, permitem o
tldchargement. Este procedimento objeto de um acordo entre o
servio e seu cliente e obedece a um regulamento bastante rgido, de forma
a evitar a pirataria. Um dos obstculos existentes atualmente diz respeito
ao tldchargement entre vrios servios de bancos de dados. As bases
de dados so estruturadas de forma diferente e por esta razo a reformatao
dos dados pode ser complicada.
As redes de telecomunicaes
Os vrios servios de transmisso de dados esto descritos no captulo
sobre as novas tecnologias (ver tambm o captulo Os servios de difuso
da informao"). A maior parte dos pases tem uma infra-estrutura de rede
de telecomunicaes. A interconexo das redes forma atualmente uma
rede mundial de trasmisso de dados (ver o quadro 5).
Quadro 5. As redes internacionais de trasmisso de dados.
Amricas sia Europa Oriente Mdio frica
Canad _
Blobdate
Infoswitch
Japo Blgica
Espanha
DOS Israel Isranet
Iberpac
A frica
ligada a redes
Datapac
Singapura Finlndia Finnpac americanas e
Estados
Unidos
Tymnet
Usinet
Telenet
Frana Transpac
Itlia Itapac
Mses Baixos DNI
Alemanha Datex.P
europias
Brasil
Renpac
Reino Unido
Sucda
IPSS
Telepac
Mxico
Redtelepac
Suia Telepac
300
A indstria da informao
O usurio
A complexidade da indstria da informao fez surgir uma distino
entre o usurio intermedirio e o usurio final. O usurio intermedirio
corresponde a uma especializao da profisso de documentao: a
pesquisa de informao on-line. Esta especializao recebeu as
denominaes de informationbroker, intermedirio ou agente de informao.
Sua especialidade o conhecimento do mercado de informao, o
conhecimento dos instrumentos postos disposio dos usurios pelos
servios de bancos de dados e o domnio das tcnicas de pesquisa
documental. O intermedirio faz a interface entre o conjunto de informaes
capazes de responder demanda de um usurio e a seleo das informaes
que correspondem s necessidades reais deste usurio, ou as informaes
que ele poder realmente utilizar.
Como os procedimentos de acesso esto se simplificando cada vez mais,
possvel que dentro de pouco tempo o intermedirio no seja mais
necessrio. Entretanto, tambm possvel que o papel deste intermedirio
seja reforado, devido quantidade de informaes disponveis, mesmo
que os sistemas se simplifiquem. Este debate coloca o problema do futuro
das profisses da informao (ver o captulo Os usurios").
O mercado de informao est em plena mutao. Ele sofre
reestruturaes profundas. Regularmente, vrios servios de bancos de
dados, produtores, bases e bancos de dados nascem, desaparecem ou se
fundem.
Este mercado est no centro de dois movimentos opostos:
- o desenvolvimento extraordinrio das novas tecnologias, como as
telecomunicaes e as memrias ticas:
- uma srie de barreiras econmicas, jurdicas e barreiras
psicosociolgicas, como a resistncia s mudanas que dificultam
este desenvolvimento. Uma das barreiras mais importantes o direito
autoral. A tecnologia evolui mais rapidamente que o homem.
O videotexto
O videotexto um procedimento de consulta a dados e/ou de atualizao
de dados on-line, por uma linha telefnica simples. Destinado a banalizar
a comunicao do usurio com o computador, o videotexto prope
solues simples, com relao constituio de sistemas, de acesso aos
terminais e de dilogo com o sistema. Cada terminal ligado ao sistema por
uma linha telefnica dispe de instrues rpidas em nmero limitado e
de uma apresentao das informaes na tela, a partir de caracteres alfa
numricos ou grficos.
No existem ainda normas internacionais precisas de videotexto.
Existem duas normas concorrentes: a NAPLPS, do American National
A indstria da informao
Standards Institute, e a norma europia, do Comit Europen des Postes
etTlcommunications. As normas de apresentao referem-se ao conjunto
de normas de visualizao, isto , forma como as informaes so
visualizadas na tela e aos cdigos relativos aos terminais, isto , o
procedimento pelo qual uma determinada aplicao descodificada no
terminal.
A estrutura de um sistema de videotexto compe-se de:
- um servio de banco de dados, para o tratamento, o armazenamento,
o acesso e a atualizao das informaes. Este servio pode constituir-
se por um ou por vrios mini ou microcomputadores ou ainda por
computadores de grande porte (ver o captulo Os servios de
difuso da informao);
- a comunicao pode ser feita por uma rede de vdeo (distribuio de
TV por ondas hertzianas), cabo ou servios de telecomunicao. O
transporte por ondas hertzianas unidirecional. Ele transmite o
videotexto passivo, como o Antiope na Frana, ou o Oracle na
Inglaterra. A transmisso por cabo ou por telecomunicaes
bidirecional. Ela permite o videotexto ativo, como o Tltel, na
Frana e o Prestei, nos Estados Unidos.
O terminal de videotexto tem trs dispositivos: o modem, a tela e o
teclado de comando. Em um sistema de videotexto, podem ser utilizados
quatro tipos de terminais:
um televisor acompanhado de um descodificador, ou teclado
alfanumrico;
um terminal de videotexto, como o minitel francs;
- um terminal misto que pode funcionar com as duas normas de
sistemas telemticos: Antiope para a Frana ou ASCII;
- um microcomputador equipado com uma interface de comunicao
em modo de videotexto.
Existem atualmente trs tipos de utilizao do videotexto: o correio
eletrnico, a consulta a bases de dados e os servios de transaes.
A consulta s bases de dados refere-se difuso de informaes teis
ao pblico em geral ou a profissionais. O correio eletrnico para o pblico
ou para profissionais fornece ao usurio uma nova forma de comunicao
rpida, segura e econmica que deve substituir, em parte, o correio por via
postal. A utilizao de leitores com cartes de memria acoplados aos
terminais de videotexto permitem ao usurio efetuar pagamentos sem
necessitar enviar cheques ou ordens de pagamento. A maioria dos pases
industrializados tem sistemas de videotexto. A Frana tem o sistema
Tltel, a Inglaterra, o Prestei, a Holanda, o Viditel, a Alemanha, o
Bldschzmmtext, o Canad, o Telidon, o Japo, o Captain, e os Estados
Unidos, o Maplys. O videotexto tornou-se um novo meio de comunicao.
Entretanto, seu futuro est condicionado a uma normalizao internacional
que permita interconectar os sistemas existentes e os sistemas futuros.
A indstria da informao
Questionrio de verificao
Quais so as pessoas que intervm na produo de bancos de dados?
Quais so os tipos de dados acessveis on-line?
Qual a finalidade do tldchargemenf?
Bibliografia
ASSOCIATION FRANAISE DES DOCUMENTALISTES ET
BIBLIOTHCAIRES SPCIALISS. Vinformation documentaire en
France. Paris, La Documentation franaise, 1983.
BALLE, F et EMERY, G. Les nouveaux media. Paris, PUF, 1984. ( Que
sais-je ? , n? 2 142.)
BAGGE, D. L'actulit tlmatique documentaire. Paris, Centre Georges
Pompidou, BPI, 1983.
BARES, M. Serueurs de donnes et rseaux tlmatiques: nouvelles formes
de 1'information et de la communication. Paris, Lavoisier, 1987. (Coll.
Tec-Doc.)
CHAUMIER, J. Systmes d'information : march et technologies. Paris,
Entreprise moderne ddition, 1986. (Coll. Systme dinformation et
nouvelles technologies.)
DEWEZE, A. L'accs en ligne aux bases documentaires. Paris, Masson,
1983.
GROUPEMENT FRANAIS DE PRODUCTEURS DE BASES DE DONNSS
(GFPBBD). Enqute sur les bases et banques de donns dans le monde.
Nature, rpartition, conditions et redevances. Paris, GFPBBD, 1982.
LORENZI, J.-H. etTOLEDANO, J. Le march intemational de Vinformation
automatise : une analyse conomique. Paris, OCDE, 1981.
MADEC, A. Les flux transfrontires de donnes : vers une conomie
intemationale de Vinformation ? Paris, La Documentation franaise,
1982.
Transborder data flow: bibliography available at IBI (Intergouuememental
Bureau f o r Informatics). Rome, IBI, 1980.
303
.
A pesquisa da
informao
A pesquisa da informao um conjunto de operaes que tem como
objetivo fornecer aos usurios informaes que respondam s suas
perguntas ocasionais ou permanentes.
As perguntas ocasionais so: O que existe sobre tal assunto? Este tipo
de pergunta demanda uma pesquisa retrospectiva, isto , a identificao
de todas as fontes registradas sobre o assunto. As perguntas permanentes
so: O que existe de novo sobre tal assunto? Elas demandam uma
pesquisa de informao corrente, isto , a identificao das fontes mais
recentes sobre determinado assunto.
Pesquisa de informao um termo genrico relativo pesquisa de
documentos ou de fontes, bem como pesquisa de dados ou de fatos.
Muitos sistemas de informao limitam-se ao primeiro tipo de atividade (a
pesquisa de documentos ou de fontes) e deixam ao usurio a incumbncia
de pesquisar os dados e fatos que necessita.
Estas operaes situam-se no meio da cadeia documental. Elas preparam
a difuso da informao. A maioria das atividades das unidades de
informao tem por objetivo permitir a pesquisa de informaes que o
fundamento dos servios ao usurio.
Procedimentos de pesquisa
Uma pesquisa de informao tpica pode ser descrita pelo seguinte
exemplo. Um usurio dirige-se a um centro nacional de informao e
pergunta a um documentalista: O que o centro possui sobre a
regulamentao da construo nos pases tropicais? O documentalista
responde da seguinte forma: Ns devemos ter alguns documentos sobre
o assunto, mas o que o senhor procura exatamente?" Desta forma
A pesquisa da informao
estabelece-se um dilogo entre o usurio e o documentalista, que
informado que seu interlocutor trabalha no Ministrio das Obras Pblicas
e quer fazer um estudo sobre a regulamentao da construo de imveis
residenciais nos pases tropicais, a partir de 1976. O usurio no quer
documentos em ingls. A partir desta reformulao mais precisa da
pergunta, o documentalista definir uma estratgia de pesquisa, isto ,
decidir a forma que a pergunta ser elaborada de acordo com as fontes
disponveis e apropriadas.
Em primeiro lugar, o documentalista traduzir os termos da pesquisa
nos termos da linguagem documental utilizada, estabelecendo, desta
forma, os critrios de busca. Se a linguagem utilizada for um tesauro, por
exemplo, ele poder selecionar os descritores seguintes: regulamentao,
alvar de construo e legislao. Os documentos que tratam deste
assunto podero ter sido indexados com algum destes termos.
A partir desta fase, o documentalista buscar os descritores pertinentes
a cada critrio de pesquisa: construo, imveis residenciais e pases
tropicais. A seguir, cada grupo de descritores ser ligado ao grupo
seguinte por um Ej. pois os documentos procurados devem tratar de todos
estes aspectos. Alm disso, o documentalista indicar, pelo operador
ENO. que no quer documentos em ingls. Esta lgica de pesquisa segue
a lgica booleana, que uma das mais comumente utilizadas nos
procedimentos de busca manuais e automatizados.
A lgica booleana resulta da aplicao da lgebra de Boole. Ela permite
estabelecer trs tipos de relaes entre os descritores:
a relao de interseco, que utiliza o operador E". Ela permite
relacionar dois descritores que devem ser encontrados na indexao de
um mesmo documento para que este documento seja considerado
pertinente;
- a relao de unio, que utiliza o operador OU". Ela permite
relacionar dois descritores, onde um ou outro, ou os dois devem ser
encontrados na indexao de um documento para que este seja considerado
pertinente;
- a relao de excluso, que utiliza o operador "E NO". Ela permite
relacionar dois descritores onde o primeiro deve estar presente e o
segundo ausente na indexao de um documento para que este seja
considerado pertinente.
Estas relaes so representadas por diagramas, conhecidos como
diagramas de Venn, que ilustram as diferentes modalidades de coordenao
na pesquisa de informao.
Cada crculo representa um conjunto de elementos do assunto coberto
pela unidade de informao ou de documentos indexados por um mesmo
descritor. O assunto representado pelo retngulo onde se encontram os
crculos. As pores do crculo que se recobrem representam a coordenao
dos assuntos.
306
A pesquisa da informao
1. Unio ou soma lgica
Regulamento ou norma, seja A ou B.
Figura 24a. Todos os documentos indexados A ou B so pertinentes
(zona cinzenta)
2.Interseo ou produto lgico.
Regulamento e pases tropicais, seja A ou C.
Figura 24b. Todos os documentos indexados A e C so pertinentes
(zona cinzenta).
3. Excluso ou diferena lgica.
Regulamento salvo processo administrativo, seja A salvo D.
Figura 24c. Todos os documentos indexados A, com exceo daqueles
indexados D, so pertinentes (zona cinzenta).
A pesquisa da informao
Desta forma, no exemplo escolhido, as operaes de coordenao
permitem estabelecer as equaes de pesquisa representadas
na figura 24.
Ser obtida ento a seguinte equao de pesquisa: Regulamento ou
Norma ePaises Tropicais e no Procedimento Administrativo. Esta equao
apenas parcial; ela deveria ser complementada pela pesquisa dos grupos
correspondentes aos descritores Imveis residenciais e Construo, com
as excluses solicitadas pelo usurio (E no Escritrios e no Procedimentos
de construo), bem como as excluses de lngua (e no Ingls) e de data
(e no antes de 1976). Os documentos obtidos sero verificados e sero
selecionadas apenas as referncias pertinentes que possam ser consultadas
sem limitaes (os documentos confidenciais devem ser eliminados da
lista). Sero eliminados tambm os documentos que representam
informaes duplicadas. No caso de duas edies de um mesmo documento,
por exemplo, ser eliminada a mais antiga. O objetivo no confundir o
usurio com uma massa de documentos, mas selecionar os documentos
verdadeiramente pertinentes sua questo.
Outros procedimentos permitem afinar e completar a equao de
pesquisa:
1. a ponderao, que consiste em dar indexao, bem como
pesquisa, um coeficiente de ponderao para cada descritor, calculado de
acordo com a sua importncia no documento e na questo. Exemplo:
Regulamentao(3), Construo(3), Imveis residenciais(l). Pases
tropicais(3). O computador recuperar, desta forma, apenas os documentos
indexados pelos descritores que tenham o mesmo peso na formulao
da pergunta;
2. a vizinhana, que consiste em definir a proximidade dos descritores
no texto. Este procedimento aplica-se sobretudo para as pesquisas em
texto livre (no ttulo, no resumo, ou no texto integral) ou ainda nos
resumos feitos com descritores. O operador pode solicitar, por exemplo,
que dois descritores estejam seguidos (1), que estejam em uma mesma
frase (2) ou que estejam separados um do outro por um n m e r o
determinado de palavras(3). Exemplos destes tipos de pesquisa: (1) a
lgica booleana. (2) a lgebra de Boole aplicada s lgicas de pesquisa
documental, e (3) a lgica de Boole. Neste caso a distncia que separa os
dois termos eqivale a uma palavra;
3. a troncatura, que permite pesquisar uma palavra, em um grupo de
letras, sem levar em conta seus prefixos ou sufixos. Por exemplo, na lista
de descritores, Documento, Documentalista, Documentao,
Documental, se a pesquisa feita pelo termo Documento, todos os
documentos indexados por um destes descritores acima sero
recuperados;
308
A pesquisa da informao
4. a extenso, que permite completar uma equao de pesquisa pela
juno de um termo genrico, especfico ou vizinho. Exemplo:
(Regulamentao + TE) ET (Pas tropical). O computador traduzir por
(Regulamentao ou Legislao ou Norma) e (Pas tropical):
5. a comparao numrica, que permite fazer pesquisas de acordo com
critrios quantitativos. Exemplo: so solicitados os documentos publicados
a partir de 1976, ou a uma data de publicao maior que 1976.
De acordo com as circunstncias, o procedimento de pesquisa pode
tomar diversas formas. Entre elas dlstinguem-se a pesquisa direta, feita
pelo prprio usurio nas fontes que se encontram sua disposio e a
pesquisa delegada, feita por um especialista de informao por solicitao
do usurio.
Pode-se distinguir ainda, a pesquisa que comea por identificar os
documentos e/ou as fontes, de onde sero obtidas as informaes, em
uma segunda fase; e a que consiste em obter estas informaes diretamente
de um especialista, de um organismo ou de um banco de dados (sem
acessar os documentos primrios). Na prtica, todas estas modalidades
so utilizadas.
Nas unidades de informao a pesquisa feita por meio de um
subsistema (ndice ou fichrio) que d acesso a um documento primrio.
Etapas da pesquisa
As principais etapas da pesquisa de informao so as seguintes (ver
figura 25):
- tomada de conscincia e definio de uma necessidade de informao
pelo usurio (assunto, prazos, tipos de documentos ou de informao
desejados, modo de comunicao, lnguas);
identificao das fontes;
- comunicao da questo. Se necessrio, e se possvel, usurio
eespecialista de informao discutem a demanda para precisar ao mximo
todos os seus aspectos;
- identificao das fontes secundrias mais apropriadas (bibliografias,
catlogos e repertrios, entre outros);
- formulao da questo na linguagem documental de cada fonte
escolhida e determinao das estratgias e das equaes de pesquisa
(ordem e combinao dos descritores) mais apropriadas em funo
da organizao de cada fonte secundria;
pesquisa das citaes no subsistema de pesquisa de
informao(manipulao dos fichrios). Se necessrio, modificao da
estratgia de pesquisa, de acordo com os resultados intermedirios
obtidos;
recuperao das referncias bibliogrficas e, eventualmente, dos
documentos primrios que correspondem s citaes recuperadas;
A pesquisa da informao
seleo das referncias mais pertinentes em funo das
especificaes da demanda e das suas caractersticas principais (assunto)
ou secundrias (data, lngua e tipo de documento.);
- comunicao dos resultados da pesquisa ao usurio;
- verificao da validade da resposta pelo usurio e, se necessrio,
formulao de uma nova pesquisa;
comunicao ao usurio dos documentos primrios selecionados;
- extrao das informaes que o usurio necessita, nos documentos
primrios;
- apreciao da pertinncia da resposta e da eficcia do servio obtido
pelo usurio, e comunicao desta opinio unidade de informao;
registro final da demanda e da opinio do usurio pela unidade de
informao.
No caso de uma pesquisa direta, o usurio executa ele mesmo todas as
operaes ou a maioria delas. A unidade de informao limita-se a assisti-
lo, a lhe indicar as fontes e a lhe fornecer os documentos. No caso de uma
pesquisa delegada, a terceira etapa, isto , a comunicao da demanda de
informao muito delicada. Quanto mais direto e confiante for o dilogo
entre especialista de informao e usurio, melhor ser o desenrolar da
pesquisa. Existem, na realidade, diversas causas de distoro da demanda.
Entre elas, pode-se citar as seguintes:
o usurio conhece mal suas necessidades de informao e se
exprime de forma confusa;
o usurio no indica, ou no quer revelar o objeto e as especificaes
de sua solicitao;
o usurio conhece mal as possibilidades da unidade de informao
ou as suas fontes documentais; ele pode pensar que as fontes c o b r e m
um campo mais amplo, ou que elas trazem informaes mais completas,
ou ainda que vo lhe fornecer uma resposta mais elaborada;
310
A pesquisa da informao
Principais causas de diferenas
Necessidade
Conhecimento da informao
disponvel
Conhecimento das fontes
Definio do problema
Reteno consciente e
inconsciente
expresso
Meio de Comunicao
Conhecimento do assunto
Conhecimento das
necessidades
Aptido ao dilogo
Expresso
Conhecimento de linguagem
Adequao de linguagem
Experincia de pesquisa
Lgica
Flixibilidade do sistema
Estrutura da base de dados
Capacidade do sistema
Adequao de base de dados
Validade dos julgamentos de
pertinncia
Adequao das questes
Validade dos julgamentos de
pertinncia
Conhecimento das fontes
Procedimento de seleo
Etapas da pesquisa
Existncia de uma
necessidade
Objetiva de informao
Necessidade de informao do
usurio
Necessidade de informao
formulado pelo usurio
em sua pergunta
Necessidade de informao
interpretada pelo especialista
de informao
Questo formulada em
linguagem documental
Equao de pesquisa
Desenrolar da pesquisa
Resultado intermedirio
Resultado final
Fontes selecionadas pelo
usurio
Informao obtida
Figura 25. Possibilidades de diferenas entre a necessidade de informao e os
resultados de pesquisa, revelados durante as suas diversas etapas
A pesquisa da informao
A pesquisa documental feita, muitas vezes, por uma srie de ensaios
e de erros. Quanto mais o usurio e o especialista de informao conhecem
as fontes documentais e quanto mais sistemtica for a pesquisa, melhores
sero seus resultados. Uma definio precisa e completa da demanda,
feita em tempo hbil, , na maioria dos casos, a chave do sucesso. Uma
questo bem colocada j est em parte resolvida.
Alm disso, uma pesquisa de informao no visa apenas obter
informaes; ela visa a explorao posterior das fontes em condies
precisas. Para tal, necessrio que estas condies sejam conhecidas.
conveniente saber, especialmente:
- quem faz a demanda;
que utilizao o usurio pretende fazer das informaes;
- de que prazo ele dispe;
- que documentos o usurio j conhece sobre o assunto e, de forma
geral, o que ele conhece sobre o assunto;
que lnguas ele conhece;
- de que forma ele prefere obter as informaes;
- que perodo e que zona geogrfica a questo cobre exatamente.
Os usurios podem formular perguntas de forma ambgua ou imprecisa
por vrias razes:
- em primeiro lugar, em relao descrio do assunto, que pode ser
muito amplo, ou muito restrito;
- em segundo lugar, em relao utilizao das informaes. O
mesmo assunto pode ser tratado diferentemente por documentos de
diversos tipos, onde cada um adapta-se melhor a um tipo de utilizao.
Por exemplo, um artigo que resuma as principais orientaes de um
plano de desenvolvimento econmico e social pode dar uma viso de
conjunto do assunto, mas no permite umaanlise econmica. Para tal,
consultar o plano original;
enfim, o usurio deve precisar as condies em que as informaes
sero utilizadas. Organizar uma bibliografia de cem referncias e procurar
os documentos correspondentes no tem nenhuma utilidade para o
usurio que necessita produzir, no prazo de 24 horas, uma nota de sntese
sobre o assunto.
A questo mais freqente: Que informaes voc tem sobre tal assunto?"
deveria ser formulada da seguinte maneira: Voc tem sobre tal assunto,
tal tipo de informaes que me permitam realizar um trabalho em tais
condies?"
O dilogo entre o especialista de informao e o usurio deve permitir
transformar a demanda do prime iro tipo no segundo tipo de frase e cercar
o assunto da forma mais precisa possvel.
O refinamento das questes designa todo o procedimento pelo qual,
independentemente da traduo dos termos da questo em linguagem
documental, o enunciado da pergunta modificado para afinar os resultados
esperados da pesquisa.
A pesquisa da informao
Esquematicamente, isto significa que pela formulao de uma pesquisa
podem ser obtidas muitas ou poucas referncias. Este fato no o nico
critrio de qualidade da pesquisa.
A reformulao da pesquisa pode ser feita nas primeiras fases, no seu
decorrer, ou aps uma primeira pesquisa, cujo resultado no foi satisfatrio.
Pode-se utilizar, para tal, diversos procedimentos:
acrescentar ou suprimir um descritor;
substituir um descritor por outro mais genrico ou por um mais
especifico:
- acrescentar, suprimir ou transformar um operador lgico, isto ,
modificar a equao de pesquisa. Por exemplo, substituindo o operador
E" pelo operador OU obtm-se mais referncias:
a supresso ou o acrscimo de uma relao, quando o sistema prev
este tipo de utilizao:
a utilizao de troncaturas (conforme explicado anteriormente
neste captulo);
a subdiviso das questes em vrios subconjuntos autnomos.
Quanto mais estruturada for a linguagem documental, mais fceis as
mudanas.
Alguns procedimentos de automao foram elaborados para melhorar
o resultado das perguntas, mas elas so limitadas pela natureza subjetiva
dos julgamentos de pertinncia. Os sistemas de pesquisa automatizados
em linguagem conversacional aceleram e facilitam este processo.
A indexao das perguntas deve ser realizada de acordo com o processo
geral da descrio de contedo (ver o captulo A descrio de contedo").
necessrio encontrar, na linguagem documental, os descritores cujo
nvel de preciso corresponda ao nvel dos termos da questo, e que
enfoque bem as noes procuradas, de acordo com a estrutura prpria da
linguagem documental. Na maior parte dos casos, deve-se consultar as
listas sistemticas. Se feita uma pergunta sobre a produo de arroz, por
exemplo, pode-se localizar um descritor Arroz" na classe das plantas e um
descritor Agricultura", na classe de produo vegetal. Neste caso, o
segundo descritor que dever ser utilizado.
Enquanto a indexao dos documentos consiste, de certa forma, em
desmontar ou desarticular o assunto para faz-lo entrar nas diversas
categorias, a indexao das questes consiste em montar ou recompor o
enunciado do assunto a partir dos elementos dispersos. Desta forma,
utilizam-se diversos descritores para delimitar corretamente uma noo
^oberta por um nico termo da questo.
313
A pesquisa da informao
Perfil do usurio
O perfil de um usurio uma equao de pesquisa (conjunto estruturado
de descritores) que exprime as informaes que ele deseja receber
regularmente de um servio de difuso seletiva de informao (DSI)
durante um perodo determinado.
Existem perfis individuais que correspondem s necessidades de uma
pessoa e perfis coletivos (ou perfis de grupo), que correspondem s
necessidades essenciais de um grupo de pessoas que tem um tipo de
atividade bastante semelhante. Os perfis coletivos so evidentemente
menos precisos, mas so mais baratos. Para cada base de dados bibliogrfica
devem ser estabelecidos perfis especiais que variam de acordo com a
organizao e com a linguagem da base.
A elaborao de um perfil no difere fundamentalmente da elaborao
de uma equao de pesquisa comum. Mas como o perfil deve ser usado
repetidamente durante um largo perodo de tempo, devem ser tomadas
precaues especiais. Se fosse necessrio modific-lo cada vez que feita
uma pesquisa, esta operao perderia o seu sentido. Um perfil muito
limitado corre o risco de no encontrar respostas em cada pesquisa, mas
ele deve permitir selecionar um nmero no muito elevado de documentos
pertinentes.
Algumas vezes, o prprio usurio que elabora seu perfil com a ajuda
de um manual fornecido pela unidade que presta o servio de DSI. Mas,
na maioria dos casos, o perfil elaborado por um especialista da
informao especialmente treinado para tal. A partir de uma entrevista
detalhada com o usurio, o documentalista faz alguns ensaios de perfil
que submete sua apreciao. O perfil ento utilizado durante um
perodo de experincia, depois revisado em funo dos resultados obtidos
e finalmente adotado.
Cada envio de resultados acompanhado de um pedido de avaliao
que permite corrigir os problemas eventuais do perfil. O usurio pode
solicitar que seu perfil seja modificado medida que seus interesses
evoluem. Uma ou duas vezes por ano a unidade de informao verifica, por
uma entrevista, se o perfil ainda satisfatrio e se est de acordo com as
necessidades do usurio.
Os pontos de acesso so as diversas caractersticas de uma informao
ou de um documento, a partir das quais a pesquisa e a seleo podem ser
feitas. Estes pontos so expressos pelo usurio em sua questo, pelas
indicaes que ele d sobre o assunto, como as datas, a regio geogrfica,
o tipo de documento procurado e a lngua. Eles so estabelecidos em
funo do nvel de detalhe da descrio bibliogrfica e da descrio de
contedo, e em funo do nvel de detalhe permitido pelo subsistema de
pesquisa. Estes pontos referem-se em geral aos assuntos tratados; data
das informaes ou dos documentos; regio geogrfica; ao autor; e ao
A pesquisa da informao
tipo de documento e do tratamento dos assuntos. Estas informaes
podem referir-se ainda lngua, ao volume, acessibilidade, ao nmero
de relatrio ou de patente, e ao local de publicao.
Alguns subsistemas de pesquisa operam apenas a partir de um nome
de autor e da indexao. Outros podem utilizar qualquer elemento da
referncia bibliogrfica, inclusive o resumo. Alguns sistemas admitem
apenas um nmero limitado de pontos de acesso no conjunto da questo
ou por categoria. O registro das perguntas pela unidade de informao
pode ter vrias funes importantes:
no repetir inutilmente pesquisas j realizadas;
fazer estatsticas sobre o funcionamento do servio;
fornecer uma base para a avaliao das operaes de pesquisa e
para a anlise do seu desenvolvimento e de sua eficcia;
- fornecer uma base para o desenvolvimento da linguagem de
indexao adotada, para a identificao das necessidades e para a escolha
dos produtos.
Para tal, o registro deve comportar o maior nmero possvel de
informaes, sem impor problemas excessivos aos usurios e aos tcnicos.
Estas informaes so as seguintes:
- a origem da demanda, isto , a identificao do solicitante, a data,a
forma de transmisso e a utilizao prevista para as informaes;
a formulao original da demanda pelo usurio;
- a traduo da demanda em linguagem documental e a estratgia
debusca;
as bases de dados ou as fontes utilizadas;
- o tempo despendido em cada etapa da operao;
o resultado da busca, isto , a identificao dos documentos
selecionados ou das fontes indicadas e a forma de resposta que pode ser,
por exemplo, o fornecimento dos documentos ou a organizao de uma
sntese;
a avaliao do usurio.
Pode-se utilizar um formulrio nico que preenchido pelo usurio e
pelo especialista, e que serve, ao mesmo tempo, como documento de
trabalho e como documento de arquivo. Pode-se organizar um fichrio de
perguntas que ser tratado como os fichrios de documentos para acelerar
as operaes de pesquisa, e verificar se j no foi efetuada uma pesquisa
similar.
O usurio pode avaliar o procedimento de busca e seus resultados. Para
valiar o procedimento, ele pode levar em considerao o esforo despendido,
o tempo de resposta, adequao e a forma de resposta. Para avaliar os
resultados ele pode levar em considerao a pertinncia das informaes
que lhe foram fornecidas, a proporo de informaes novas que recebeu,
a proporo de informaes inadequadas e as razes desata inadequao.
315
A pesquisa da informaao
Tipos de pesquisa
Os instrumentos de pesquisa podem ter vrias formas. Podem ser
fichrios manuais tradicionais, ou arquivos automatizados que permitam
pesquisas on-line. Embora a organizao material e intelectual dos
arquivos manuais e automatizados implique tcnicas de pesquisa
diferentes, os procedimentos fundamentais so os mesmos.
A pesquisa em um catlogo tradicional em fichas deve ser feita a partir
de um nico critrio de pesquisa de cada vez, comeando pela noo mais
importante, a partir das remissivas. De acordo com o critrio de pesquisa,
sero utilizados o de autores, o de ttulos, o de assuntos ou o geogrfico.
Uma pesquisa em um ndice ou catlogo publicado efetua-se da mesma
forma que nos catlogos em fichas. Ela ser mais rpida quanto mais
organizado for o ndice. Em geral, este tipo de pesquisa longo e cansativo.
Nos dois casos deve-se pesquisar os descritores que correspondem aos
termos significativos da questo (como, por exemplo, Regulamentao e
Pases tropicais), examinar todas as fichas ou referncias que se encontram
sob estas entradas, depois selecion-las, eliminando os documentos no
pertinentes. As remissivas do tipo Regulamentao ver tambm
Legislao", podem complicar a busca. Deve-se iniciar a pesquisa pelas
entradas que tenham o maior nmero de documentos, e deve-se verificar
todos os dados, como data e lngua.
A pesquisa no sistema unitermo bem mais rpida. Neste sistema cada
descritor tem uma ficha onde se encontram os nmeros dos documentos
indexados com este descritor. Os nmeros remetem a um catlogo
bibliogrfico, que traz as informaes que permitem recuperar os
documentos. A partir da, verificam-se os documentos. A pesquisa feita
em trs tempos, mas a comparao dos nmeros nas fichas relativas ao
descritor pertinente bastante rpida. Os nmeros so registrados em dez
colunas, a partir do ltimo algarismo.
No exemplo precedente regulamentao da construo de prdios
residenciais em pases tropicais, excluindo os procedimentos
administrativos e relativa a documentos posteriores a 1976, excetuando
os documentos em lngua inglesa", a pesquisa consiste em:
- selecionar as fichas dos descritores relativos aos termos da questo:
selecionar os nmeros comuns s diversas fichas: 71, 88 e outras;
selecionar a ficha: procedimentos administrativos;
- verificar se nesta ficha se encontra um dos nmeros comuns s
outras fichas. Se este for o caso, este nmero deve ser eliminado
(ver figura 26).
Os nmeros restantes so os relativos aos documentos pertinentes.
Mas a pesquisa deve ser afinada, eliminando-se os documentos anteriores
a 1976 e em lngua inglesa. Devem ser eliminados ainda os documentos
de difuso limitada, se este for o caso.
A pesquisa da informao
Regulamentao
1
71
144
88
Construo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71 25
88
Pases Tropicais
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43 88
Fi gu ra 26. Exemplo de p esqu i sa e m um c atlogo unitermo.
A pesquisa em fichrio por coincidncia tica (do tipo Selecto ou Peek-
a-boo) tem o mesmo princpio. Cada ficha traz um descritor. O nmero do
documento perfurado em funo de suas coordenadas numricas (ver as
ilustraes do captulo As instalaes e os equipamentos").
A pesquisa consiste em extrair do fichrio as fichas correspondentes
aos descritores utilizados na equao de busca e a sobrep-los em frente
de uma fonte de luz. As perfuraes comuns aparecem nitidamente. So
os nmeros dos documentos indexados com o conjunto de descritores
desejados. A pesquisa rpida e simples.
Pesquisa automatizada
A pesquisa no computador deve ser adaptada s caractersticas prprias
do equipamento (notadamente sua potncia, que permite explorar em
pouco tempo grandes arquivos), mas no plano conceituai, isto , no que
concerne a sua estratgia, ela semelhante pesquisa manual.
As situaes diferem de acordo com as seguintes caractersticas: tipo de
acesso utilizado, que pode ser direto ou indireto: tratamento utilizado, em
conversacional ou em batcfc, tipo de base de dados utilizada, isto , uma
base de dados prpria ou uma base de dados de uma rede informatizada:
tipo de pesquisa: retrospectiva ou para uma difuso seletiva da informao,
tipo de resposta ou de produto que se pretende obter: por exemplo, um
boletim informatizado ou uma resposta isolada.
Nos casos do tratamento em batch, a unidade de informao utiliza o
equipamento durante um perodo predeterminado. Por esta razo, as
equaes de pesquisa devem ser preparadas com antecedncia, pois elas
A pesquisa da informao
sero tratadas em conjunto, isto , por lote. Neste caso, no possvel
modificar imediatamente a pesquisa se a resposta no for satisfatria.
Qualquer erro representa uma demora suplementar ao usurio.
Ao contrrio, quando a unidade utiliza acesso on-line, isto , acesso
direto ao computador, as equaes de pesquisa podem ser modificadas em
funo dos resultados. necessrio, entretanto, conhecer bem a base de
dados e a linguagem documental utilizada, pois as tentativas e hesitaes
aumentam o tempo de pesquisa, e conseqentemente os custos. Na
prtica, prefervel preparar com antecedncia as estratgias de busca.
Em um tratamento por lote, a pesquisa das questes referentes a um
mesmo acesso feita em conjunto. Este processo no permite que sejam
feitas adaptaes durante a pesquisa, mas permite diminuir o tempo de
utilizao do computador, e o seu custo. Se se utiliza uma base de dados
da prpria unidade de informao, a organizao e os meios de acesso so
conhecidos. Neste caso, pode-se fazer o acesso diretamente. Entretanto,
quando um sistema explora vrias bases de dados, existem diferenas de
estrutura, de linguagem e de formas de acesso. A mesma questo dever
ser formulada de acordo com as particularidades de cada base. Neste caso,
necessrio familiarizar-se com cada uma delas. Esta dificuldade poderia
ser comparada dificuldade de conversar com vrias pessoas em vrias
lnguas, ao mesmo tempo. Para o acesso em rede, necessrio executar
os procedimentos de acesso e os comandos prprios do sistema para
depois executar as operaes de pesquisa.
Em uma pesquisa retrospectiva, deve-se comparar um grande nmero
de registros com um pequeno nmero de descritores. Para uma difuso
seletiva da informao, utiliza-se uma base de dados pequena e um
nmero relativamente grande de descritores. Estes tipos de pesquisa
exigem lgicas de tratamento e de organizao diferentes.
Para produzir um boletim bibliogrfico com um nmero grande de
referncias, no possvel fazer entradas por todos os pontos de acesso,
pois o ndice se tornaria muito extenso. Por esta razo, deve-se limitar-se
aos pontos de acesso mais gerais. As limitaes relativas ao programa de
edio influenciam tambm na preparao do boletim bibliogrfico. Em
uma pesquisa isolada, ao contrrio, utiliza-se toda a riqueza da base de
dados e do sistema.
Alm disso, em alguns sistemas automatizados, a pesquisa pode ser
feita apenas em alguns campos de dados, pela utilizao de um nmero
fixo de pontos de acesso e de operaes lgicas. Os resultados de uma
pesquisa automatizada diferem conforme o tipo de arquivo utilizado:
arquivo seqencial ou invertido e conforme o tipo de sistema: conversacional
ou em batch.
A pesquisa em arquivo seqencial consiste em comparar cada equao
de pesquisa com os pontos de acesso que figuram nos registros
bibliogrficos. Estes registros so classificados por ordem de entrada.
A pesquisa da informao
Desta forma, deve-se ler integralmente cada notcia do arquivo para fazer
a pesquisa. Os registros que respondem questo so extrados do
arquivo seqencial e transcritos em um arquivo de trabalho para serem
selecionados e depois impressos. Quanto maior for o arquivo, mais longa
ser a pesquisa.
A pesquisa em arquivo invertido (ver figura 27) consiste em comparar
cada um dos pontos de acesso que figuram nas questes, com os pontos
do arquivo invertido a partir das informaes dos registros bibliogrficos.
O arquivo invertido tem a lista de todos os pontos de acesso existentes na
base de dados e admitidos pelo sistema, organizados geralmente em
ordem alfabtica. Cada arquivo traz o nmero de identificao dos
registros dos documentos relativos a esta entrada. Os registros bibliogrficos
encontram-se em um outro arquivo.
Pergunta
Regulamentao
e construo
Arquivo invertido
Contruo
71
Pas tropical
43
88
Regulamentao
25
71
Arquivo de trabalho
1 )7 1, 8 8
2) 25, 71, 88
1+2) 71,88
Arquivo Bibliogrfico
Doc. n 70
Doc. n 71
Doc. n 73
Doc. n 86
Doc. n 87
Doc. n 88
Doc. n 89
Resposta
Pergunta n..........
Regulamentao e construo
Doc. n 71
Doc. n 88
Figura 27. Pesquisa por meio de um arquivo invertido.
A pesquisa da informao
Neste momento da pesquisa criado um arquivo de trabalho com os
nmeros dos documentos que respondem a cada ponto de acesso. com
este arquivo que se efetuam as operaes lgicas estipuladas pelas
equaes de pesquisa. Os nmeros dos documentos selecionados permitem
extrair do arquivo geral os registros bibliogrficos que sero fornecidos ao
usurio. Esta operao , em geral, mais rpida do que a operao
precedente, mas a gesto dos arquivos mais complicada.
A pesquisa conversacional no computador realiza-se pelo acesso on
line, em geral por meio de um terminal com uma tela de visualizao. Neste
tipo de pesquisa, o usurio (ou seu intermedirio) pode dialogar com o
sistema, o que lhe permite adaptar, a qualquer momento, sua estratgia
de busca ou modific-la. A pesquisa fica naturalmente mais cara quanto
mais longa e quanto mais incerta for a sua trajetria.
Depois de preparar a estratgia de busca, o usurio solicita a entrada
no sistema e na base de dados que lhe interessa. Ele buscar, a seguir, os
pontos de acesso que deseja e o sistema lhe indicar o nmero de registros
que existem em cada ponto. Neste momento, o usurio poder aplicar os
operadores lgicos e conhecer o resultado quantitativo de sua pesquisa.
Esta operao permite alargar ou afinar a formulao da questo com o
auxlio da linguagem documental acessvel tambm on-line. Esta operao
conhecida como processo interativo de pesquisa documental
(ver figura 28).
Aps uma operao elementar de seleo, como, por exemplo, a
pesquisa dos documentos indexados por um descritor ou pela combinao
de dois descritores, o usurio pode querer visualizar as referncias
correspondentes. A consulta a estas referncias pode ajud-lo a definir
melhor a sua questo, pelos pontos de acesso vizinhos ou ligados
hierarquicamente aos pontos utilizados anteriormente.
As etapas sucessivas da realizao da estratgia de busca so igualmente
conservadas na memria do sistema e podem ser consultadas a qualquer
momento.
Depois de feita a seleo, o usurio pode solicitar a visualizao das
referncias e finalizar o processo quando ele avalia que tem informaes
suficientes. Neste momento, a lista impressa.
A pesquisa em texto livre possvel em certos sistemas que permitem
selecionar as informaes desejadas em todos os dados de uma referncia
bibliogrfica e mesmo no texto integral do documento, ou em algumas
partes do mesmo, como o ttulo ou o resumo.
Em certos casos, os registros no so objeto de indexao no momento
da sua entrada no sistema. Em outros casos, feita uma indexao
utilizando uma linguagem documental e a pesquisa possvel em duas
etapas. Neste caso, a pesquisa em texto livre utilizada, em geral, para
aperfeioar a pesquisa por descritor.
Para fazer uma pesquisa em texto livre, deve-se identificar todos os
termos da linguagem natural que foram utilizados para exprimir as noes
A pesquisa da informao
Figura 28. Representao sistemtica de um procedimento de pesquisa.
A pesquisa da informao
dos termos da questo. Se a questo comporta, por exemplo, o termo
Imvel residencial, ser necessrio procurar tambm: Habitat, Alojamento,
Casa e outros. A seguir, forma-se a equao de pesquisa que deve ser
estruturada com um cuidado especial para limitar os riscos de confuso
prprios pluralidade de significados da linguagem natural e ao nmero
de termos. por esta razo que os sistemas utilizam, muitas vezes, alm
dos booleanos (E, OU e E NO), outros operadores lgicos como os de
vizinhana, de ocorrncia e a troncatura.
A pesquisa documental informatizada que permite o acesso aos dados
de um sistema de informao adquiriu maior importncia graas,
telemtica. Neste contexto, a pesquisa documental pode ser feita em um
nmero ilimitado de bases de dados, seja qual for a sua distncia. A
pesquisa distncia feita por meio de programas de interrogao e
assistida cada vez mais pelo computador. O desenvolvimento dos sistemas
de inteligncia artificial neste campo muito grande (ver o captulo A
unidade de informao e as novas tecnologias").
O programa de interrogao
O programa de interrogao permite dialogar com o sistema, isto ,
interrogar uma base de dados, para encontrar a informao procurada.
Este dilogo se faz por uma linguagem de comando. Esta linguagem
permite efetuar, no arquivo interrogado, os procedimentos ou as etapas de
pesquisa. Cada procedimento efetuado por uma instruo ou por um
comando. Cada comando tem um papel ou uma funo na pesquisa.
Existe um grande nmero de programas de interrogao. Os mais
conhecidos so os desenvolvidos pelos servios de bases de dados como
Dialog (Knight Ridder), Orbit (SDC-Infoline), Quest (ESA/IRS), BRS/
Search (Synorg).
As funes de um programa de interrogao podem ser reagrupadas em
grandes famlias:
- programas de gesto: utilizados para acessar as bases de dados
disponveis, para trocar de base, e para finalizar a interrogao;
- programas de pesquisa utilizando os operadores booleanos, a
troncatura e os operadores de distncia;
- programas de auxlio pesquisa. Esta funo desenvolve-se cada
vez mais. Os servios de acesso s bases de dados do uma assistncia
cada vez maiorao usurio, possibilitando o armazenamento das pesquisas
e a pesquisa simultnea em vrios arquivos, entre outras facilidades;
programas de edio das referncias bibliogrficas em linha ou em
batch,
- programas de visualizao do documento original on-line.
A interrogao de bancos de dados distncia, por programas de
utilizao cada vez mais simples, suscita a questo de formao do
A pesquisa da informao
usurio e o do futuro das profisses de informao. O usurio final pode
realizar sua pesquisa documental sem nenhum auxilio? Ou ele necessita
de um intermedirio? Com respeito a este problema existem dois
argumentos opostos:
- o argumento tcnico: como os sistemas se simplificam cada vez
mais, o usurio final no necessita do conhecimento tcnico do
documentalista. Ele pode buscar e recuperar sozinho a informao que
necessita. Pode-se, ento, prever, em pouco tempo, o desaparecimento do
intermedirio humano.
o argumento intelectual: a pesquisa da informao nos sistemas
modernos no se baseia apenas em conhecimentos tcnicos. Face em face
do fluxo crescente de informaes, o usurio tem cada vez maisdificuldade
em encontrar a informao pertinente. Por esta razo, ele recorre a um
intermedirio. O documentalista torna-se um especialista na seleo
e na avaliao das informaes. O usurio final espera receber do
documentalista apenas as informaes que lhe sero realmente teis.
(Ver os captulos O usurio e A profisso).
Questionrio de verificao
O que um procedimento de pesquisa?
Cite os principais procedimentos de pesquisa.
O que um perfil de usurio?
Qual a diferena entre acesso seqencial e acesso direto?
Quais so as caractersticas da pesquisa conversacional com o
computador?
Quais so os trs tipos de ligaes possveis entre os descritores que
caracterizam uma pesquisa?
Quais so as principais funes de um programa de interrogao?
Bibliografia
BARES, M. La recherche documentaire dans lecontexte tlmatique, 2 d.
Paris, Lavoisier, 1984.
BERTRAND, R. et HENRIOT, E. Mobi-doc : tude comparatiue des
progiciels de recherche documentaire pour micro-ordinateur. Paris,
DBMIST, 1983.
CHAUMIER, J. L accs automatis Vinformation informatique documentaire
et bases de donnes. Paris, Entreprise modeme d'dition, 1982.
CHEN, C. C. et SCHEIZER, S. On line bibliographie searching: a learning
manual. New York, Neal-Schuman Publishers, 1981.
323
A pesquisa da informao
DEWEZE, A. L'accs en ligne aux bases documentaires. Paris, Masson,
1983.
Document retrieval: sources and services, 2Qd. San Francisco. The
Information Store, 1982.
DORE, D. ; DOU, H. et HASSALANY, P. Connaltre et utiliser le banques de
donnes. Paris, Centre dinformation des banques de donnes, 1981.
(Ouvrage de vulgarisation.)
HENRY, M. Onlinesearching:anintroduction. London, Butterworth, 1980.
HOOVER, R. E. On line search strategies. White Plains (N.Y.), Knowledge
Industry, 1982.
JONES, K.-P. Intelligent information retrieval. Londres, Aslib, 1984.
KOCHEN, M. Principies o f information retrieval. New York, Wiley, 1984.
LANCASTER, F. W. Information retrieval on-line. Los Angeles, Melville
Publishing Co., 1973.
National on line meeting, proceedings, New York, May, 5.7.1987, New York,
Learned information, 1987.
SALTON, J. et McGILLL, M. J. Introduction to modem information retrieval.
New York, Mac Graw Hill, 1983.
VICKERY, B. C. Techniques o f information retrieval. Londres, Butterworth,
1970.
WOOD, F. E. Guidelines f o r teachers o f on line information retrieval Paris,
Unesco, 1988. (Doc. PGI-88/WS/7.)
324
A avaliao dos
sistemas de
armazenamento
e de pesquisa de
informao
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de informao
consiste em medir os diversos parmetros que exprimem a capacidade de
um sistema em recuperar os documentos ou as referncias que respondem
s questes que lhe foram feitas. Toda pergunta feita ao sistema recebe,
em geral, uma resposta. O primeiro dado a ser conhecido a eficcia do
sistema: a resposta foi to completa, exaustiva e pertinente quanto
possvel? O segundo dado o custo desta eficcia ou a avaliao de custo-
eficcia: em que condies possvel diminuir o custo e aumentar a
eficcia do sistema? O terceiro ponto consiste em saber se as vantagens
obtidas pelo servio justificam o seu custo. a avaliao de custo-
beneficio. As avaliaes podem ter como objetivo precisar como funciona
o sistema ou determinar porque ele funciona de determinada forma, o que
, na prtica, mais interessante.
Medidas de eficcia
As medidas de eficcia so apresentadas na figura 29. As principais so
o ndice de preciso e o ndice de revocao.
O ndice de revocao a proporo de documentos pertinentes
recuperados em relao ao total dos documentos pertinentes existentes
no sistema. Se, por exemplo, em uma base de dados de 100 referncias,
20 respondem a uma questo, mas o sistema recupera somente 15,
omitindo cinco, o ndice de revocao de 15/20, ou seja, de 75%. Os
documentos pertinentes que no foram recuperados constituem o silncio.
O ndice de preciso ou pertinncia a proporo de documentos
relativos ao conjunto de documentos fornecidos pela pesquisa. Por exemplo,
se uma pesquisa recupera 40 referncias, das quais 15 so pertinentes,
a taxa de preciso de 15/40, ou seja, de 37,5%. Os documentos no-
pertinentes recuperados representam o rudo.
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de informao
Revocao e preciso so qualidades contraditrias. Quanto mais
precisa for a pesquisa, maior o risco de que ela no recupere os
documentos descritos com termos mais gerais, mas que podem ter relao
com o assunto solicitado. Desta forma, a revocao diminui e o silncio
aumenta. Inversamente, quanto menos precisa for a pesquisa, para
recuperar o maior nmero possvel de documentos relacionados com o
assunto, maior o risco de recuperar ao mesmo tempo, documentos no-
pertinentes, o que significa um aumento de impreciso e de rudo. A
relao revocao-preciso representada por uma curva como mostra a
figura 30.
Documentos
recuperados
Silncio
A Resposta correta recebida
B Rudo
Documentos
no-pertinentes
Silncio
Documentos
pertinentes
Documentos
no-pertinentes
Figura 29. Principais parmetros de avaliao de um sistema de pesquisa.
Figura 30. Curva de desempenho.
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de informao
As outras medidas de eficcia so:
- a rejeio, isto , a proporo de documentos no-pertinentes
recuperados em relao ao nmero total de documentos no
pertinentes existentes na base de dados;
- a seletividade, isto , a proporo de documentos no-pertinentes
eliminados com relao ao conjunto de documentos no-pertinentes.
Estes dois ndices indicam a capacidade que o sistema tem de limitar o
rudo;
- a especificidade, isto , a proporo de documentos pertinentes em
relao ao conjunto de documentos. Este fator influencia diretamente
a pesquisa, na medida em que quanto mais documentos a coleo
tiver fora do campo da questo, mais aumentam os riscos de rudo
e de silncio;
- o tempo de resposta, isto , o tempo ocorrido entre a solicitao de
uma pesquisa e a obteno da resposta. Se o sistema tem ndices de
revocao e de preciso de qualidade igual, quanto mais curto for
o tempo de resposta, mais satisfatrio o sistema;
- o esforo do usurio, expresso pelo tempo que ele passa fazendo sua
pesquisa diretamente ou negociando sua pesquisa com o sistema,
e, ainda o tempo que o usurio passa separando os documentos
pertinentes dos no-pertinentes; quanto menos esforo o usurio
tiver que fazer nestas atividades, mais satisfatrio o sistema;
- a cobertura, isto , a proporo de documentos includos na base de
dados que se referem ao assunto solicitado. Ainda que,
excepcionalmente, a taxa de revocao seja de 100%, provvel que
o sistema no tenha todos os documentos existentes. Se ele tiver
50% dos documentos existentes sobre o assunto, o que difcil de
determinar com preciso, a pesquisa estar 50% completa:
a novidade, isto , a proporo de documentos recuperados que no
so conhecidos do usurio. Quanto mais elevado for este ndice,
mais o sistema cumpre o seu papel fundamental. Este critrio
particularmente importante para as pesquisas em curso de
realizao.
Os mtodos de avaliao de desempenho do sistema so escolhidos em
funo do tipo de sistema, dos seus objetivos e das condies nas quais
feita a avaliao.
Na realidade, pode-se avaliar pesquisas efetuadas em diferentes sistemas
ou produtos documentais, ou os prprios servios e produtos como
instrumentos de pesquisa.
O tempo de resposta e o esforo dispendido pelo usurio podem ser
facilmente observados e registrados com a participao do mesmo. Os
usurios podem indicar a preciso e a novidade pela avaliao de cada
referncia recuperada em resposta a uma questo. Na medida do possvel,
deve-se conhecer a razo dos seus julgamentos. O clculo do ndice de
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de Informao
revocao mals delicado, a menos que se trabalhe com casos artificiais.
Um mtodo simples de avaliar este ndice consiste em solicitar que vrias
pessoas faam uma mesma pesquisa, verifiquem os resultados e compare-
os com a pesquisa inicial. Estas aproximaes por comparao podem ser
feitas igualmente para verificar a cobertura do assunto, buscando, por
exemplo, em uma base de dados ou em um produto do sistema os vrios
documentos relacionados na bibliografia de vrios artigos de sntese
importantes.
Existem Inmeros estudos nesta rea que podem fornecer orientaes
teis. conveniente escolher mtodos de avaliao que tenham relao
com o objeto das pesquisas, na medida em que estes mtodos possam
aperfeioar o sistema.
Por outro lado, a pertinncia uma noo controvertida medida que
ela exprime um julgamento individual do usurio, cujo fundamento nem
sempre explcito. Entretanto, este julgamento que determina a satisfao
do usurio.
Principais causas de deficincia
do sistema
As principais causas de deficincia dos sistemas de armazenamento e
pesquisa de informao so, em geral, estudadas com relao a dois
critrios principais de desempenho do sistema: a revocao e a preciso.
As falhas podem ser conseqncia da linguagem documental, da descrio
de contedo, do procedimento de pesquisa, da interao entre usurio e
sistema, do emprego do equipamento, de erros materiais e do atraso na
entrada de novas informaes no sistema.
Os erros materiais variam muito de um sistema a outro. Podem ser
erros de transcrio das referncias bibliogrficas, ou das equaes de
pesquisa (esquecimentos ou grafia errada), ou erros de classificao.
Os problemas relativos ao emprego do equipamento no so, em geral,
Importantes. Eles podem ser relativos ao prprio material como o acesso
errado aos arquivos, ou os erros nos procedimentos de pesquisa.
A deteriorao dos suportes, a sua utilizao e a manuteno precria dos
arquivos tambm podem causar problemas.
Os problemas relativos interao entre usurio e sistema e s decises
pessoais do usurio so numerosos, e dificilmente controlveis e
remediveis. Se a demanda for mais especfica que a necessidade real de
informao, a revocao ser insuficiente. Se, ao contrrio, a demanda for
muito genrica, a preciso ser insuficiente. Isto depende, ao mesmo
tempo, da coerncia da formulao da demanda pelo usurio, dos meios
de comunicao entre o sistema e o usurio e dos meios empregados pelo
pessoal do sistema para determinar as necessidades do usurio. Alm
disso, o usurio pode rejeitar, porque julga inapropriados, alguns
documentos que correspondem exatamente sua solicitao.
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de informao
O atraso na entrada de informaes novas no sistema pode ser um fator
de problemas. As Informaes econmicas e financeiras de atualidade e as
informaes sobre tecnologias de ponta com mais de seis meses, por
exemplo, no tm nenhum valor.
A linguagem de Indexao pode ser a causa de problemas de revocao
se ela no possuir termos especficos como descritores ou como sinnimos
controlados, se a sua estrutura hierrquica ou se as suas relaes forem
Inadequadas ou ainda se os Indicadores de sintaxe levarem a uma
preciso excessiva. A linguagem pode provocar falta de preciso se os
descritores no forem suficientemente especficos, se a sua hierarquia for
insuficiente, e ainda se as suas pr-coordenaes ou as suas relaes
forem incorretas.
A descrio de contedo pode provocar uma baixa revocao por falta
de especificidade, e de exaustividade, por omisso de conceitos importantes
ou ainda pelo emprego de termos inadequados. Se a descrio de contedo
for multo exaustiva, ou ainda se utilizar termos Incorretos, ela pode
provocar uma baixa preciso.
A equao de pesquisa pode conduzir a uma baixa revocao se no
cobrir todos os aspectos da questo ou se sua formulao for muito
especfica ou muito exaustiva. Ela pode conduzir a uma baixa preciso, se
no for suficientemente especfica e exaustiva, e se utilizar termos ou
combinaes de termos inadequadas e se a sua lgica no estiver correta.
Os sistemas de informao automatizados e/ou acessveis distncia
tm problemas especficos de avaliao, relacionados principalmente com
as tecnologias utilizadas. A confiabilidade, a acessibilidade e a segurana
constituem um conjunto de critrios importantes: os Incidentes ligados
informtica, como, por exemplo, a saturao do computador, as dificuldades
de conexo e a desconexo acidental so ainda freqentes. Alguns
problemas de tempo intervm igualmente, como longas esperas na conexo
com o sistema e na obteno de respostas. A ergonomia dos programas
utilizados pode ser determinante. Entretanto, o problema essencial
ainda o acesso documentao primria. Os arquivos Interrogados
fornecem dados bibliogrficos. necessrio que o usurio possa ter
acesso aos documentos primrios. A solicitao on-line e o fornecimento
eletrnico de documentos so solues que esto sendo desenvolvidas,
mas esto acessveis apenas em alguns sistemas.
Avaliao dos custos
Uma das tarefas mais complexas de gesto de uma unidade de
informao determinar os gastos em todas as etapas. Esta determinao
dos gastos deve ser efetuada a partir da anlise dos custos. Pode-se
distinguir os custos de equipamento que devem ser sistematicamente
objeto de estudos de oportunidade e os custos de funcionamento.
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de informao
Os elementos de custo de um sistema de armazenamento e de pesquisa
compreendem: os gastos referentes s operaes de aquisio, de
tratamento e de armazenamento ou de produo das informaes
secundrias: os gastos com a criao e manuteno do sistema de
pesquisa; os gastos com o tratamento das questes e com a utilizao dos
equipamentos; os gastos de impresso e de comunicao dos resultados;
e os gastos com a verificao e com a seleo dos documentos pertinentes.
Em primeiro lugar aparecem os gastos com pessoal, que podem ser
estudados em funo do tempo requerido para cada operao. Devem ser
tambm contabilizados os gastos com material para a locao ou para a
amortizao do equipamento de armazenamento e de pesquisa e sua
utilizao (faturao do tempo da mquina), assim como os equipamentos
de entrada dos dados, de impresso e de comunicao, como, por exemplo,
a locao das linhas telefnicas. As unidades de informao que acessam
bases de dados distncia ou que utilizam meios de telemtica devem
estar particularmente atentas a estes custos. Os gastos com material
documental mais importantes so os gastos com os documentos primrios
e com as bases de dados. Finalmente, os gastos gerais como os gastos com
local, seguro, manuteno, eletricidade e servios gerais devem ser
repartidos proporcionalmente ao nmero de profissionais da informao
que executam as pesquisas, a menos que este servio funcione como uma
seo independente e que alguns destes gastos possam ser diretamente
alocados a esta seo. Os custos podem ser calculados a partir do registro
contbil das despesas globais e do registro das transaes, ou seja, o
tempo utilizado em cada pesquisa, o nmero de documentos tratados, o
nmero de pesquisas feitas e o nmero de referncias fornecidas.
A avaliao da relao custo-eficcia pressupe que o nvel de
desempenho e os custos do sistema tenham sido determinados. Aqui
cabem as perguntas: possvel melhorar o desempenho do sistema a um
custo aceitvel ou sem aumentar o seu custo? Ou ainda, possvel reduzir
os custos sem comprometer o desempenho do sistema?
aconselhvel definir uma unidade de custo que pode ser a pesquisa,
o perfil do usurio ou a referncia recuperada. Mas a unidade de custo
mais indicada a referncia bibliogrfica pertinente fornecida ao usurio.
Em geral, o custo cresce, em certa medida, de acordo com o nmero de
documentos tratados e sobretudo de acordo com a exaustividade da
pesquisa.
O custo pode ser reduzido mediante uma poltica de aquisio mais
rigorosa, fundamentada em um estudo de repartio de fontes entre as
referncias recuperadas.
Com relao descrio de contedo, possvel estimar, a partir de
ensaios, de amostragens de documentos e de questes analisadas, a forma
de melhorar o desempenho do sistema, aumentando, por exemplo, a
exaustividade.
330
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de informao
Quanto mais especifica for a linguagem documental, mais caros so seu
desenvolvimento e sua utilizao. Sua especificidade deve ser adaptada ao
nvel de desempenho desejado, levando em conta o tamanho atual e
previsvel da coleo. medida que a coleo aumenta, a linguagem deve
ser capaz de discrimin-la melhor.
possvel influenciar na organizao do servio, separando, por
exemplo, a pesquisa das outras funes ou, ao contrrio, Integrando-a a
outras funes. possvel, por exemplo, organizar o tempo que deve ser
utilizado na negociao das questes com o usurio, bem como o tempo
utilizado para examinar os resultados.
Desta forma pode-se estudar as operaes materiais de maneira a
descobrir os principais problemas.
Com relao ao equipamento, devem ser considerados os custos de
instalao, de amortizao e de utilizao, as operaes e os produtos do
sistema. Desta forma, um sistema que permita o acesso aos resumos dos
documentos pode tolerar um ndice de preciso menor, porque a escolha
das referncias pertinentes muito mals fcil e mais rpida do que em um
sistema que fornece apenas as referncias bibliogrficas.
possvel, em princpio, atingir o mesmo grau de desempenho por
procedimentos diferentes. Neste caso deve-se optar pelo procedimento
mais barato. Muitas vezes pode se obter redues de custo mais facilmente
no momento da entrada das informaes, mas necessrio verificar se
este procedimento no dificultar as operaes de pesquisa.
A avaliao da relao custo-beneficio sempre delicada porque os
benefcios resultantes de um servio de pesquisa so dificilmente
identificveis e mensurveis.
Pode-se, entretanto, comparar o custo do servio com o custo da
obteno das mesmas informaes por outros meios. A existncia do
servio pode tambm permitir a reduo do pessoal.
Se no for possvel fazer este tipo de avaliao, pode-se solicitar a
opinio dos usurios aplicando questionrios ou entrevistas, a fim de
conhecer o seu grau de satisfao em relao ao servio e aos benefcios
obtidos. Mas, o ideal realizar regularmente estudos de avaliao que
permitam verificar se o sistema funciona da melhor forma possvel para os
seus usurios.
A tcnica de gesto de anlise de valor comea a ser utilizada pelos
responsveis das unidades de informao, permitindo que os produtos e
os servios de informao sejam mais competitivos. Como possvel
oferecer um servio melhor por um custo menor? Como satisfazer melhor
os usurios? Como racionalizar os produtos ou servios existentes? Estas
so perguntas-chave para as quais a anlise de valor pode dar uma
resposta (ver o captuloA gesto e as polticas no nvel de uma unidade de
informao").
331
A avaliao dos sistemas de armazenamento e de pesquisa de informao
Questionrio de verificao
Qual o objetivo da avaliao de um sistema de armazenamento e
de pesquisa de Informao?
O que revocao?
O que rudo?
Quais so as causas principais do mau funcionamento de um sistema
de armazenamento e de pesquisa da informao?
O que mede a relao custo-eficcia?
Como pode-se avaliar o custo de um sistema de armazenamento?
Bibliografia
BSO referral test: paneis report 1983. (FID-Broad System of Orderlng). La
Haye, FID, 1985.
CLEVERDON, C. W. ; MILLS, J. et KEEN, M. Factors determining the
perfomance o f indexing systems. Cranfleld, College of Aeronautlcs
(Royaume-Unil), 1966.
Uuluation des bibliothques universitaire s. Ouvrage collectif sous la
direction de J.P. Clavel. Montral, Aupelf, 1984.
HARRISON, H. P. The archival appraisal o f sound recordings and related
materiais: a RAMP study wlth guldellnes. Paris, Unesco, 1987. (Doc.
PGI-87/WS/14.)
KING, D. W. et BRYANT, E. C. The evaluation o f information seruices and
products. Washington (D.C.), Information Resources Press, 1977.
LANCASTER, F. W. The measurement and evaluation o f library seruices.
Washington (D. C.). Information Resources Press, 1977.
LANCASTER, F. W. et PAYEN, E. G. Information retrieual and eualuation,
2 d. New York, Wiley Interscience, 1979. (Information sciences
series).
SARAVECIC, T. Consolidation de Vinformation : guide pour Vualuation, la
rorganisation et le reconditionnement de Vinformation scientifique et
technique. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-81/WS/16.)
UNESCO/UNISIST. Principes directeurs pour Vualuation des systmes et
seruices d information. Paris, Unesco, 1978. (Doc. PGI-78/WS/18.)
ZWIGIC, D. et RODGER, E. Output measures forpublic libraries: a manual
f o r standardizedprocedures. Chicago, American Library Associatlon,
1982.
332
Os tipos de unidades
de informao
e as redes
As instituies sociais contaram desde cedo com organismos especializados
na conservao e na organizao de documentos, com a finalidade de
permitir o acesso aos conhecimentos. Desde a Antigidade existem
bibliotecas e arquivos bem organizados. Estes organismos eram reservados
aos dirigentes e s pessoas instruidas. Sua clientela aumentou com o
progresso da organizao social e da instruo. At o sculo XX sua
atividade concentrou-se praticamente no tratamento de documentos.
A poca moderna traduz-se por um aumento e diversificao do nmero
de usurios, e paralelamente por um aumento rpido da oferta e da
demanda de informao, e pelo surgimento de novas tcnicas que permitem
trat-la de forma cada vez mais sofisticada.
Atualmente h uma proliferao de organismos especializados nas
atividades de informao que privilegiam outras funes da cadeia docu
mental, como a descrio de contedo dos documentos, a extrao e o
tratamento de dados e a difuso da informao. Estes organismos
destinam-se a grupos particulares de usurios e tm denominaes
variadas como centros de documentao, centros de informao e bancos
de dados.
Estas instituies oferecem servios que as distinguem dos organismos
tradicionais. Entretanto, alguns organismos tradicionais exercem tambm
atividades de informao. As unidades de informao so um conjunto
complexo. Tm diversas denominaes e atividades variadas. Pode-se
tentar classific-las em funo de diversos critrios.
O critrio mais importante a considerar o ramo de atividade de
informao ao qual a unidade dedica-se em prioridade. Simplificando,
pode-se considerar que existem trs ramos de atividades:
- a conservao e o fornecimento de documentos primrios (arquivos,
bibliotecas, mediatecas e museus):
Os tipos de unidades de informao e as redes
- a descrio de contedo dos documentos e sua difuso, bem como
a sinalizao das informaes e das fontes (centros e servios de
documentao);
- a resposta a questes pela explorao das informaes disponveis
e a sua avaliao e transformao (centros e servios de informao).
Estes trs ramos correspondem a tipos de produtos cuja elaborao
cada vez mais desenvolvida. Na prtica, esta distino torna-se muitas
vezes complicada porque toda unidade de informao deve ter ao menos
algumas atividades nestes trs ramos. Por esta razo existem, muitas
vezes, unidades de informao de carter misto.
Os outros critrios aplicam-se ao domnio no qual as unidades de
informao operam (como cincia e cultura, por exemplo) aos tipos de
documentos ou de fontes utilizadas e ao pblico que pretendem atingir.
Entretanto, se as unidades de informao privilegiam uma determinada
atividade, no excluem outras.
Na prtica, para responder s necessidades dos usurios, todo servio
de informao desenvolve atividades diversificadas que ultrapassam estas
classificaes. Ao mesmo tempo, devido s condies atuais das atividades
de informao e sua especializao relativa, os servios de informao so
cada vez mais interdependentes para poder fornecer aos usurios todos os
servios que eles necessitam. Esta interdependncia formaliza-se pelas
redes.
Unidades de informao especializadas
em documentos primrios
Os servios de informao especializados em documentos primrios
renem, organizam, conservam e pem disposio dos usurios estes
documentos, tal como se apresentam. Os usurios devem, em geral,
buscar nestes servios os documentos de que necessitam. Sua descrio
limita-se a uma identificao fsica e a indicaes geralmente sumrias do
seu contedo.
Estes servios esto abertos a pblicos variados. As formas de
comunicao dos documentos so bastante diversificadas. Tm geralmente
uma direo, servios tcnicos (como aquisio, catalogao, conservao
e atelis) e servios aos usurios (como emprstimo e servio de referncia).
Estas unidades oferecem cada vez mais novos tipos de servios como
reproduo de documentos, buscas retrospectivas (eventualmente por um
terminal conectado a uma rede de informao automatizada), servios de
orientao e servios de informao. Servem tambm como promotoras de
conferncias, de exposies e de outras manifestaes culturais.
Os arquivos nacionais so organismos estatais encarregados de receber,
conservar e manter disposio dos usurios documentos das
administraes pblicas, nacionais e locais, e, eventualmente, das
Os tipos de unidades de informao e as redes
empresas pblicas, de organismos privados e de particulares. O seu
funcionamento regido por leis e regulamentos administrativos precisos.
A comunicao dos documentos de arquivo ao pblico s possvel
aps um determinado prazo (em geral 30 anos) ou sob certas condies.
Os arquivos devem eliminar os documentos sem importncia e conservar
os outros de acordo com a sua origem. O microfilme muito utilizado por
razes de economia de espao e de proteo.
Os tcnicos dos arquivos nacionais colaboram muitas vezes na
organizao dos arquivos correntes dos servios pblicos. Os arquivos das
administraes tcnicas, como sade, obras pblicas, agricultura e
indstria so importantes fontes de informao cientfica e tcnica.Os
arquivos das organizaes conservam os documentos internos da
instituio. As regras de funcionamento e de utilizao so estabelecidas
em funo da importncia que a organizao atribui informao.
Geralmente, estes arquivos so de uso exclusivo da organizao a que
pertencem.
A diviso do Programme Gnral d'Information (Unisist-PGI) da Unesco
coordena um programa internacional que visa promover o desenvolvimento
de sistemas e de servios modernos de gesto de arquivos, conhecido como
RAMP (Records and Archives Management Programme).
Os museus renem objetos de interesse histrico, cientfico, tcnico ou
artstico. Os museus cientficos e tcnicos tiveram uma evoluo importante
nos ltimos anos. Eles no renem mais os documentos apenas para
conserv-los, mas se tornaram centros de tratamento, de anlise e de
disseminao da informao, por um meio importante de difuso: a
exposio. Os museus esto excludos do Programme Gnral d'Information
da Unesco. O Conseil International des Muses (ICOM) definiu uma nova
museologia que prioriza a vocao social do museu, e seu carter
interdisciplinar.
A biblioteca nacional um organismo estatal que tem por misso
adquirir, tratar, conservar e por disposio do pblico exemplares de
todos os documentos publicados no pas e os documentos de interesse
para as atividades nacionais, seja qual fora sua origem. Ela , em geral,
encarregada de produzir a bibliografia nacional. Muitas vezes esta biblioteca
desempenha, no plano tcnico e no plano organizacional, um papel de
liderana no conjunto das bibliotecas do pas. Algumas bibliotecas
nacionais tm departamentos especializados ou descentralizados.
As bibliotecas pblicas dependem do Estado ou das coletividades
locais. Suas colees esto disposio dos habitantes da localidade para
suas necessidades culturais, recreativas ou prticas. Possuem, muitas
vezes, sucursais nos bairros ou na zona rural. Estas bibliotecas tm, em
geral, sees especializadas por categorias de usurios, como crianas,
adolescentes, idosos e minorias. As bibliotecas pblicas que servem a
categorias especiais de usurios, como as mencionadas anteriormente
podem existir como organismos independentes.
Os tipos de unidades de informao e as redes
Nos pases em desenvolvimento estas bibliotecas podem desempenhar
um papel importante no desenvolvimento e na manuteno da alfabetizao,
e servir como fonte de informao tcnica nos locais onde no existem
outras infra-estruturas de informao.
Alguns pases tm um sistema prprio de bibliotecas rurais. Esta
especializao facilita a gesto destas bibliotecas.
As bibliotecas centrais de emprstimo so unidades de Informao que
asseguram o emprstimo de documentos nas regies que no tm infra-
estruturas de informao. Dispem, para este fim, de grandes colees e
exercem ao mesmo tempo o pa*pel de bibliotecas pblicas na sua regio.
O emprstimo pode ser feito localmente, por correspondncia, ou por meio
de bibliotecas ambulantes que funcionam em veculos especiais, os
carros-biblioteca que levam os documentos s diversas localidades.
Nos pases em desenvolvimento o sistema de bibliotecas ambulantes
pode ser uma base excelente para as atividades de informao, nos locais
onde no existem estruturas de informao permanente, como no meio
rural.
As bibliotecas universitrias dependem das universidades ou de outros
estabelecimentos de ensino superior. Suas colees so mais especializadas
do que as das bibliotecas pblicas, e geralmente muito completas nas
disciplinas cientficas e tcnicas ministradas nos diversos cursos da
universidade. Servem em prioridade aos professores e estudantes, mas
so, muitas vezes, abertas ao pblico em geral.
Em alguns casos a universidade tem uma biblioteca nica, organizada
por sees (como por exemplo, cincias exatas, medicina, cincias sociais
e letras) ou uma biblioteca central e bibliotecas especializadas.
As bibliotecas de pesquisa so algumas vezes confundidas com as
bibliotecas universitrias. Tm colees cientficas muito especializadas
e servem a institutos ou grupos de pesquisa. Os organismos de pesquisa
que no dependem das universidades tm tambm bibliotecas deste tipo.
As bibliotecas escolares tm por objetivo servir a alunos, professores e
funcionrios das escolas primrias e secundrias. Suas colees servem
de suporte ao estudo e ao lazer. Estas bibliotecas so importantes
instrumentos de informao e exercem um papel indispensvel no
aprendizado das tcnicas de informao. O seu desenvolvimento ainda
precrio em muitos pases.
As bibliotecas especializadas variam conforme a natureza de sua
especializao. Algumas so especializadas em uma nica disciplina ou
campo do conhecimento e abertas ao pblico em geral. Outras so
especializadas em um tipo de documento, como as patentes, as normas e
os documentos administrativos. Outras so abertas apenas a uma categoria
definida de usurios, geralmente, os membros da organizao na qual se
encontra a biblioteca, e, eventualmente, a pessoas com uma autorizao
especial.
336
Os tipos de unidades de informao e as redes
Para responder a necessidades precisas de seus usurios, estas
bibliotecas tm atividades de documentao (como indexao de
documentos) e de informao (como servios de pergunta e resposta, e
servios de anlise da informao).
As bibliotecas de organizaes ou de empresas caracterizam-se por
servir a uma coletividade pequena e por ser de uso exclusivo dos seus
membros. Elas podem ter tambm finalidades recreativas.
As mediatecas so unidades de informao que renem documentos
audiovisuais. Diferenciam-se em:
a) fototecas para os documentos com imagens fixas;
b) filmotecas ou cinematecas para os filmes:
c) videotecas para as fitas de vdeo;
d) mapotecas, para os mapas e plantas;
e) discotecas para os registros sonoros;
Estes servios podem funcionar como sees de uma biblioteca ou de
um arquivo.
Centros e servios de documentao
As unidades de informao centralizadas na descrio de contedo tm
por misso identificar, com a maior preciso possvel, as informaes que
podem ser teis aos usurios, ajud-los a recuperar os documentos
primrios correspondentes e responder s suas perguntas. Estas unidades
oferecem, na maioria dos casos, informaes ao usurio antes que sejam
solicitadas.
Em teoria, estas unidades poderiam ter apenas catlogos com a
descrio dos documentos, mas em geral elas oferecem tambm um
servio de biblioteca.
Sua organizao varia de acordo com o assunto coberto e com o tipo de
usurio. Existem servios de documentao que funcionam com uma
nica pessoa, servios que funcionam com dezenas de pessoas e grandes
servios de documentao que tm milhares de funcionrios.
Estas unidades tm geralmente uma direo e, eventualmente, uma
biblioteca, servios de tratamento da informao, associados ou no a
servios de pesquisa e servios tcnicos como reprografia.
freqente encontrar pequenas unidades de documentao que
empregam at trs pessoas. Estas unidades so, em geral, integradas a
organismos importantes, ou a sees de um organismo (como, por
exemplo, os laboratrios de um Instituto de pesquisa), e servem a um
pequeno grupo de profissionais, geralmente muito especializado.
Estas unidades em geral no tm nenhuma autonomia.
Os centros de documentao das organizaes e das grandes empresas
so, em geral, de grande porte. Nestas organizaes o domnio da informao
tecnolgica e econmica fundamental. Estes centros tm alguma
Os tipos de unidades de Informao e as redes
autonomia, mas servem exclusivamente ao pessoal do organismo de que
dependem.
Alguns servios de documentao do setor privado e do setor pblico
servem a um pblico especializado em determinado assunto no pas e no
exterior. Este o caso dos servios que analisam e indexam a literatura de
assuntos como qumica, biologia e engenharia, e que produzem boletins
e bases de dados automatizados vendidos em geral por assinatura. Estes
servios so administrados geralmente de forma comercial e dispem de
muitos recursos.
Nesta categoria pode-se incluir os organismos que comercializam a
pesquisa on-line em bases de dados, como o Pergamon InfoLine, na
Inglaterra, o Dialog, nos Estados Unidos, ou a Agence Spatiale Europenne
Service de Resaisie de Tlnformation (IRS) na Europa Ocidental. Estes
organismos so conhecidos como servios de bancos de dados. H alguns
anos comearam a surgir empresas que vendem servios documentais sob
demanda. Estas empresas so gerenciadas por agentes de informao ou
information brokers (ver o captulo A profisso").
Os centros nacionais de documentao so organismos estatais que
cobrem todas as reas do conhecimento e servem a qualquer tipo de
usurio. Tm por misso conservar todos os documentos produzidos no
pas e, eventualmente, os relacionados ao pas. Podem cobrir tambm a
literatura internacional em todos os domnios do conhecimento, ou a
literatura relacionada com as atividades cientficas e tcnicas do pas.
Este o caso do Institut de 1Information Scientifique etTechnique (INIST),
vinculado ao Centre National de 1Information Scientifique et Technique
(CNRS), na Frana, oudoVsesoyuznyylnstitutNauchnoyiTekhnocheskoy
Informatsii (VINITI) na URSS. Quando as atividades destes centros
atingem um volume importante e diversificado, eles podem operar como
uma rede descentralizada.
Em alguns pases existem centros nacionais de documentao setoriais
que dependem,em geral, dos organismos pblicos. freqente encontrar
em muitos pases, centros nacionais de documentao agrcola e centros
nacionais de documentao para a indstria. Eles constituem o ponto de
partida para um centro nacional enciclopdico. So, em geral, os
correspondentes dos sistemas internacionais na sua rea de conhecimento.
Centros e servios de anlise
da informao
As unidades de informao especializadas na resposta a questes e na
explorao de informaes so conhecidas geralmente como centros de
informao, mas podem ter as mais variadas formas.
Estas unidades utilizam os servios das bibliotecas, dos arquivos e dos
centros de documentao, para indicar aos usurios as informaes de
Os tipos de unidades de informao e as redes
que necessitam ou para preparar as respostas s questes que lhe so
dirigidas. Em alguns casos estas unidades exploram documentos primrios
e secundrios ou colees de dados, para dispor de bases de dados que
respondam imediatamente s necessidades dos seus usurios. Algumas
destas unidades, como os centros de orientao, os centros de permuta e
os servios de pergunta e resposta so estudadas no captulo referente aos
servios de difuso da informao (ver o captulo Os servios de difuso
da informao").
A maioria das unidades deste tipo multo especializada e emprega
pessoal qualificado nos assuntos tratados.
Os centros de anlise da informao so uma forma avanada de
centros de informao. Exercem uma atividade especfica e funcionam
junto a centros de pesquisa. Sua misso no facilitar o acesso aos
documentos ou s informaes, mas avaliar os conhecimentos disponveis
em um assunto preciso (como, por exemplo, as propriedades mecnicas
de certas ligaes de metais), produzir snteses regularmente ou sob
encomenda e dar informaes diretamente explorveis (como, por exemplo.
Indicar se uma liga de metal com certas caractersticas pode ser utilizada
em determinadas condies). Estes centros devem, muitas vezes, verificar
experimentalmente as informaes coletadas. Exercem um papel
importante no desenvolvimento da pesquisa. Identificando as lacunas do
conhecimento em uma rea precisa. Utilizam-se de dados fatuais, assim
como da literatura da rea. Os centros de consolidao e de avaliao de
dados verificam sistematicamente os dados disponveis em um campo
preciso do conhecimento, para fornecer informaes sobre os diversos
aspectos de um produto ou de um fenmeno.
Os bancos de dados tm por objetivo reunir, organizar e colocar
disposio dos usurios os dados numricos em alguns domnios
particulares do conhecimento ou para algumas questes predeterminadas
(como, por exemplo, a toxidade de alguns produtos qumicos). Estes
bancos extraem os dados brutos da literatura e de outras fontes de acordo
com uma metodologia muito precisa e os armazenam em arquivos
estruturados. Desta forma, os dados podem ser manipulados para
responder s questes dos usurios (por exemplo, que dosagem de tal
medicamento perigoso para um paciente que tem tal doena?). Este tipo
de servio utilizado para a tomada de decises.
Os servios de assistncia tcnica tm por objetivo pr especialistas em
contato com os usurios, a fim de identificar as dificuldades encontradas
em suas atividades e determinar as informaes necessrias soluo de
tais dificuldades, indicando-lhes as fontes ou fornecendo-lhes as respostas
que eles necessitam. Esta atividade pode traduzir-se por um servio de
informao corrente, mas na maior parte dos casos, visa dar uma soluo
a um problema especfico.
Estes servios tambm so conhecidos como servios de vulgarizao,
embora sua atividade seja mais de aconselhamento ou de assistncia
Os tipos de unidades de informao e as redes
tcnica. Atendem, em geral, a empresas industriais e agrcolas. Dependem
do servio pblico ou de entidades como as cmaras de comrcio e
indstria.
Redes de informao
As unidades de informao trabalham cada vez mais em cooperao.
Por esta razo foram criadas as redes de informao, que agrupam
pessoas e/ou organismos, para troca de informaes, que feita de
diversas formas, de maneira organizada e regular.
As redes interpessoais e as redes entre organismos originaram-se da
necessidade de comunicar, de adquirir, de verificar e de trocar informaes.
Estas redes devem ser formalizadas para que seus objetivos, como a
repartio das tarefas e a multiplicao dos recursos sejam atingidos
plenamente. Isto significa o estabelecimento de um acordo entre os
participantes e a definio de procedimentos comuns.
Esta formalizao leva constituio de um sistema de informao
especfico, que pode ser chamado indiferentemente de rede ou de sistema,
com uma estratgia documental idntica e normalizada.
A colaborao entre unidades de informao pode ter vrias formas.
Existem redes homogneas com rgos similares, como, por exemplo, as
redes de bibliotecas universitrias. Podem existir ainda redes heterogneas
que englobam unidades de informao de tamanho, natureza e importncia
distintas.
De acordo com sua funo, possvel distinguir:
- redes especializadas em funes documentais, como a aquisio, o
tratamento de documentos (catalogao, classificao, anlise e
indexao), e a difuso (emprstimo, comutao bibliogrfica,
difuso seletiva da informao e servio de pergunta e resposta):
- redes que integram as unidades participantes em um sistema de
informao nico que cobre todas as funes documentais.
Podem existir ainda:
- redes enciclopdicas ou redes especializadas em uma disciplina ou
em um ramo de atividade, nas quais todas as unidades de informao
associam-se para apoiar-se mutuamente ou para harmonizar seus
servios e seus produtos:
redes especializadas a servio de uma categoria particular de
usurios, como as pequenas empresas ou os produtores de caf, por
exemplo.
Estes critrios podem ser combinados entre si. Redes de diferentes
tipos podem se justapor, como, por exemplo, uma rede de informaes on
line e uma rede de bibliotecas.
A estrutura ou configurao das redes influencia a forma de comunicao
e a circulao da informao de um ponto a outro do sistema, podendo
tomar vrias formas, como por exemplo:
Os tipos de unidades de informao e as redes
- redes descentralizadas, nas quais todas as unidades de informao
comunicam-se entre si. Os canais de comunicao deste tipo de
rede so mais numerosos, as ligaes so, na maioria dos casos,
mals curtas, mas a sua gesto mals difcil. Este o caso das redes
de emprstimo entre bibliotecas;
- redes centralizadas, nas quais as unidades comunicam-se entre sl
por meio de um centro. Existe uma hierarquia, estabelecida, em
geral, por uma biblioteca central e bibliotecas associadas;
- redes mistas, nas quais algumas funes so descentralizadas e
outras centralizadas.
A estrutura das redes pode ser representada por grficos, conforme
mostra a figura 31.
Figura 31. Estrutura das redes.
As redes podem ainda diferenciar-se no nvel geogrfico, da seguinte
forma:
- redes com base territorial, em uma cidade ou regio, o que permite
satisfazer as necessidades de todas as categorias de usurios da
rea geogrfica em questo;
- redes em escala nacional.
Nos anos 70, a Unesco desenvolveu o conceito de NATIS (National
Information System), cujo objetivo era permitir a cada pas desenvolver
suas infra-estruturas de informao, para a satisfazer as necessidades de
todas as categorias de usurios. Os programas NATIS e Unisist foram
reunidos em um nico programa, o PGI (Programme Gnral dInformation)
que tem este mesmo objetivo (ver os captulos A gesto e as polticas nos
nveis nacionais e internacionais de informao" e Os programas e
sistemas internacionais de informao").
possvel estabelecer redes em escala mundial. O objetivo do Programa
Unisist-PGI criar, a longo prazo, um sistema mundial de informao ou
uma rede de redes.
Embora as trocas entre unidades de informao sejam naturais, a
constituio, a manuteno e o desenvolvimento de uma rede de informao
Rede descentralizada
Rede centralizada Rede mista
Os tipos de unidades de informao e as redes
no uma tarefa fcil. O desenvolvimento das redes pressupe que
existam condies favorveis e que os obstculos existentes sejam
suplantados. Para tal, necessrio um esforo dos participantes. Como
todo ato coletivo, as redes so uma criao permanente.
preciso, antes de tudo, que as unidades tenham os mesmos objetivos
e atividades comuns, que os participantes estejam conscientes das
vantagems da construo de uma rede e dos benefcios da resultantes, e
que a rede tenha um equilbrio de foras. A posio de liderana de um dos
participantes deve ser aceita por todos, sendo necessrio ainda que os
meios tcnicos de funcionamento da rede estejam disposio de todos os
participantes.
O desenvolvimento da tecnologia, a expanso dos meios audiovisuais,
a expanso da Informtica e da teleinformtica oferecem condies ideais
para o estabelecimento de redes de informao e para a interconexo das
redes entre si. Entretanto, o nvel de desenvolvimento das redes varia
muito de um pas a outro.
Produtores
Algumas unidades de informao podem tomar-se produtoras de
bancos de dados. Alm de reunir e tratar a informao, o produtor fornece
o resultado deste tratamento para ser difundido por um servio de banco
de dados. O papel especfico do produtor reside na fabricao de dados
para consulta e redistribuio por redes automatizadas.
Organizar bases de dados significa:
recuperar a matria-prima ou a informao em todas as suas
formas e transformar a informao em um dado capaz de ser compreendido
pelo computador. Para tal, necessrio transcrever a informao em um
suporte magntico, validar a informao registrada e organizar arquivos
legveis pelos servios de bancos de dados. Esta operao, conhecida como
formatao, permite a distribuio das informaes por bancos de dados.
O papel essencial do produtor administrar as informaes.
Existem atualmente no mundo cerca de trs mil bancos ou bases de
dados. Cada dia so criados dois novos bancos de dados. Estes nmeros
mostram a importncia destas novas formas de comunicao da informao.
Deve-se proceder a um estudo rgido de oportunidade antes de se criar
um banco de dados. A concepo, a criao e a manuteno de um banco
de dados demandam competncias especficas. Os produtores, os servios
de bancos de dados e as instituies de ensino oferecem cursos que
permitem s pessoas interessadas adquirir estes conhecimentos.
Existe uma grande diversidade de produtores. A maior parte deles
pertence a organizaes pblicas ou privadas, como rgos da
administrao, centros de pesquisa, laboratrios de indstrias, sociedades
comerciais e associaes sem fins lucrativos. Alguns produtores alimentam
Os tipos de unidades de informao e as redes
uma nica base de dados, outros, alimentam vrias. Entre os produtores
pode-se distinguir:
- os produtores independentes que produzem uma ou vrias bases de
dados, distribudas por vrios servios de bancos de dados para
assegurar a maior difuso possvel. So verdadeiros supermercados
de informaes. Este o caso da American Chemical Society que
produz o Chemical Abstracts Services;
- os produtores exclusivos que distribuem seu produto a um nico
servio de banco de dados. Este o caso do Institut National de la
Proprit Industrielle (INPI), na Frana, ligado ao servio Questel;
- os produtores integrados que produzem, em geral, bases ou bancos
de dados muito especializados e tambm distribuem seus produtos.
Este o caso do Laboratoire dAnthropologie et d'cologie Humaine,
da Universit de Paris V, na Frana, que produz e difunde o banco
de dados Ergodata;
- as cooperativas de informao so organismos profissionais, como
as federaes de agentes imobilirios ou grupos de indstrias que
fabricam um produto reservado aos seus associados.
Os produtores agrupam-se em associaes para defender seus interesses
e trocar suas experincias. Este o caso do Groupement Franais des
Fournisseurs d'Information en Ligne (GFFIL), na Frana (vero capitulo A
indstria da informao).
Questionrio de verificao
Quais so os tipos de bibliotecas existentes?
Quais so os principais tipos de organismos de documentao?
O que uma mediateca?
O que uma fonoteca?
O que so centros de informao?
O que um produtor?
Qual a finalidade das redes de informao?
De que forma as redes podem ser estruturadas?
343
Os tipos de unidades de informao e as redes
Bibliografia
1. Units d'information centres sur le document primalre
Archives. Consulter les tudes publies dans le cadre du RAMP
Unesco-PGI, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris
Conseil International des archives, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003
Paris
FAVIER, J. Les archives. Paris, PUF, 1985. ( Que sais-je ? )
ULATE SEGURA, S. Access to the archives o j United Nations agencies: a
RAMP study with guidelines. Paris, Unesco, 1987. (Doc. PGI-86/WS/
24.)
WALNE, P. Administration et gestion des services des archives modemes
: une tude RAMP. Paris, Unesco, 1985. (Doc. PGI-85/WS/32.)
Muses. Consulter les tudes de 1ICOM (Conseil International des
muses), 7, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Doumentation, bibliothques, muses. Paris, Onisep, 1986. (Les Cahiers
de 1'Onisep, n9 27.)
Musologie et injormation. Nouvelles technologies, nouvelles protiques,
nouveaux lieux. Paris, Centre de documentation Sciences humaines,
1987. (Brises : Bulletin de recherches sur l'information en sciences
conomiques, humaines et sociales, n? 10, sept. 1987.)
Bibliothques. Consulter les tudes de 1IFLA (Fdration internationale
des associations de bibliothcaires et bibliothques), B. P. 95312-
2509CH, La Haye, Pays-Bas.
Guidelines f o r public libraries. Munich, K. G. Sar, 1986.
MASSON, A. et PALLIER, D. Les bibliothques. Paris, PUF, 1986. ( Que
sais-je ? )
University libraries in developing countries: structure andfanction in regard
to injormation transjerjor science and technology: proceedings o j the
IFLA/Unesco. Presession semlnar for librarians from developing
countries. Munich, IFLA, 1983.
HERZHAFT, G. Pour une mdiathque: guide de Vaudiovisuel Vusage des
candidats auxconcours et examens des bibliothques. Paris, Promodis,
1982.
2. Centres et services dinformation
Consulter les tudes de la FID (Fdration internationale dinformation et
de documentation), P.O. BOX 90402-2509LK, La Haye, Pays-Bas.
ATHERTON, P. Manuel pour les systmes et services d'injormation, 2e d.
Os tipos de unidades de Informao e as redes
Paris, Unesco, 1977.
Dlrectory of speclal libraries and information centers. 9 d. Brigitte T.
Darnoy (dir. publ.), Detroit, Gale Research, 1985. 2 vol.
Manuel pour le dveloppement dunlts de documentation et de bases de
donnes bibliographiques nationales pour la politique scientifique et
technologique. Paris, Unesco, 1984. (SPSD, n9 60.)
MOUNT, E. Special libraries and information centers: an introductory text.
New York, Special Library Association, 1983.
SCHTZ, H. Le rleet Vorganisation d'un centre national de documentation
dans un pays en voie de dveloppement. Paris, Unesco, 1975. (Docu
mentation, bibliothques et archives : tudes et recherches. 7.)
WEBB, S. P. Creating an information seruice. Londres, Aslib, 1983.
3. Banques de donnes
Consulter les travaux de CODATA, 51, boulevard de Montmorency, 75016
Paris.
1DNAC : rapport d'tude sur la faisabilit d'une bande de donnes
Internationale pour les pays non aligns. Paris, Unesco, 1983. (Doc.
PGI-82/WS/13.) Sminaire sur les banques de donnes factuelles et
numriques. Rabat, Maroc, 1984. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PAGI-
85/WS/6.)
FARGETTE, F. Donnes de bases pour bases de donnes. Paris, Eyrolles,
1985.
4. Rseaux
BURKETT, J. Library and information networks in western Europe.
Londres, Aslib, 1983.
CHAUVEINC, M. Le rseau bibliographique automatis et l'accs au
document. 29 d. Paris, Les ditions dorganisation, 1982. (Coll.
Systmes d'information et de documentation .)
Library networking: current problems and future prospects ; papers based
on the symposium networking where from here ?". Wilson Luquire
(dir. publ.), New York, Haworth Press, 1983.
TURACK, B. J. The public library in the bibliographic network. New York/
Londres, Haworth Press, 1986.
5. Producteurs
GFFIL (Groupement franais des fournisseurs dinformation en ligner).
345
Os tipos de unidades de informao e as redes
Les relations contractuelles des producteurs de bases et banques de
donnes. Paris, Dalloz, 1986.
Libraries, information centers and databasein Science and technology: a
world guide. Munich/New York/Paris/Londres, K.G. Sar, 1984.
PEETERS, E. Conception et gestion des banques de donnes. Paris, Les
ditions d'organisation, 1984.
De trs nombreux rpertoires recensant bases et banques de donnes
existent. Les principaux sont numrs ici, sans date, car ces docu
ments font Pobjet d'une constante remise jour. 11existe galement
de trs nombreux rpertoires spcialiss.
ANRT (Association nationale de la recherche technique). Rpertoire des
banques de donnes en conversationnel. Paris. Lavoisier, 1987.
Directory o f online databases. Santa Monica, Cuadra Associates Inc.
346
Os servios de
difuso da
informao
A difuso da informao consiste em transmitir ao usurio as informaes
que ele necessita ou dar-lhe a possibilidade de ter acesso a estas
informaes. o objetivo final do tratamento dos documentos e das
informaes e se localiza geralmente no final da cadeia documental.
Entretanto, algumas formas de difuso podem ser feitas no momento da
produo dos documentos pelas unidades de informao ou por outras
instituies.
A difuso da informao a razo de ser das unidades de informao
e deve ser sua preocupao principal. A conservao dos documentos
apenas um meio para atingir este fim. Pode-se difundir o documento
primrio propriamente dito (ou sua reproduo); a referncia do documento
sob a forma de diversos produtos secundrios; a informao contida no
documento e apresentada em produtos tercirios; e as fontes de informao.
Formas de difuso
As formas de difuso podem ser classificadas de acordo com o meio em
que sero difundidas, com a periodicidade, com a iniciativa do usurio, ou
de acordo com seu volume.
A forma de difuso mais comum aquela em forma de texto, reproduzido
em documentos (como os boletins bibliogrficos e os boletins de informao)
ou registrados em memrias magnticas e consultados por terminais ou
em forma de listagens. Mas a difuso de forma verbal tambm muito
importante, como, por exemplo, a difuso de uma pessoa a outra
(informaes de viva voz, por telefone, informaes registradas em uma
fita magntica ) ou em grupo (conferncias, reunies de informao, visitas
e cursos, entre outros).
Pode-se tambm difundir informaes pelos meios audiovisuais, como
filmes e vdeos. Esta forma de difuso pressupe que se tenham os meios
Os servios de difuso da Informao
para produzir este tipo de documentos, bem como os equipamentos para
sua leitura.
possvel ainda fazer exposies que podem utilizar todos estes meios:
distribuio de documentos, contatos pessoais, apresentaes audiovisuais
e cartazes, entre outros.
A difuso da informao pode ser ocasional ou permanente. Um pedido
ocasional pode ser respondido por uma pesquisa pontual feita diretamente
pelo usurio ou pelo especialista de informao. Um pedido de informao
permanente ou repetitivo ser respondido por operaes contnuas das
unidades de informao. Estas unidades procuram e difundem
periodicamente a seus usurios informaes sob a forma de documentos
secundrios (como listas de aquisies e boletins bibliogrficos) ou
tercirios (como snteses e recenses anuais).
A difuso da informao pode ser solicitada pelo usurio que se dirige
a uma unidade de informao para resolver determinado problema. a
difuso passiva. Mas as unidades de informao podem e devem adiantar-
se ao usurio, oferecendo-lhe produtos documentais que julga lhe serem
teis, de acordo com a anlise de suas necessidades, ou para ajud-lo a
descobrir e resolver seus problemas de informao (eventualmente por
melo dos servios de contato). a difuso ativa.
Os problemas e dificuldades da difuso so mltiplos. Entre eles pode-
se citar:
- os problemas ligados variedade das necessidades dos usurios, s
suas preferncias por diferentes formas de comunicao,
ambigidade de suas exigncias e de seus critrios de satisfao, ao
desconhecimento das atividades de Informao e das reais
possibilidades das unidades de informao (ver o captulo Os
usurios);
- os problemas financeiros, que obrigam as unidades de informao
a satisfazer o maior nmero possvel de usurios potenciais com
meios limitados. Isto tem como conseqncia a proposio de
servios e produtos standard e a renncia a produtos personalizados,
eventualmente mais elaborados e apresentados de forma mais
sofisticada. Esta limitao leva as unidades a cobrar alguns servios
ou a restringir seu acesso;
- os problemas institucionais, ligados ao status da unidade de
informao ou a sua posio hierrquica ou geogrfica, a distncia
de algumas fontes de informao, ao sigilo de alguns documentos,
que impedem a difuso de alguns servios ou limitam seu
desenvolvimento;
- os problemas tcnicos, como o atraso na recepo e no tratamento
dos documentos, a falta de equipamentos, a insuficincia de
pessoal, o desconhecimento de algumas formas possveis de difuso
e outros que limitam a qualidade e a quantidade dos servios
propostos;
Os servios de difuso da informao
- as dificuldades ligadas gesto, como a comunicao insuficiente
entre usurios e unidades de informao, a falta de promoo dos
servios, a prioridade ao tratamento da informao, a concentrao
de esforos nos servios tradicionais, que podem ser inadaptados,
e o desconhecimento das necessidades reais dos usurios, entre
outros.
Alguns destes obstculos fogem ao controle das unidades de informao,
mas a maioria deles pode ser superada por uma gesto dinmica e
inteligente.
Direito autoral
O direito autoral um dispositivo jurdico que assegura a proteo
material e moral do autor de uma obra, ou da pessoa que tem estes
direitos, por um perodo determinado. A reproduo de uma obra sem
autorizao prvia possvel, para uso individual, para atividades com
fins no-lucrativos, como ensino, pesquisa ou estudo. Mas, se o documento
for reproduzido para uso coletivo ou comercial, deve-se solicitar previamente
a autorizao da pessoa que detm os direitos autorais, que pode exigir o
pagamento destes direitos. Se isto no acontece, o responsvel por uma
reproduo ilcita pode ser levado a julgamento.
As unidades de informao devem solicitar ao usurio que faa uma
fotocpia e assine uma declarao na qual ele afirma respeitar os direitos
autorais.
Em alguns pases, o direito autoral foi estendido tambm, h pouco
tempo, para transmisses orais de informao: aquele que transmite a
informao considerado o seu autor.
Os documentos que possuem direitos autorais contm obrigatoriamente
uma meno de data de incio destes direitos, precedida do sinal C, inicial
de Copyr i ght.
O direito autoral protege legitimamente o autor da obra, mas pode
limitar a circulao de documentos. Esto sendo realizados estudos em
nvel nacional e internacional para resolver este problema.
Formas de difuso dos
documentos primrios
A difuso dos documentos primrios pode ser feita pela consulta local
na unidade de informao: por meio de emprstimo a domiclio; pela
aquisio permanente do documento pelo usurio, na sua forma original
ou em formato reduzido (em microforma ou em formato eletrnico). Este
servio geralmente pago.
349
Os servios de difuso da informao
Consulta no local
A consulta no local pode ser realizada de duas formas:
- em acesso restrito. O usurio consulta os catlogos da unidade de
informao de acordo com suas necessidades, preenche uma ficha
de solicitao com a referncia bibliogrfica do documento e seu
nmero de chamada, envia esta solicitao a um servio ou a um
funcionrio especializado da unidade que recupera o documento
solicitado nas estantes. A seguir, o documento fornecido ao
usurio para consulta na sala de leitura da unidade de informao
e deve ser devolvido no final do perodo. Este procedimento requer
muito pessoal, mas permite um controle total das operaes.
Geralmente, procede-se desta forma nas bibliotecas com colees
especiais e com obras raras ou preciosas. Em geral, o usurio pode
consultar ao mesmo tempo um nmero limitado de documentos de
cada tipo.
em livre acesso. O usurio, depois de identificar os documentos que
necessita nos catlogos, procura os documentos nas estantes.
Geralmente, pede-se que o usurio no guarde os documentos, para
evitar que sejam armazenados fora de lugar. Este procedimento d mais
liberdade ao usurio, mas diminui as possibilidades de controle e necessita
mais espao que o outro mtodo. Os manuais e as obras de referncia
devem ser sempre de livre acesso.
Emprstimo
O emprstimo um procedimento pelo qual o servio de informao
confia ao usurio um certo nmero de documentos que podem permanecer
com ele por um perodo determinado. Geralmente, as colees especiais,
as obras raras, os manuais, as obras de referncia e os documentos muito
procurados no so emprestados. Cada unidade fixa regras particulares
com relao ao nmero de documentos que podem ser emprestados por
usurio e com relao ao perodo de emprstimo. Se houver necessidade,
devem ser elaboradas normas por categoria de usurio. Estas regras
devem levar em conta dois fatores: cada usurio pode retirar um certo
nmero de documentos durante um perodo determinado; e um usurio
no deve monopolizar durante muito tempo documentos que podem ser
teis a outras pessoas.
Este trabalho deve ser realizado pelo setor de emprstimo que deve
detalhar as regras e as condies de emprstimo do servio. Este servio
necessita de um controle rgido para que se saiba, a qualquer momento,
com quem est tal documento e quando ser devolvido. Geralmente, este
controle feito por meio de diversos fichrios, por documento, por usurio
e por data de devoluo. Atualmente, o controle do emprstimo
automatizado em muitos servios de informao.
Os servios de difuso da informao
Emprstimo entre bibliotecas
um sistema pelo qual uma biblioteca pede emprestado a outra um
documento que no possui, para ceder a um dos seus usurios.
Este sistema pressupe um acordo entre as unidades participantes e
a adoo de procedimentos normalizados, geralmente em nvel nacional
(como formulrios, condies de emprstimo, controle e expedio de
documentos). Pressupe ainda a organizao de catlogos coletivos para
que cada unidade participante conhea as colees de cada biblioteca e
sua localizao. Este servio representa a existncia de uma coleo
nica, que permite aumentar de forma considervel os servios oferecidos
aos usurios, racionalizar e repartir os encargos de aquisio entre as
bibliotecas participantes.
As grandes bibliotecas de emprstimo tm um papel importante nos
sistemas nacionais e internacionais. O termo mais adequado para estas
instituies talvez seja o de bibliotecas de acesso. So, em geral, unidades
com grande autonomia, como a diviso de emprstimo da British Library,
ou servios especializados de uma grande unidade, como o Institut de
rinformation Scientifique et Technique do Centre National de la Recher-
che Scientifique da Frana. Elas dispem de colees muito completas de
vrios tipos de documentos (como monografias, peridicos e relatrios)
que podem ser consultados localmente, emprestados, fotocopiados em
sua forma normal ou duplicados em forma de microfichas. Este servio
particularmente til para documentos pouco utilizados em um pas ou em
um domnio especial do conhecimento, como, por exemplo, os peridicos
de reas do conhecimento perifricas, os documentos raros de dificil
acesso, ou ainda a literatura no-convencional, sinalizada pelos servios
secundrios. Geralmente, o usurio paga pela reproduo e pela expedio
dos documentos.
Circulao em estrela
Circulao em anel
Circulao mista
Figura 32. Circulao de peridicos.
351
Os servios de difuso da informao
Circulao de peridicos
A circulao de peridicos uma forma particular de emprstimo
realizada dentro de uma instituio. um procedimento freqente e pode
ser feito de diversas formas.
O responsvel pela unidade de informao ou pelo servio aos usurios
deve fixar as normas de circulao, ou seja, o tipo de circuito, a escolha
dos ttulos, o nmero de peridicos por usurio, a durao do emprstimo,
as modalidades de controle e, em seguida, estabelecer a lista de circulao.
O circuito pode efetuar-se a partir da unidade de informao para cada
usurio e retorna unidade ( a circulao em forma de estrela" ou de
margarida), ou de usurio para usurio ( a circulao em forma de
anel"). Esta ltima modalidade de controle mais dificil. A circulao
pode ser ainda uma combinao destes dois tipos: a circulao mista".
(Ver figura 32).
Seja qual for o sistema escolhido, a circulao de peridicos toma tempo
e pode ter bloqueios (feitos por um usurio ausente ou negligente). Cada
usurio deve receber em prioridade os peridicos que julga mais importantes
e que a circulao no seja muito longa para no privar os usurios de
informaes recentes. Isto pode ser possvel se a unidade de informao
tiver vrias assinaturas dos peridicos considerados essenciais e se fizer
circular uma lista das revistas recebidas ou um boletim de sumrios. O
usurio recebe apenas os peridicos ou os artigos solicitados (neste caso,
o servio aproxima-se de um servio de difuso seletiva da informao).
Desta forma, a circulao feita aps algumas semanas, durante as quais
as revistas ficam expostas na biblioteca, respeitando prazos curtos e
rgidos. Este servio , em geral, dificil de administrar. Requer os mesmos
instrumentos que o emprstimo: fichrios dos destinatrios, com indicao
dos ttulos de peridicos enviados a cada usurio e fichrio das revistas
com indicao dos usurios. A automao deste tipo de servio no se
justifica.
Os preprints e as separatas
Esta uma forma de comunicao direta dos documentos por seus
autores. Geralmente, cada autor dispe de um certo nmero de exemplares
destes documentos e os distribui aos seus colegas para que tomem
conhecimento e para receber suas crticas. Os usurios individuais, assim
como as unidades de informao, podem solicitar o envio de um preprint
assim que tomam conhecimento da preparao do documento, geralmente,
pelas indicaes como no prelo" ou publicao em curso. Depois da
publicao, o editor remete ao autor um certo nmero de exemplares de
sua obra para seu uso pessoal. Pode-se, muitas vezes, obter gratuitamente
um exemplar do documento, ou uma separata, pela solicitao direta ao
autor (esta uma das razes pelas quais as publicaes secundrias
mencionam o endereo completo dos autores).
Os servios de difuso da informao
Recenses e dossis de imprensa
A recenso de Imprensa uma forma de difuso seletiva de documentos
primrios muito utilizada como meio de informao de atualidade. Este
servio constitui-se na seleo de extratos de artigos publicados na
imprensa, ou de resumos destes artigos organizados por temas, em funo
dos interesses de um usurio ou de um grupo restrito de usurios. Desta
forma, constitui-se um documento que pode ser posto em circulao ou
afixado na unidade de informao.
As recenses de imprensa so confeccionadas a intervalos curtos
(diria ou semanalmente). Elas podem ser conservadas em forma de
coleo (por edio) ou de dossis (por tema). Estes documentos constituem
um meio de informao corrente sobre assuntos atuais, em geral, muito
apreciado.
Os dossis de imprensa so uma forma de difuso seletiva de publicaes
peridicas. Consistem na reunio de artigos extrados de diversas
publicaes de um determinado assunto ou de vrios assuntos muito
precisos. Os dossis podem circular entre os usurios Interessados ou
podem ser utilizados como uma coleo. Devem ser atualizados
regularmente e so teis, sobretudo, como forma de informao de
atualidade. Em alguns casos, estes dossis podem ser substitudos pela
anlise sistemtica de artigos de peridicos para constituir um arquivo de
artigos.
Fornecimento de fotocpias
O fornecimento de fotocpias uma forma cmoda de difundir os
documentos primrios sem desfalcar as colees das bibliotecas.
Entretanto, somente os documentos de pouco volume podem ser
fotocopiados. Alm disso, necessrio possuir o equipamento para tal. O
custo da fotocpia relativamente elevado e seu uso limitado, sobretudo,
pelos direitos autorais. As grande unidades de informao podem dispor
de um servio especializado no fornecimento de fotocpias ou servio de
reproduo.
O fornecimento de microformas constitui outro meio cada vez mais
utilizado, para difundir documentos primrios, principalmente sob a
forma de microfichas. Alguns editores publicam documentos ao mesmo
tempo em formato normal e em microfichas. Alguns documentos, como os
relatrios, algumas reimpresses, e as teses de doutorado dos Estados
Unidos so disponveis apenas neste formato. Seu custo baixo e os
gastos com expedio mnimos, geralmente o equivalente postagem de
uma carta comum.
Muitas unidades de informao conservam a totalidade de suas colees,
ou uma parte importante de seus documentos, em microfichas (geralmente
os documentos no-convencionais), e fornecem duplicatas destes
Os servios de difuso da Informao
documentos, quando necessrio. A utilizao individual das microfichas
limitada pela necessidade do usurio dispor de um leitor de microfichas,
mas este suporte tende a se banalizar e a microficha um tipo de
documento muito utilizado. Entretanto, ela limitada, como a fotocpia,
pelo direito de autor.
O surgimento das novas tecnologias, tambm conhecidas como edio
eletrnica, permite prever uma nova forma de difuso: a difuso eletrnica.
Uma destas formas o telefacsmile ou a transmisso de cpias por linhas
telefnicas a grande distncia com muita rapidez. O acesso on-line a bases
de dados com texto integral pode ser tambm uma soluo para o
fornecimento do documento primrio. Estas bases de dados comeam a
surgir, principalmente nas reas de informao jurdica, terminologia e
imprensa.
A difuso eletrnica pode ser feita tambm a partir de suportes
magnticos ou ticos. A emergncia de memrias ticas, de uso simples
e facilmente duplicveis, permite prever que estas memrias sero a chave
para a resoluo de parte dos problemas de difuso e de acesso literatura
primria.
Traduo
Os servios de traduo so um meio essencial de difuso de documentos
primrios, quando uma parte importante dos documentos que interessam
a um grupo de usurios est escrita em lnguas que eles no dominam.
Alguns peridicos cientficos publicados em lnguas de difcil acesso,
como o russo e o japons so traduzidos integralmente para o ingls e
publicados ao mesmo tempo que averso briginal. Desta forma, o usurio
pode assinar a verso que lhe interessa.
Entretanto, indispensvel que as unidades de informao possam
fornecer tradues aos usurios que necessitam deste servio. Para tal, a
unidade de informao deve ter acesso a tradutores profissionais. Alguns
grandes centros de informao dispem de servios de traduo prprios,
que servem tambm a usurios externos. Este o caso do Institut de
1'Information Scientifique et Technique do CNRS, na Frana.
As tradues podem ser feitas de vrias formas. Pode-se traduzir
integralmente o documento original, ou apenas algumas partes. O usurio
informa ao tradutor as partes que lhe interessam, aps a leitura do
original, ou de um resumo traduzido. A traduo pode ser feita por escrito
ou oralmente. A traduo oral feita em forma de dilogo entre usurio e
tradutor. As tradues parciais ou orais respondem melhor, na maioria
dos casos, s necessidades reais porque so mais rpidas e mais baratas.
A traduo pode ser feita com o auxlio do computador (TAO-Traduo
assistida por computador) por programas simples ou sofisticados.
Os sistemas mais simples possuem um diclonrio-assistente e fazem a
Os servios de difuso da Informao
traduo palavra por palavra. Outros sistemas TAO fazem tradues mais
elaboradas, utilizando-se da gramtica e/ou da semntica. Entre os
sistemas existentes, pode-se citar o TITUS IV, elaborado pelo Institut
Textile de France ou o SYSTRAN, utilizado pela Comunidade Econmica
Europia.
Antes de iniciar uma traduo, deve-se verificar se ela j no foi
realizada, sobretudo nos casos de tradues de textos integrais. Para tal,
podeTse solicitar informaes no International Translation Centre (ITC),
situado em Delft, na Holanda, que serve de centro de informaes sobre
tradues, sobretudo para as lnguas eslavas. Este organismo centraliza
as tradues da Comunidade Econmica Europia e do Institut de
rinformation Scientifique et Technique (INIST). O INIST associado ao
National Translation Center, situado em Chicago, nos Estados Unidos.
Este centro publica o repertrio World Translation Index (WTI), acessvel
o n - l i n e pelo banco de dados European Space Agency/Information Re
trieval Service (ESA/IRS). A Unesco publica anualmente o Index
Translatioum, que um repertrio de tradues.
Toda unidade de informao deve conservar as tradues por ela
realizadas, ou efetuadas por outros organismos e organizar um repertrio,
notificando estas informaes aos centros internacionais, de forma a
evitar duplicidade de trabalho.
Servios de permuta
Os servios de permuta tm funes complexas, ao mesmo tempo
primrias e secundrias. Podem constituir-se como unidades autnomas
ou formar um servio especial dentro de uma unidade de informao. Seu
objetivo permitir o acesso a documentos dispersos entre diversas fontes
de produo. Os produtores de documentos informam a estes servios os
documentos disponveis e geralmente lhes fornecem uma cpia. O servio
de permuta faz a difuso pela descrio dos documentos em bibliografias
ou em ndices e assegura o acesso a cpias destes documentos em formato
normal ou em microforma. Quando no dispe de cpias, o servio coloca
o usurio em contato direto com o organismo produtor. Este tipo de
organismo trabalha, em geral, como centro de uma rede de informao.
Na realidade, os servios de permuta so semelhantes aos servios de
documentao e tm funes mltiplas. Eles so criados para permitir o
acesso a documentos no-convencionais nos sistemas internacionais e
para permitir o acesso a documentos produzidos pelos servios
governamentais e por organismos descentralizados, em nvel nacional.
355
Os servios de difuso da informao
Difuso de documentos secundrios
A difuso de documentos secundrios pode ser feita de diversas formas,
de acordo com seu contedo, sua apresentao, sua periodicidade e seus
objetivos (ver as ilustraes no final do captulo).
O servio de orientao consiste em indicar a um usurio no os
documentos ou as informaes que respondem sua pergunta, mas as
fontes disponveis (publicaes secundrias, unidades de informao,
organismos profissionais e de pesquisa e especialistas) e a forma de
localiz-las. Para fornecer estas informaes, estes servios utilizam
repertrios e fichrios de fontes, constitudas especialmente para este fim.
Sua eficcia de difcil controle. Para tal, necessrio manter um contato
estreito entre as fontes e os usurios, o que possvel somente em um
servio que atinge uma rea geogrfica restrita. Se o servio cresce muito,
deve transformar-se em uma seo especializada de uma unidade de
informao. A atualizao dos fichrios de fontes de informao uma
tarefa rdua.
Os servios de informao corrente tm por objetivo transmitir aos
usurios as informaes recentes recebidas pelas unidades de informao,
nos assuntos que lhes interessam. Seus produtos tm periodicidade
varivel: semanal, quinzenal, mensal, ou eventualmente anual. Estes
servios chamam a ateno do usurio sobre as novidades em um campo
especfico do conhecimento, permitindo-lhes atualizao constante na
sua especialidade. Eles exercem um papel essencial na manuteno da
capacidade tcnica e cientfica dos usurios que os utilizam.
As listas de aquisio so elaboradas periodicamente pelas unidades de
informao, a partir dos documentos adquiridos no perodo. Trazem o
autor e o ttulo do documento ou a sua referncia bibliogrfica em ordem
alfabtica por tipo de documento ou por grandes assuntos. Estas listas
podem ser afixadas em lugar visvel, ou distribudas sistematicamente,
sob demanda, acompanhadas muitas vezes de um formulrio de solicitao
de emprstimo no qual o usurio assinala as referncias dos documentos
que deseja obter. Este servio funciona somente se for feito para um
pblico limitado e com listas no muito extensas.
Os boletins de sumrios correntes so fascculos peridicos que renem
a reproduo da pgina do sumrio das publicaes peridicas selecionadas
e/ou recebidas durante um perodo determinado, ordenadas geralmente
por ttulo. s vezes so anexados ndices de autores e de assuntos dos
peridicos. Entretanto, a produo deste tipo de ndices complica e atrasa
a produo dos boletins. Estes boletins permitem ao usurio informar-se
sobre o contedo de um grande nmero de revistas que ele no teria tempo
de consultar ou que no lhe so acessveis. O Institute of Scientific Information
daPhiladelphia, nosEstadosUnldos, publica regularmente boletins de sumrios
correntes das principais revistas cientficas e tcnicas do mundo.
Os servios de difuso da informao
Este tipo de boletim pode vir acompanhado de uma folha de solicitao
de emprstimo ou de fotocpia. Constitui-se em um documento de difuso
de preparo e de utilizao simples.
Os boletins bibliogrficos so produzidos periodicamente, em geral
todos os meses, a partir da descrio bibliogrfica dos documentos
recebidos pela unidade de informao no perodo precedente. Podem ser
sinalticos, isto , trazer apenas a referncia bibliogrfica dos documentos
(eventualmente acompanhada de um ttulo enriquecido ou de um resumo
indicativo), ou analticos, isto , trazer um resumo informativo. A maior
parte dos boletins bibliogrficos traz resumos. So tambm chamados de
boletins de resumos. O resumo indispensvel para que o usurio tenha
uma idia precisa dos documentos, para selecionar aqueles que quer
consultar. As referncias so organizadas, em geral, por assunto.
Quando um boletim possui um grande nmero de referncias sobre
diversos assuntos ou disciplinas, geralmente dividido em fascculos
publicados separadamente por especialidade. Este o caso do PASCAL,
intitulado anteriormente Bulletin Signaltique, publicado pelo Institut
d'Information Scientifique et Technique da Frana, do Referativni[jZumal
e da Excerpta Medica.
Em geral, cada edio deste tipo de boletim contm um ndice de
autores, e, eventualmente, um de assuntos, de nmeros de patentes, de
nmeros de relatrios e de instituies. Algumas vezes os ndices so
publicados em um fascculo separado com periodicidade trimestral,
semestral ou anual.
Este tipo de boletim uma forma de alertar os usurios sobre novas
publicaes. O mesmo material acumulado a cada seis meses e a cada
ano, para permitir pesquisas retrospectivas. So publicados, em geral,
pelos grandes sistemas de informao ou pelas redes internacionais, que
asseguram a anlise da literatura mundial em sua especialidade. A
produo de boletins de resumos pode ser a principal atividade de uma
unidade de informao.
A automao permite registrar as descries dos documentos em
suporte magntico e produzir periodicamente boletins bibliogrficos, no
momento da atualizao das bases de dados. A preparao das listas
bibliogrficas e de ndices pode ser feita pelo computador. Sua reproduo
pode ser feita por reduo fotogrfica ou por fotocomposio.
Os ndices so listas de termos que descrevem os documentos seguidos
de sua referncia, ou de seu nmero de ordem, para que possam ser
localizados. So estruturados alfabeticamente, ou por conceito, frmula
e nmero. Cada documento pode ser citado tantas vezes quantas aparecem
os termos que o descrevem. O ndice uma tabela de correspondncia
entre uma lista de termos que servem a critrios de pesquisa (de acordo
com os centros de interesse dos usurios) e uma coleo de documentos.
Estes critrios ou entradas podem ser por autores: ndice de autores:
por conceitos: ndice de assuntos; por ttulos: ndice de ttulos; por
Os servios de difuso da informao
documentos: ndices de peridicos: por nomes de localidades: ndice
geogrfico; por fontes: ndice de organismos, ou ainda nmeros de
patentes, de relatrios, datas, frmulas qumicas e nmero de documentos.
Estes ltimos permitem interligar um documento a outros de uma mesma
srie ou a documentos anteriores sobre o mesmo assunto, provenientes do
mesmo organismo.
Os ndices de citaes do, para cada documento original, a lista dos
documentos primrios em que foram citados. Todos os documentos sobre
um determinado assunto podem ser, desta forma, reunidos em uma
mesma srie. Este tipo de ndice d tambm as indicaes das fontes.
Assim possvel verificar, por exemplo, todos os autores que trabalham
em um mesmo assunto e a importncia relativa do documento que est
relacionada, de certa forma, ao nmero de vezes que citado.
Os ndices so, em geral, includos nos boletins de resumos, mas podem
tambm ser produzidos separadamente. Este mtodo representa um
inconveniente: para verificar o resumo dos documentos que selecionou, o
usurio deve fazer vrias consultas.
O KWIC (key word in context) um sistema especial de elaborao de
ndices. Trata-se de um programa de tratamento automatizado, que
permite permutar todas as palavras significativas de uma frase com um
nmero limitado de caracteres, como, por exemplo, os ttulos dos
documentos. Desta forma, obtm-se uma lista alfabtica na qual todas as
palavras significativas que figuram nos ttulos so apresentadas no meio
da pgina do ndice, seguidas e/ou precedidas pelas outras palavras do
ttulo.
Este sistema tem a vantagem de ser rpido e econmico, mas tem o
inconveniente de tomar muito espao. Quando a pesquisa complexa, o
acesso demorado.
O sistema KWOC (key word out of context) semelhante ao KWIC.
Extrai palavras significativas das frases, apresentadas em colunas, seguidas
dos nmeros que correspondem aos ttulos ou s referncias bibliogrficas
dos documentos. Ele tem a vantagem de ser de acesso mais direto.
Difuso seletiva da informao
A difuso seletiva da informao, ou DSI, um procedimento que
permite fornecer a cada usurio, ou grupo de usurios, referncias dos
documentos que correspondem a seus centros de interesse, selecionados
a partir de descries de todos os documentos recebidos durante um
determinado perodo.
O usurio no necessita, ento, ler integralmente boletins de resumos,
em geral volumosos, para escolher os documentos capazes de lhe interessar.
Embora este seja um procedimento cmodo para o usurio, no lhe
permite recuperar documentos marginais, cujo interesse pode ser o
Os servios de difuso da Informao
resultado de associaes de idias. A eficcia deste servio depende da
qualidade dos resumos dos documentos e do perfil do usurio.
O perfil um conjunto de palavras-chave, estruturado de acordo com
as possibilidades do sistema, que descrevem os assuntos que interessam
ao usurio. Estas palavras-chave so comparadas s que figuram nas
descries dos documentos. Os documentos so selecionados quando
existe coincidncia. Os resumos correspondentes so enviados ao usurio,
geralmente acompanhados de uma ficha de controle e de acompanhamento,
na qual ele pode indicar os documentos que lhe interessam, se deseja
cpias, ou porque os documentos listados no so de seu interesse.
A elaborao dos perfis uma operao complexa que necessita a
interveno de especialistas de informao qualificados e a participao
do usurio. feita geralmente em vrias etapas. Os perfis devem ser
regularmente verificados e atualizados.
possvel organizar um servio manual de DSI para um nmero
limitado de usurios. Entretanto, este sistema estendeu-se graas
generalizao das bases de dados bibliogrficas automatizadas.
O servio de DSI funciona por assinatura de acordo com o nmero de
bases bibliogrficas acessadas e com o nmero de palavras-chave do
perfil. Cada vez que a base de dados atualizada, o usurio recebe uma
lista de referncias.
Um servio de DSI pode ser oferecido a um usurio particular (perfil
individual), ou a um grupo de pessoas com interesses comuns (perfil de
grupo ou standard) (ver ilustraes no final do captulo). O perfil de grupo
evidentemente mais barato que o individual. Alguns servios de informao
definem, algumas vezes, um nmero determinado de perfis que cobrem as
principais necessidades de informao de seus usurios. Este procedimento
atualmente o melhor servio de informao corrente.
Os servios de busca retrospectiva visam fornecer aos usurios as
referncias dos documentos que respondem a uma questo especfica,
muitas vezes nica. O usurio destes servios no pretende manter-se
atualizado, mas buscar a soluo de um problema. Este problema pode
apresentar-se das mais variadas formas, que vo de uma simples informao
prtica recuperao de todos os documentos existentes sobre um
determinado assunto.
Os servios de pesquisa bibliogrfica tm por objetivo ajudar o usurio
a definir corretamente seu problema, geralmente em funo da utilizao
que ele pretende fazer das informaes, o que pode determinar a escolha
de fontes diferentes. A seguir, o documentalista pode lhe indicar os
diversos catlogos, repertrios, fichrios, publicaes secundrias ou
bases de dados onde ele pode encontrar as referncias pertinentes,
explicando-lhe os procedimentos que deve tomar (pesquisa direta) ou
fazendo a pesquisa em seu lugar (pesquisa delegada).
A pesquisa pode ser feita a partir dos instrumentos disponveis na
unidade e fora dela. Alguns destes instrumentos so direta e imediatamente
Os servios de difuso da Informao
acessveis, como os catlogos de uma biblioteca ou as colees de
documentos secundrios; outros necessitam um equipamento especial,
como no caso de pesquisas on-line, por exemplo. Para efetuar buscas on
line, a unidade de informao deve dispor de um terminal ligado a bases
de dados ou a uma rede de informao. A pesquisa feita na hora. Este
mesmo procedimento pode ser utilizado para as buscas correntes, na
medida que as bases de dados so, em geral, constantemente atualizadas.
O servio fornece uma lista de referncias bibliogrficas, eventualmente
acompanhadas de resumos dos documentos, ou os nmeros de identificao
dos documentos ou de suas referncias.
Difuso de informaes uma expresso inadequada para designar
todos os servios que tm por objetivo no entregar documentos primrios
ou fornecer suas referncias, mas difundir informaes diretamente
explorveis, explor-las ou ainda apresent-las de uma forma mais
conveniente aos usurios.
Os servios de pergunta e resposta representam um primeiro passo
nesta direo. Eles se esforam em definir com preciso as informaes
que o usurio necessita e a apresentao que melhor lhe convm (ver
ilustrao no final do captulo). Estes servios buscam as informaes
necessrias na unidade de informao ou em outros locais. Quando todos
os elementos de informao so recebidos, eles so formatados de acordo
com as especificaes do usurio (o que pode significar a extrao dos
dados, a avaliao ou a sntese de vrios elementos de informao). Este
processo longo e complicado, e requer pessoal competente.
O servio de pergunta e resposta pode conservar fichas de informaes
elaboradas, ou dossis que lhe fornecem rapidamente elementos para a
resposta, medida que um certo nmero de perguntas pode ser previsto
com antecedncia. Esta atividade pode justificar por si s a existncia de
uma unidade de informao especializada.
Os bancos de dados conservam em seus arquivos extremamente
estruturados, no as referncias aos documentos, mas informaes
fatuais, muito precisas, que foram extradas dos documentos. Eles
fornecem informaes imediatamente explorveis. Alguns bancos de
dados de medicina, por exemplo, podem ser consultados durante uma
interveno cirrgica para determinar as causas de um incidente operatrio
e as medidas que devem ser tomadas.
A anlise da informao consiste em descrever as informaes contidas
em documentos relativos a um assunto preciso. Esta descrio feita em
funo de um nmero determinado de critrios que correspondem a
diferentes questes e a diferentes pontos de vista dos usurios. Se um
documento trata de irrigao, por exemplo, deve-se precisar o sistema de
irrigao utilizado, as condies em que o trabalho foi efetuado, em que
culturas foi desenvolvido e com que parmetros (como custo, consumo
dgua e evaporao) ele pode ser aplicado. Desta forma, o sistema est em
condies de recuperar documentos que correspondem a uma situao
Os servios de difuso da informao
determinada. Este tipo de anlise possvel em um domnio bem delimitado
do conhecimento, onde podem ser estabelecidos critrios definitivos.
Enquanto os bancos de dados fornecem dados individuais, o servio de
anlise da informao indica os documentos que apresentam diferentes
categorias de dados, de acordo com a necessidade. Tanto um quanto o
outro servio podem constituir-se na nica atividade de uma unidade de
informao, ou formar um servio especial dentro de uma unidade com
vrias funes.
A consolidao da informao consiste em verificar a validade das
informaes contidas em diversos documentos, ou em definir seus limites
e em confrontar as informaes sobre um assunto preciso, fornecidas por
diferentes fontes, para obter uma informao cumulativa e avaliada. Este
resultado geralmente incorporado a um arquivo especial e difundido em
um documento tercirio. A consolidao exige, na maioria dos casos, um
trabalho de pesquisa no conjunto de informaes primrias reunidas.
A avaliao da informao uma operao menos elaborada que a
consolidao. Entretanto, as fronteiras entre uma e outra so muito
imprecisas. A avaliao consiste em submeter uma informao ou uma
srie de informaes sobre um determinado assunto a um, ou a vrios
especialistas, que fazem um exame crtico e determinam seu valor,
globalmente, ou especificamente. Um meio prtico de fornecer uma
informao avaliada a um usurio coloc-lo em contato direto com um
especialista, de determinado assunto. Este especialista recebe informaes
correntes e fornece, quando necessrio, os resultados de pesquisas
retrospectivas sobre o tema. Este servio pode ser sistematizado por uma
unidade de informao, pela manuteno de um registro especial que
descreve os campos de pesquisa de vrios especialistas e os contata
regularmente, utilizando servios de informao corrente.
O reempacotamento da informao tem por objetivo reunir as
informaes fornecidas de diversas formas, por fontes diversas, e apresent-
las de outra forma, eventualmente sobre outro suporte, de maneira que os
usurios possam utilizar esta informao facilmente. Esta apresentao
pode ser, por exemplo, uma mistura de referncias, resumos e citaes, de
tabelas, uma nota de sntese, uma montagem audiovisual, um filme,
cartazes e um documento de divulgao.
Esta operao longa e relativamente cara. Ela vivel se for a nica
forma de difundir uma informao, ou se seu custo for inferior ao custo
de um trabalho semelhante feito pelo usurio. Ela se justifica tambm se
os produtos obtidos podem ser utilizados muitas vezes por um nmero
relativamente grande de usurios. Pode-se, por exemplo, resumir, em
uma montagem audiovisual de meia hora, um relatrio de sntese ou um
plano de mais de mil pginas que exigiria vrios dias de leitura, em uma
forma acessvel a todos e que d uma viso de conjunto do assunto.
361
Os servios de difuso da Informao
Difuso de documentos tercirios
Os documentos tercirios formalizam o resultado destas diversas
operaes, como a reunio de informaes fornecidas por vrias fontes, a
anlise, a avaliao, a consolidao e a extrao de dados. Podem ser
produzidos para responder a uma questo particular em forma de notas
de sntese, de recenses e de estados-da-arte, ou sob a forma de recenses
anuais ou de advances in. Estes produtos tm a dupla vantagem de
condensar as informaes disponveis sobre o assunto e de fornecer ao
mesmo tempo uma informao de qualidade.
Os servios de contato so essencialmente intermedirios ativos entre
servios de informao e usurios. Especialistas dos assuntos tratados
contatam os usurios, identificam seus problemas e os pem em contato
com os servios de informao apropriados ou exploram estes servios
para eles. Estes servios so uma forma privilegiada de estimular a
circulao da informao das unidades aos usurios, bem como no
sentido inverso (o agente de contato pode localizar documentos teis e
identificar novas fontes de informao e especialistas). O pessoal
encarregado desta atividade deve ter bons conhecimentos tcnicos e uma
qualificao em cincia da informao.
Os servios de informao expressos, tambm conhecidos como servios
de informao Jlash, fornecem um nmero reduzido de informaes
importantes e atuais em forma condensada (escrita ou oral). Tm a
finalidade de informar os usurios sobre o que acontece na sua
especialidade, ou de responder a solicitaes permanentes. Mesmo que
seja possvel utilizar diretamente os ttulos ou os resumos dos documentos
(o que corresponde a um servio de informao corrente simples), na
maioria das vezes, preciso avaliar, selecionar, condensar e transformar
as informaes para este tipo de servio.
A difuso por contato direto , na maioria dos casos, negligenciada
pelas unidades de informao. Entretanto, os usurios recorrem
constantemente a esta fonte na sua busca pessoal de informaes. Este
um dos canais preferidos pelos usurios, devido s possibilidades de
dilogo, de avaliao e de seletividade que oferece. Esta difuso pode
tomar a forma de entrevistas organizadas entre o usurio e um especialista,
ou de visitas individuais ou coletivas a instituies, a centros de produo,
ou sob a forma de reunies de informao ou de seminrios.
O resultado destes encontros pode ser gravado, para ser reutilizado
como resposta a questes futuras (isto se aplica a todas operaes
ocasionais de difuso).
Este tipo de ao tem a vantagem de ser uma excelente forma de
promoo das atividades de informao. Elas servem como paliativo
insuficincia dos fundos documentais.
A utilizao da mdia (imprensa diria, peridicos de informao, rdio
Os servios de difuso da Informao
e televiso) tambm uma forma Importante de promoo dos servios de
Informao e de difuso das Informaes cientficas e tcnicas,
principalmente nos pases onde uma parte considervel da populao no
tem acesso s unidades de informao, por estar longe destas unidades,
por analfabetismo, ou por dificuldades lingsticas.
O feedback dos usurios uma parte fundamental dos servios de
difuso. A unidade deve procurar ter o mximo de informaes sobre a
eficcia dos seus servios, isto , a adequao de seu contedo e de sua
apresentao s necessidades dos usurios para poder aperfeio-los de
acordo com estas necessidades. Estes resultados podem ser obtidos
estimulando os usurios a entrarem contato com a unidade de informao,
aps o fornecimento dos servios. Este estmulo pode ser realizado pelo
envio de formulrios que lhes permitam solicitar servios complementares
ou dar sua opinio sobre estes servios. Estes formulrios podem ser
includos nos produtos de informao ou distribudos sistematicamente,
no momento de enquetes ocasionais, ou durante contatos pessoais que as
unidades podem e devem manter com os usurios.
conveniente procurar saber no apenas se o servio til, o que quase
sempre o caso, se no existe outro meio de informao, mas, sobretudo,
se eficaz, isto , se se traduz efetivamente por uma melhor qualidade dos
documentos ou por um aumento de produtividade dos usurios.
Os servios de bancos de dados
e as redes de telecomunicaes
Os servios de bancos de dados e as redes de telecomunicaes tm um
papel essencial na difuso das informaes produzidas pelo conjunto dos
servios descritos anteriormente (ver o captulo A Indstria da informao").
Estes servios so organizaes que exploram um sistema automatizado
que permite aos usurios consultar, distncia, um conjunto de bases ou
de bancos de dados (figura 33).
Os servios de bancos de dados so a base da indstria da informao.
Eles geram e gerenciam arquivos criados pelos produtores de Informao,
para coloc-lo disposio do usurio, por meio de programas de
interrogao. Estes servios tm as seguintes funes:
- geram as bases de dados tratadas previamente pelos produtores,
isto , submetem estas bases a um tratamento informatizado para
tom-los interrogveis;
- assumem a responsabilidade pelo funcionamento de todos seus
instrumentos, programas e materiais;
- asseguram a manuteno do programa de interrogao;
- fazem contato com os usurios (para o estabelecimento de
contratos, para a formao e fornecimento de documentao).
Os servios de difuso da informao
Usurios
Figura 33. Localizao dos servios de bancos de dados e das redes de
telecomunicaes na indstria da informao.
Existem vrios tipos de servios de bancos de dados:
os polivalentes, verdadeiros supermercados de informao, ou
megasservios. Eles oferecem um nmero elevado de bases de
dados que cobrem todos os assuntos. O mais conhecido o Dialog,
que possui cerca de 300 bases de dados;
- os especializados, que cobrem um ramo muito preciso de atividades,
como as finanas ou o direito, por exemplo. Oferecem, de forma
exclusiva, bases ou bancos de dados muito pertinentes e exaustivas.
Este o caso do Mead Data Central, que explora o banco de dados
Nexis, especializado em imprensa, ou o banco de dados financeiro
Dow Jones;
- os integrados, onde produtor e servio difundem seus prprios
produtos documentais. o caso do Resagri, associao que rene
em rede, unidades de informao agrcolas. Resagri , ao mesmo
tempo, produtor e servio de bancos de dados, como o Ergodata,
mencionado no captulo anterior;
- os fornecedores de servios especializados, que oferecem um conjunto
de servios no campo da informao. As bases de dados representam
apenas um elemento no conjunto de suas atividades comerciais.
Pertencem a esta categoria o servio de bancos de dados francs
GSI-ECO e o americano Data Ressources Inc.;
- as sociedades de servio de informtica (como a CISI, na Frana, ou
a Control Data, nos Estados Unidos), que difundem bancos de
dados, entre outras atividades;
- os servios de videotexto, que constituem uma categoria especial.
Eles utilizam as normas de videotexto, sistemas que permitem visualizar
Os servios de difuso da Informao
em uma tela de televiso Informaes grficas e alfa numricas transmitidas
pela rede telefnica. Estes servios oferecem o acesso mais simples s
bases de dados e tm as seguintes caractersticas: banalizao do terminal
de interrogao, como o Minitel, na Frana; utilizao da rede telefnica
comutada comum; apresentao da informao da forma mais simplificada
possvel: pelas arborescncias e guias com menus explcitos.
Pode-se distinguir trs classes de servios de videotexto em funo do
acesso simultneo que oferecem ao usurio: os grandes servios, que
oferecem mais de cem acessos; os minisservios, que so os mais freqentes
e oferecem cerca de cem acessos; e os microsservios, que permitem cerca
de 32 acessos, no mximo.
As aplicaes do videotexto so mltiplas. Pode-se reagrup-las em
duas categorias principais: os servios de informao destinados ao
grande pblico, como consulta a informaes, servios, horrios, cmbio
e formalidades administrativas, entre outras; e os servios destinados a
profissionais, como mdicos, juristas e documentalistas. A maioria dos
servios de bancos de dados documentais oferece uma verso de seus
programas de interrogao em videotexto, como o ESA-IRS, o Questel e o
Synorg, entre outros.
Existem atualmente no mundo cerca de cem servios de bancos de
dados com formas de armazenamento e tcnicas de pesquisa distintas.
Eles evoluem com o progresso tecnolgico. Os programas de interrogao
e os procedimentos de conexo so cada vez mais simplificados. Os
servios de telemtica, oferecidos por estas instituies, so mltiplos:
correio eletrnico, telefacsmile, elaborao de ndices, elaborao de
boletins e realizao de estatsticas, entre outros, que esto se tornando
inteligentes.
Para utilizar estes servios, o usurio deve firmar um contrato com a
instituio fornecedora. Ele recebe uma senha que assegura a
confidencialidade de suas pesquisas e que permite tambm a cobrana
das mesmas. Alm disso, o usurio pode receber documentos, como
manuais de utilizao das bases de dados e publicaes como boletins de
informaes.
Para acessar as bases ou bancos de dados propostos por estes servios,
o usurio dever conectar-se a uma rede de telecomunicaes.
Existem trs categorias de redes de telecomunicaes, classificadas de
acordo com o tipo de dados que veiculam:
as redes banalizadas, como o telex e o telefone;
- as redes especializadas na transmisso de dados, que podem ser
pblicas ou privadas, como a Tymnet (Estados Unidos) e a Transpac
(Frana);
- as redes dedicadas, reservadas a um tipo de aplicao definida.
A rede Esanet, por exemplo, dedicada interrogao dos bancos
de dados como a OCLC (ver captulo A unidade de informao e as
novas tecnologias").
Os servios de difuso da informao
Questionrio de verificao
Qual a importncia da difuso na cadeia documental?
Como realizada a difuso dos documentos primrios?
O que o direito de autor?
Que dificuldades este direito impe difuso de documentos?
Em que consiste a difuso seletiva de informaes?
O que um banco de dados?
Cite os organismos que difundem documentos tercirios.
O que reacondicionamento da informao?
O que um servio de bases de dados?
Qual a funo do transportador?
Bibliografia
1. Direito autoral
L ABC du droit dauteur. Paris, Unesco, 1982..
Banques de donnes et droit d auteur. Colloque organis par VInstitut de
recherche en proprit industrielle. H Desbois et VUniveeersit de
Paris-Dauphine. 27 nov. 86. Paris, Librarie technique, 1987. (Le droit
des affaires, proprit intellectuelle.)
Copyright laws and treaties o f the world. Paris, Unesco, 1988. 3 vol. et. 24
supplments.
2. Difuso
A briet guide to centers o f intemational lending and photocopying, 3Bd.
compile par R. J. Bennet. La Haye, IFLA, 1986.
Congrs intemational sur 1'accs universel aux publications. Paris, 3-7 mai
1982. Document de trauail principal avec programme annot et rsum.
Paris, Unesco, 1982. (Doc. PGI-82/UAP/2.)
Congrs intemational sur Vaccs universel aux publications. Paris, 3-7 mai
1982. Paris, Unesco. 1982. (PGI-82/UAP/6.)
DUCHEIN, M. Obstacle Vaccs, Vutilisation et au transfert des informa-
tions d'archives. Paris, Unesco, 1983. (Doc. PGI-83/WS/20.)
DULONG, A. Les centres d'orientation: prncipes directeurs. Paris, Unesco,
1979. (Doc. PGI-79/WS/42.)
ISO. KWIC Index, 3Bd. Genve, ISO, 1987.
Os servios de difuso da informao
LINE, M. ; BRIQUET DE LEMOS, A. et VICKERS, S. National interlending
systems: a comparative study o f existing systems and possible
models. Paris, Unesco, 1980. (Doc. PGI-78/WS/24.)
LINE, M. B. ; KEFFORD, B. et VICKERS, S. C. J. L accs intemational aux
publications : approvisonnement et foumiture. Paris, Unesco, 1981.
(Doc. PGI-81/WS/30.)
PONCELET, J. Cuide pour Vimplantation et Vvaluation des seruices de
diffusionslectivedeVinformation.Paris.XJnesco, 1980. (Doc.PGI-80/
WS/14.)
WEATHLEY, A. Manual on prnted subjet index. Londres, British Library,
1981.
3. Linguagem e traduo
Confrence intemationale sur la thorie et la pratique de la traduction
scientifique. Moscou, 2-6 dcembre 1985. Moscou, 1986.
GUHA, B. Study on the language barrier in the production, dissemination
and use o f scientific and technical information with special reference to
the problems o f the developing countries. Paris, Unesco, 1985. (Doc.
PGI-85/WS/34.)
4. Editorao eletrnica
ADBS. L'dition lectronique. Du plomb Vlectron. La Documentation
franaise, 1985.
GURNSEY, J. Electronic document delivery. Oxford, Learned Information,
1982.
5. Servidores e difuso telemtica
BARES, M. Servetrs de donnes et rseaux tlematiques: nouvellesformes
de Vinformation et de la communication. Paris, Lavoisier, 1987. (Coll.
Tldoc.)
CHAUMIER, J. Systmes d'information : march et technologies. Paris,
Entreprise moderne ddition, 1986. (Coll. Systme dinformation et
nouvelles technologies.)
SCHWEIGES, B. et VANIMPE, J. -L. Vidotex. Possibilits et applications.
Paris, Les ditions dorganisation, 1984.
Voir aussi la bibliographie des chapitres intituls La recherche
documentaire et Les types d'unit dinformation et les rseaux".
367
Os servios de difuso da informao
Boletim de sumrios. CURRENT CONTNS, Seo de cincias sociais e de
comportamento, Institut for Scientific Information.
368
Os servios de difuso da informao
01. 01 I NTERNATI ONAL COOPERATI ON
83471 1978 78P09602
3
01. 03 I NTERNATI ONAL OBGAMI ZATI ONS
<CONT. >
KI LBY P BAHGASSER P
83631 1976
I LO HARKER H. J 0H5 ( C. L. C. )
ASSESSI NG TECHNI CAL CO- OPERATI ON; THE TRI PARTI TE WORLD EBPLOYBENT CONFERENCE.
CASE OF RURAL I NDUSTRY. I NTERNATI ONAL LABOUR GAZETTE ( OTTAWA) , 76( 9) , SEP
LABOUB BEVI EH ( GENEVA) , 117( 3) , BAY- J UN 1976, 481- 482.
1978, 343- 353. / ARTI CLB/ REPORTI NG OH PROPOSALS AND
/ I LO PUB/ . / ARTI CLE/ ON THE / ROLE OP / RECOBHENDATI OH/ S BADB AT
I LO/ - / UNDP/ / TECHNI CAL ASSI STANCE/ TO / I NTERNATI ONAL LABOUR CONFERENCE/ ON
PROBOTE / RURAL I NDUSTRY/ I N / DEVELOPI NG / I NTERNTI OHAL/ / EHPLOI BENT/ - DI SCUSSES
COUNTRY/ S - COBPRI SES / PROJ ECT I SSUE OF / HI GRANT WORKER/ AND FOREI GN
EVALUATI ON/ OP EI GHT / DEVELOPBENT WORKER, LOOKS AT PROBLEBS OF
PROJ ECT/ S PROB THE POl NT OP VI E8 OP / TECHHOLOGI CAL CHANGE/ , / TECHNOLOGY
/ PROJ ECT SELECTI ON/ AND / BANAGEBENT/ TRANSFER/ AND HEED OF / DEVELOPI NG
AND / PROJ ECT DESI GN/ , ETC. / R3PSRENCE/ S COUHTRY/ S FOR / CHOI CE OF TECHNOLOGY/ ,
AND / STATI STI CAL TABLE/ S. EXABI NES / UNEBPLOYHENT/ I N / DEVELOPED
ENGL FREN COUNTRY/ S, AND STRESSES PRI ORI TY OP
/ BASI C NEEDS/ FDLFI LLBENT FOR
01 . 03 I NTERNATI ONAL ORGANI ZATI OHS / DEVELOPI NG COUNTRT/ S.
ENGL
83548 1976 ABSTR. I D: 05- J S I SSN: 0023- 6926
ECONOBI C AND SOCI AL J USTI CE. CANADI AN
LABOUR ( OTTAWA) 21 {1) , BAR 1976, 26- 33.
CI RL NO: 30. 22
TEXT OF THE I NTERNATI ONAL CONPEDERATI ON 02. 01 DEVELOPBENT POLI CY. ECONOBI C POLI CY
OP FREE TRADE. UNI ONS ( / I CPTU/ ) POLI CY
/ STATEBENT/ ON WORLD / ECONOMY/ AND
AND PLANNI NG
SOCI AL J USTI CE. 83781 1976
ENGL
I NCOHES POLI CY I N THE UNI TED KI NGDOB.
ABSTR. I D: 10- BD I SSN: ' 0008- 4336 EUROPEAH I NBUSTRI AL RELATI ONS REVI EW
CI RL HO: 01. 0 ( LONDON) , ( 34) , OCT 1976, 7- 10.
/ ARTI CLE/ ON THE / HI STOBI CAL/
83466 1978 78P09602
BACKGBOUND AND ON CURRENT DEVELOPBENTS
DE GI VRY J OF THE SOCI AL CONTRACT FORBULA AND
I LO / I NCOBES POLI CY/ I N THE / UK/ -
I LO AND THE QUALI TY OF WORK1NG LI FE; A DI SCUSSES ATTEBPTS TO I BPLZBEVT AN
NEW I NTERNATI ONAL PROGRABBE: PI ACT.
I NCOBES POLI CY OVER THE PAST THI RTY
I NTERNATI ONAL LABOUR REVI EW ( GENEVA) , YEARS AND ANALYSES THE VARI OUS REASONS
117( 3) , BAY- J UN 1978, 261- 271. FOR FAI LURE.
/ I LO PUB/ . / ARTI CLE/ ON / PI ACT/ - ENGL
EXPLAI NS THE OBJ ECTI VES AND ABSTR, I D: 04- ER I SSN: 0013- 0133
CHARACTERI STI CS OF THE PROGRABBE, AND
GI VES EXABPLES OF ACTI VI TI ES COVERI NG
CI RL NO: 22. 3
/ OCCUPATI ONAL HEALTH/ , / OCCOPATI ONAL
SAFETY/ , / HUBANI ZATI ON OF WORK/ , / J OB
02. 03 SOCI AL SECURI TY
ENRI CHBENT/ AND THE / ARRANGEBENT OF 83604 1976
WORKI NG TI BE/ , ETC. / REFERENCE/ S. LABERGE ROY
ENGL FREN SPAN CANADI AN COUNCI L ON SOCI AL DEVELOPHENT
STUDY: THE CANADI AN LABOUR BARKET.
83728 1977
LABOUB GAZETTE ( OTTAWA) , 76( 6) , J UN 1976,
I LO SEI S NEW GUI DELI NES. LABOOR 316- 319.
GAZETTE ( OTTAWA) , 77( 9) , SEP 1977, 417- 418. / ARTI CLE/ EXAHI NI NG POLI CY STATEBENT OF
/ HEPORT/ ON / ROLE OF I LO/ ACTI VI TI ES I N
CANADI AN COUNCI L ON SOCI AL DEVELOPBENT
GENERAL LABOUR I SSUES - FOCUSSES ON ON CONDI TI ONS POR / HETI REBENT/ I N
RELATI ONS WI TH / UN/ AND CHARGES OF / CANADA/ - SCRUTI NI ZES COBPOLSORY
OVERT / POLI TI CAL PARTI CI PATI ON/ , RETI REBENT POLI CY, / PENSI ON SCHEBE/ S OF
PROBLEBS OF / TECHNOLOGY TRANSFER/ AND / PUBLI C SECTOR/ AND / PRI VATE SECTOR/ ,
/ DEVELOPI NG COUNTRY/ S, ENFORCEBENT OF PRE RETI REBENT COONSELI NG AND / OLD AGE
/ COLLECTI VE BARGAI NI NG/ RI GHT AND BEANS BENEFI T/ S.
OP / DI SPUTE SETTLEBENT/ . ENGL
ENGL ABSTR. I D: 05- J S I SSN; 0023- 6926
ABSTR. I D: 05- J S I SSN: 0023- 6926
CI RL NO: 10. 1
CI RL NO: 46. 52
83649 1976
83630 1976 CHANGES I N PROVI NCI AL SOCI AL ASSI STANCE
f l AI NWARI Sf i . J QH ( LABOUB GAZETTE) LEGI SLATI ON I N 1975. LABOUR GAZETTE
I NTERNATI ONAL LABOUR CONFERENCE 1976. ( OTTAWA) , 76( 11) , NOV 1976, 610- 615.
LABOUR GAZETTE ( OTTAWA) , 76( 9) , SEP / ARTI CLE/ / COBBENT/ I NG ON CHANGES BADE
1976, 478- 480. I N / SOCI AL ASSI STANCE/ / LEGI SLATI ON/ BY
/ ARTI CLE/ FOCUSSI NG ON THE PROVI NCES I N / CANADA/ TO ALLOW FOR
/ RECOBBENDATI ON/ S AT / I NTERNATI ONAL I NCREASED / COST OP LI VI NG/ .
LABOUR CONFERENCE/ ON WAYS TO I BPROVE ENGL
/ HUBANI ZATI ON OP WORK/ AND AVOI D SAFETY ABSTB. I D: OS- J S I SSN: 0023- 6926
HAZARDS ON THE J OB - GI VES SPECI AL
EBPHASI S TO / NURSE/ I NG PBOFESSI ON.
CI RL HO: 32. 1
ENGL 83859 1977
ABSTR. I D: 05- J S I SSN: 0023- 6926 BACNI VEH STUART A ( CUPA)
CI RL NO: 35. 3 CURRENT CRI SI S I N SOCI AL SECURI TY.
Boletim analtico: o resumo composto de descritores formando frases.
Documentao do Bureau intemational du travail (BIT).
369
Os servios de difuso da informao
ndice de assuntos. BULLETIN SIGNALTIQUE, seo sociologia/etnologia do
Centre national de la recherche scientifique, France.
370
Os servios de difuso da Informao
INDEX PERMUTE DES PERIODIQUES
REUS DE 1968 A 1974
JB34
11665
006 51
14148
16025
03946
1*899
0 96 03 8
11807
11818
05906
08325
07833
042 87
04287
12120
00813G
15094
05712
15820
133 99
0S883
10182
00216
09B48
10489
09256
13726
13190A
15887
009258
00925A
13265
0V59O
01883A
01S83C
08863
1297*
02006
003478
003*7F
003478
00347*
003*?C
00347C
11780
U762
13109
02954
11949
02847
REVUE
0 POLITEKHN1HE SKOGO INSTITUTa 1HN
OIE HUIOtGlr WETENSKAPLIKE NAVOPSING
IFT VAN DE BELGISCHE VERENiGING VOOR
EESTl G60GRAAFIA SELTS1
* LOOOUSUUR1JATE SELTSI
REVUE TECHNIOUE VETERINAIRE OES
. A . (REVUE TECHNIOUE VETERlNAIftE OES
JOURNAL (THE) OF
ANNALES DE L
* SANTE I L A ) OE L
*
RANCAIS.) *
* GECMAGNET1SCHES INSTITUT POTSOAM.
TISCH-NATURWISSENSCHAFTL1CHE KL ASSE*
* BIOLOGISCHE
80NNER GEOGRAPHISCHE
CHAFTEN ZU BERLIN. MISSENSCHAFTL1CHE
ENTOMOLOGISCHE
UNIVERSITAET BERLIN.. HETEOROLOGISCHE
NIGUNG FUER BflUtCKENtAU UNO HDCHBAU.
BcROESTERRElCHlSCHEN MUSEALVEREINES.
NUENCHENER GEOGRAPHlSCHE
CH FUER GEOLOGIE UNO PALAE0NT0L0G1E.
NEUES JAHRBUCH FUER MINERAL061E.
* OBERRHElMISCHE GE0L0C1SCHE
SCHWE12ERISCHE PALAEONTOLOGISCHE
ATISCH-PHYSIKAL ISCHc KL ASSE
H-PHYSIKALISCHE KLASSE. SONOERHEFT
AT! SC
*
ALTENBURG
U HUETTENWESEN UNO HONTANGOLOGIE
KLASSE FUER BERGBA
FUER CHEMIE, GEOLOGIE UNO BIOLOGIE *
KLASSE
UER MATHENATIX, PHYSIK UNO TECHNIK *
KLASSE f
KLASSE FUER ME0IZ1N *
4. (MEDIZIN)
TAET BERLIN
* ASTRONOMISCHE
REMEN
A . A . ZHOANQVA TRUOf G0RKOT5KOG
AACHENER BLAETTER FUEfl UFBREITH-VERKKN-8RiKTTIEREN
AAN SUIO AfRIKAANSE UNIVERSITEITE * REG15TER VAN
A . A . P . G . MEHOIR (AMERICAN ASSQC1ATI0N OF PETROLEUM SEOLOGISTSJ
AARDRIJKSKUNOIGE STUOIE * TIJQSCHR
A . A . S * NEMSLETTER- IAMERICAN ASTR0NAUT1CAL SOCIETV.
A . A . S . SCIENCE ANO TECHNOLOGY SERIES (AMERICAN ASTRONAUTICAL SOCIE
AAST ARAAHAT
AASTARAAMAT
A . A . V . S . D . REPORT (THE AMERICAN ASSOCIATIDN OF VARIABLE STAR OBSER
A B . METAL OIGEST (AOOLPHE BUEHLER)
ABASTUMANSKAJA ASTROFIZICHSKAJA OBSERVATO*1JA. BJULLETEN
ABATTOIRS ET D'HYGIENE ALIMENTAI RE
ABATTORS ET 0'HVGIENE ALIMENT AI RE . 1 R .T .V
ABDOMINAL SURGERY
ABE1LLE
ABE1LLE
ABE1LLE ( L M OE FRANCE ET L APICULTEUR
A . B . F . 0ULLET1N 0 INFORHATIONS (ASS0CIAT10H OES BIBLI0THECA1RES F
ABHANDLUNG
ABHANDLUNGEN * BATERISCHE AKAOEMIE DER WISSENSCHAFTEN. MATHEMA
ABHANDLUNG N
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
A8HANCLUNG6N
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
* DEUTSCHE AKAOEMIE OER LANDMIRTSCMAFTSM1SSENS
INSTITUT fUER METEOROLOG1E UND GEOPHYSIK OER FRKIEN
INTERNATIONALE VEREI
* JAHRBUCH OES 0
NEUES JAHRBU
DER AKAOEMIE OER WlSSENSCHAFTEN IH G0ETTIN5EN- MATHEM
OcR AKAOEMIE OER HI5SENSCHAPTEN IN GQ&TTINGEN. MATHEH
UNO BERICHTE DES NATURKUNOEMUSEUMS GOERLITZ
UND SERICKTE DES NATURKUNOLICHEN MUSEUNS MAURITIANUM
OER BRAUNSCHWEIGISCHEN ISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAF
DER OEUTSCHEN AKAOEMIE DER WI SSENSCHAFTEN ZU BERLIN.
DER OEUTSCHEN AKAOEMIE OER MISSENSCHAFTEN ZU BERLIN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANCLUNGN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN
ABHANDLUNGEN OER OEUTSCHEN AKAOEMIE DER NISSENSCHAFTEN ZU 8ERLIN.
ABHANDLUNGEN DER OEUTSCHEN AKAOEMIE DER Ml SSENSCHAFTEN ZUBERLIN.
ABHANDLUNGEN DER OEUTSCHEN AKAOEMIE DER MISSEHSCHAFTEN ZU BERLIM,
ABHANOLUNGEN OER OEUTSCHEN AKAOEMIE OER H!SSENSCHAFTEN ZU BERLIN.
ABHANDLUNGEN DES ( 1 . 1 GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS OER FREI EN UHlVERSI
ABHANDLUNGEN OER HAMBURGER STERNWARTE
AOHANDLUNGEN AUS DER HAMBURGER STERNMARTE
ABHANDLUNGEN HERAUSGEGEBEN VOM NATUKWISSEKSCHAFTLICMEN VEREIN ZU 6
ABHANDLUNGEN OES HESSISCHEN LAMDE5AMTES FUER BODENFORSCMUNG
ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHENATISCHEN SEMINAR OER UNIVERSITAET HAMBU
ndice permutado de perodicos.
371
Os servios de difuso da informao
NUMBER 1 J AN-MARCH 1979
Index to
Social
Sciences &
Humanities
Proceedings
Institute for Scientific Information"
ndice de atas de conferncias.
Os servios de difuso da informao
INDEX GOGRAPHIQUE
sifghanlstan. 106. 183. 383. 384. 1488, 1530. 1937.
Hindu Kush. Monts. 1148.
Nord, 182.
Nuristan. 1712
Nuristan, Parum Valley. 1720.
Afrlque, 20. 284. 447, 832. 851. 668, 709. 742. 778,
795. 796, 799. 803. 805, 808, 835. 838. 838, 875,
1218. 1303.
Central, Grands Laca. 1890.
Est, 548, 1449. 1891
Nord. 1432
Sub saharienne, 806.1471,1750.
Sud, Centrale. 1813.
Afrlque centrale. 61.
Afrlque nolre, 399,558,807, 1020. 1202
Afrlque Occldentale, 124. 626, 881,722, 913. 945,
996, 1060.
Cte de l'or, 928.
Afrlque orlentale, 1290.
Afrlque troplcale. 733.1019, 1030.
Alaska, 498. 654.813, 1111. 1281. 1957, V
Mont Saint Elias. 577.578.579
Yukon Kuskokwim, 544.
Algrle. 574,637. 641, 887.
Ahaggar, 735.
Basse-Kabylie, 500.
Dahra oriental, Djebel Bissa, I j uo
El Aouna, 507.
Kabylie. 784.
Mzab.735.
Ouarsenis, 557. 992
Ourgla. 735.
Touat. 735.
Touat-Gourara, 1499.
Altemagne. 480,705, t707. 1758, 1816.
Altenbdingen an der Sieg, 1754.
Gmunden, 1819.
Hambourg, 1650.
Schleswig, 1497.
Westphalie, 1666, 1938.
Alpes, 1535.
Amazonle. 391,1066.
Amrique du Nord
Ouest, 1165.
Amrique latne, 267. 284. 398. 530, 1999.
Andes. 103.313, 1093
Centrai es, 50.
Centre. 560.
Corridor interandin. 97.
Nord, 560
Angola. 176. 255. 476, 477. 479, 949, 99' 817.
1879.
Momedes (district de), 555.
Nord-est 779.
Antllles
Grenade. 106a
Jamalque, 710.
Vierges, iles, 1061.
Arctique. S25, 561.
Argentine, 315, 931.
La Rloja, 1285.
Pampa, 1685.
Pampa Bonaerense, 1421
Provincia de Jujuy, 1425.
Santiago dei Estero, 620
Artols. 696.
Asle, 601,792
Centrale, 1394.
Sud, 1110.
Sud-est, 2002
Asle du Sud-Rst, 242, 1317.
Australie. 298, 505, 968. 1010, 1034, 11 .388,
2006,2007. 2011, 2012
Cape Barren, Iles. 1440
Dsert Occidental, 384.
Dtroit de Torres Murray, iles, 1834.
Nord. 1924.
Nord, nord-ouest 1697.
Tasmanie. 821,1492
Terre dArnhem, Bickerton. II*. 1917
Autriche, 8*8.1415.
Neusiedlersee, 194a
95.
Basse-Autrlche. 1531.
Beigique. 514.7ia
Ardennes. 790.
Flandres. 1889,1892, 1898.
Walkmie. 645, 675, 703, 705,716. 717. 719,
773,774.775.791.
Eengale
Est. 1548.
Iode, 1928.
Blbliographie. 391.
Blda, Emlrat, 920.
Blrmanle, 755,1656.
Boltrie. 5ft 253. 967, 1636
Orlentale, 1916.
Pimont Andin, 97a
Tiraque, 271.
Bono
Sarawak, 1582
Borno. 1875.
Sarawak. 1444. 1445, 1485, 1672. 1673,
174a 1881.
Sarawak, Limbang. 1443.
Sarawak, Paku River. 1851.
Botswana, 62a 1429.
Brsll, 112 ISO, 270. 274. 284. 697, 817, 1310, 1311,
147a 1606, 1984. 1988. 1993.
Amazonie, 1309. 1310, 1986, 1991.
Bassin Amazonien, 1965.
Haut-Xing. 211,258.
Mato Grosso. 1313. 1985.
Ornoque (Bassin de 11.238.
Sud. 96.
Tumuc-hurr.ac. 1451.
Bulgarie. 25. 331.762. 1009. 1229, 1341, 1459. 1546.
1880, 1743. 1818, 1830.
Danube, Rgion orlentale, 142
Rhodopes, 1554.
Smodjan, 1670
Smoljan, 1504.
Sofia, 1496.
Bunyoro, 1447.
Burundi. 489.
Cachemlre, 1092
Cambodge, 21.
Cameroun, 209, 467, 471. 480, 572. 609, 707, 797,
939, 1283, 1433
Adamawa 202
Donga et Mantung, 613.
Duvangar, Wazar, 64a
Haut-Nkam. VJwee. 1252
Mandara (monts). 564.
Mokolo. 54a
Mont Cameroun, 1792
Nord. 1273, 1655, 1793.
Ouest, 529.
Shi 570.
Sud. 228. 636,757. 776.
Yaound (nord de). 531.
Canada, 38, 38a 46a 487. 491. 545, 581, 647. 655.
831.908, 1046. 1266. 1306. 1434. 1455, 145a 1462
16ia 1982
A cadie, 244.
Baie James. 367,503.
Dtroit, 1185.
Grea Whale, 1107.
Igloulik. 53a
Occidental, 929,125a
Prairie. 925.
Provinces maritimes, 1214.
Qubec. 201.248.2<t, 249. 1868.
Rserve des Slx Nations, 324.
Saskatchewan. 1969.
Sept-Ile. Sheffervllle. 37a
Territoires du Nord-Ouest, 542.
Yukon, 1044.
Cananes. 174.
Cap, Provlnce du
Kat River Settlement, 937.
Caralbe, 1448.
Carabes. 942.
Carpa tes. 1561.
Centrafrtcaine Rpubllque, 58, 918, 1040 1661.
Bouar, 179a
Chlll, 737,946, 1985.
Pampa de Tamarugal. 448.
Provlnce de Magean. 59.
Puerto Eden, 179.
Valle du rio Hurtado. Provincia de
Coquimbo, 29a
Chine, 24, 12a 20a 27a 312 585. 749. 1158. 162a
Colomble, 82, 584. 979, 990. 10ia 1074. 1104, 114a
1188. 1314, 1315. 13ia 1355. 1359.
Andes. 78.
Valle de Sibundoy. 1312
Colomble Brltannlque. 234.
Comores, 1529.
Anjouan, 940.
Congo. 283, 496, 506. 663. 69a 721. 793. 1187. 1807.
Est, 1571.
Kinshasa. 622
Nord-Est, 508.
Congo Belge
Sankuru, 951.
Congo-Brazzaville, 685. 1211.
Core, 24a 794. 1727.
Andong (aire de). 1585.
Cheju-do, 58a
Chindo, Ile, Cholla-nam-do. 1581.
Chbun, 1738.
Jeju Do. 1689,1730.
Kyong-Sang-puk-do, 1083.
Cte dlvolre, 241, 38a 459. 482. 516. 571. 599.
830, 635, 771, 1217, 1230, 1424, 1439, 1491. 1568,
167a 1716 1877, 1900, 1922, 1930, 193T
Abidjaa 382, 390.
Locodjo. 787.
Cuba. 284. 942, 1472
Dahomey, 1435. 1717, 1721, 1742 1909. 1921.
Atakora.725.
Sud. 1722
Valle du Bas Oum-So, 1015.
Danem ar k, 387.588.
Ecoese. 326. 34a 122a 1260.
Nord. 1043.
Egypte, 304. 374, 800, 169a 1711.
Nubie. 101.
Equateur, 576.967.
Espagne. 770,1773.
Canarles. Iles, Vsklsequilio, 1502
Castlile, m a
Manres, valle de. Gema, 1549.
Pyrnes. 804.
Sierra de Gredos. Barrado. 156.
Etats-Unls dAmrique du Nord. 19a 1183.
1818, 1659
Archipel de la Reine Charlotte. 281.
Arizona, 1545.1778. 1961
Califrnia. 259, 1958.
Dakota, 64, 1142, 142a 1971
Dakota. Nord, B&gneU Site, 903.
Dakota, Sud. MitchelI Site. 901.
Dakota. Wounded Knee. 1978.
Gordon. 1972
Grandes Plaines. 15a
G rands Laca, 1962
Manitoba. 1576
Missssippi, 122a 137a
Missouri 1 142
Montana, Lame Deer. 1574.
Montana, sud-est. 1047.
Nebraaka. 1972
ndice geogrfico. BULLETIN SIGNALTIQUE do Centre national de la recher-
che scientifique, France.
373
Os servios de difuso da Informao
Citation Index
To find source items that cite a specific paper:
1. locate cited author
2. locate reference year
3. k>cate referem* publication, volume, and page
4. note that source ( citing) items follow reference (cited) items
Cited item
Cited author -
Cited reference
Reference year _
Reference ioumai _
Reference volume
and page
Reference year eariier
than 1900
Reference year larer
than 1900
A BARBEAU's 1971 article
in the Canadian Medicai
Associatfon Journal was
cited by A DIMASCIO in an ~
article published in Archtves
o f General Psychlstry in
1977.
E BONILLA cites three publi
cations by A BARBE AU.
- B A R B A R U K L G . ..............................................................
.74 TSrrOLOGIYA ENET1KA 28
PISARENK.VG OOP UKR B 1*77 552 77
BARBASH J........................................................
55 U UNIONS WORKERS EDU
OWYER RE J GEN EDUC 28 145 77
68 LOGK UMONISM
MOORE MD J POUC SCI 4 71 77
-72 TRADE UNIONS NATJONA CH 8
THOMSON AWJ CORNELL I L 9 159 77
B A R B A U L T MC...............................................................
- MA THEMA TIQUES SO HU^34 27
72 TRANSfOf ---------------
r.i flnrn am.
H)
B A R B E F P ................. . . . . . X . ......................
1870 DYNAMITE SUBSHMCE / -------
-,1871 ANN CHlUIfr+hYSMJ E J 00
CROSLAND M SOOAL ST S 6
B A R B E R.......................................................... !
^59 ECONOMIC P0UT1Q SEP 14
BENNOUNE M OIAL ANTHRO 1
B A R B E A U A ....................................................
61 UNION MED CAMADA 90 1000
HENRY GM PSYCHOS MED
62 CANAO MED ASS J 87 802
BONILLA E PSYCHIAT FO
69 CANAD MED ASS J 101 791
HENRY GM PSYCHOS MEO
ICARTZINE.R ARCH NEUROt N
MELT2ER HY SCHIZO BULI R
MINOHAM RHS P5YCH0L MEO
69 3RD S PARK OtS 66
CfiOWLEY TJ AM J PSYCHI N
V71 CANAD MED ASS J 105 42
L DIMASCIO A ARCH G PSYC
71 RECENT ADV PAR Kl NSON
BARRY VC J NERAL TR R,
72 CAN MED ASSOC J 106 1169
GREENACRJK LANCET
72 UNION MED CAN 101 1377
CHALHUB e g w e u r o l o g y
73 ADV NEUROLOGY 1 473
TERRENCE t f , CURR THER R
73 HUNTJ NCTOks CHOREA 1
73 LANCET 2 1499
73 PSYCH FORUM 4 8
BONILLA E PSYCHIAT FO
74 ARCH NEUROL CMC 30 52
SEE SCI FOR 1 ADOmONAL CITATION
GAITO J B PSYCHON S
<7 72-
Citing item
Source (citing} author
- Source joumal
JVolume, page. and year
o f soorce (citingI item
95 77
h 45 77
58 95 77
3) 517 77 Codet tndfCMtin typ* of tource item:
2 19 77
* 23 77 BUnfc f t r c l n . rvportt. tvchntc* p*xn.
etc.
133 703 77
book reviene
\33 599 77 C corrtctiom. errete. etc.
38^<107 77
O ditcutsiont, contrrertc* items
E editorteit. editortel-like >t*mt
391 77
f ittnu sovt indivtoelt ltnbuiet.
2b S w
obiturm, ric.l
L lettert, commvnic:xn. rtc.
20 177
\ M meetin trscu
V N ttchrc*! notn
6 45 77 R teviemrt & bibliogr*t>h*t
197 77
To locat* sources that cit a particular worfc. fr*t k x * for lha nama of th* cited or reference author in bold Romin capital letters on th teft For
ch cued pcper by that author there n a lin* in bold irelict. givirvg referenca yaar, titla abbreviatton. volume and paga number* Wh*n th* tame refer
ente h** been cited moc* than onca. the aourc* citatiom ara arrangad aiphab*tic*Oy by first author. Each aource citation givei th* nam* of the first
author, foilowcd by journal tHie abbr*viaton. source item typ* code. and volum*. paga, and year. Though only first author* are given in the Oution
Index proper, ali author* wnll ba l*ted in th* Source Index.
C o r p o r a t e A u t h o r C i t a t i o n I n d e x
Tr>* format of than item* r* tha cam* as that of th* Citetion Index except that ih* reference year transpoead to follow th* title (and vofume and
D*e, if appropriatel of th* cited document.
G t t d corporete
*ut hor
Reference volume
endp*te
Wefereoce
documntt
. volume y
pW w e l / X
TKS X 1973 ^ -
VKES 3001
T E NN DEP
*~-DEC STATJSTKS ^ .
SOCIAL SERVICES ' 4 3001
lO vC it B r u f l l WELFAR
Sovo-e Soutce
urhor pv&icstion
Denotei en undeted
reference item
ndice de citaes. SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX do Institute for
Scientific Information.
374
Os servios de difuso da informao
CHARBON VAPEUR(STEAM COAL)
Econometric simulation model of lhe United States (...) market................................................... 79-0618-E.
Bibliographies-Prvision de consommation de (...) dans le Monde, 0000-2000................................ 79-0698-F.
CHAUDlRE(BOILER)
Bilan des avantages et inconvnients du chauffage des logement par air chaud avec et sans
rcupration de chaleur en France 1977: Rcupration de chaleur, systme double flux et
conomies dnergie avec des (...) au gaz naturel. ................................................................... 79-0685-F.
CHAUFFAGE(HEATING)
Contenu nergtique des produits industrieis: Bilan nergtique et (...) de btiment....................... 79-0621-F.
Some views on energy conservation and the fuels for commercial and domestic (...) 1978-0000........ 79-0660-E.
Bilan des avantages et inconvnients du (...) des logement par air chaud avec et sans rcupration
de chaleur en France 1977......................................................................................................... 79-0685-F.
Prsentation des principaux dispositifs de rcupration de chaleur dans le (...) des btiment du
secteur tertiaire & de 1'industre en France en 1977..................................................................... 79-0686-F.
CHAUFFAGE URBAIN(DISTR1CT HEAT1NG)
Some views on energy conservation and the fuels for commercial and domestic heating 1978-0000:
(...) and total energy schemes..................................................................................................... 79-0660-E.
Six main areas for euergy conservation in industry in the United Kingdom: Waste heat recovery,
instrumentation and control, waste heat utilisation, waste derived fuel, the heat pump and
industrial (...)............................................................................................................................ 79-0666-E.
Descripiion of (...) system from heat producing reactor power plants in Switzerland....................... 79-0704-E.
CHLORURE DE POLYVINYLE(POLYVINYL CHLORIDE)
Comparaison internationale des usages de Pnergie dans 1 industrie............................................ 79-0675-E.
CHOIX DE SOClT(SOCIETAL CHOICE)
La rcupration des matire premire ou 1accroissement de la dure de vie des produit comme
alternative du point de vue de la lutte contre le gaspillage............................................................ 79-0658-F.
C1MENT(CEMENT)
Comparaison internationale des usages de 1nergie dans 1industrie............................................ 79-0675-E.
COLLECTIVIT LOCALE(LOCAL AUTHORITY)
Rapport sur les possibilits de rationalisation de Ia production & de Ia distribution de chaleur afin
de rsoudre certains problmes de pollution atmosphrique: Les obstacles Taccroissement de ia
production combine de chaleur et d energie lectrique dans les (...)............................................. 79-0680-F.
COMBUSTIBLE(FUEL)
Six main areas for energy conservation in industry in the United Kingdom: Waste heat recovery,
instrumentation and control, waste heat utilisation, waste derived (...), the heat pump and
industriai district heating........................................................................................................... 79-0666-E.
COMBUSTIBLE FOSSILE(FOSSIL FUEL)
Statistiques-Les ressource naturelle en nergie & mal & minraux dans le Monde par pays
environ 1978: Production & rserve de (...)................................................................................. 79-0657-E.
La croissance de la demande dnergie dans le Monde et la ncessit de Pnergie nuclaire: Les
consquences sur 1'environnement de 1'usage des (...)................................................................... 79-0703-F.
COMBUSTION(COMBUSTION)
Bibliographies-Prvision de consommation de charbon vr.peur dans le Monde, 0000-2000:
Technologie actuelles et futures de (...), extraction, transformation et transport du charbon............ 79-0698-F.
COMPARAISON(COMPARISON)
Contenu nergtique des produits industrieis.............................................................................. 79-0621-F.
(...) des usages de Pnergie aux Etats-Unis et en Sude................................................................ 79-0673-E.
(...) internationale des usages de Pnergie dans Pindustrie............................................................ 79-0675-E.
(...) des instaliations consommatrices de gaz de haut foumeau aux installations consommant un
combustible courant au gaz naturel............................................................................................ 79-0714-F.
COMPTITIVITCOMPETITIVE POWER)
La ncessit de Pnergie nuclaire dans la croissance conomique et la satisfaction de la demande:
La (...) de 1energie lectrique et de leau chaude produite par des raceur nuclaire....................... 79-0706-F.
ndice KWOC (Key Word Out Of Context). Economia da energia do Centre
national de la recherche scientifique.
375
PAEQUCNCY DOUNLING IN AN ItOTAOPIC M U I T I S . I S I M I C C t f f T A L l I N C I 2 I - V U R I t * 19- 0* *
MAGNETIC SM N PLANES IN MAGNETI TE CAYSTAL. 0 * - 0 H
M U LTl P lE Tk|N OOMAINS AND DONAIN WALLS IN N I C KEL- O XlO f CAYSTAL. 06- 06*
P&RAMASNET1C AE SONAMCE O f TH f COBAlT 10N tN A U TU E SIN GLE CA YSTA L. 12- 044
ACN ETIC ANISOTAOPY ftfASUAEN CN TI OF AMNCALEO N ICREL- 0X105 CAYSTAL. 06- 063
TUS F 0* NEASUA1NG M ACN ETtlATlON S. APPLICATIO N TO A COBALT CA YSTA L. A NfcM APP*4A 17- 032
ESONAMCE A8S0APT10N Of 01VALEN7 N ICXEL IN COAUKOUN SIN GLE CA YSTA L. PAKAMAGNETIC A 12- 016
LL ON SLOM NUTRON SCATTfRIN C CY A UN IAXfAL F EARORAGNET IC CAYSTAL. *.f FfCT OF 00MA IN MA 01- 070
f f E C T ANO THE OROfR1NG PROCESS IN A N I C RELI 3E IA0N SIN GLE CA YSTA L. NA&NETIC ANNEAl INC 03- 031
KACN ETIC BEHAVIOG Of A TfIAA60N AL ANTIFEAROM AGNETIC CA YSTA L. { THfORE TICAL ) 06- 02
ISTR1BUT10N OF D1SL0CATION S OVEA THE CAOSS SfCTIO N OF THE CA YSTA L. / P A RT - * . fcCOE ANO SCRE* 0 ISLDCA TIU N S, 0 04- 073
A flA XA TlO N OF TAIVALEN T CABIUM IN CAONIUW- I R0N I 2) SIN GLE C RY STA I . / RAMAGNETIC ACSONANCf ANO S ? l N - l A T H C t 12- 0*>7
fARTHOOPSO YTTRIUM IRON CARN ET. / CON TRItUTION OF STA TIC CRYSTAL- F 1El D EFFECTS TO THE LlN E- WlO TH IN RARE~ U - 0 2 0
O l Y CRY STA llI N E MANGANESE- I I N C - FEAROUS F E / PEA H EA B1LI TY, CAVSTALLlN E ANlSOTROPY ANO NAGNETOSTHICTION OF P 04- 06B
| T f - NACNCTITE ANO MAGNESIUN FE ARI TE- N ACN fTIT/ MAGNETIC CRYSTA LLIN E ANlSOTROPY IN THE SYSTEM S N I C K f l M R 04- 147
A LS. ( L I THlUN tO. 41- ALUNlNUlM 2, * ) OXYGEN UI I CRYSTA LLIN E ELECTRIC FIELO S IN SP l N EL- TYP E CHVST 04- 091
0 . HYOROTHEAMAL C A Y STA l l H A T ION OF YTTA1N- IRON GAKNE T ON A SEE 18- 003
SOLUT tON VANAOIU*- 0XYGEN I4- CO BALTI2- 2X1- N I C REl 12*/ CAYSTALLOGAAPHJ C ANO NACNETIC STUDY Of THE SOLIO 01- 06*
C PROPEATLES Of POTASSIUM M AN GAN ESE(III fLU O A IO E. F A A T - I . CRYSTAlLOGHAPHlC STU O IES. MAGNEH 05- 035
1CR0VAVE ACOUSTIC LOSSES IN YTTRIUM IRON CARN ET. C SIN GLE CRYSTALS J TEHPEAATUAE OEPENDENCE OF M U - U 3
R- CHLOAIOE OlHYORATE* COBAl T- CHLORIDE HE XAHYORATE SIN GLE CRYSTALS 1 / 1 V J T Y IN AN ANTIFERAOHAGN T. I COPPE 06- 050
/ ICNTAT10N ANO ON THE NETHOO OF OEHAGN ETI{ATION IN SIN GLE CRYSTALS ANO A POlvCAYSTAL OF 0 . 5PERCENT ALUHIM / 03- 065
BALANCE FOR REASURINC ABSOLUTE SU S C EP T I B I L I T I ES OF SIN GLE CRYSTALS ANO DILU Tt SOLUTION S. / S1TJ V MAGNETIC 17- 019
ON, AND P LA STI C DEFORMATION. CO ERCIVITY OF N l C R f l SIN GLE CRYSTALS AS A fUNCHON Of TEP E*A TU RE, ORIEN VATJ . 0)- Q 0?
SYMHETRY Of TRAN SI TION HE T AL IRP U A ITY SI T ES IN CRYSTALS AS IN FERREO FROH OPTICAL SPECTRA. 16- 031
S P EC l f i C HEATS Of SIN GLE COPPER- MANGANESE CRYSTALS BETWEEN 1 .4 ANO 5 * . 16- 029
GAOmTH Of ALPHA- IRON SIN GLE CRYSTALS BY HAlOCEN KfOUCTION . U - 0 1 9
PAHT- J A NEM NETHOO Of PREPAAIN C HAGNE T I TE S1N/ GROMTH OF CRYSTALS BY THE CHEMICAL TRANSPORT Of M ATERIA L. 18- 022
L / HAGN TIlATlON PROCESS IN UN IAXIAL FERROHAGNETIC SIN GLE CRYSTALS FOR THE CASE Of A VERTICAL MAGNETIC f l 02- 09?
ESE O XlO f , ALUHINUM O O E, NANGANESE SP I N El ANO MAGNE TI TE CRYSTALS FRON 3 TO 300K. / CONOUCT] V ITY Of MANGAN 16- 027
TICN S. GROHTH SEQUENCE OF GAOOLIN1UN- IRON GARNET CRYSTALS IN MOlTEN L t AO OXIOE- BORON- OXIOf SOLU 18- 002
FORRATION OF M AGNETOPLURBHE SIN GLE CRYSTALS IN THE PRfSEN CE OF Th ALLIUM O xlO E. i B - 0 2 t
RESONANCE THIVALEN T IRON AND OlVALENT MANGANESE IN SIN GLE CRYSTALS OF CALCIW O XIO E. fLECTRON SPIN 12- 030
MICROMAVf RESONANCE LIN EWIDTH IN SIN GLE CRYSTALS OF CO BALT- SUBSTITUIEO MANGANESE FIRR1 l 11- 081
I H N SIO N S. OEPENOENCE Of THf RESONANCE F I ELO IN SIN GLE CRYSTALS Of F f R R I T ES ON TfHPERATURE AND SAM PlE D 11- 032
/Of T1TANUIM ON THE tOM TfM PERATURE TRN 5lTI O N IN NATURAL CRYSTALS OF H A fH A TITE. < ELECTRON SHAOOW MFIHOO/ 01- 009
RIA BLE NAVE tEN GTH, NAGNETIC ANAL Y SI S OF SIN GLE CRYSTALS Of IRON BY ELECTRON DtffRA CTIO N I T m VA 01- 062
I A ! ION NI TH OE>,A/ I N I T I A L P EA N fA B1LITY Of SIN GLE ANO POLY CAVSTALS Of IRON- 5 PERCENT ALUMINUM ANO I t S YAA 0 3 - f l
MAGNETORESISTANCE OF SIN GLE CRYSTALS OF TAAN SITION M ETALS. 09- 006
FERR I Tf CRYSTALS USING AN ARC IMAGE FURNACE. 18- 013
O P f R T l ES. THERMOOYNAMIC THfORY OF CRYSTALS WITH f ERROELEC TR IC ANO FfRROMAGNE I IC P 02-0>#>
DISLOCATIONS IN fEAR I TE SIN GLE CRYSTALS HITH HEXAGONAL STRUCTURE. 04- 082
ACOUSTIC PARAMAGNETIC RESONANCE IN CRYSTALS WlTH IONS IN S- STA TE. 12- 002
Ph ONON-MAGNON IN IEHACTION IN MAGNETIC CRYSTA LS. 01- 021
SYMMtTRY PROPERTIES OF WAVf fUNCTIONS IN MAGNETIC CRY STA LS. 01- 022
OISCXOER STRUCIURE IN TERNARt IONIC CRYSTA LS. 01- 0e3
I- RA Y ANO MAGNETIC STUOIES OF Ch ROMIUM- OXYGEN I7) SIN GlE CRY STA LS. 01- 065
tHEORY Of IHE MAGNETIC SCATTERIN G OF SLO NUTRONS IN CRYSTA LS. 0 1- u v
MAGNETIC SPIN LFV f LS IN MAGNE T I TE CRYSTA LS. 0 * - 0 j 5
NUCLEA* ORIENTATJ ON IN A N TI f ROMAGNET1C SIN GLE CRYSTA LS. 06- 016
IHIORY OF NUCLEAR ACOUSTIC RESONANCE LI N f SHAPI IN CUBIC CRY STA LS. H - 11S
ON MAGNETIC RESONANCE SATURATION IN CRYSTA LS. IV- OUB
PAkAM AGNfTIC RESONANCE Of N ICKfL IONS IN OOUBL- N lTRATE CRY STA I 5 . 12- 0)6
ASYMMETRIC SHAPE EFFECTS IN 03 A- ANO PARAMAGNET IC CRY STA LS, I*.- 01
GROMTH OF YTTRIUH- ALUMINUM GARNET SIN GLE CRYSTA LS. 18 U-
fliSI A RCH ANO OfVELOPMENT Of YTTRIUM tRON GARNf1 SIN GLE CRYSTA LS. 18- 015
GROMTH Of RffRACTORY OXIDE SIN GLE CRY STA LS. 18- 020
GROMING YTTRIUM IRON GARNET SIN GLE CRYSTA LS. Ift- U / 4
IFUS10N Of IRON ANO CHROMIUM IN CORUNOUM ANO Ru Y SIN GLE C KY STA l S. 0 W - 0 2
EFFfCT Of SIXTH OEGRFE CUBIC f l E L O ON AARE- EAATh IONS IN CRYSTA LS. Th I l%- fi*.0
A lfN T CHHOMJ oM ANO IRON RE L A l AT I ON T|M ES IN RU TILE SIN GLE CRYSTA LS. TR 1V J 2- <iJ
MAVI S IN RH0MB1C ANT I f ERROMAGNE TJ C ANO WEAK f EROOMAGNET IC CRYSTA LS. SPIN 06- j^r>
C IN KRA CTI O N OF CE RI UM AND COBAl T IONS IN OOUBIE N | TRATE CRYSTALS MAGNE T | OS- i 18
IC HOMAIN PATTERNS ON Nl CRE L- COB AL T ALLOY ANO PURE COBAL T CRYSTA LS. ( Mn Oh AGNI T
N (tlr*G Ef FEC T ON THE ANISOTROPY Of COBAL T FERRI Tf SIN GLE C RY STA I S. *A O N tT|t *N . I>8
H MtNANCE OF IRIVALEN T IRON IONS IN SVNTmEH C / I N C - OXIDE CRYSTA LS. PARAMAGNI TIC I / - 0 / 4
ANt,| .# DlVALfN T MANUANfSf IONS IN SILV ER CHlORIDE SIN GLE C RY STA I S. PAM AMAunI TI f M| SON 1/
A U SS ON TfcO-PMASE N l C R I l - COBAl T AL10> AND PURE CO BAl! CRYSTA LS. Ff0M At,N f T U OHAIN H I . u J
0 T|vA l EN T IRON IONS IN S YNTHf TIC CUB IC l IN C- SUIPHIOE CRYSTA LS. PARAMAf.Nf T | C R*SONAN(.l | . .S
CIRON NUl I f AR OOUBlf RtSONANCE OF PARAMAGNE TIC D tfECTS IN C RY STA I S. FAEOUlN t SPICTHA u I i E 1, '.I V
PT 1* fM| FlRROMAUNf TIC P H EC I P I U T I IN GOlO- N I C * f l S l N G l C RY STA I S. OBSIWA10N fl t l l C f R O N M |f HOSC n .% ,/ /
UNO- STATE POPUlAflO N CHANGfS Of NfODYMIUM !N E ThtL SU l f ATf C RY STA I S. 01REC T OPT IC A l P ET|CTIO N OF TmI CRO 1- I t
(.RH P AND PA SC Ul AT! ON EFf IC TS IN IRON- ALUMINUM S I N f .l f C RrSTA LS. I DEfECTS I ( i ) l i
1 CR YS TAI l 1Nt H t C l R I C FIELO S IN i P I N EL- T Y p f C RY STA I S. I l l t H j U M I O .M - A l UM1 NUM ( / . S I 0*01N 1A ' L H
tlA STO RI SISTAN C Ef FECT IN IRON S I N f .l i C RY STA I S. I MAT.NE TOi TR | C11 ON I . ,1 - l U
STARR I F EC T S ANO SP1N- PH0N0N I NT ( R A l TI ON IN PARAMAGNT|f CRY.STALS. I THE ORE >IC A l \ 11 .r S
10I>II- I fROM I I TO 00*. MAGNETIC OROl RIN G IN L I Nl AR CHAIN CRYSTA LS. / AND ENTwOPY 0 COPPlR ANt. Ch RO M I.m C !'W )
S0P!inN ANO MANGANESt- MAGNFSIUM- C0P Al T- F i RR I IT SIN M 1 I R r ST A l S . / I PCW! K FOR Th E IA M O VU BSItilA RY At I I i /
t * lRIM AGN l TIC RISNANCE I I N mI O I h Qf- H T h IUM FERRH * CRYSTA LS; / t ., I h FRM AI, AND CmJ H I CA I I R | A !m(N T .11 11 H/
O R |A . PART- 1 A N t MITMOn OF P rIP A RIN G MAGNE T|T | SI N Glt CR Y ST Al S . / ST Al S HY IH1 CHIM J CAI tRANSPCRT t K l * : .?
ON I HE MAUNtTIC 00MAIN STRUCIURI Of J RON- SILI CO N SIN GU C R Y SI A I S . / IERN AL STRI SSf S ANO Of f I {10 STKENt.lM 10 : 1/
POR A 11 ON OF ALPHA- Hl ma T 111 I NTO MANf. ANf 5E f ERR 1T f S I N Gll C Y S TAl S . FF f C T ON D I Sl OC A T1ON OEN. H Y . INCR . / V
/ FI C TS |N YTTRIUM - IRON ANf: GAOOL IN | UM- IRON t,ARN T SIN GU C RY STA I S. Pa R T - 1. ETtHlN G AGfNTS FOR !, AHNf Ti # / <. | 2
lO - I N O iA FAC/ 01 SLO LA IIP N S IN MANGANESE f 6RR1 I f SIN GlE CRYSl S . P A R T - I . i'BStRVATION OF :>l SI OC AT|ONS ' U G6
I StRt U U f ION OF / O ISi CA f tONV IN MANOANESE f - EA RH I SIN GlE CRYSTAI , PAM T- / . >DGt ANL* SCIm O I SlO CA ! I t>NS, (j 1j
TR IC PROPM t | s . SYMMfTRY OF C R Y i t A i S . EXH l f lI T ING FtuUCM AGNETJ l AN' F I R R t .f l EC 1- 024
10 SP l tTTlN G S OF O IFFFRtN T IRON COMPl a ES . PARAMAGNEHC C RY STA I S, GARNI TS I f f a t f .f f I / - 0 1 S
0 O M ltN lO NUCt E l . t M RRO fA GN M ll OR ANT | f i RROMACNf T|C C RY SI A LS. ThT OREt IC A l > /MA KA', - 3M
SUPERCONDUCT J v l T t IN rn f CUAl 2C16 LRvSTA l C tA SS. i s
FUM TI ON AND H A TTO NONCROSMNG POl YGONS FCR Th SI M P U - ^UBI l ATT I C t . HIGH- T | MPE RA Tgj J >1N . ?AR1|T(<>'. ' M.t
Cl tN RUR 10 1LM- MANGANt S l - l O N t l l . CISCO VIRY Of A SlM PiE CUB IC A N f|F I RROMAf.Nl T, AS H f | mkOM&G*.}I IC '.CS*. t- : J *i
FJ RR0- ANO ANTIFCRROMAGMITISM IN A CUBIC C l S T l R OF SPJ N S.
ADOllNlUM ION . CUBIC CRYSTAI F J f i r SP l ITT 1*NG l*F t mJ TM lvA ltN l I ) Vl
TMlORY OF N UCllAR ACOUSTIC RfSONANCI LIN E SHAPf |N C U BI t CRy S T A I S . I ! l I S
H I C 1 HELAXAIION OF S- STA IE IONS OtVALENT HANC.ANESE IN A CUBIC I Nv IRCNMI NT. I Th( ORf T | l * l SP |- , v i 1. > ,>
SPIN MAYl THf OR Y FOR CUBIC f * mROMAGn E TIC S PART- 3 MAGNE t U t l l 0N> 1
Sampl e, B t l l L a b o r a t o r i e s F o r ma t
ndice KWIC (Key Word In Context). Um ndice KWIC realizado a partir dos
ttulos dos documentos indexados.
376
Os servios de difuso da informao
A u t r e personne joindre po u r obtenir d6ventuels renseignements techniques
NOM : Tlphone :
SUJET DU PROF1L PERSONNALISE - Formulation dtaille :
CHAMPS CHOISIS POUR LES SIGNALEMENTS :
tous les champs ( v o i r exemple ci-dessous) : .............................
.......................... 0 ( 2 )
tous les champs sauf les mots cls trangers : ..............
...............
tous les champs sauf le rsum ranais ; ................
JEUX DE CARACTERES CHOISIS :
p a u v r e (majuscules): .................................................................
........................
angloamricain : .....................................................
ranais (majuscules.minuscules accentues): .......................
...........................
EXEMPLE DE SIGNALEMENT :
D I F F E R E N T S C H A M P S
- i - PASCAL
NO 85-0216430
Titre original de 1article : ........ TI t E tu d * c i n t t i q u e du r a p p o r t r y t h r o p l as ^ a t i cue du l i t h i u m : i n t t ^ c t s dtaqnos
t ; qu e , p r o n o s t i q u e t t h r a p e u t i q u e
Titre traduit en anglais : TE s P h a r m a c o k i n e t i c s tu d y o* l i t h i u m e r y t h r o p l a s m a t c r a t i o : d a q n o t c . prono
s t l c and t h e r a p e u t i c i i i e s i m e n t
A uteurs ; .................................. AU i GAY IC. ) |OLIE <J. P.>>DAGHR <G.)jC0H6ES < A . ) j BTNET <P.);LOO <H.>jDEN1KER
( P . )
NI Hop. S a i n t e - A n n e j V I P a r i * 73014)Pl FRA AffUiation : ............................... AF
Tvoe de document: .................. DT : P u b l i c a t i a n en s e r t
Rlrences bibliographiques : SO s JN T h r a p i e; TS T h r a p i { S N 0040-5937OR FRAjDA t904;VO 39;N0 2 ; PA J39-I43
;RE e n q j B I 1B r mf .
Cote du document au C.D.S.T. : CO 3767
Langue du document: LA * FRE
Code de classement: ..................
CC OO2B02B02
Descripteurs ranais : .......... FD L i thiumiPharmacoci n t l q u e ; P l asma: E r yth r o c y t e : Tox i c i t j Mtabol i * e j Hodwne j Re
l a t i o n mta bo lis m e t o x i c i t ( M t a b o l a m e dicament
Descripteurs anglais : ............. ED i L i t h t u m j P h a r macok i n e t i c s ; P l asma: Red b loo d c e l 1: Tox c i t y f l e t a b o l \ jHuianj M
e t a b o l i a m t o x i c l t y r e l a t i o n
A noter que certaina signalements comportent : un rsum,
des descripteuro en espagnol pour les Sciences de la Vie,
des descripteurs en allemand pour la Mtallurgie.
2j V e u i l l e z cocher l es bonnes rponses.
S o l i ci t a o d e b u s c a b i b l i o g r fi c a de acordo com o p erfil Ce n tre n at ional de la
fe c h e r c h e s cientifique, France.
377
Os servios de difuso da Informao
Bibliothque de :
DEMANDE DE DOCUMENTATION
Rserv B.C.P.
N
NOM et prnom : ________
Objet prcis de votre demande :
Pour pouvoir mleux vous satisfaire, veuillez remplir le questionnaira ci-dessoua. Merci.
N1VEAU SOUHAIT : IND1SPENSABLE : Si possible, prcisez 1'utilisation prvue {intrt
- Initiation, dbutant
n
Age :
professionnel, personnel, expos,...) et date
- Vulgarisation
de bon niveau
Profession :
max. d'envoi de documents :
- Spcialiste
Tl. :
. . ... .......... ..-______:_
Si vous souhaitez (aussi) des documents sonores. cochez : disques compacts , et/ou K7
Recto
Pour tre satisfaite, cette demande de documentation doit imprativement parvenir
la Bibliothque entraie de Prt de Sane-et-Loire par Tintermdiaire de votre propre
bibliothque. Une rponse vous sera adresse votre bibliothque. sous huitaine.
Si votre demande concerne un uvrage prcis (ou un document sonore prcis) dont
vous connaissez le titre et 1'auteur, utilise2 les fiches de demande d'ouvrage ou de
document sonore. disponibles votre bibliothque.
Pour tout envoi de demande, vous vous engagez n'utilser d'ventuelles photocopies
qu' des fins exclusives de recherche et votre usage priv (loi sur la proprit intellectuolle
et artistique).
Nous vous conseillons de prciser au mieux votre demande avec le responsable de
votre bobliothque. N'hsitez pas le cas chant agrafer d'autres expiications cette
fiche.
________________________________________________________________ -c aSnwto* 5788
Rserv B.C.P.
Bibliothque Cantrale de Prt
de Sane-et-Loire
75. chemin de la Verchre
718S0 CHARNAY-lis-MACON
Tl. 85.29.22.00
Code dpt Code demandem Code demande Rponse 3 7
1 1 | i
4 8
1 I 1 11 1 I I 1 1 1 I i 5 9
2 6 0
Verso
Formulrio de busca de informao.
378
b
v
2
E
D
0
M
M
E
E
*
-
E
i
v
i
2
n
w
i
2
.
B
E
2
o
i
n
n
i
i
r
i
2
v
i
E
n
b
*
-
2
A
2
1
E
W
E
I
M
f
c
O
B
W
V
X
l
O
M
*
B
E
2
E
V
n
B
I
B
C
I
O
i
H
E
O
n
E
*
2
2
l
E
W
E
G
E
2
1
1
0
H
Os servios de difuso da informao
C fMU
U J X H U I U
O C *1
W 0
S
<v a ** ru
UiUUJ UI
Ui Q fM X
UJ O > C
i_ w s ca n>
O H O O U l
o *- a m
CDi Ui
23> w
fM H -UJ
U ) X S > L
8: i | a
H UJ C >
U I U > C Q
x o - u i
i t o m
<y rvj o ui
S > uj c
UJ s U H L
2 > UJ S
U M
X UJo
O 23
O
3 H S O I
> UJ ui U
U<M JZ ~ < 23
n
> n
x a
S5
> fM
X UJ
f | 2
X X S
ui >
O X
> < o
l_ X
ss
O <M-HX 23
q UJ Ui UJ O
UJ .3
> ivi 5 w uj
-UiSulOL
Q O O Ii_
Q 1-4UI UI
' H < < S
J UI fM 23 UJ S
J UI UJ O O
- C W
- l u i S Q >
J C u i Q u
3 0 M H H U J
J UJ H S 33
C I Cl > ~
e -a i a
33 C UJ
o3 j
" S S
ru q 3
ui C -----------
>-i NOJ I SU S
a t_ >
uj X
J3- 23
UJ O
W S o l
s; c -i
I
CJ 33
5H. o
3L- ui O
*03a x
uj 5 uj
U S I Q
33
2C J U J
c o o r a
u u u a >
s s s: uj j s co
H U J O L
0 UJ 33X UI UJ
n s o cma a
-4w JJH- Q
23-<> s:
w o u o
" d U 23 *-
. J3 te s
l x i n i u
33J>-I S S
O 33 S > O
jJ UI O U
23 C*J O
S IO 33
U - .O
-t
>
ui
> 23
< UJ
i b
H >
(M XI
a
S B
8 >
h < a>
fM UJ OJ
u 2 o
HCJ
s S ,5
532
a a
33 23
a o
M M
I X
fM <M
t
fM S UJ
s > w
a z
JQ
* UJ O
> fM -4
U > fVJ
rvj
-<> 2
CDu
0 * - Q S 3 S
I S UI C
o fM -4 '
-u uj ~ a
U I U I U L
23 Q > fM. L.
I I
-1<
COs
a -<
I S
O uj t
O -<
tl
CS C
O O
a fM c
C 33 > f
> j S i
uj UJ 3
> 23 L. I
UJ C >
- O <
- I 3
ai J> Z O
SIU u i h
23UI H -4
O < <M>
I <23
C ^ 03 C S
HO H Q Z
u > a
<fM .0 33 >
u u i j u
UJ O H fM
U I M U O S
i s
> o
VJ ~
c a
33Z
|Q UJ
O X
C U -i <
a
23 S C O UJ
h ODL
z o
- l 03
K> 3C
a>j j a
h i u j h
^ 23l UJ
\J Y) COU
23 n L_
s >-n c
z >
-Q 23
a -t
u. ru
25o
a z m
a oi
<
J3
-( >w > i
z s >
U > -< O z
J O - Q >
S O > C
C w s S > OJ
U M >
uj -<ru
- s o
-O fM > fM
M UJ UJ 23
U 2 3 H Q U J
fMO > 23
C 5O S S ui
> -< a -* i
X fMXI m
UJ33 JJ UI I
h u j i Q j J
O J L
UJs C 23fM
U - O C W
- uj a a
XI fM > - UJ
J3 UJ U J3
Z ui C OJ
( M u i S h o u j
UJ H UJ > 23Cl
U fM V O
CJ <UJ * fM
UJ S X H UJ C
a > U <M <M
O 33 UJ -<S UI
X V 23OM X)
X O
23 i
O Oi
J J O
a <o
- Q -*
CQUJ L
fDl X S
*1n o
-ma
a a
c <
J3 fM
c
X o
2i
H
Js
uO>
Resposta a um perfil (bibliogrfico) atravs de bancos de dados documentrios.
379
. <
Os programas e
sistemas
internacionais de
informao_______
A cooperao internacional
na rea de informao
A cooperao internacional na rea de informao , de certa forma, uma
conseqncia natural e inseparvel dos outros aspectos desta atividade.
A comunicao da informao sempre representou, ao longo da histria,
uma parte importante das trocas internacionais, pelos contatos diretos
entre cientistas e pela circulao de documentos. Estas trocas tm um
lugar de destaque no mundo contemporneo, pelas seguintes razes: as
atividades cientificas e tcnicas desenvolvem-se rapidamente em todos os
pases; um nmero cada vez maior de pases contribui para o
desenvolvimento destas atividades; e a cincia e a tcnica tm implicaes
cada vez mais importantes e imediatas em todos os aspectos da vida
econmica e social.
A cooperao internacional desenvolve-se pelos contatos diretos entre
indivduos e organismos, pelas reunies internacionais, pela comunicao
de documentos e de informaes ainda no-publicadas, e pelo envio de
documentos publicados, por meio de trocas regulares de publicaes, de
programas internacionais de pesquisa e de coleta de dados, e por meio dos
sistemas internacionais de informao ou da cooperao tcnica, visando
criao ou o aperfeioamento de sistemas de informao.
Estas trocas de informao tm uma grande diversidade no plano
formal. Em alguns casos, o contato estabelecido entre indivduos e
organismos informal e mantm-se informal. Em outros casos, elaborado
um acordo especial ou um programa. Algumas vezes, cria-se uma
organizao que pode desenvolver-se at tornar-se autnoma. Os governos
intervm cada vez mais nesta cooperao pela realizao de convenes
bilaterais ou multilaterais, que podem ter uma abrangncia geral, como,
por exemplo, as convenes de cooperao cientfica e tcnica, ou as
disposies que estabelecem um regime alfandegrio preferencial para os
documentos. Estas convenes podem referir-se especialmente troca de
informaes, como os acordos de cooperao em informao cientfica e
Os programas e sistemas Internacionais de Informao
tcnica e a criao de sistemas internacionais de informao.
A cooperao tcnica com os palses em desenvolvimento manifesta-se
pela disposio, por um determinado perodo, de pessoal qualificado para
auxiliar na elaborao de programas, e no seu desenvolvimento; pelo
fornecimento de documentos: e de equipamentos; pela formao de
pessoal no prprio pas ou no exterior, com a concesso de bolsas para
cursos regulares, ou pela formao ad. hoc, para viagens de estudo, ou
ainda colocando disposio uma metodologia determinada. Esta
cooperao pode realizar-se no mbito de um sistema nacional de
informao, bem como no mbito de sistemas especializados, e pode ser
feita por planificao, realizao, avaliao, aperfeioamento de sistemas,
formao de pessoal e formao de usurios. Atividades deste tipo esto
sendo desenvolvidas atualmente na maioria dos pases em desenvolvimento.
Os objetivos da cooperao internacional em matria de informao so
os seguintes:
- satisfazer as necessidades de informao dos usurios de todos os
pases, da melhor forma possvel;
permitir uma utilizao, o mais completa possvel, do capital de
conhecimento da humanidade, com vistas a um progresso melhor
e mais rpido;
- rentabilizar os sistemas de informao existentes pelo aumento do
nmero dos seus usurios;
- evitar, pela diviso de tarefas, que os sistemas sejam paralisados
pelo aumento do nmero de informaes a serem tratadas e pelos
custos resultantes deste aumento;
- harmonizar e integrar progressivamente os sistemas de informao
para atingir os objetivos anteriormente descritos;
- fazer o possvel para que todos os pases disponham de sistemas de
informao adaptados s suas necessidades.
necessrio fazer uma distino entre as atividades e os programas
internacionais de informao e os sistemas internacionais de informao.
Criou-se uma certa confuso porque alguns programas foram criados
para construir sistemas especficos. Os programas internacionais de
informao so conjuntos de aes realizadas pelas organizaes
internacionais ou pelos representantes de vrios pases que visam facilitar
ou melhorar a circulao e a explorao de informaes. Os sistemas
internacionais de informao tratam efetivamente as informaes, de
acordo com mtodos coerentes. O programa Unisist-PGI, por exemplo,
um conjunto de aes que tem por objetivo permitir a interconexo de
sistemas de informao cientfica; entretanto, este programa no responde
a questes cientficas. O sistema Agris, por exemplo, rene dados
bibliogrficos e produz bases de dados onde possvel recuperar
documentos (ver figura 34).
Os programas e sistemas internacionais de informao
cs] [cs [csl
Centro Centro
nacional nacional
Centros participantes
Centro internacional de tratamento e de cooperao
Formulrio
^ )
OCR
Leitor
OCR
Captura dc
dados
Registro dc
dados
Tratamento automatizado de dados e fotocomposio
Microfi Imagem
Erros Edio e
publicao
Boletins e
ndices
Envio aos centros partipantes
1----------
Depsito central
de microfichas
---------
Manuais e
princpios gerais
Figura 34. Organograma terico simplificado de um sistema internacional de
informao.
383
3
8
4
F
i
g
u
r
a
3
5
.
O
s
i
s
t
e
m
a
d
a
s
N
a
e
s
U
n
i
d
a
s
:
r
g
o
s
p
r
i
n
c
i
p
a
i
s
.
Organizao das Naes Unidas
Corte
internacional de
justia
La Haye
Conselho
de
Segurana
Assemblia Geral
Conselho
de
Tutela
* : '
CNUCED
Genebra
PNUE
Nairobi
FISE
New York
HCR
Genebra
ca
Genebra
PAM
Roma
UNU
Tokyo
CTC
New York
Principais sedes da ONU
Genebra
Viena
Nairobi, Centro da Naes Unidas
para os direitos humanos
Comisso dos
direitos do
homem
Genebra
CCE
Genebra
CESAP
Bangkok
CEPAL
Santiago
CEA
Addis-
Abba
CEAO
Beirute
Instituies especializadas
OMS
Genebra
GBM
Genebra
FMI
Washington
OACI
Montreal
O
s
p
r
o
g
r
a
m
a
s
e
s
i
s
t
e
m
a
s
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
i
s
d
e
i
n
f
o
r
m
a
o
Os programas e sistemas internacionais de informao
AIEA
CCI
CEA
CEAO
CEE
CEPAL
CESAP
CMA
CNUCED
CTC
FAO
FIDA
FISE
FMI
GATT
GBM
HCR
OACI
OIT
OMCI
OMM
Agence Internationale dei Energie Atomique (Agncia
Internacional de Energia Atmica)
Chambre de Commerce Internationale (Cmara de
Comrcio Internacional)
Commission conomique pour lAfrique (Comisso
Econmica para a Africa)
Comission conomique pour lAsie Occidentale (Comisso
Econmica para a sia Ocidental)
Commission conomique pour lEurope (Comisso
Econmica para a Europa)
Commission conomique pour 1Amrique Latine
(Comisso Econmica para a Amrica Latina)
Commission conomique et Sociale pour lAsie et le
Pacifique (Comisso Econmica e Social para a sia e o
Pacfico)
Conseil Mondial de lAlimentation (Conselho Mundial de
Alimentao)
Confrence des Nations Unies sur le Commerce et le
Dveloppement (Conferncia das Naes Unidas sobre
Comrcio e Desenvolvimento)
Centre sur les Organisations Transnationales (Centro
sobre Organizaes Transnacionais)
Organisation des Nations Unies pour lAlimentation et
lAgriculture (Organizao das Naes Unidas para a
Alimentao e a Agricultura)
Fonds International de Dveloppement Agricole (Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrcola)
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance / Fundo das
Naes Unidas para a Infncia)
Fonds Montaire International (Fundo Monetrio
Internacional)
Accord Gnral sur les Tarifs Douaniers et le Commerce
(Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comrcio)
Groupe de la Banque Mondiale (Grupo do Banco Mundial)
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Rfugis
(Comissariado das Naes Unidas para Refugiados
Organisation de lAviation Civile Internationale)
(Organizao da Aviao Civil Internacional)
Organisation Internationale du Travail (Organizao
Internacional do Trabalho)
Organization Intergouvernamentale Consultative de la
Navigation Maritime (Organizao Intergovernamental de
Navegao Martima)
Organisation Mtorologique Mondiale (Organizao
Meteorolgica Mundial)
Os programas e sistemas Internacionais de Informao
OMPI Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle
(Organizao Mundial da Propriedade Industrial)
OMS Organisation Mondiale de la Sant (Organizao Mundial
de Sade)
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement
Industriei (Organizao das Naes Unidas para o
Desenvolvimento Industrial)
PAM Programme Alimentaire Mondial (Programa Mundial de
Alimentao)
PNUD Programme des Nations Unies pour le Dveloppement
(Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento)
PNUE Programme des Nations Unies pour 1Environement /
(Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente)
TIC Technological Innovations Board (Escritrio de Inovaes
Tecnolgicas)
UIT Union Internacionale des Tlcommunications (Unio
Internacional de Telecomunicaes)
UNDRO Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
Secours en Cas de Catastrophe (Escritrio do Coordenador
das Naes Unidas para Socorro em Casos de Catstrofes)
UNESCO Organisation des Nations Unies pour 1Education, la
Science et la Culture (Organizao das Naes Unidas
para a Educao a Cincia e a Cultura)
UNITAR Institut des Nations Unies pour la Formation et la
Recherche (Instituto das Naes Unidas para a Formao
e a Pesquisa)
UNU Universit des Nations Unies (Universidade das Naes
Unidas)
UPU Union Postale Internationale (Unio Postal Internacional).
As atividades internacionais so numerosas e complexas. Por esta
razo, no possvel dar uma idia completa destas atividades. Neste
captulo, procurou-se indicar os elementos principais destas atividades e
dar alguns exemplos significativos. As atividades internacionais e as
organizaes internacionais so objeto de um recenseamento e de um
estudo permanente por parte da Union des Associations Internationales
(Unio das Associaes Internacionais). Este organismo publica o Annuaire
des Organizations Internationales, nas formas impressa e magntica.
386
F
i
g
u
r
a
3
6
.
P
r
i
n
c
i
p
a
i
s
s
i
s
t
e
m
a
s
i
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
i
s
d
e
i
n
f
o
r
m
a
o
d
a
s
N
a
e
s
U
n
i
d
a
s
.
INIS
Organizao das Naes Unidas
AIEA
Vienne Assemblia Geral
INFOTERRA
RISCPT
T I C
P OPI N
A C C I S
C T C
Instituies especializadas
AGRIS
ISDS
BIT
ASFA
INFOTERM
LABORDOC
GARIS
IRCIHE
as
AGLINET
UNIBID
QSDOC
COMNET
DARE
PIPS
ISORID
ILIS
BIRD
WWW
GATT INPADOC
O N U D I
Genebra
Servio de
pergunta e
resposta
INTIB
oo
Os programas e sistemas internacionais de informao
Atividades das Organizaes
das Naes Unidas
A atividade das organizaes das Naes Unidas no campo da informao
relativamente importante. Pode-se considerar que, pelas suas atividades
correntes, principalmente nas reunies dos rgos estatutrios, nos
grupos de trabalho, nos comits especializados, nos seminrios, nos
estgios, nas viagens de estudo e nas suas publicaes, estas organizaes
so um mecanismo importante de transferncia internacional de
informao.
ACCIS Comit Consultatif pour la Coordination des Systmes
dlnformation (Comit Consultor para a Coordenao de
Sistemas de Informao)
AGLINET Rseau des Bibliothques Agricoles (Rede de Bibliotecas
Agrcolas)
AGR1S Systme International dInformation pour les Sciences et
la Tecnologie Agricoles (Sistema Internacional de
Informao para as Cincias e a Tecnologia Agrcolas)
ASFA Systme dInformation sur les Sciences Aquatiques et la
Pche (Sistema de Informao sobre Cincias da gua e
Pesca)
BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Dveloppement (Banco Internacional para a Reconstruo
e o Desenvolvimento)
BIT Bureau International du Travail (Escritrio Internacional
do Trabalho)
CARIS Systme dInformation sur les Recherches Agronomiques
en Cours (Sistema de Informao sobre Pesquisas
Agrcolas em Curso de Realizao)
CIS Centre International dInformation de Securit et dHygine
duTravail (Centro Internacional de Informao de
Segurana e Higiene do Trabalho)
CISDOC Base de dados bibliogrficas preparada pelo CIS (OIT)
COMNET Rseau International de Documentation sur les
Recherches et Politiques en Matire de Communication
(Rede Internacional de Documentao sobre Pesquisa e
Poltica em Comunicao)
CTC Centre sur les Organisations Transnationales (Centro
sobre Organizaes Transnacionais)
DARE Systme de Dpistage Automatique des Donnes pour les
Sciences Sociales et les Sciences Humaines (Sistema de
Recuperao Automtica de Dados para as Cincias
Sociais e para as Cincias Humanas)
Os programas e sistemas internacionais de informao
ILIS International Labour Information System (Sistema
Internacional de Informao sobre Trabalho)
INFOTERM Centre International dInformaton pour la Terminologle
(Centro Internacional de Informao sobre Terminologia)
INFOTERRA Systme International de Rfrence aux Sources de
Renseignements sur lEnvironnement (Sistema
Internacional de Referncia de Fontes sobre o Meio
Ambiente)
INPADOC Centre International de Documentation de Brevets (Centro
International de Documentao de Patentes)
INTIB Banque dInformation Industrielle Technologique (Banco
de Informao Industrial e Tecnolgica)
IRCIHE Service International d'Orientation sur les Matriels de
Traitement de 1Information (Sistema Internacional sobre
Materiais de Tratamento da Informao)
ISDS Systme International de Donnes sur les Publications en
Srie (Sistema Internacional de Dados sobre Publicaes
Seriadas)
ISORID Registre International des Recherches en Documentation
(Registro Internacional de Pesquisas em Documentao)
LABORDOC Base de dados bibliogrficas preparada pelo Service
Central de Bibliothque et de Documentation da OIT
PIPS Systme International sur 1'change d'Information en
Sciences et en Technologie (Sistema Internacional sobre
Troca de Informao em Cincia e Tecnologia)
POPIN Rseau d'Information Dmographique (Rede de
Informaes Demogrficas)
RISCPT Registre International des Produits Chimiques
Potentiellement Toxiques (Registro Internacional de
Produtos Qumicos Potencialmente Txicos)
SFI Statistques Financires Internationales (Estatsticas
Financeiras Internacionais)
UNIBID Centre International pour les Descriptlons
Bibliographiques (Centro Internacional de Descrio
Bibliogrfica)
WDEBT Table des Dettes de la Banque Mondiale (Tabela de Dvidas
do Banco Mundial)
WWW Veille Mtorologique Mondiale (Sistema mundial de coleta
e tratamento de Dados Meteorolgicos).
Suas atividades de informao se do pelo desenvolvimento de sistemas
de informao internos, pelo desenvolvimento de sistemas internacionais
em cooperao com outros organismos e na promoo dos sistemas de
informao internacionais e dos sistemas de informao dos pases em
desenvolvimento.
Os programas e sistemas internacionais de informao
A maioria destas organizaes dispe de suas prprias unidades de
informao. Estas unidades so dos mais variados tipos, da biblioteca
tradicional aos bancos de dados numricos. Elas tratam os documentos
produzidos pela organizao e por ela recebidos e tm um campo de
aplicao internacional. Elas esto prioritariamente a servio dos
funcionrios de suas organizaes respectivas, mas tambm dos
funcionrios de outras organizaes e das delegaes dos Estados-
membros, e conseqentemente, de um grande nmero de pases. Em
alguns casos os pesquisadores de organismos especializados so
autorizados a utilizar estas unidades de informao. Um grande nmero
de servios e de produtos so acessveis a qualquer usurio, gratuitamente
ou mediante pagamento.
A rede das Naes Unidas tem mais de 665 sistemas de informao
mantidos por 39 organizaes que constituem a grande famlia das
Naes Unidas". No possvel descrever, neste captulo, todos estes
sistemas de informao. Sero citados apenas os principais, para mostrar
a sua diversidade e os seus recursos, muitas vezes subutilizados por
serem pouco conhecidos (ver o organograma do sistema das Naes
Unidas, figura 35) Estes sistemas de informao internos ou externos so
recenseados e descritos no Rpertoire des bases de donnes et des
systmes d injormation des Nations Unies, elaborado pelo Advisory Com-
mittee for the Coordination of Information Systems (ACCIS)1.
Neste conjunto, algumas organizaes das Naes Unidas tomaram a
iniciativa ou foram encarregadas de organizar sistemas internacionais de
informao e de contribuir para o seu funcionamento como centros de
registro e de coordenao. A maior parte destes sistemas rene as
informaes produzidas nos pases participantes, que tratam estas
informaes de acordo com procedimentos normalizados por centros
nacionais e regionais. Estas informaes so enviadas a um centro
internacional e incorporadas a uma base de dados e colocadas disposio
dos usurios em diversos formatos. Estes sistemas esto representados
na figura 36.
A sede da Organizao das Naes Unidas, em Nova Iorque, dispe de
uma importante biblioteca associada a um sistema de informao
bibliogrfico (Unbis) e a um sistema de documentao automatizado
(Undis), que trata os documentos da Organizao. A ONU tem ainda
servios especializados em questes econmicas e sociais, recursos do
mar, recursos naturais, habitaes, bem como uma rede de informaes
demogrficas (Popin).
A forma magntica deste repertrio conhecida como Dundis. A partir
de 1981, o Centre on Transational Corporations (Centro de Corporaes
1. Directoryof United Nations data bases and information systems. New York, United
Nations, 1984.
Os programas e sistemas Internacionais de informao
Transnacionais) elaborou um grande nmero de estudos sobre o fluxo de
dados entre naes.
O escritrio das Naes Unidas, em Genebra, dispe de uma biblioteca
e de sistemas especializados no desenvolvimento social da Europa e em
entorpecentes. A sede da ACC1S tambm em Genebra.
ACommlssion conomique et Sociale pour 1Asie et le Pacifique (Cesap/
Comisso Econmica e Social para a sia e o Pacfico), em Bangkok, tem
um centro de informaes sobre problemas de populao na sua regio e
desenvolve sistemas especializados em agricultura, transportes martimos
e comrcio.
A Commission conomique pour 1'Amrique Latine (CEPAL) Comisso
Econmica para a Amrica Latina , em Santiago do Chile, dispe de um
centro de documentao econmica e social com uma rede regional.
A Comission conomique pour 1Afrique (CEA/Comisso Econmica
para africa), situada em Addis-Abeba, dispe de um sistema de informao
sobre o desenvolvimento na frica e de uma biblioteca bastante completa
sobre a economia dos pases africanos.
O Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours en Cas
de Catastrophe (UNDRO/Escritrio de Coordenao das Naes Unidas
para Socorro em Casos de Catstrofe), situado em Genebra, tem uma
biblioteca e um banco de dados sobre operaes de socorro.
O Programme des Nations Unies pour 1Environement (PNUE/Programa
das Naes Unidas para o Meio Ambiente), em Nairobi, tem uma biblioteca,
um banco de dados sobre as principais variveis relativas ao meio
ambiente e um Registre International des Produits Chimiques
Potentiellement Toxiques (RISCPT). Alm disso, o PNUE desenvolveu um
sistema internacional de orientao sobre fontes de informao em meio
ambiente, Infoterra. Participam deste sistema 104 centros nacionais e
internacionais.
O Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD/
Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento), situado em Nova
Iorque, organizou um sistema internacional de orientao sobre organismos
e programas dos pases em desenvolvimento propensos a fazer cooperao
tcnica com outros pases em desenvolvimento.
O Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (Unitar/
Instituto das Naes Unidas para a Formao e a Pesquisa), em Nova
Iorque, dispe de uma biblioteca sobre relaes internacionais,
desenvolvimento econmico e social e outros assuntos de pesquisa desta
instituio. Ele organiza, em cooperao com outras instituies das
Naes Unidas, seminrios sobre a documentao internacional e sobre
a documentao das organizaes internacionais.
AOrganisation International duTravail (OIT/Organizao Internacional
do Trabalho), situada em Genebra, dispe de servios de informao sobre
reeducao e emprego de deficientes visuais, sobre movimentos
cooperativos, segurana do trabalho, problemas sociais e de emprego.
Os programas e sistemas internacionais de informao
trabalho e trabalho feminino. A seo de documentao de sua biblioteca
central organizou e utiliza um sistema informatizado integrado (ISIS) que
permite gerenciar as operaes da biblioteca e produzir um boletim
bibliogrfico e um ndice das aquisies da biblioteca e das principais
publicaes da OIT. O sistema ISIS foi adotado por vrios sistemas e
organismos internacionais e nacionais. Atualmente, mantido pela
Unesco, que tambm responsvel por sua difuso. A OIT produz duas
bases de dados acessveis distncia por alguns servios de bancos de
dados. O Bureau International du Travail (Escritrio Internacional do
Trabalho) difunde a base de referncias bibliogrficas Labordoc, sobre
problemas de trabalho no mundo, e a base Laborinfo sobre polticas de
trabalho. O Centre International dTnformation de Securit et d'Hygine du
Travail (CIS/Centro Internacional de Informao em Segurana e Higiene
do Trabalho) o produtor da base CIS-DOC que repertoria documentos
provenientes de mais de 450 centros nacionais.
A Organisation des Nations Unies pour lAlimentation et lAgriculture
(FAO/Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e a Agricultura),
situada em Roma, dispe de sistemas de informao sobre estruturas
rurais, reaes s culturas e aos fertilizantes, gentica das plantas,
estatsticas agrcolas, contaminao de alimentos, populao rural,
recursos de pastas de papel, recursos florestais, pesca e contaminao da
gua. Sua diviso de biblioteca e de sistemas de documentao mantm
um importante acervo com um registro informatizado dos peridicos
recebidos e um centro de documentao informatizado, que produz
boletins bibliogrficos e ndices acessveis on-line e em forma impressa. A
FAO responsvel pela coordenao de vrios sistemas de informao
internacionais. Ela produz a base de dados Agris (Systme International
dInformation pour les Sciences et la Technologie Agricoles/Sistema
Internacional de Informao para as Cincias e a Tecnologia Agrcola),
com a colaborao de 130 centros. As bases de dados Agris e Asfa (Systme
dTnformation sur les Sciences Aquatiques et la Pche/Sistema de
Informao sobre Cincias da gua e Pesca) so acessveis a partir de
vrios servios de bancos de dados. O Caris um sistema de orientao
sobre as pesquisas agronmicas em curso, principalmente nos pases em
desenvolvimento. A Aglinet uma rede de 17 bibliotecas agrcolas de
grande e mdio porte.
As atividades da Unesco em informao so essenciais no plano
internacional. A Unesco desenvolveu e dirige, pelo Programme Gnral
dTnformation (PGI), o Programa Unisist, que fornece um plano conceituai
para o desenvolvimento de sistemas de informao. Seus principais
objetivos so a promoo de polticas e programas de informao nacional
e internacional; a adoo de normas e mtodos unificados para os
sistemas^de informao; o desenvolvimento de infra-estruturas de
informao; o desenvolvimento de sistemas especializados de informao
Os programas e sistemas internacionais de informao
e a formao de especialistas e de usurios de informao. Por este
programa, a Unesco organiza e subvenciona algumas aes, entre as
quais, pode-se citar:
a criao de um Centre International pour 1Enregistrement des
Publications en Srie (CIEPS/Centro Internacional para o Registro
de Publicaes Seriadas), encarregado de gerenciar o Systme
International de Donnes sur les Publications en Srie (ISDS/
Sistema Internacional de Dados sobre Publicaes em Srie), em
Paris ;
- a criao de um Centre International dInformation pour la
Terminologie (Infoterm/Centro Internacional de Informao para a
Terminologia), em Viena;
- um Service International d'Orientation sur les Matriels de
Traitement d'Information (IRCIHE/Servio Internacional de
Orientao sobre Materiais de Tratamento da Informao), em
Zagreb;
- Um Centre International pour les Descriptions Bibliographiques
(UNBID/Centro Internacional para Descrio Bibliogrfica), em
Londres.
A Unesco coleta e difunde uma grande quantidade de informao
especializada. Estas informaes so geridas por 55 bases de dados
operacionais. Ela publica um repertrio destas bases em ingls e francs.
Estas bases de dados so bigliogrficas, referenciais e numricas. O
gerenciador CDS/ISIS utilizado para produzir a maior parte delas, em
um computador central. Elas podem ser interrogadas diretamente na sede
da Unesco ou nos escritrios regionais conectados pelas redes de
telecomunicao internacionais.
Todos os documentos e publicaes da Unesco so referenciados na
base de dados Unesbib, automatizada em 1972 e gerenciada pela sua
biblioteca. A base de dados Dare tem referncias mundiais sobre instituies
de pesquisa e formao, especialistas, cursos, projetos e servios de
documentao e de informao em cincias sociais. O Annuaire Statistique,
automatizado desde 1971, produzido pelo Bureau des Statistiques e
repertoria dados de aproximadamente 200 pases e territrios. A Unesco
dispe igualmente de uma biblioteca central, de arquivos e de centros de
documentao setoriais.
De acordo com o estabelecido no Troisime Plan Moyen Terme/
Terceiro Plano de Mdio Prazo (1990-1995), todas estas fontes de informao
sero gradualmente integradas em uma rede coordenada pelo Centre
dchange dInformation de 1Unesco (Clearing-house), cujo objetivo ser
difundir aos Estados-Membros toda a informao disponvel nos seus
domnios de competncia.
A Organization Mondial de la Saut (OMS/Organizao Mundial da
Sade), situada em Genebra, dispe de uma biblioteca e de sistemas de
Os programas e sistemas Internacionais de informao
informao sobre tecnologia em sade, pesquisa em fllariose e outras
doenas parasitrias, contra-indicaes dos medicamentos, legislao
sanitria e sobre alimentao em locais que no dispem de gua tratada.
A OMS administra igualmente um Centre d'changes d'lnformation sur
les Recherches en Cours en pidmiologie du Cancer, em Lyon.
AOrganisation de lAviation Civile Internationale (OACI/Organizao
da Aviao Civil Internacional), situada em Montreal, dispe de bancos de
dados sobre as caractersticas dos aeroportos, as estatsticas do transporte
areo, os meios de comunicao e de navegao e os fornecedores de
equipamentos.
AUnion Internationale deTlcommunications(UIT/Unio Internacional
de Telecomunicaes), em Genebra, dispe de repertrios e de bancos de
dados sobre as estaes emissoras, as normas internacionais de radiofonia,
as freqncias de emisses radiofnicas, as estaes costeiras, as estaes
de rdio dos navios, a legislao sobre radiofonia, os servios de telefone
e de telgrafo e as estaes de telgrafo internacional.
A Agence Internationale de 1'nergie Atomique (AIEA/Agncia
Internacional de Energia Atmica), em Viena, possui uma biblioteca e
sistemas de informao sobre dados relativos aos nutrons, s reaes
nucleares e medidas e avaliao de dados nucleares.
A AIEA coordena um Systme International dInformation Nuclaire
(INIS/Sistema Internacional de Informao Nuclear, que serviu de modelo
a muitos sistemas do mesmo tipo. Atualmente, participam deste sistema
77 centros nacionais e regionais e 14 organizaes.
Alm de uma base bibliogrfica corrente acessvel sob a forma de
boletins, este sistema possui um acesso centralizado aos documentos
no-convencionais em microfichas. A base de dados Inis acessvel
distncia e sob certas condies, a partir de alguns servios de bancos de
dados.
O Accord Gnral sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT/
Acordo Geral sobre as Tarifas Alfandegrias e o Comrcio), com sede em
Genebra, possui uma biblioteca e um banco de dados sobre os direitos
alfandegrios e comrcio internacional, que cobre 18 pases
industrializados. Esta base de dados acessvel distncia, a partir do
servio de banco de dados dinamarqus Data Centralem.
A Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (OMPI/
Organizao Mundial da Propriedade Industrial), situada em Genebra,
desenvolveu um sistema mundial de informaes sobre patentes, o
Inpadoc, ou International Patent Documentation Center. Participam
deste sistema 55 centros nacionais e regionais. Ele produz uma base
bibliogrfica acessvel em forma de boletins e em fitas magnticas. A OMPI
oferece tambm servios de pesquisa retrospectiva, de DSI e de pergunta
e resposta. A base de dados Inpadoc acessvel distncia a partir de
alguns servios de bancos de dados.
A Organisation Mtorologique Mondiale (OMM/Organizao Mundial
Os programas e sistemas internacionais de informao
de Meteorologia), com sede em Genebra, desenvolveu um sistema mundial
descentralizado de coleta e de tratamento de dados meteorolgicos,
conhecido como Veille Mtorologique Mondiale que, por uma rede de
estaes de observao de centros de tratamento de dados e de
telecomunicaes, permite a todos os pases o acesso on-line a dados
meteorolgicos e o tratamento de informaes ojf-line.
A Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement Industriei
(Onudi)/Organizao das Naes Unidas para o Desenvolvimento Indus
trial), localizada em Viena, dispe de vrios servios em uma seo de
Informao industrial. Uma unidade de biblioteca e de documentao
coleta e trata os documentos internos e externos relativos s atividades
industriais e responde s solicitaes dos usurios. Ela oferece ainda um
servio de DSI aos funcionrios da organizao. O sistema de informao
industrial indexa e resume os documentos da Onudi utilizando o Thsaurus
du dveloppement industriei e produz o Industrial development abstracts.
A unidade de publicaes produz um boletim mensal de informao e os
Cuides des sources d'information que cobrem, cada um, um ramo da
indstria. O servio de informao industrial oferece, com a ajuda de
correspondentes em diversos pases, um servio de pergunta e resposta
sobre problemas industriais dos pases em desenvolvimento. Ele mantm
ainda um repertrio internacional de consultores e um servio de orientao
sobre fontes de informao de equipamentos industriais. O Banque
dInformation Industrielle et Technologique (INTIB) cobre os setores da
siderurgia e do ao, dos fertilizantes, da agroindstria e do maquinrio
agrcola. Este banco utiliza os recursos disponveis na Onudi e recursos
externos para reunir e analisar a informao tecnolgica para as instituies
de desenvolvimento industrial dos pases em desenvolvimento.
No grupo do Banco Mundial, o Banque International pour la Recon-
struction et le Dveloppement (Bird/Banco Internacional para a
Reconstruo e o Desenvolvimento) produz um banco de dados numricos
financeiro, oWDEBT(World Bank Debt Tab les), acessvel distncia pela
execuo de alguns servios de bancos de dados.
Algumas organizaes possuem programas de assistncia aos Estados-
membros, principalmente aos pases em desenvolvimento, para permitir
sua participao nos sistemas internacionais de informao e organizar
suas unidades de informao nos campos do conhecimento prprios de
cada instituio. Este o caso da Unesco, da FAO, da Onudi, da AIEA, da
OMS, da OMPI e da Confrence des Nations Unies sur le Commerce et le
Dveloppement (CNUCED/Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio
e o Desenvolvimento).
Estas atividades podem ser financiadas por recursos da organizao,
ou pelo PNUD e organismos nacionais. No primeiro caso, as intervenes
so limitadas a consultas, cursos, bolsas, material e assistncia
metodolgica. No segundo, estas intervenes permitem a organizao de
cursos de vrios anos, a organizao de sistemas de informaes, ou de
Os programas e sistemas internacionais de informao
escolas de especialistas em informao, alm de atividades pontuais.
As instituies especializadas das Naes Unidas organizaram e
continuam organizando inmeras conferncias, reunies, seminrios
sobre problemas de informao, tanto mundiais como regionais. Estas
conferncias permitem no apenas a troca de idias e de informaes, mas
tambm uma harmonizao das atividades e a preparao ou a superviso
de aes comuns.
Atividades das organizaes
internacionais governamentais
A atividade das organizaes internacionais governamentais (OIG) no
campo da informao muito semelhante das organizaes do Sistema
das Naes Unidas. Estaatividade comporta trs tipos de aes: organizao
de sistemas internos, promoo de sistemas de informao e cooperao
tcnica com os Estados-membros.
Entretanto, estas organizaes, por serem mais homogneas e mais
prximas dos pases, permitem promover a coordenao e a criao de
sistemas comuns em melhores condies que as organizaes das Naes
Unidas. Em certos casos, estes sistemas transformam-se progressivamente
em verdadeiros sistemas regionais de informao.
A Organisation de Coopration et de Dveloppement conomique
(OCDE), criada em 1961, tem por objetivo promover o bem-estar econmico
e social dos pases-membros pela coordenao de suas polticas para este
efeito. A atividade da OCDE estende-se a todos os aspectos da poltica
econmica e social e a maior parte do seu trabalho desenvolvida por
aproximadamente 200 comits e grupos de trabalho especializados. Entre
estes grupos pode-se citar os de Politique de 1Information de 1Informatique
et des Communications e o de Politique Scientifique etTechnologique, que
fazem consultorias e estudos sobre a responsabilidade dos governos, as
funes e os pontos de convergncia nacionais, a descrio das disposies
existentes nos diversos pases, as possibilidades de cooperao
multilateral em informao, a prospectiva em informao cientfica e
tcnica, e as bases sobre as quais devem ser tomadas as decises
governamentais.
A OCDE publica um grande nmero de monografias, de estudos e de
peridicos sobre problemas do desenvolvimento econmico, em forma
impressa, microfilmada ou eletrnica. Esta organizao produz tambm
bases e bancos de dados em economia acessveis distncia, como a base
de dados IA1 ou PI (sobre macroeconomia), a base de dados
OECD - economic out look (sobre previses econmicas), e a base de dados
OECD - quarterly national income accounts (sobre contas nacionais).
A OCDE gerencia tambm um sistema internacional de documentao: a
Documentation Internationale en Recherche Routire (DIRR), do qual
Os programas e sistemas internacionais de informao
participam 40 pases. Este sistema acessvel em alemo, francs e ingls.
O Conseil dAssistance conomique Mutuelle (CAEM) estabeleceu, em
Moscou, um Centre International dInformation Scientifique et Tech-
nique, que conta com a participao de nove pases socialistas. Este
centro tem por objetivo promover sistemas de informao integrados entre
os pases-membros, a pesquisa e o desenvolvimento em informao. Este
centro fornece ainda assistncia cientfica, metodolgica e organizacional
s unidades de informao dos pases-membros e assistncia para a
formao de especialistas em informao.
Os pases-membros da Comunidade Europia cooperam por meio de
um Comit de rinformation et de la Documentation Scientifique et
Technique. Entre suas atividades esto a organizao de vrias redes de
comunicao e de informao e a organizao de bancos de dados
cientficos. Uma das redes mais avanadas a Euronet-DIANE, que est
em constante desenvolvimento. Esta rede permite atualmente o acesso a
cerca de 750 bases e bancos de dados por meio de mais de 80 servios de
bancos de dados.
A Comunidade Europia tambm tem programas de criao e de
fornecimento de documentos eletrnicos e de transmisso de documentos
em texto integral, por satlite. As memrias ticas e sua normalizao
tambm esto entre as preocupaes da CEE.
Como um dos maiores obstculos integrao europia o problema
lingstico, a Comunidade Europia desenvolveu algumas aes para
tentar super-lo. Entre estas aes pode-se citar o desenvolvimento do
sistema de traduo assistida por computador Systran e da base de dados
terminolgicos Eurodicautom, que tem dados relativos s novas tecnologias.
Estes programas esto disposio de alguns usurios externos CEE.
A Comunidade Europia est desenvolvendo o programa de pesquisa
Eurotra, que tem por finalidade criar um sistema de traduo automatizado
de concepo avanada para as nove lnguas da Comunidade. Este
programa dever resultar na implantao de um sistema prottipo de
traduo multilnge que possa operar em um campo especfico do
conhecimento. Este programa faz tambm pesquisas sobre desenvolvimento
de sistemas de traduo automatizados para serem utilizados em vrios
assuntos, bem como sobre sistemas informatizados que permitam o
tratamento da linguagem natural.
A Comunidade Econmica Europia assegura a difuso, a proteo e a
explorao dos resultados obtidos nos seus programas de pesquisa. A
difuso de conhecimentos realizada por vrias publicaes, como
relatrios, monografias, newsletters e artigos adaptados a diferentes tipos
de usurios. Todas estas publicaes so repertoriadas em um boletim
bibliogrfico denominado EuroAbstrcucts e na base de dados correspondente.
Um servio especializado da Commission des Communauts Europenes
coordena estes servios e funciona como centro internacional de tratamento
de algumas redes especializadas, como o Systme de Documentation et
Os programas e sistemas internacionais de informao
Information pour la Mtallurgie (SDIM/Sistema de Documentao e
Informao de Metalurgia), o Euragris, que rene a contribuio europia
no sistema Agris e o Service Europen de Documentation Nuclaire
(ENDS/Servio Europeu de Documentao Nuclear).
A Agence Spatiale Europenne (ESA) desenvolveu um Service de
Ressaisie de lInformation (IRS/Servio de Recuperao da Informao)
situado em Frascati, na Itlia. Seu sistema automatizado possui mais de
90 bases e bancos de dados, especializados em cincia e tecnologia. Este
servio foi estendido progressivamente de organismos da Europa Ocidental
a outros organismos, como o Centre National de Documentation do
Marrocos, situado em Rabat, e a outros pases como a ndia, o Mxico e
alguns pases da Amrica Latina. Esta agncia est engajada em alguns
projetos de pesquisa e desenvolvimento para a transmisso de textos via
satlite, juntamente com a Commission des Communauts Europenes,
como o projeto Appolo. Em 1987, a ESA criou um servio de documentao
para as necessidades internas da agncia, denominado EDS.
A ESA dispe ainda do Bureau du Programme Earthnet, encarregado
da aquisio, do tratamento preliminar do arquivamento e da distribuio
de dados de teledeteco por satlite.
O Secretariado da Comunidade tem tambm programas de cooperao,
principalmente no campo das cincias e da educao, e na difuso de
informaes. Uma de suas contribuies mais originais o sistema de
informao dos Commonwealth Agricultural Bureaus (CAB/Escritrios
de Agricultura da Commonwealth), que consistem em uma rede de centros
especializados nos diversos campos da agricultura, que coletam e analisam
a literatura mundial selecionada sobre o assunto e publicam boletins
bibliogrficos e resumos disponveis em formatos automatizados. A base
de dados CAB acessvel a partir de um grande nmero de servios de
bancos de dados europeus e norte-americanos, e tem um projeto de
difuso de informaes em CD-ROM.
A Agence de Coopration Culturelle et Technique (ACCT) reagrupa 39
Estados de lngua francesa em todas as partes do mundo. Esta agncia d
uma ateno privilegiada informao cientfica e tcnica para o
desenvolvimento em seus programas de cooperao. Sua ao neste
campo situa-se em trs setores (edio/difuso, centros de documentao
e bancos de dados) e em trs nveis (formao, consultoria e realizao).
A AACT publica, principalmente, manuais tcnicos, vocabulrios
especializados, repertrios, inventrios, e contribui para a edio e a
difuso de revistas cientficas. Ela intervm tambm em atividades de
formao em tcnicas de edio e na colaborao entre editores. Ela
colabora com centros de documentao, promovendo aperfeioamento de
pessoal e do fornecimento de apoio material e documental. Esta agncia
organiza e colabora na organizao de bancos de dados sobre solos e
plantas medicinais, em fontes de informao em lngua francesa sobre
398
Os programas e sistemas internacionais de informao
pesquisadores e em bibliografias. Sua especificidade a lngua francesa
e suas prioridades so a agricultura e o desenvolvimento rural.
A Organizao dos Estados Americanos (OEA) uma organizao
internacional governamental, criada em 1948. Ela reagrupa 31 pases da
Amrica Latina e os Estados Unidos. Esta organizao tem dois programas
no campo da informao. Desde 1973, o Departamento de Assuntos
Cientficos do Secretariado da OEA lanou um programa de Informao
tcnica e assistncia indstria. O objetivo deste programa criar meios
que permitam s empresas de pequeno e mdio porte da Amrica Latina
aplicar os conhecimentos tcnicos em suas atividades produtivas.
No campo dos departamentos de assuntos culturais e de educao, a
OEA tem um programa de desenvolvimento de bibliotecas, arquivos e
sistemas de documentao. Seus objetivos so a melhoria destes servios,
o fortalecimento e a modernizao das bibliotecas escolares e universitrias,
bem como sua integrao em sistemas nacionais e regionais de informao,
e o desenvolvimento de servios regionais de arquivo.
Este programa subvenciona a Escola Interamericana de Biblioteconomia,
em Medellin, Colmbia, e o Centro Interamericano de Formao de
Arquivistas, em Crdoba, na Argentina. O programa fornece ainda
assistncia s escolas profissionais nacionais, organiza cursos bsicos de
formao e cursos curtos de formao especializada, fornece inmeras
bolsas, organiza seminrios e viagens de estudo, entre outras atividades.
Este mesmo programa ocupa-se da normalizao e da criao de
instrumentos de trabalho comuns, que permitem integrar progressivamente
os sistemas nacionais a uma rede regional, principalmente na etapa da
descrio bibliogrfica. Com estes objetivos foram produzidos diversos
manuais e estudos. Dentro deste programa foi tambm criado um formato
de comunicao de dados bibliogrficos em espanhol (Marcai), bem como
seu respectivo manual de utilizao em colaborao com a Library of
Congress dos Estados Unidos. Atualmente, est sendo desenvolvida uma
rede informatizada de coleta e de acesso on-line de dados bibliogrficos
(Amigos), em colaborao com vrios organismos e unidades de informao
que dispem de colees importantes na Amrica Latina.
A Organizao Panamericana de Sade criou, em 1967, em cooperao
com o governo brasileiro, a Biblioteca Regional de Medicina (Bireme), que
serve de centro a uma rede regional, da qual participam atualmente a
Argentina, o Chile, o Peru, o Uruguai e a Venezuela. Esta biblioteca tem
por funo estimular as trocas de duplicatas, manter uma grande coleo
de referncia, fornecer fotocpias de documentos que no possam ser
encontrados localmente, fazer pesquisas retrospectivas, proporcionar um
servio de DSI, assegurar um programa de publicaes especializadas,
formar especialistas em informao mdica, contribuir para a normalizao
das atividades de informao e difundir as publicaes da OMS. Em 1974,
a Bireme tornou-se um centro regional para a utilizao da base Medline,
com acesso on-line experimental.
Os programas e sistemas Internacionais de informao
Os pases-membros da Conveno Andrs Bello (Bolvia, Chile, Colmbia,
Equador, Peru e Venezuela) organizam consultas, estudos e sesses de
formao, com o objetivo de coordenar suas atividades de informao.
As organizaes regionais para a valorizao dos rios Niger e Senegal,
na frica, criaram, cada uma, centros de documentao informatizados
que coletam os documentos nos pases-membros, analisam estes
documentos, organizam bibliografias e ndices, conservam os documentos
em forma de microfichas e atendem aos usurios. AComission du Fleuve
Niger, criada em 1963, da qual participam o Benin, Burkina Faso,
Cameroun, Costa do Marfim, Guin, Mali, Niger, Nigria e Tchad, mudou
seu nome, em 1979, para Autorit du Bassin du Fleuve Niger (ABN). Seu
objetivo promover o desenvolvimento do conjunto de estados localizados
ao longo do rio, tendo como prioridade o planejamento do curso do rio
Niger (pesquisas de base, navegao, irrigao, pesca e produo de
energia hidroeltrica). Em 1980, foi criado o Fonds de Developpement de
l'ABN para financiar estas operaes. O Centre de Documentation de
l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sngal (OMVS), localizado
em Saint-Louis, foi criado em 1970 e armazena toda a informao que
interessa ao programa da organizao (50 mil documentos e mapas e 36
mil microfichas). Este centro produziu 14 ndices do tipo KWIC, de 1971
a 1984, com 9 mil documentos e 36 mil microfichas indexados no sistema.
Foi organizado um ndice especial sobre criao de gado (o de n.910, em
1980), em colaborao comoIEMVT, com 320 documentos. As microfichas
e as bibliografias correspondentes podem ser consultadas em qualquer
um dos pases-membros, nos seguintes organismos:
- em Bamako, no Mali na Direction Gnrale de 1nergie et de
1Hydraulique;
- em Nouakchoutt, na Mauritnia, no Ministre du Dveloppement
Rural;
- em Dakar, no Senegal, no Centro de Documentao do Ministre du
Dveloppement Rural e no Haut Commissariat de l'OMVS, na Division de
rinformation et de Traduction,tambm em Dakar.
O servio de pergunta e resposta fornece ndices, referncias
bibliogrficas, microfichas e fotocpia de mapas.
O Institut du Sahel organizou um Rseau Rgional dInformation et de
Documentation Scientifique etTechnique (Resadoc), em 1979. Esta rede
corresponde a uma das misses confiadas a este Instituto pelo Comit
Permanent Inter-tats de Lutte contre la Scheresse au Sahel (CILSS)
Este Instituto encarregado de assegurar a coleta, a anlise e a difuso
dos resultados da pesquisa cientfica e tcnica sobre a regio do Sahel.
O Resadoc tem os seguintes objetivos:
- a implantao de sistemas nacionais de informao cientfica e
tcnica;
- a harmonizao dos procedimentos de coleta e de tratamento
4qq documental para garantir a compatibilidade total entre os
Os programas e sistemas Internacionais de informao
sistemas de informao nacionais ou regionais;
- a troca de informao cientifica, nos campos de interesse do CILSS,
na regio e no exterior.
O Centre Rglonal de Coordination de Resadoc, localizado no Institut
du Sahel, em Bamako, pretende estabelecer um sistema regional de
informao que associe os centros nacionais e regionais de documentao
da regio.
As atividades da rede so especializadas nos temas do programa do
CILSS: auto-suficincia alimentar, captao de gua, restaurao do
espao regional, conhecimento do meio humano e formao de pessoal.
Desde a sua criao, em 1986, foi dada prioridade estruturao da rede
e organizao dos instrumentos de trabalho descritos a seguir:
- a base de dados da rede, Rsindex (Bibliographie du Sahel), est
operacional e tem periodicidade semestral. Seu produto informatizado
o Resadoc, que permite a localizao dos documentos;
fornecimento de referncias bibliogrficas, a partir da base de
dados. Este trabalho realizado com a colaborao dos centros
nacionais e regionais;
- organizao progressiva dos centros nacionais, com o apoio do
Centro Regional.
- servio de pergunta e resposta do Centro de Documentao do
Instituto.
Os responsveis pelo Resadoc pretendem enfatizar o aspecto de difuso
da informao, para satisfazer s necessidades de informao cientfica e
tcnica dos administradores, dos pesquisadores, dos agentes de
desenvolvimento e dos produtores.
A East African Academy, em cooperao com a Fondation Allemande
pour le Dveloppement International (DSE), organizou um Centre Rgional
de Coordination pour la Formation en Matire dInformation (CRIT), que
faz estudos sobre os problemas de mo-de-obra, de formao e cursos de
curta durao sobre os diversos aspectos do trabalho de Informao. O
programa deste centro elaborado por um comit regional, composto de
especialistas dos pases da frica do Leste.
As organizaes de pesquisa agronmica e veterinria da frica do
Leste criaram o East African Literature Service, que elabora um servio de
alerta para os pases desta regio, editando boletins de sumrios, oferecendo
um servio de DSI e um servio de fotocpias.
Em Dakar, no Senegal, existe uma escola para bibliotecrios, arquivistas
e documentalistas de lngua francesa; em Kampala, na Ouganda, existe
uma escola para bibliotecrios de lngua inglesa, e em Legon, no Gana, um
curso para arquivistas de lngua inglesa.
A Ligue des tats Arabes criou um centro de documentao e informao
(ALDOC), encarregado de coletar e difundir informaes sobre o
desenvolvimento dos pases do mundo rabe, notadamente nos seus
Os programas e sistemas internacionais de informao
aspectos poltico, social e econmico. O centro responsvel pela rede
ARIS-NET, que rene as unidades de informao dos pases-membros e
desenvolve uma base de dados que funciona em minicomputador.
A Organisation de la Ligue des tats Arabes pour 1'ducation, la
Culture et la Science (Alecso), esfora-se em promover e coordenar as
atividades de informao dos pases-membros pelo programa de seu
departamento de documentao e informao. Esta entidade organiza
seguidamente seminrios sobre os diversos aspectos da informao. A
Alecso busca informaes sobre os assuntos de sua competncia nos
pases-membros e produz publicaes correntes, repertrios de fontes de
informao e obras de referncia (boletins estatsticos e bibliogrficos).
Ela organiza tambm ciclos de formao. Esta organizao desenvolve
ainda instrumentos de trabalho normalizados em rabe, como o manual
do ISBD, uma adaptao da Classificao de Dewey, uma classificao
para as disciplinas islmicas, e uma lista de cabealhos de assuntos, entre
outros. A Alecso pretende criar um centro rabe de pesquisa e de
documentao em comunicao, cujos objetivos seriam selecionar e obter
fontes de informao, fornecer as informaes necessrias aos usurios
potenciais e elaborar planos para a pesquisa em informao.
O Centre de Dveloppement Industriei pour les tats Arabes (IDCAS),
organizou um sistema de documentao informatizado, que trata os
documentos sobre a indstria, produzidos nos pases rabes, ou capazes
de interessar a estes pases. Este sistema fornece servios de orientao,
de referncia, de pesquisa, de traduo e de publicao. O IDCAS lanou
um programa de desenvolvimento de uma rede de informao industrial
nos pases rabes. Este programa permite a criao de instrumentos de
trabalho comuns (em particular a traduo e adaptao de tesauros), a
formao de pessoal em cursos de curta durao e de um ciclo de formao
bsica, a educao de usurios e a promoo de servios. Este programa
pretende ainda desenvolver centros especializados nos diversos ramos da
indstria, situados em diversos pases, para assegurar um tratamento
mais completo das informaes e assegurar relaes mais estreitas com
as empresas correspondentes.
Os pases asiticos tambm desenvolveram programas de cooperao
nos ltimos anos. Foram realizados estudos visando criao de uma rede
regional de informao cientfica e tcnica e cursos regionais de formao
de especialistas de informao. Um banco de informaes agrcolas (AIBA)
permite uma participao conjunta de nove pases no sistema Agris. A
rede de organismos especializados em informao tecnolgica e divulgao
industrial (Technonet Asta), congrega onze instituies de nove pases
ligados a um centro coordenador, situado em Singapura, e permite trocar
experincias, conhecimentos e recursos no campo da informao, formar
pessoal, fornecer servios s indstrias e reforar alguns centros.
402
Os programas e sistemas internacionais de informao
Atividades dos organismos nacionais
A atividade internacional de informao dos organismos nacionais
constitui-se em uma parte importante dos esforos de cooperao e de
promoo dos sistemas de informao nos pases em desenvolvimento. Os
programas especficos no campo da informao so raros nas agncias
, governamentais de cooperao tcnica. Entretanto, estas agncias do
uma contribuio importante ao desenvolvimento de sistemas de
informao, realizada de forma direta ou como parte de projetos com
objetivos mais amplos. Uma parte importante desta contribuio feita
pelo fornecimento de documentos. Outro elemento importante destas
atividades a contribuio para a formao de especialistas de informao,
pela organizao de cursos locais ou pela distribuio de bolsas que
permitem a estudantes fazer cursos em instituies especializadas ou
estgios em unidades de informao de seus pases respectivos. Esta
atividade engloba tambm servios de consultoria, criao de unidades de
Informao, fornecimento de equipamentos e construo de prdios
destinados a estas unidades. A maioria dos pases desenvolvidos e alguns
em desenvolvimento est engajada neste tipo de ao.
O Centre de Recherches pour le Dveloppement Internacional (CRDI)
uma corporao criada em 1970, pelo Parlamento do Canad, para
encorajar e subvencionar pesquisas tcnicas e cientficas em pases
menos avanados. Sua sede em Ottawa.
Este centro presta ajuda profissional e financeira nos campos da
agricultura, armazenamento, tratamento e distribuio de alimentos,
silvicultura, pesca, zootecnia, energia, doenas tropicais, armazenamento
dgua, servios de sade, educao, demografia, economia, comunicaes,
poltica urbana, poltica cientfica e tecnolgica e sistemas de informao.
A diviso de cincias da informao concentra suas intervenes no
reforo e na modernizao das estruturas regionais e nacionais existentes.
Esta diviso divulga o DEVSIS (sistema de informao sobre cincias do
desenvolvimento) e o Salus (servio de informao sobre sade para pases
em desenvolvimento). O CRDI responsvel pela difuso do programa
Minlsis nos pases em desenvolvimento.
Em alguns pases desenvolvidos, como os Estados Unidos, existem
organismos privados, sem fins lucrativos, como as fundaes, com
programas de cooperao internacional em problemas de informao.
Estas fundaes sustentam outras atividades, como o ensino superior, o
desenvolvimento agrcola e a sade pblica. Organismos como a Asia
Fondation, a Camegie Corporation, a Ford Foundation, a W.K.Kellog, a
Rockefeller Foundation e o Franklin Book Program tm intervenes
comparveis s das agncias governamentais. Seus meios so mais
modestos, mas seus mtodos de trabalho so, muitas vezes, mais flexveis,
o que lhes permite prestar um servio importante no desenvolvimento das
Os programas e sistemas internacionais de informao
unidades de informao e das instituies de formao de especialistas de
informao, no desenvolvimento de colees, na produo de livros e na
formao de pessoal.
Alguns sistemas de informao gerados e financiados por um pas
determinado cobrem uma proporo to grande da literatura mundial na
sua rea, que se transformam em sistemas internacionais do ponto de
vista do seu contedo. Este o caso do Chemical Abstracts Services e do
Medlars, nos Estados Unidos, que controlam o essencial da literatura
mundial em seus campos respectivos (qumica, para o CAS, e medicina,
para o Medlars), ou ainda do Pascal, na Frana, que cobre uma parte
importante da literatura mundial em vrias disciplinas. Estes sistemas
so levados naturalmente a fazer acordos internacionais, diretamente
com as unidades de informao, ou pelos servios governamentais, para
o uso de suas bases de dados ou, eventualmente, para uma participao
no registro de dados.
Existem, na maioria dos pases, servios nacionais de informao, cujo
contedo representa um interesse para outros pases, o que pode levar a
acordos binacionais. Estes acordos podem representar condies
preferenciais ou especialmente estudadas para os pases em
desenvolvimento, ou a realizao de um servio especial para determinado
pas (como, por exemplo, a seleo ad hoc de uma base de dados).
Entre as outras formas de cooperao internacional realizadas por
organismos nacionais, pode-se citar os acordos de associao, baseados
em interesses gerais comuns, ou a realizao de programas especiais
elaborados em comum, que permitem aos parceiros dos pases em
desenvolvimento utilizar os recursos em informao dos seus associados.
Dentro deste esprito foram organizadas redes para servios de pergunta
e resposta, como a VTTA2, nos Estados Unidos, pela qual especialistas
qualificados fornecem, de forma voluntria, respostas elaboradas a
perguntas provenientes dos pases em desenvolvimento. Para tal, estes
especialistas utilizam seus conhecimentos e as bases de informao que
lhes so acessveis.
Algumas unidades de informao dos pases desenvolvidos que desejam
formar uma rede internacional, ou uma rede que cubra um assunto
internacional, so levadas a participar no desenvolvimento de unidades de
informao similares no Terceiro Mundo, pelos contratos diretos, com
recursos prprios, ou pelo financiamento de agncias de cooperao de
seus respectivos pases. Algumas vezes as suas bases de informao e
seus servios representam uma fonte de informao inestimvel para os
pases em desenvolvimento.
Nesta perspectiva, deve-se mencionar o papel representado pelas
grandes bibliotecas de emprstimo, como a British Library, na Inglaterra,
ou o Institut National de 1Information Scientifique et Technique, na
2. VITA: Volunteers in Technical Assistance.
404
Os programas e sistemas internacionais de Informao
Frana, que fornecem, de forma rpida, exemplares, fotocpias ou
microfichas de documentos no disponveis localmente.
Por outro lado, o desenvolvimento rpido das redes de computadores e
das telecomunicaes, que permitem interligar bases de dados nacionais
e o acesso on-line, oferecem aos pases em desenvolvimento perspectivas
interessantes que permitem explorar o estoque mundial de informao.
Atualmente, apenas os pases localizados nas regies prximas a estas
redes, como o Mxico ou o Marrocos, utilizam correntemente estes
sistemas. Mas esta forma de acesso dever estender-se a outros pases. As
memrias ticas (como o disco tico numrico e o CD-ROM) graas sua
capacidade importante de armazenamento, constituiro provavelmente,
pontos de referncia importantes para a cooperao internacional.
Atividades das organizaes internacionais
no-governamentais (OING)
A atividade das organizaes internacionais no-govemamentais no
campo da informao contribui enormemente para a cooperao
internacional, para o desenvolvimento da troca de informaes e para a
promoo dos sistemas de informao. A maior parte das disciplinas
cientficas tem associaes internacionais geralmente formadas pela
reunio das associaes nacionais e de associados individuais ou
institucionais. Estas associaes exercem um papel essencial na circulao
de informaes em escala internacional, pela realizao de congressos
regulares, pelas suas publicaes, pelos seus grupos de trabalho e pelos
contatos pessoais que elas permitem estabelecer. Muitas tm grupos de
trabalho e programas que visam especificamente transferncia de
conhecimentos e promoo de sistemas de informao.
Grande nmero destas associaes so reagrupadas no Conseil Inter
national des Unions Scientifiques) (CIUS) Conselho Internacional das
Unies Cientficas). Este Conselho tem por objetivo promover a atividade
cientfica internacional. Ele rene 20 unies internacionais de disciplinas
cientficas, como a astronomia, a geofsica, a qumica, a biologia, a
matemtica, a geografia e a nutrio, entre outras. Possui ainda 74
membros nacionais, como academias de cincias, conselhos nacionais de
pesquisa e associaes nacionais cientficas. O CIUS organiza projetos de
pesquisa em cooperao, como o Anne Gophysique Internationale (Ano
Geofisico Internacional). Ele organiza ainda comits ou comisses que
tratam de pesquisa interdisciplinar ou de problemas, como o ensino das
cincias, e do problema da cincia e da tecnologia nos pases em
desenvolvimento. Ele trabalha em estreita relao com algumas
organizaes governamentais e no-govemamentais, particularmente
com a Unesco, com quem lanou alguns programas internacionais, como
o Unisist e as redes internacionais de biocincias. Ele colabora tambm
Os programas e sistemas internacionais de informao
com a Organisation Mtorologique Mondiale (Organizao Meteorolgica
Mundial) com quem promove o Programme des Recherches Atmosphriques
Global (GARP/Programa Global de Pesquisas Atmosfricas) e o Programme
Mondial de Recherches sur le Climat (WCPR/Programa Mundial de
Pesquisas sobre o Clima).
Dois rgos do CIUS so inteiramente consagrados s atividades de
informao: o Bureau des Rsums Analytiques du CIUS (CIUS-AB/
Escritrio de Resumos Analticos) que, em 1984, mudou seu nome para
Conseil International pour 1Information Scientifique etTechnlque (ICSTI/
Conselho Internacional de Informao Cientfica e Tcnica) e o Comit
International des Donnes Scientifiques et Technologiques (Codata/
Comit Internacional de Dados Cientficos e Tecnolgicos).
O ICSTI tem como funo promover a circulao da informao. Seus
membros trabalham em comum na normalizao, racionalizao e
desenvolvimento de suas atividades. Este Conselho funciona por meio de
grupos de trabalho ou de comits comuns com outras organizaes que
tm as mesmas preocupaes. As principais preocupaes do ICSTI neste
momento so o estudo das necessidades de informao e a formao de
usurios, a edio eletrnica, os aspectos jurdicos da transferncia de
informao, os bancos de dados numricos e as relaes existentes entre
a literatura primria e secundria.
O Codata exerce um papel semelhante no campo dos dados numricos.
Sua atividade tcnica se faz por meio de grupos de trabalho, que estudam
problemas como a acessibilidade e a difuso dos dados, a
internacionalizao e a normalizao dos dados em termodinmica, e a
apresentao dos dados na literatura primria, entre outros. O Codata
publica, em colaborao com a Unesco, um repertrio mundial de fontes
de Informao em todos os campos cientficos, o Codata referral data-
bases.
Existem associaes internacionais, cuja estrutura e atividades so
comparveis s das associaes cientficas em diversos setores da tecnologia
e em vrios ramos da economia. As exposies e feiras internacionais
exercem um papel essencial na comunicao da informao.
As questes relativas informao tm um lugar de destaque nos
programas da Association Mondiale des Organisations de Recherche
Industrielle et Technologique (Associao Mundial das Organizaes de
Pesquisa Industrial e Tecnolgica) e da Fdration Mondiale des
Organisations d'Ingnieurs (FMOI/Federao Mundial das Organizaes
de Engenheiros). A FMOI organizou vrias conferncias internacionais e
faz diversos estudos sobre inform io por intermdio de seu comit de
Informao de engenheiros.
A atividade da Organizao Internacional de Normalizao (ISO)
tratada em detalhe no captulo A normalizao.
Existem algumas organizaes internacionais no-govemamentais que
se ocupam principalmente ou exclusivamente de informao. So elas:
4U6
Os programas e sistemas internacionais de informao
- o Conseil International de la Reprographie (ICR/Conselho
Internacional da Reprografla, que tem por finalidade a promoo da
reprografia e a harmonizao das atividades e das operaes nesta rea;
- a Fdration Internationale pour le Traitement de 1Information
(IFIP/Federao Internacional para o Tratamento da Informao,
que objetiva a promoo da informtica e o desenvolvimento da
pesquisa, da cooperao internacional, das trocas de informao e
da formao especializada. Seus grupos de trabalho tratam da
programao, da educao, das aplicaes da informtica no campo
da sade, da tecnologia, da comunicao de dados, dos sistemas de
informao, e das relaes entre informtica e sociedade, entre
outros assuntos. Na IFIP existe um grupo relativamente autnomo -
o Administrative Data Processing Group (IAG-IFIP/Grupo de
Processamento de Dados Administrativos) -, que se ocupa das aplicaes
da informtica na administrao pblica e privada.
Trs organizaes no-governamentais tm um lugar de destaque nas
atividades de cooperao internacional, devido sua importncia no
campo da informao. So a Federao Internacional das Associaes de
Bibliotecrios e de Bibliotecas (IFLA), a Federao Internacional de
Documentao (FID) e o Conselho Internacional dos Arquivos (CIA).
A IFLA tem por finalidade promover, em nvel internacional, a
compreenso, a cooperao, a discusso, a pesquisa e o desenvolvimento
em todos os campos de atividade das bibliotecas, incluindo a bibliografia,
os servios de informao e a formao de pessoal. Ela representa a
biblioteconomia no cenrio internacional.
A IFLA trabalha por grupos profissionais (32 sees e dez mesas
redondas reagrupadas em oito divises) e por programas bsicos. As
sees e as mesas-redondas so as unidades profissionais de base. A
metade delas refere-se a tipos particulares de bibliotecas, a outra metade
a tipos de atividades das bibliotecas.
Os seus programas fundamentais so:
- acesso Universal s Publicaes (UAP), com escritrio em Boston
Spa, na British Library;
controle Bibliogrfico Universal/Marc Internacional (UBCIM), com
escritrio em Londres, na British Library;
- preservao e Conservao (PAC), com escritrio em Washington,
na Library of Congress;
- fluxo de Dados e Telecomunicaes Transfronteiras, com escritrio
na Bibliothque Nationale du Canada, em Ottawa;
- desenvolvimento da Biblioteconomia no Terceiro Mundo (ALP), com
escritrio no Secretariado da IFLA.
Foram abertos trs escritrios regionais: em Kuala Lumpur, na Malsia,
para a sia e a Oceania, em Dakar, no Senegal, para a frica, e em So
Paulo, no Brasil, para a Amrica Latina e o Caribe.
Os programas e sistemas internacionais de informao
O Secretariado Central, conhecido como IFLA HQ (IFLA Headquarters)
est localizado em Haia, Holanda, na Bibliothque Royale. A IFLA publica
uma revista, o IFLA Journal algumas sries de monografias, como o IFLA
Publications e o IFLA Professional Reports e vrias newsletters. Todos os
anos se organiza a Conferncia Geral, que rene mais de 1200 profissionais
do mundo inteiro.
AFID, que tomou-se, em 1985, Federao Internacional de Informao
e Documentao, tem por finalidade promover a documentao em todos
os seus aspectos, tanto nos aspectos prticos, como nos campos da
pesquisa e na formao. Sua sede em Haia, na Holanda. As suas
comisses regionais para a Amrica Latina e para a sia e a Oceania so
instituies bastante autnomas. AFID realiza, por meio dos seus comits
tcnicos, sua ao no campo da pesquisa em classificao, em terminologia,
em formao de profissionais e de usurios, em informao industrial, em
lingstica, em documentao sobre patentes, em pesquisa sobre as bases
tericas da informao, em informtica e cincias sociais e em assuntos
relativos aos pases em desenvolvimento. O Comit Central de Classificao,
que gerencia a Classificao Decimal Universal uma das contribuies
mais importantes da FID. Esta organizao publica os trabalhos de seus
comits, anais de conferncias e duas revistas. A FID est engajada,
conjuntamente com a Unesco, no Registre International des Recherches
en Documentation (ISORID/Registro Internacional de Pesquisas em
Documentao).
O Conselho Internacional de Arquivos tem por finalidade favorecer o
desenvolvimento dos arquivos e a cooperao internacional neste campo,
constituindo-se em um elo de ligao entre os arquivistas e os organismos
que trabalham com arquivos. Os membros do CIA agrupam-se em
escritrios regionais: para a Amrica Latina (ALA): para os pases rabes
(Arbica); para o Caribe (Carbica); para a frica do Leste e do Centro
(Ecarbica); para a frica do Oeste (Warbica); para a sia do Sudeste
(Sarbica) e para a sia do Sul e do Oeste (Swarbica). Alm das atividades
prprias aos escritrios regionais, o CIA trabalha com sees e comits
especializados. Ele publica uma revista internacional (Archivum). Este
rgo trabalha em cooperao com a Unesco, no programa Records and
Archives Management Programme (RAMP/Programa de Organizao para
Documentos e Arquivos).
A IFLA, a FID e o CIA organizaram um comit para coordenar suas aes
e cooperam regularmente com o Programme Gnral dInformation
(Programa Geral de Informao), da Unesco.
408
Os programas e sistemas internacionais de informao
Sistemas Internacionais de Informao
Os sistemas internacionais de informao representam uma realidade
complexa. Alguns controlam quase completamente as informaes
mundiais em seu campo de conhecimento, mas so administrados e
financiados por um organismo nacional. Outros so redes descentralizadas
onde cada unidade participante conserva seus prprios mtodos e participa
voluntariamente; sua coordenao assegurada pelo consenso dos seus
membros. Outros, ainda, so redes descentralizadas e mistas e funcionam
de forma voluntria, mas utilizam uma metodologia comum. Outros, alm
de ter uma metodologia comum e uma estrutura mista, so criados por
acordos intergovemamentais e geridos por rgos intergovemamentais.
Este ltimo tipo de sistema representa o sistema internacional de
informao em seu sentido pleno.
Embora os principais sistemas de informao sejam essencialmente
sistemas que tratam referncias bibliogrficas, com ou sem resumos, isto
, sistemas secundrios, o conjunto das funes destes sistemas (como
por exemplo, acesso aos documentos primrios, orientao, pesquisa
retrospectiva e disseminao seletiva da informao) varia bastante.
Alm disso, existem sistemas especializados em outras funes, como
a orientao, o servio de pergunta e resposta ou a anlise da informao.
Estes sistemas so um fenmeno novo, que iniciou-se nos meados dos
anos 60 e que tem tido uma expanso e uma transformao tecnolgica
muito rpidas. Os sistemas internacionais de informao vo continuar a
proliferar, diversificando-se em relao ao assunto coberto, bem como em
relao s suas funes. Alm disso, estes sistemas tm multiplicado suas
interaes, principalmente pelas redes de teleinformtica, e esto se
desenvolvendo em direo a maior coerncia e a melhor integrao.
Na origem de um sistema internacional de informao existe uma
vontade poltica dos governos envolvidos e a responsabilidade de um ou
de vrios sistemas nacionais. Assim que a idia admitida por um grupo
suficientemente grande de participantes, uma equipe internacional faz
um estudo de viabilidade. Este estudo serve de base deciso eventual de
criar o sistema. Esta deciso tomada por todos os participantes potenciais,
ou ao menos pelos principais. A seguir, necessrio detalhar o sistema,
seus mtodos e instrumentos de trabalho. O sistema ser ento instalado
e testado experimentalmente. Os testes geralmente so feitos com
um nmero limitado de funes ou de participantes. Depois de
testado, o sistema sofre as mudanas necessrias e comea a funcionar
e a expandir-se.
Todos estes sistemas tm por objetivo permitir o acesso mais completo,
rpido, prtico e econmico s informaes mundiais no seu campo. Para
tal, necessrio normalizar e racionalizar os produtos e os procedimentos
para que seja possvel fazer uma diviso eficaz de tarefas. Cada participante
Os programas e sistemas internacionais de informao
pode ento concentrar seus meios em uma funo ou em uma parte de
informaes e receber o complemento destas informaes dos outros
participantes.
De forma geral, estes sistemas so fundamentados na descentralizao
das funes de entrada e de sada e na centralizao das funes de
criao de bases de dados e de manuteno do sistema.
Os pases participantes asseguram, desta forma, a coleta dos documentos
primrios, na maioria dos casos, de acordo com a sua origem e o acesso
a estes documentos, sua descrio bibliogrfica e de contedo, de acordo
com regras e formatos comuns. Cada pas ocupa-se da literatura produzida
em seu territrio. Pode-se criar um centro regional para realizar estas
tarefas, ou designar um centro j existente para tal. A seguir, um centro
internacional faz a verificao dos dados que lhe so fornecidos pelos
centros participantes, sua integrao em uma base nica, e fabrica
produtos, como boletins e fitas magnticas, que so distribudos aos
participantes. Os servios ao usurio so, em geral, oferecidos em nvel
nacional, embora alguns servios possam ser realizados no centro
internacional.
A gesto do sistema de responsabilidade de um rgo, no qual os
pases participantes esto representados. Este rgo assistido, em geral,
por comits tcnicos ou por grupos consultores, cuja composio pode ser
estendida a outros sistemas ou a associaes profissionais. A composio
destes grupos pode basear-se na qualificao tcnica e no somente na
representao por pas. O centro internacional garante a coordenao das
atividades e a atualizao dos instrumentos de trabalho (como tesauros,
formatos, regras de descrio e listas de autoridade) em cooperao com
os participantes, bem como as atividades de desenvolvimento do sistema
e a formao de pessoal.
O custo do funcionamento central dividido entre os participantes,
proporcionalmente aos recursos de cada pas. O custo das unidades de
entrada e sada fica a cargo de cada pas. Entretanto, os pases podem
receber ajudas para a instalao e para a manuteno do sistema.
A atividade da maior parte destes sistemas est centralizada nas
funes documentais. Estes sistemas no so suficientes para assegurar
o acesso universal informao. O acesso aos documentos primrios,
cujas referncias so fornecidas por estes sistemas, continua a ser
problemtico e as funes de seleo, avaliao, formatao e difuso so
ainda pouco desenvolvidas. De qualquer forma, eles representam um
progresso considervel, medida que reduzem o volume de literatura a
ser tratado por cada participante, possibilitando o acesso ao conjunto das
informaes do sistema. Esta vantagem minimiza os problemas resultantes
do emprego de uma metodologia normalizada. Alm disso, eles permitem
que tcnicas avanadas estejam ao alcance de todos os pases, isoladamente
ou em grupo.
Os programas e sistemas internacionais de informao
Questionrio de verificao
Qual a diferena existente entre um programa e um sistema de \
informao?
Quais so as vantagens da participao em um sistema internacional
de informao?
Existem servios de pergunta e resposta internacionais?
Pode-se acessar um sistema de informao internacional distncia?
Bibliografia
DIMITROV, T. D. World bibliography o f intemational documentation.
Pleasantville/New York, UNIFO publishers, 1981, 2 vol.
La FID. Forum intemational de 1'information et de la documentation. La
Haye, n- 11, 1986 (numro spcial).
Cuide des archives des organisations intemationales, 3 volumes. Vol. 1 :
HATTERY, LOWELL, H. ; WALNE, P. ; MABBS, A. W. Le systme des
Nations Unies ; vol. 2 : WALNE, P. Archives o f intemational organiza-
tions an thetrformer officials in the custody national and other archival
manuscript repositories ; vol. 3 : MABBS, A. W. Archives des autres
organisations intergouvernementales et des organisations non
gouvemementales. Paris, Unesco, PG1, 1984-1985. (Doc. PG1-85/
WS/18.19.)
Guide de Vorganisation des runions sur 1'accs universet aux publica
tions. Paris, Unesco, 1985. (Doc. PGI-85/WS/31.)
ICSTI. The use o f seriais in document delivery systems in Europe and the
USA. Paris, ICSTI, 1988.
IDT 87. L'espace europen de Vinformation: textes des Communications du
7aCongrs sur Vinformation et la documentation. Strasbourg, 12-14
mal 1987. Paris, ADBS/ANRT, 1987. (5, av. Franco-Russe 750007
Paris.)
IFLA. Faits et caractristiques : comment 1'IFLA et des bibliothques
constituent un lien entre les bibliothques et les bibliothcaires dans le
monde. La Haye, IFLA, 1982.
Liste des documents et publications du programme gnral dinformation
et UNISIST, 1977-1983. Paris, Unesco. 1984. (Doc. PGI-84/WS/14.)
Supplment 1984-1986 (Doc.PGI-87/WS/8.)
MADEC, A. Le flux transfrontire des donns : vers une conomie
internationale de Vinformation. Paris, La Documentation franaise,
1982. (Coll. Informatisation et socit .)
MARTYN, J. Rapport sur Vvaluation d'INFOTERRA pour le PNUE. Paris,
Unesco, 1981. (Doc. PGI-81/WS/5.)
411
Os programas e sistemas internacionais de informao
Programme gnral d'information. Bulletin de VUnisist. Trimestriel. Parait
en anglals, arabe, espagnol, franais et russe.
ROBERTS, K. H. Reviewofthe General information programme, 1977;1987.
A compilation o f Information on its characteristics, activities and
accomplishments. Paris, Unesco, 1988, 51 p. (Doc. PGI-88/WS/19.)
ANEXO: apresentao de alguns
sistemas de informao
1 PGI 6 INFOTERRA
2 ISDS 7 MEDLARS
3 ISBN 8 CAS
4 INIS 9 CAN/SDI
5 AGRIS, CARIS, AGLINET 10 CEE
1. O Progamme Gnral DInformation e a Unisist
O Programme Gnral d'Information (PGI/Programa Geral de
Informao) foi criado em 1976, para servir de ponto de convergncia das
atividades da Unesco nas reas de documentao, bibliotecas e arquivos.
Ele serve de suporte s aes da Unisist. A Unisist designa o conjunto de
normas, regras, mtodos, princpios e tcnicas elaboradas
internacionalmente, necessrias ao tratamento e transferncia de
informao, pelas tecnologias modernas, como o computador e as
telecomunicaes. A Unisist preocupa-se ainda com a aplicao destes
princpios no desenvolvimento de sistemas compatveis de informao.
Atividades
O PGI responsvel pela maior parte das atividades do VII Programa da
Unesco, Servios de informao e acesso ao conhecimento, dentro do
Plano de Mdio Prazo para 1984-1989, cujas atividades so:
- melhoramento do acesso informao por tecnologias modernas,
normalizao e conexo entre sistemas de informao, elaborao de
instrumentos para o tratamento e a transferncia da informao, criao
e desenvolvimento de bases de dados para a aplicao de tecnologias e de
Instrumentos normativos modernos e troca e circulao da informao
pela cooperao regional e internacional entre Estados-membros e com os
organismos do sistema das Naes Unidas;
Os programas e sistemas Internacionais de informao
- infra-estruturas polticas e formao necessrias ao tratamento e
difuso da informao especializada; polticas e infra-estruturas nacionais
de informao; formao de profissionais e de usurios de informao;
- sistemas e servios de informao e documentao da Unesco e
desenvolvimento de servios de informao especializada da Unesco.
Prioridades
A prioridade do PGI so as atividades relativas ao desenvolvimento de
infra-estruturas de informao e a formao prtica de profissionais e de
usurios da informao. Estas atividades visam facilitar a elaborao de
polticas e de planos; promover e difundir mtodos, regras e normas;
encorajar a adoo de tecnologias modernas; e contribuir para o
desenvolvimento de servios de informao especializados. Elas constituem
a base das aes destinadas a facilitar as trocas e a transferncia de
informao. Os pontos enumerados a seguir so objeto de ateno
especial dentro de cada programa:
- necessidades dos usurios atuais e potenciais da informao;
elaborao de sistemas de informao voltados para o usurio;
necessidades dos pases em desenvolvimento;
necessidade de melhorar e favorecer o acesso e a circulao da
informao, a criatividade e a inovao, a produo e a utilizao da
informao local;
- aplicao das tcnicas de informao;
necessidade de avaliar as atividades realizadas.
Organizao
Um conselho intergovemamental de 30 membros, eleito pela Conferncia
Geral da Unesco, encarregado de guiar a concepo e o planejamento do
PGI. Sua gesto feita pela Division du Programme Gnral dInformation,
que faz parte do Office des Programmes et Services dInformation, (Escritrio
dos Programas e Servios de Informao).
Funes
A misso essencial do PGI servir de catalisador da promoo e da
coordenao das aes destinadas a favorecer o fornecimento e a utilizao
da Informao no mundo. Esta misso realizada pelas consultorias e
pela cooperao com diversas entidades, como os outros programas da
Unesco, os Estados-membros, a Organizao das Naes Unidas e suas
instituies, as organizaes no-governamentais e internacionais e os
especialistas da informao.
O PGI realiza sua misso encorajando e patrocinando as seguintes
atividades: reunies, consultorias e conferncias, cursos e seminrios de 413
Os programas e sistemas internacionais de informao
formao terica e prtica, projetos pilotos e misses de consultoria,
bolsas de estudo e subvenes para a compra de equipamentos e trabalhos
de pesquisa, estudos e publicaes.
Financiamento
O financiamento das atividades do PGI assegurado pelo oramento
regular da Unesco. As atividades da Unesco em informao especializada,
biblioteconomia e arquivstica que no so financiadas pelo seu oramento
regular, so realizadas pela Division des Activits Operationnelles de
1Offlce des Programmes et Services d'Information (Diviso das Atividades
Operacionais do Escritrio dos Programas e Servios de Informao).
Informaes adicionais sobre o PGI podem ser obtidas no seguinte
endereo: Division du Programme Gnral D'Information, Unesco, 7,
Place Fontenoy, 75700, Paris.
2. International Seriais Data System (ISDS)
O International Seriais Data System (ISDS/Sistema Internacional de
Dados sobre Publicaes Seriadas) foi organizado no mbito do programa
Unisist no incio dos anos 70. Os objetivos do sistema so criar e manter
atualizado um registro internacional de publicaes seriadas com todas
as informaes necessrias para a sua identificao; organizar e promover
o uso de um cdigo normalizado (ISSN) 1 para a identificao precisa de
cada publicao seriada; facilitar a pesquisa da informao cientfica e
tcnica pelas publicaes peridicas; colocar estas informaes disposio
de todos os pases, organismos e usurios individuais; estabelecer uma
rede de comunicaes entre as bibliotecas, os servios de informao
secundrios, os editores das publicaes seriadas e as organizaes
internacionais; promover a comunicao e a troca de informaes relativas
s publicaes seriadas.
As atividades do ISDS esto concentradas em um centro internacional,
situado em Paris, e em centros nacionais e regionais designados pelos
governos interessados.
O ISDS gerido por um conselho de direo eleito pela assemblia geral
dos representantes dos Estados-membros. Um comit tcnico e consultor
presta assistncia ao centro internacional.
O centro internacional tem a responsabilidade de criar e manter
atualizada a base de dados internacional; de organizar os instrumentos de
trabalho comuns, como o formato de comunicao, as regras de descrio
bibliogrfica, as regras de abreviao e de transliterao; de publicar um
repertrio internacional e de fornecer servios de informao a partir deste
repertrio; de manter atualizada a lista ISO dos ttulos de peridicos
414
1. International Standard Serial Number
Os programas e sistemas internacionais de informao
abreviados; de participar no estabelecimento de centros nacionais e
regionais; de atribuir a estes centros as sries de ISSN; de registrar as
publicaes seriadas quando no existe um centro nacional correspondente
e de contribuir para a formao do pessoal dos centros participantes.
Os centros nacionais e regionais so encarregados de atribuir um ISSN
a cada publicao seriada produzida em sua regio e de comunicar ao
centro internacional as informaes correspondentes. Eles organizam um
arquivo das publicaes seriadas sob seu controle e utilizam o repertrio
internacional para servir os seus usurios. Alguns centros publicam listas
e ndices preparados a partir de seus arquivos. A base de dados ISDS
contm todas os registros do conjunto da rede. Ela contm 351.772
registros e seu crescimento mdio de cerca de 4 mil ttulos novos por ano.
Paralelamente, feita uma atualizao constante dos registros.
Os registros fornecem indicaes como a data de registro, o cdigo do
centro responsvel, o ISSN, a data do incio da publicao, o pas de
publicao, o alfabeto utilizado no ttulo original, o ttulo principal, os
outros ttulos e o editor.
O centro internacional publica:
- o Registre ISDS, que reproduz periodicamente os novos registros
ingressados na base de dados, bem como as atualizaes. Este
documento publicado em fita magntica e em microficha. Sua difuso
feita por assinatura. Uma edio acumulada pode ser obtida por solicitao.
o Manuel de VISDS, que descreve a estrutura do sistema, seus
principios bsicos, bem como as regras e os procedimentos utilizados;
a Liste d'abreviations de mots des titres de publications en srie;
- as Nouvelles de VISDS, boletim de informao e de contato dirigido
aos membros da rede e a alguns usurios.
Informaes complementares sobre o ISDS podem ser obtidas no
Centre International Pour L'isds, 20, rue Bachaumont, 75002, Paris.
3. International Standard Book Number (ISBN)
O International Standard Book Number (ISBN) o nmero normalizado
internacional de livros. Embora alguns editores tenham comeado a
numerar seus livros h mais de um sculo, a necessidade de atribuir a
cada livro um nmero simples, nico e identificvel pelo computador
tomou-se fundamental nos anos 60, quando as editoras mais importantes
comearam a utilizar a informtica na gesto e na distribuio de suas
publicaes.
Este sistema foi introduzido em 1967 na Inglaterra, e, no ano seguinte,
nos Estados Unidos. A seguir, foi introduzido nos pases de lngua alem,
de lngua francesa e na Europa Ocidental, tornando-se um sistema
internacional.
O ISBN um conjunto de dez caracteres, composto de quatro conjuntos
separados por traos. O primeiro conjunto indica o grupo a que pertence 415
Os programas e sistemas internacionais de informao
o editor. O segundo indica o editor. O terceiro identifica cada livro em
particular. O quarto um caractere de controle que permite a verificao
automtica da validade do ISBN. Os nmeros de grupo e de editor so
nmeros menores ou maiores, de acordo com a produo dos editores.
Com seis nmeros possvel atribuir um milho de ISBNs, isto ,
identificar um milho de ttulos.
O sistema coordenado por uma agncia internacional situada em
Berlim, que tem por misso promover e orientar o sistema com a ajuda de
um comit consultor internacional, de preparar manuais e instrues, de
aconselhar, supervisionar a aplicao do sistema, reconhecer as agncias
de grupo, fornecer um nmero de identificao e de manter os registros.
As agncias de grupo so fundadas por editores, por suas associaes
e por centros bibliogrficos, criados com base nacional, ou regional, ou por
lngua, entre outros. Existem, por exemplo, agncias americanas,
britnicas, agncias para os editores de livros em alemo da Alemanha, da
ustria e da Suia Alem, agncias de livros em francs da Frana, da
Blgica e da Suia Romnica, e um grupo para as organizaes
internacionais. Cada agncia tem como tarefa administrar o grupo, dar
conselhos tcnicos a seus membros, velar pela aplicao das normas,
receber a adeso dos editores, que podem pertencer ao grupo, de acordo
com os critrios fixados, que devem ser aprovados pela agncia
internacional, atribuir nmeros e organizar os registros.
Os editores aplicam o sistema, atribuindo nmeros de livro e de
controle para cada ttulo, organizando o registro destes nmeros e
colocando-os em cada livro e nos seus catlogos, nos seus folhetos
publicitrios e nos seus formulrios de encomenda.
Informaes complementares podem ser obtidas no seguinte endereo:
Agence Internationale de L'isbn, Staatsbibliothek Preussischer,
Kulturbesitz, D-lmil Berlin , 30, Alemanha
4. International Nuclear Information System (INIS)
O International Nuclear Information System (INIS/Sistema Internacional
de Informao Nuclear), foi organizado pela Agence Internationale dEnrgie
Atomique (Agncia Internacional de Energia Atmica) e tem por objetivo
favorecer a troca de informaes cientficas e tcnicas para a utilizao
pacfica da energia nuclear. Os trabalhos preparatrios do sistema foram
realizados de 1966 a 1968. Ele comeou a funcionar em abril de 1970 em
pequena escala. Seu estgio atual de desenvolvimento foi atingido em
1976.
Este sistema tem por objetivo assegurar o tratamento da literatura
mundial relativa a todos os aspectos de utilizao pacfica da energia
atmica, tais como, fsica, qumica, engenharia dos materiais, cincias da
terra, biologia, agricultura, medicina, sade, segurana, meio ambiente,
aplicaes industriais dos radio-istopos e das radiaes, engenharia e
Os programas e sistemas internacionais de informao
tecnologia dos reatores, aspectos econmicos e legais, entre outros. Alm
disso, o sistema tem por finalidade tomar esta informao acessvel aos
organismos e especialistas da rea que trabalham nos pases-membros da
agncia.
O sistema integra 77 centros e 14 organismos internacionais que
tratam a literatura sobre o assunto relativa sua regio, utilizando uma
metodologia comum. Esta metodologia est publicada em vinte documentos
de referncia (INIS reference series) que tratam da normalizao dos
formatos, dos suportes, das regras de descrio e dos descritores.
Estima-se que o sistema cubra atualmente cerca de 95% da literatura
mundial sobre o assunto. Os documentos no-convencionais (que no so
publicados e, portanto, no esto disponveis no circuito comercial)
representam 40% desta literatura. Cada centro seleciona os documentos
pertinentes de acordo com critrios comuns. O tratamento dos documentos
prev uma descrio bibliogrfica feita de acordo com um manual de
catalogao e com listas de autoridade e categorias de assuntos comuns,
uma indexao de acordo com um tesauro comum em quatro lnguas e um
resumo em linguagem livre, em ingls e eventualmente em outra lngua.
Estes dados so registrados em formatos normalizados em formulrios,
em fitas magnticas ou em disquetes.
A produo enviada ao centro internacional de tratamento da AIEA,
em Viena, que verifica os dados e os incorpora em uma base de dados
nica, disseminada em fita magntica ou em um boletim (INIS Atomindex)
publicado quinzenalmente.
Este boletim traz, alm das referncias bibliogrficas acompanhadas de
resumos, os ndices de autor, de instituies, de assunto, de conferncias,
de nmeros de relatrios, de patentes e de normas. Duas vezes por ano so
publicados ndices cumulativos. A base de dados tem atualmente mais de
um milho de referncias e crescimento anual de 90 mil referncias.
Alm disso, os centros participantes enviam ao centro internacional um
exemplar de todos os documentos no-convencionais que so microfilmados
e postos disposio dos usurios em um centro de permuta.
O sistema assegura aos centros participantes um servio de pesquisa
retrospectiva, um servio de DSI e pesquisas on-line na base de dados INIS.
A lngua de trabalho do sistema o ingls.
Cada pas participante designa um agente de contato que participa na
gesto do sistema, juntamente com os agentes dos outros pases e com os
responsveis do centro internacional. O centro internacional financiado
pela AiEA e as unidades nacionais so financiadas por cada pas e pelos
organismos participantes.
O centro internacional responsvel pela manuteno e pelo
desenvolvimento do sistema, juntamente com os centros participantes.
Ele assegura a lormao do pessoal do sistema e fornece assistncia para
a implantao dos centros participantes.
417
Os programas e sistemas Internacionais de Informao
Informaes complementares podem ser obtidas no seguinte endereo:
Inis Section, Agence Internationale de l nergie Atomique, B P I 00, A - 1400
Vienne, Telefone 23 60 28 83 Telex 1-12645, Fax 43 222 230184.
5. Agris, Caris e Aglinet
A Organisation des Nations Unies pourTAlimentation et 1Agriculture
(FAO/Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e a Agricultura)
se esfora em melhorar a transferncia da informao cientfica e tcnica
nos campos de sua competncia e responsabilidade nos Estados-membros.
Seus campos principais so a agricultura, a silvicultura, a pesca, a
nutrio e o desenvolvimento rural. Estas atividades so concretizadas
pelo desenvolvimento, promoo e realizao de um conjunto integrado de
programas de transferncia da informao.
Estes programas prevem o estabelecimento de uma rede mundial de
sistemas de informao agrcola e a execuo de projetos que visam
reforar as capacidades nacionais em informao e documentao.
A Division de la Bibliothque et des Systmes dInformation, situada na
sede da FAO, em Roma, coordena os sistemas em cooperao de informao
Agris (Systme International dInformation sur les Sciences et laTechnologie
Agricoles - Sistema Internacional de Informao em Cincias e Tecnologia
Agrcola), que trata a literatura agrcola corrente: o Caris (Systme
dInformation sur la Recherche Agronomique en Cours dans les Pays en
Voie de Dveloppement - Sistema de Informao sobre Pesquisas
Agronmicas em Curso nos Pases em Desenvolvimento: e o Aglinet
(Rseau des Bibliothques Agricoles - Rede de Bibliotecas Agrcolas), que
funciona para a troca de servios e de informaes entre as principais
bibliotecas agrcolas do mundo. Alm disso, esta diviso gerencia projetos
para o estabelecimento e/ou o reforo de centros de documentao
agrcolas nacionais ou regionais.
As redes Agris e Caris so sistemas internacionais cooperativos de
informao agrcola. A participao de cada pas feita voluntariamente
e de forma equitativa. Cada pas fornece a informao produzida em seu
territrio e tem acesso ao conjunto das informaes produzidas pelos
outros pases. Estes sistemas funcionam atravs de centros nacionais,
regionais e internacionais, designados pelos pases e dos respectivos
organismos regionais e internacionais. Estas redes so coordenadas pela
FAO por meio de centros de coordenao do Agris e do Caris.
Agris
A literatura agrcola cresce muito e no pode ser coletada e acompanhada
por um nico organismo ou por um nico pas. O sistema Agris visa
418
Os programas e sistemas internacionais de informao
promover o controle bibliogrfico agrcola nacional e aperfeioar o fluxo de
informaes e de servios aos usurios pela realizao de cooperao dos
centros nacionais e regionais. Desta forma, possvel ter uma cobertura
mais ampla da literatura com menor custo, evitando as duplicaes e
aumentando a eficcia dos servios.
O Agris um sistema automatizado que trata os dados bibliogrficos de
livros, de artigos de peridicos, bem como da literatura no-convencional,
ou literatura cinzenta": relatrios de reunies, projetos, teses e estudos,
entre outros. Este sistema pretende responder seguinte questo: quem
publicou o que e onde nas diversas partes do mundo? Em junho de 1988
participavam do sistema Agris 134 centros nacionais e 17 centros regionais
ou internacionais. Sua base de dados tinha mais de 1 milho e 500 mil
referncias. Ela cresce ao ritmo de 10 mil referncias por ms. A rede
iniciou em 1975 e o ingls era sua lngua oficial. A partir de 1986, a
indexao passou a ser feita em ingls, francs ou em espanhol, o que
permite a busca da informao nestas trs lnguas. A indexao feita com
base no tesauro Agrovoc, que um tesauro agrcola multilnge, produzido
em conjunto pela FAO e pela CEE.
O sistema publica uma bibliografia mensal, chamada Agrindex,
distribuda aos centros participantes. Qualquer usurio pode receb- la
por assinatura. A partir de 1987, a Agrindex vem sendo publicada em
francs e espanhol. A verso em ingls publicada desde 1975. Esta
bibliografia tambm disponvel para os centros participantes em fita
magntica. Desta forma, os centros podem utiliz-la para servios de
disseminao seletiva ou para montar suas prprias bases. A base de
dados Agris, elaborada no computador da AIEA em Viena, no Dimidi, na
Alemanha e no Dialog nos Estados Unidos. Ela acessvel pelas redes
internacionais de telecomunicaes. O centro de coordenao Agris, na
sede da FAO, desenvolve a metodologia do sistema, assegura a formao
de pessoal, realiza o tratamento central dos dados e faz a distribuio dos
produtos do sistema. Para tal, este centro mantm uma unidade Agris na
sede da AIEA, em Viena, que se beneficia das facilidades de informtica
desta agncia, por um acordo FAO/AIEA. O centro de coordenao Agris
oferece tambm servios de pesquisa retrospectiva, de DSI, e produz
bibliografias nacionais e especializadas.
Os documentos referenciados na base Agris podem ser adquiridos por
circuito comercial, ou ainda por bibliotecas especializadas e centros
participantes, ou pela rede Aglinet. A fonte dos documentos no-
convencionais indicada nas referncias bibliogrficas correspondentes.
A FAO elabora atualmente um projeto de cupons de permuta Agris, que
visa facilitar o acesso a estes documentos por meio um mecanismo de
cooperao internacional.
419
Os programas e sistemas internacionais de informao
Caris
A informao sobre pesquisas em curso indispensvel aos
pesquisadores e planificadores das pesquisas, bem como s agncias de
financiamento. As pesquisas levam, em geral, muito tempo para serem
publicadas; muitas vezes seus resultados nunca so publicados. Se uma
pesquisa no divulgada, existem riscos de duplicao de trabalho, o que
resulta em perda de tempo e de dinheiro. Por outro lado, o planejamento,
a organizao e a cooperao em pesquisa s so possveis se os
pesquisadores dispuserem das informaes apropriadas.
O programa Caris tem por finalidade melhorar a coleta e a difuso da
informao sobre as pesquisas agronmicas em curso nos pases em
desenvolvimento ou relativas a estes pases. Estas aes so concretizadas
pela cooperao que associa todos os pases e pela criao de um banco
mundial de informao e de uma rede de servios para os usurios.
O sistema Caris desenvolveu-se a partir de um projeto piloto na frica
do Oeste, seguido de uma coleta de informaes sobre instituies,
programas e pesquisadores em mais de pases. A partir de 1979, o sistema
comeou a funcionar como uma rede descentralizada. Em junho de 1988,
faziam parte da rede 101 centros nacionais e 11 centros regionais.
O centro de coordenao Caris, sediado na FAO, responsvel pelo
desenvolvimento e pela manuteno da metodologia, pela preparao e
pelo fornecimento dos instrumentos de trabalho e pela formao de
pessoal. Ele mantm a base de dados central que continha, em junho de
1988, 16 mil descries de projetos de pases. Esta base de dados
acessvel on-line na sede da FAO, em ingls, francs e espanhol. Os centros
nacionais e regionais fornecem seus dados ao centro de coordenao em
formulrios, fitas magnticas ou disquetes. Eles podem receber do centro
coordenador cpias dos repertrios regionais ou nacionais para duplicao
e distribuio, bem como cpia da totalidade da base Caris, ou de uma
seo desta base, de acordo com suas necessidades.
Alm disso, o Caris possibilita a troca de informaes com sistemas
similares nos pases desenvolvidos.
Paralelamente ajuda aos pases-membros em metodologia e s
atividades de formao realizadas por intermdio dos programas Agris e
Caris, a FAO fornece aos pases em desenvolvimento e s suas organizaes
regionais, assistncia tcnica em informao e documentao agrcolas.
Esta assistncia formaliza-se pelas misses de consultoria individuais
(identificao, formulao ou avaliao de projetos), e de projetos que
contemplam o fornecimento de servios de especialistas, de equipamentos,
de formao e de metodologia. Estas atividades so financiadas pelo
programa de cooperao tcnica da FAO, pelo PNUD e por outros fundos.
Durante o perodo de 1968-1978 foram realizados cerca de 2,5 projetos
anuais. No perodo 1979-1988, este nmero subiu para 12,5 projetos
anuais, o que reflete uma demanda crescente de ajuda por parte dos
Os programas e sistemas internacionais de informao
governos neste ramo de atividade. Estes projetos tm como objetivo
principal ajudar os pases a organizar sua infra-estrutura nacional de
informao na rea agrcola, o que permite assegurar o controle bibliogrfico
e a utilizao eficaz dos conhecimentos produzidos em cada pas. O
contedo e a estratgia destes projetos evoluram da criao de centros
nacionais de documentao agrcola para o estabelecimento de sistemas
nacionais de informao, baseados em uma rede formal de unidades de
documentao de vrias instituies. Recentemente, os pases comearam
a preocupar-se com a a gesto da informao, com a circulao de dossis
e com a organizao de arquivos. A maioria dos novos projetos introduzem
tecnologias modernas de tratamento de informao e principalmente a
criao de bases de dados em microcomputadores. Estas misses ou
projetos so realizados a pedido dos governos interessados, em funo dos
recursos disponveis. Como estes projetos representam, em geral, um
primeiro esforo para a organizao da documentao agrcola nos pases
interessados, necessrio, muitas vezes que este esforo seja
complementado com o auxlio de outras agncias de cooperao tcnica.
Alm disso, inmeros projetos de apoio ao desenvolvimento agrcola e
rural, realizados por outras divises da FAO, tm uma parte de
documentao supervisionada pelo servio de operaes da Division de la
Bibliothque et des Systmes Documentaires (Diviso de Biblioteca e de
Sistemas Documentais) e coordenados, na medida do possvel, com os
outros projetos de documentao.
Um dos efeitos desta ao , naturalmente, a criao em cada pas de
um ponto de convergncia capaz de participar ativamente dos sistemas
Agris e Caris e de fornecer servios apropriados aos usurios.
Aglinet
A rede Aglinet iniciou suas atividades em 1974, com o patrocnio da
FAO e da Association Internationale des Bibliothcaires et Documentalistes
Agricoles (IAALD/Associao Internacional de Bibliotecrios e
Documentalistas Agrcolas. A rede consiste em uma associao voluntria
das grandes bibliotecas agrcolas de cada regio ou pas do mundo,
coordenada por um centro internacional, a Biblioteca David Lublin, que
funciona na sede da FAO. Em 1988, participavam da rede 27 bibliotecas.
O objetivo da Aglinet melhorar o acesso aos documentos e promover
a explorao racional dos recursos das bibliotecas agrcolas participantes,
em beneficio do desenvolvimento agrcola dos pases em questo. Esta
explorao feita pela colaborao sistemtica, pelo emprstimo
interbibliotecrio, e dos servios de fotocpias de documentos ou de
microfichas.
Informaes complementares sobre estes programas podem ser obtidas
no seguinte endereo: FAO - Division de la Bibliothque et des Systmes
de Documentation, Via Delle Terme di Caracalla, 00100, Roma.
Os programas e sistemas internacionais de informao
6. INFOTERRA
(Ponto de convergncia mundial de
informaes sobre o meio ambiente)
O Infoterra um sistema mundial de Informaes sobre o meio
ambiente que cobre 134 pases. Este sistema visa, com a participao de
organismos nacionais e internacionais e de especialistas no assunto,
melhorar a qualidade das decises sobre meio ambiente. O Infoterra
fornece aos especialistas do assunto fontes de informao nacionais e
estrangeiras, documentos bsicos, dados tratados, relatrios publicados,
bibliografias, legislao nacional e internacional e consultorias sobre
questes relativas ao meio ambiente. Este sistema fornece informaes
necessrias para realizar planos de interveno de urgncia em casos de
poluio martima, para melhorar o rendimento agrcola, para o
estabelecimento de indstrias no-poluentes, para realizar planos de
recuperao e para prevenir a contaminao qumica proveniente das
indstrias, entre outros.
A base de dados Infoterra pe disposio dos usurios do mundo
inteiro dados dos organismos que servem como fontes de informao.
Embora disponha apenas de uma pequena base de dados, principalmente
de fontes de informao, o Infoterra localiza as informaes para os
usurios. Atravs de sua rede, o Infoterra tem acesso a bases de dados de
vrias organizaes governamentais, intergovernamentais e no-
governamentais. Das bases mencionadas, 108 pertencem ao sistema das
Naes Unidas e 16 ao Programa das Naes Unidas para o Meio
Ambiente.
O meio ambiente um campo to vasto que no possvel enumerar os
assuntos tratados por este sistema. O Infoterra se ocupa de todos os
aspectos do meio ambiente e das atividades humanas onde possvel
obter informaes, por consulta s 6.200 fontes filiadas rede e aos
bancos de dados a que tem acesso. Nos pases em desenvolvimento, 81,2%
das fontes de informao so fornecidas pelos servios administrativos;
14,5% so fornecidos pela indstria e pelo setor privado. Nos pases
desenvolvidos, os organismos estatais representam 58,2% das fontes de
informao, a indstria, 25,3%, e o setor privado, 14,6%. As fontes de
informao cujas atividades muitas vezes se sobrepem, podem ser
classificadas da seguinte forma: estabelecimentos de pesquisa (60%),
laboratrios (28%), estabelecimentos de ensino superior (28%), bibliotecas
e centros de documentao (18%), centros de estudo (17%). As informaes
podem tomar diversas formas: publicaes ou relatrios (71%), servios
ou consultorias de especialistas (46%) e servios bibliogrficos (25%).
O Infoterra fornece informaes sobre meio ambiente pela pesquisa
bibliogrfica, pela comunicao de documentos, pela compilao de dados
classificados por setor e pela consulta s fontes de informao. O essencial
das informaes fornecidas consiste em dados tratados, resultantes de
Os programas e sistemas internacionais de informao
pesquisas feitas por servios de administrao e por consultores.
O fornecimento de informaes pelas fontes setoriais especiais a frmula
que melhor responde s necessidades dos usurios.
Nos pases em desenvolvimento, os usurios dos servios do Infoterra
so, por ordem de Importncia, a administrao (46%), os estabelecimentos
de pesquisa e as universidades (23,2%) e a indstria (15,4%). Nos pases
desenvolvidos, as universidades e os estabelecimentos de pesquisa
representam 45,9%, a administrao 34,2%, e a indstria 11,4%. O
Infoterra responde anualmente a mais de 13 mil perguntas, metade das
quais provm dos pases em desenvolvimento. Aaflliao rede gratuita.
Os usurios podem dirigir-se ao centro nacional (point focal national-PFN)
por telefone, pessoalmente ou por carta. O centro solicita, em geral.
Indicaes complementares sobre os dados procurados, como, por exemplo,
a localizao geogrfica, a lngua ou a forma de apresentao das
informaes (bibliografias, documentos informatizados, ou conselho de
especialistas, entre outros). Em geral, a resposta gratuita, mesmo que
seja relativa a uma questo complexa. Se for necessrio acessar bases de
dados pagas, o usurio paga apenas o preo de custo. Os usurios dos
pases em desenvolvimento podem ter acesso gratuito s bases de dados,
bem como o envio gratuito de documentos.
O Infoterra efetivado por um trabalho de equipe. As administraes
nacionais oferecem seus prprios servios, que so coordenados e apoiados
pelo Programme des Nations Unies pour le Environnement (Programa das
Naes Unidas para o Meio Ambiente), sediado em Nairobi.
Os escritrios dos participantes da rede funcionam em geral em um
ministrio, em um departamento do meio ambiente ou em um servio
relacionado ao assunto.
Informaes complementares podem ser obtidas no seguinte endereo:
Centre d'Activit du Programme pour l'Infoterra Sige du PNUE, P.O. Box
30 552, Nairobi.
7. Medlars e Medlne
A National Library of Medicine (NLM) dos Estados Unidos, iniciou, em
1889, a publicao de um boletim bibliogrfico, o Index Medicus, que
cobre a literatura mundial no campo da medicina. Em 1964 foi criado um
sistema automatizado para a produo deste boletim, o sistema Medlars
(sistema de anlise e de pesquisa de literatura mdica).
Este sistema analisa e indexa cerca de 3.300 peridicos selecionados,
publicados em 65 pases, com o auxlio de um vocabulrio controlado, o
MeSH (Medicai subject headings). Cada artigo indexado com cerca de 15
descritores. A base de dados Medlars tem atualmente mais de 5 milhes
e 700 mil referencias.
O sistema produz o Index Medicus em forma impressa ou em forma
legvel por mquina e permite a realizao de pesquisas retrospectivas e
servios de DSI.
Os programas e sistemas internacionais de informao
O servio de pesquisa on-line Medlars foi criado em 1971 e acessvel
pelas redes Tymnet, Telenet e Transpac, entre outras.
Este sistema tem vrias formas de cooperao internacional. A NLM
adquire publicaes por permuta com cerca de 900 instituies em 85
pases.
Os servios da NLM, como o emprstimo entre-bibliotecas, a pesquisa
bibliogrfica, a pesquisa na base Medline, o fornecimento de boletins
bibliogrficos e de ndices, esto disposio de alguns pases em
desenvolvimento, na sia, frica e Amrica Latina, pela agncia americana
de cooperao tcnica - USAID.
possvel utilizar recursos do governo americano provenientes de
programas de ajuda alimentar em alguns pases em desenvolvimento para
tradues, bibliografias e snteses que favorecem a comunicao da
informao.
A NLM firmou acordos bilaterais com a Inglaterra, a Sucia, a Alemanha,
a Frana, o Canad, a Austrlia e o Japo, para que estes pases
participem do sistema Medlars. Por estes acordos, a NLM fornece as fitas
magnticas ou ticas das suas bases de dados, os programas destas bases
e promove a formao de pessoal, para que os centros participantes
possam explorar o sistema para o qual contribuem, assegurando desta
forma a cobertura da literatura de seus respectivos pases. O vocabulrio
MeSH foi traduzido para o alemo, francs e japons. Vrios centros da
rede participam no desenvolvimento deste vocabulrio.
Alm disso, os pases escandinavos, a Frana, o Canad e a Inglaterra
realizam a difuso internacional do Medline.
A NLM participou, juntamente com outras organizaes, na criao de
um centro regional de Medlars para a Amrica Latina, instalado na
Biblioteca Regional de Medicina (Bireme), em So Paulo, no Brasil, com o
patrocnio da Organizao Panamericana de Sade. As polticas e os
programas de desenvolvimento internacional do sistema so elaborados
com a colaborao dos centros associados.
A NLM realiza ainda servios de consultoria para o desenvolvimento de
sistemas de informao biomdicos em vrios pases. Informaes
complementares podem ser obtidas no seguinte endereo: Programmes
Internationaux - Directeur Adjoint, National Library of Medicine, 8600
Rockeville Pike, Betheseda Md 20894, USA.
8. Chemical Abstracts Services
O Chemical Abstracts Services (CAS), diviso da American Chemical
Society, resume e indexa documentos primrios publicados no Chemical
Abstracts desde 1907. Esta publicao consiste em boletins semanais,
que contm os resumos dos documentos e ndices. Semestralmente so
publicados ndices mais aprofundados. A cada cinco anos, os volumes dos
424 ndices so reunidos e publicados sob a forma de um ndice cumulativo.
Os programas e sistemas internacionais de informao
Anteriormente a 1957, estes ndices cumulativos eram publicados de dez
em dez anos. O Chemical Abstracts faz a cobertura completa da produo
mundial de documentos cientficos e tcnicos que tratam de qumica e de
engenharia qumica.
A base de dados do Chemical Abstracs constitui-se de resumos dos
documentos provenientes da literatura cientfica, de citaes bibliogrficas
e de informaes completas sobre substncias qumicas. Estas informaes
so originrias de artigos de 12 mil peridicos cientficos e tcnicos
publicados em 140 pases, de patentes obtidas em 29 escritrios, de
relatrios de conferncias, de relatrios tcnicos, de teses e de livros
novos. Todos os resumos so em ingls, uma das 50 lnguas dos documentos
analisados.
Fascculos semanais
Cada nmero do Chemical Abstracts contm resumos, referncias
bibliogrficas e ndices. Os resumos so divididos em 80 sees relativas
a diversos assuntos. As sees referentes aos nmeros 1 a 34 so
publicadas em uma semana e as sees referentes aos nmeros 35 a 80
so publicadas na semana seguinte. Em 1988, o Chemical Abstracts
publicou 506 mil resumos e forneceu informaes sobre 102 mil patentes.
Os fascculos semanais tm trs ndices: um de palavras-chave (key-
word index), elaborado a partir dos ttulos e resumos: um de autores
(author index), com os nomes dos autores, inventores e detentores das
patentes e os nomes de sociedades: e um de patentes (patent index), no
qual figuram os nmeros do resumo das patentes que aparecem no
fascculo e o nmero de referncia do mesmo. Os documentos relativos s
patentes so classificados por nmero e por pas.
ndice por volume
Os 52 volumes semanais do Chemical Abstracts so reunidos em dois
volumes semestrais. No ano de 1988, eles representaram os volumes 108
(referente aos fascculos de janeiro a junho) e o volume 109 (referente aos
fascculos de julho a dezembro). Cada volume traz seis ndices. Estes
ndices so publicados nos trs meses subseqentes ao perodo a que se
referem. Esta indexao mais variada e mais detalhada do que a
indexao dos fascculos isolados. O CA um instrumento de pesquisa
que relaciona os nomes das substncias e os assuntos comumente
empregados terminologia controlada do CAS. indispensvel consultar
este guia antes dt utilizar os ndices de assuntos gerais e de substncias
qumicas.
425
Os programas e sistemas internacionais de informao
Em microfilme
Esta forma de publicao a mais barata para se obter um segundo
exemplar do Chemical Abstract e o ndice completo de todos os resumos
j publicados. Ela se destina aos organismos que utilizam regularmente
microfilmes e que necessitam apenas dos resumos e das referncias
bibliogrficas do boletim, que so atualizados 14 a 16 vezes por ano.
As Chemical Industry Notes (CIN) so destinadas atualizao dos
profissionais da rea nas atividades dos setores qumicos e da indstria.
Estas notas so publicadas semanalmente e analisam cerca de 80
peridicos e obras da imprensa especializada mundial no ramo da
economia tcnica.
Os CA Selects so uma srie de 180 boletins de atualidades, publicados
quinzenalmente.
CA Subject Coverage Manual.
A 12-. edio do Chemical Abstract resume o contedo de cada uma das
80 sees desta obra e tem o objetivo de auxiliar os usurios a organizar
suas pesquisas de forma mais eficaz ou a utilizar os exemplares impressos.
Este manual tem um ndice que relaciona os termos qumicos e de
engenharia qumica com uma descrio completa do assunto coberto.
International Coden Directory
Este ndice, em forma de microfichas, novo e inteiramente atualizado,
traz a lista dos ttulos Coden (ttulo das publicaes com seis caracteres
codificados) e os ttulos completos de 175 mil publicaes peridicas e
no-peridicas. Existem venda o International Coden Directory com
suplementos de 1985-1988 e o suplemento relativo a 1987.
Printed Acess Tools
Este manual de trabalho, editado em 1984 e apresentado na forma de
problemas e solues, essencial para utilizar o Chemical Abstracts e os
outros servios impressos do CAS.
Registry Handbook-Common Names
Esta publicao permite recuperar o nmero de registro, bem como o
nmero do ndice do Chemical Abstracts relativo a nomes comuns, a
frmulas moleculares, bem como a nomes referentes a compostos qumicos.
Ela inclui mais de 1 milho e 275 mil nomes qumicos e 530 mil nmeros
de registros, e disponvel em microficha e em microfilme.
Os programas e sistemas internacionais de informao
Registry Handbook-Number Section
Esta obra permite recuperar o componente qumico que representa um
determinado nmero de registro do CAS. Fornece os nmeros de ndices
do Chemical Abstract referentes a mais de 8 milhes de substncias, bem
como suas frmulas moleculares. Este manual, em forma impressa, cobre
o perodo de 1965 a 1971, e tem suplementos anuais. Os suplementos
relativos ao perodo de 1982-1988 so disponveis tambm em microflchas.
CAS Chemical Substance Name Selection Manual
A edio de 1982 desta obra de nomenclatura uma compilao de 2
mil pginas da documentao interna de auxlio do pessoal do CAS para
a atribuio das palavras do ndice.
As publicaes CA Headings List, o Natural Language Term e o Rotated
Title Phrase List so excelentes instrumentos de pesquisa automatizada.
O CAS on-line um conjunto de bases de dados de informaes qumicas
muito completas sobre esta rea. Para a identificao das substncias,
consulta-se a base de dados Registry File; para a pesquisa bibliogrfica,
consulta-se o CA File e para as referncias bibliogrficas anteriores a
1967, consulta-se a base CAOLD. Proximamente estaro disponveis
novas bases: a CASREACT, para as reaes qumicas, e CApreviews, para
assinalar a informao bibliogrfica antes que ela aparea no CA File.
O CAS on-line acessvel pela ligao telefnica direta e pela maior parte
das redes de telecomunicaes. Esta base pode ser utilizada em diversos
perifricos, desde o terminal standard para tratamento de textos, at um
terminal sofisticado com capacidade grfica.
STN International
O CAS faz parte do STN International, uma rede de informaes
cientficas e tcnicas e um servio de difuso on-line oferecido
conjuntamente pela American Chemical Society, pela
Fachinformationszentrum Energie, pelo Physik Mathematik GmbH (FIZ
Karlsruhe) e pelo Japan Information Center of Science and Technology
(CJCST). A STN International divulga a base de dados CAS on-line, bem
como outras bases de dados cientficas e tcnicas como a Biosis, a
Previews, a Claims, o Compendex, o Inspec, e o Physics Briefs. A
linguagem Messenger permite utilizar vrios arquivos e passar de um
arquivo a outro para obter mais informaes. As bases STN cobrem os
campos de qumica, engenharia, fisica, matemtica, biotecnologia e
patentes.
O acesso rede STN pode ser feito pelo CAS, nos Estados Unidos; pelo
Fiz Kalsruhe, na Alemanha; e pelo JICST, em Tkio.
Os programas e sistemas internacionais de informao
Os usurios da rede STN tm acesso base CAS on-line pela rede STN
mais prxima, e recebem solues a seus problemas, sejam eles de
assistncia tcnica ou de formao.
Informaes complementares podem ser obtidas no seguinte endereo:
Chemical Abstracts Services, P.O.B. 3012, Columbus, OH 43210, USA.
9. Servio de difuso seletiva da informao
O Servio de Difuso Seletiva da Informao (CAN/SDI), criado pelo
Institut Canadien de l'Information Scientifique et Technique (ICIST), um
servio de informao corrente que mantm seus assinantes informados
sobre as publicaes recentes na sua rea de interesse, de forma contnua
e regular. Este servio iniciou-se em 1969 e atualmente acessa, por
assinatura de perfis, as informaes mais recentes fornecidas por 22
servios secundrios em cincias exatas, tecnologia, cincias sociais e
cincias humanas. O perfil formado por palavras-chave ou nomes que
indicam ao sistema a informao exata que o usurio necessita.
Semanalmente ou quinzenalmente, conforme a periodicidade dos servios
secundrios, o usurio recebe as ltimas informaes referentes ao seu
perfil de interesse.
O usurio pode preparar seu prprio perfil, de acordo com as instrues
do Manuel de rdaction des profils de CAN/SDI, disponvel em ingls e em
francs, ou ento enviar as informaes descritas a seguir, que daro
subsdios para a elaborao de seu perfil:
- um relato que descreva com preciso as necessidades de informao
do assinante:
- os servios secundrios que deseja utilizar:
uma lista dos principais descritores e dos ttulos de documentos
relativos ao seu assunto de pesquisa;
- uma lista de at dez referncias recentes sobre o seu assunto de
pesquisa;
- nome, endereo e telefone;
- um formulrio de solicitao de perfil assinado. O custo do perfil
depende dos servios secundrios utilizados e do nmero de referncias
recuperadas.
O servio CAN/SDI mantm mais de 2.300 perfis. Vinte e trs porcento
dos usurios ativos do sistema trabalham na indstria, 16% atuam em
universidades, 59% na administrao. Os hospitais e outros setores de
atividade representam 2%. O servio CAN/SDI comercializa vrios servios
secundrios fora do Canad, pois l%dos usurios do sistema residem nos
Estados Unidos e na Europa.
Antes de oferecer um servio secundrio aos seus assinantes, o sistema
procura assegurar a possibilidade de fornecimento de cpias dos
documentos referenciados. Para tal, este servio utiliza as colees do
ICIST, as colees de outras bibliotecas governamentais associadas ao
Os programas e sistemas internacionais de informao
CAN/SDI ou o servio nacional de emprstimo interbibliotecrio.
Durante o perodo de 1975 a 1977, a Unesco contribuiu para o
lanamento de uma srie de projetos pilotos de DSI (difuso seletiva da
informao) nos seus Estados-membros. Este programa contribuiu para
a instalao deste tipo de servios na Argentina, na ndia e no Mxico.
Estes pases utilizam o programa CAN/SDI elaborado pelo ICIST e as fitas
magnticas do ChemicalAbstracts Condensates, que esto sua disposio
por um preo especial.
Informaes complementares podem ser obtidas no seguinte endereo:
CAN/SDI Institut Canadien de lInformation Scientifique et Technique,
Conseil National de Recherches, Ottawa, KIA OS2, Canada.
10. Comisso da Comunidade Europia
H vrios anos, a Direo de Indstria e Mercado de Informao da
Comunidade Europia (DG XIII-B) vem contribuindo para o desenvolvimento
do mercado dos servios de informao na Europa pelo seu apoio ao
desenvolvimento e utilizao de novas tecnologias nos servios de
informao. Esta poltica foi implantada pela realizao de trs planos de
ao consecutivos de informao e documentao cientfica e tcnica
desenvolvidos no perodo de 1975 a 1983, e prosseguiu com a implantao
do programa qinqenal para o desenvolvimento do mercado de informao
especializado na Europa (1984-1988). A continuao deste trabalho ser
feita por aes especficas em favor de um Mercado Europeu de Servios
de Informao, desenvolvido por um programa inicial de dois anos.
Entre as iniciativas realizadas nos programas precedentes pode-se
citar:
- Euronet, rede europia de telecomunicaes, organizada com a
iniciativa da DG XIII-B, pelas autoridades europias dos correios e
telecomunicaes. As informaes cientficas e tcnicas so
distribudas por uma rede de comutao por pacotes com custos
iguais, independentemente das distncias:
- Diane, rede de bases de dados europias, que permite aos usurios
profissionais da Comunidade Europia acessar centenas de bases de
dados disponveis:
Im news, boletim publicado inicialmente com o ttulo de Eurontes
Diane News, dirigido a mais de 35 mil pessoas e instituies, que fornece
informaes sobre o desenvolvimento e as possibilidades dos servios de
informaes europeus;
- mais de cem projetos de servios avanados de informao que
cobrem vrios campos de informao profissional e desenvolvem a
cooperao entre os fornecedores de informao europia foram financiados
parcialmente a partir de 1981;
429
Os programas e sistemas internacionais de informao
com o programa Docdel, desenvolvido de 1983 a 1986, a DG XIII-B
fixou o ambicioso objetivo de desenvolver sistemas que permitam o
armazenamento e a difuso de textos completos de documentos, utilizando
as novas tecnologias de informao. O sucesso deste programa confirmou
o potencial comercial dos sistemas de memorizao tica;
- uma rede-piloto de servios de informao sobre materiais foi
criada com o objetivo de estimular o desenvolvimento de um sistema
europeu de servios integrados sobre as propriedades dos materiais.
A DG XIII-B visa estabelecer condies favorveis criao de um
grande mercado europeu e ao desenvolvimento de uma indstria de
servios de informao. Com esta finalidade, esta Direo executa aes
em trs campos de atividade: promoo do mercado de informao,
diminuio das barreiras relativas a esta atividade, desenvolvimento de
sistemas de informao avanados, e diminuio das barreiras lingsticas.
Promoo do mercado de informao e diminuio
das barreiras relativas ao seu desenvolvimento
As aes da DG XIII-B/1 desenvolvem-se no sentido da criao de uma
poltica e de um plano de ao prioritrios para o desenvolvimento de um
mercado de servios de informao, apresentados pela Comisso ao
Conselho [COM(87)360 final/2,COM(88)3/3], Este plano de ao, que
dever ter um oramento de 36 milhes de ECU4para um perodo inicial
de dois anos apia-se em duas linhas de ao complementares, que so
a realizao de um esforo contnuo para melhorar as condies do
mercado e promover a utilizao de servios modernos de informao; e
a realizao de projetos-pilotos e de demonstrao capazes de exercer
efeitos catalticos no desenvolvimento do mercado em setores essenciais.
A DG XIII executa este plano de ao com um grupo de funcionrios dos
Estados-membros (SOAG) responsveis pelas polticas de informao em
seus respectivos pases.
Para responder melhor aos problemas dos usurios e dos fornecedores
dos servios de informao, a DG XIII criou um grupo representativo de
usurios (ISUG) e de fornecedores de informao (ISPG). Foi criado ainda
um grupo de especialistas independentes em direito de informao e da
comunicao (LAB) para examinar os problemas relativos aos obstculos
jurdicos dos novos servios de informao.
ADG XIII-B/1 particularmente responsvel pela melhoriadas condies
do mercado e pela promoo da utilizao dos servios de informao.
Suas principais aes so:
4. N.T. ECU: moeda da Comunidade Econmica Europia
430
Os programas e sistemas internacionais de informao
1. Implantao de um observatrio europeu do mercado de informao
- O objetivo principal deste observatrio melhorar a qualidade e a
disponibilidade dos dados no mercado pela elaborao de uma sntese das
informaes disponveis no plano europeu e internacional.
2. Diminuio dos entraves tcnicos e jurdicos - A DGXIII concentra
atualmente sua ateno nos problemas j urdicos do mercado de informao
nos campos da propriedade intelectual, autenticao das transaes
eletrnicas, fraudes de informtica, responsabilidade dos servios de
informao, proteo dos dados decarter pessoal e respeito
confidencialidade das pesquisas efetuadas pelos usurios dos servios de
informao.
3. Melhoria das condies de transmisso e de acesso aos servios de
informao.
4. Melhoria da sinergia entre os esforos do setor pblico e do
setorprivado - Esta ao visa acessibilidade transnacional de dados do
setor pblico, que no tenham carter confidencial, para tratamento e
comercializao pelo setorprivado; a definio de cdigos de conduta para
o fornecimento de servios de informao avanados para o setor pblico;
e a possibilidade do setor pblico agir como cliente para o lanamento de
servios inovadores.
5. Projetos-piloto e projetos de demonstrao - O objetivo principal dos
projetos-piloto e dos projetos de demonstrao desenvolver novos tipos
de servios de informao que possam ser facilmente explorados pelos
usurios potenciais que no esto familiarizados com as novas tecnologias
de informao.
6. Ao especfica em favor das bibliotecas - Alguns projetos-piloto e
projetos de demonstrao esto sendo desenvolvidos para encorajar a
interconexo entre as bibliotecas e a utilizao das novas tecnologias de
informao.
7. Reforo das aes de apoio aos usurios - Para facilitar a orientao
aos usurios, os servios de assistncia e de formao oferecidos pela
European Commission Host Organization (ECHO devem ser reforados e
completados com novos instrumentos Estes servios compreendem vrios
repertrios sobre os servios disponveis e um servio de informaes.
A ECHO tambm um centro piloto para experimentao de servios
inovadores para simplificar o acesso dos usurios informao.Informaes
complementares podem ser obtidas no seguinte endereo:
Commission des Communauts Europennes - Direction Gnrale
XIII,
Information Scientifique et Technique et Gestion de l Information,
Btiment Jean-Monnet,
Kirchberg,
Luxemburgo.
431
A normalizao
A normalizao uma atividade coletiva que tem por objetivo o
desenvolvimento de normas. Uma norma uma frmula que tem valor de
regra, em geral indicativa e algumas vezes imperativa. Ela define as
caractersticas que deve ter um objeto e as suas caractersticas de uso,
bem como as caractersticas de um procedimento e/ou de um mtodo.
Um exemplo pode ilustrar a utilidade das normas. Pode-se imaginar
que todos os encanamentos hidrulicos e todas as torneiras fabricados no
mundo tenham, cada um, um dimetro diferente. Seria impossvel, desta
forma, adapt-los uns aos outros, sem peas intermedirias. Esta excessiva
liberdade ocasionaria um grande desperdcio, a diviso do mercado e uma
paralisia geral. Se todos entram em um acordo com relao aos modelos
necessrios e suas dimenses, isto , normalizam, possvel simplificar
a produo, expandir o mercado e tornar os produtos intercambiveis e
adaptveis entre si. Existem no mercado equipamentos que, em razo de
sua novidade ou por outras razes comerciais, no respondem s normas
correntes de construo ou de funcionamento. Isto ocasiona o problema
da compatibilidade dos equipamentos (pode-se citar como exemplo as
telecopiadoras, os disquetes e os aparelhos de videocassete). A falta de
compatibilidade entre equipamentos e mtodos pode ocasionar bloqueios
e algumas vezes a inutilizao dos equipamentos. As unidades de
informao devem estar atentas a este problema.
A normalizao no campo da informao cientfica e tcnica tem um
papel to Importante quanto nos outros campos. Este papel fundamen
tal porque a cooperao entre unidades de informao absolutamente
indispensvel. Esta normalizao refere-se aos equipamentos utilizados,
aos produtos documentais e s ferramentas de trabalho intelectual.
Ela permite simplificar, racionalizar os mtodos e as tcnicas e unificar os
produtos. Facilita as operaes documentais, diminui o custo e o tempo
necessrio para realiz-las e torna possvel o intercmbio de informaes.
A normalizao
Tipos de normas
As normas podem ser de natureza material, isto , quantificveis, como,
por exemplo, uma dimenso. Elas podem ainda ser de natureza intelectual
ou qualitativa, como, por exemplo, uma definio.
Existem vrios tipos de normas:
de dimenso, como as dimenses das fichas e dos equipamentos;
- de qualidade, como a resistncia de um determinado tipo de papel;
- definies, normas de vocabulrios, termos e smbolos normalizados
como, por exemplo, as normas de transliterao e os smbolos de
gravao;
- procedimentos e mtodos normalizados como as normas de utilizao
de um aparelho, e as normas ou princpios relativos elaborao de
um tesauro;
Os campos de aplicao das normas nas unidades de informao so:
apresentao de documentos como peridicos, teses, tradues e
ndices;
- controle bibliogrfico, como as normas ISBD.ISBN, ISSN, e as
relativas aos formatos;
- referncia bibliogrfica como os cdigos de abreviaturas e de
representao dos nomes de pases;
transliterao, isto , a traduo de caracteres de uma lngua aos
caracteres de outra lngua, como, por exemplo as normas de
transliterao do hebreu e as de transliterao dos caracteres
rabes;
terminologia (vocabulrios e nomenclaturas);
descrio de contedo, como as normas relativas anlise,
indexao, classificao e tesauro;
- elaborao de catlogos e fichrios, como as normas de catalogao;
- locais e equipamentos, como as normas relativas superfcie das
unidades de informao e as relativas s dimenses das estantes;
- reproduo, como as normas sobre microcpias e as relativas aos
formatos das fotocpias;
informtica documentria como as normas relativas aos suportes
de dados, s linguagens de programao e as ao funcionamento dos
computadores;
- telemtica, como as normas sobre programas de interrogao e as
relativas interconexo fsica dos sistemas;
- gesto, como as normas relativas ao emprstimo de documentos;
- estatsticas, como as normas relativas s estatsticas internacionais
de bibliotecas;
- sistemas de informao, como as normas relativas organizao de
repertrio de bibliotecas, de centros de informao e documentao;
434
A normalizao
Organismos de normalizao
As normas, dados de referncia resultantes de uma escolha coletiva
racional, com a finalidade de servir de base de entendimento para a
soluo de problemas repetitivos, so elaboradas por organismos de
normalizao de acordo com a especialidade dos assuntos a que se
referem1.
Os organismos de normalizao so:
no plano nacional: escritrios e servios de normalizao
especializados por setor de atividade; organismos nacionais de
normalizao com status oficial que centralizam, coordenam e
difundem os trabalhos dos escritrios tcnicos e representam o pas
nos organismos internacionais; e instncias superiores, ligadas
administrao, como, por exemplo, uma comisso nacional de
normalizao que controla esta atividade no mais alto nvel.
no plano internacional existem vrios organismos de normalizao.
A International Standardization Organization (ISO) o organismo
principal de normalizao mundial. Sua atividade estende-se a todos os
campos. Existem ainda organismos internacionais especializados por
rea, como a Commission Electrotechnique Internationale, para a
eletrotcnica, e a Union International des Tlecomunications, para as
comunicaes distncia. Regionalmente, destacam-se o Comit Europen
de Normalisation e a Arab Organization for Standardization and Metrology
(Asmo). No domnio das cincias da informao, os principais organismos
de normalizao so a FID (para os trabalhos de classificao), a IFLA
(para o ISBD e o Unimarc), o CIUS (para a literatura secundria), o CIA
(para a normalizao de arquivos), a Unesco (para o CCF-Formato Comum
de Comunicao e os repertrios e inventrios dos meios de informao)
(ver o captulo Os programas e sistemas internacionais de informao").
Todos estes organismos trabalham em estreita ligao com a ISO.
A ISO tem por objetivo favorecer o desenvolvimento da normalizao no
mundo e realizar um entendimento mundial nos campos intelectual,
cientfico, tcnico e econmico. Esta organizao faz um trabalho
considervel por meio de seus 169 comits tcnicos (TC) que reagrupam
60 centros nacionais. Entre suas atividades pode-se citar a elaborao de
normas novas, de recomendaes, ou revises de normas antigas, a troca
de informaes entre os organismos-membros, a difuso de documentos
de normalizao e a cooperao com os organismos internacionais
interessados. Mais de 400 organizaes internacionais tm ligaes com
1. AFNOR. Documentation. Vocabulaire alphabetique. Paris, AFNOR, 1986.
A normalizao
a ISO. Cerca de cem mil especialistas colaboram com a ISO, que j
elaborou 6.789 normas internacionais. Vrios comits tcnicos elaboram
trabalhos relativos s unidades de informao.
A ISO/TC46 encarregada da elaborao de normas no campo da
documentao. Ela tem cerca de 25 organismos-membros participantes e
cerca de 20 organismos-membros observadores. Esta comisso tem os
seguintes subcomits: SC2-Converso das lnguas transliteradas; SC3-
Vocabulrio de documentao; SC4-Automao em documentao; SC8-
Estatsticas; SC9-Apresentao, identificao e descrio de documentos.
Este subcomit resultante da fuso dos comits SC-5- Tesauro e lnguas
documentrias, SC6-Referncias bibliogrficas e SC7-Apresentao de
publicaes.
A ISO/TC 97 ocupa-se das normas de informtica. As unidades de
informao devem seguir as normas relativas aos equipamentos de
informtica e de transmisso, s linguagens de programao, codificao
e aos tipos de caracteres e aos formatos de intercmbio em suportes
Informatizados. As normas relativas interconexo dos sistemas de
informao automatizados so atualmente objeto de estudo. O Open
Systems Interconection (OSI) um projeto de interface atualmente em
desenvolvimento.
Os outros comits tcnicos relacionados com as unidades de informao
so o ISO/TC 37 - Terminologia (princpios e coordenao); o ISO/TC 71
- Micrografia, o ISO/TC 42 - Fotografia; o ISO/TC 154 - Documentos
e elementos de informao na administrao, no comrcio e na indstria.
Alm destes comits tcnicos, a ISO tem um centro de informao no
seu Secretariado Geral, em Genebra, e um comit permanente para o
estudo da informao cientfica e tcnica no campo da normalizao, o
INFCO. Foi confiada a este comit a misso de elaborar o Isonet, rede de
informao da ISO, que engloba todos os centros de documentao e todos
os comits-membros da organizao, facilitando, desta forma, a difuso
das normas.
Dois orgos da ISO ocupam-se da normalizao nos pases em
desenvolvimento: o Devco (Comit de desenvolvimento) destinado a auxiliar
os pases em desenvolvimento em suas necessidades em normalizao, e
o Devpro (Escritrio permanente de coordenao para a promoo e a
normalizao nos pases em desenvolvimento). Estes organismos so
pontos de reencontros e de trocas das principais organizaes
intergovernamentais de ajuda aos pases em desenvolvimento.
436
A normalizao
O Desenvolvimento de uma norma ISO
A elaborao de uma norma internacional passa por estgios sucessivos,
descritos a seguir:
- a questo inscrita no programa de trabalho do comit tcnico;
o anteprojeto estudado no comit tcnico;
- o projeto de norma internacional (DIS) preparado e submetido ao
voto dos comits-membros;
se o projeto aprovado por 75% dos comits-membros que votaram,
prepara-se o texto modificado do projeto;
- o projeto revisado concludo pelo Secretariado Central e submetido
ao Conselho da ISO para aceitao. O voto do Conselho permite
assegurar que no foi esquecida nenhuma objeo importante;
o projeto aceito e publicado como norma internacional.
O desenvolvimento de uma norma internacional tem trs fases distintas:
desenvolvimento da norma por especialistas: esta fase cobre os dois
primeiros estgios mencionados anteriormente. Os trabalhos tcnicos do
primeiro estgio podem durar de 12 a 24 meses. No segundo
estgio, a organizao do anteprojeto leva 20 meses em mdia.
Entretanto, alguns anteprojetos so realizados em apenas dois
meses;
- procedimento de aceitao: estes procedimentos compreendem o
terceiro e quarto estgios, que cobrem as atividades que vo desde
a definio do projeto de norma internacional, que ser submetido
ao voto dos comits-membros, at a aceitao do projeto como
norma internacional pelo Conselho da ISO. Esta aceitao leva
cerca de 29 meses. O projeto permanece cerca de 14 meses
nos secretariados tcnicos, oito meses em perodo de votao
(Comits-membros e Conselho) e sete meses no Secretariado
Central;
impresso e publicao: O sistema organizado pelo Secretariado
Central permite que uma norma internacional seja publicada em
geral no ms seguinte sua aceitao pelo conselho.
A difuso das normas feita em boletins peridicos, publicados pelos
organismos internacionais de documentao. Estes boletins so
instrumentos de informao sobre normas. A maioria delas necessita de
uma reviso peridica. A evoluo das tcnicas, dos mtodos, os novos
materiais e as novas prescries de qualidade contribuem para a
desatualizao de uma norma. A ISO estabeleceu como regra geral que
todas as normas sejam revisadas a cada cinco anos. Esta deciso permite
a esta organizao estar em dia com os progressos tcnicos. Algumas
necessitam de revises mais freqentes.
437
A normalizao
A ISO publica o Catalogue des normes 2, atualizado regularmente. Este
catlogo permite conhecer as normas existentes em um campo particular
do conhecimento. Alm disso, a ISO pe disposio do pblico as
colees completas das normas existentes no mundo, uma biblioteca
especializada e um centro internacional de informao sobre normas, o
Isodoc, que funciona no secretariado do comit ISO/TC 46, em Berlim.
Desta forma, a informao tcnica, elaborada pela ISO e pelos principais
institutos nacionais de normalizao, encontra-se disposio dos usurios
e dos governos dos diversos pases. O Code des normes do GATT, que
impe aos governos signatrios o fornecimento de informaes sobre suas
iniciativas em matria de regulamentao tcnica e de normalizao,
pretende difundir amplamente estas informaes, facilitando desta forma
a troca de experincias e a harmonizao das solues adotadas.
Alguns pases tm bancos de dados sobre normas acessveis distncia.
O Institut Belge de Normalisation dissemina suas normas pela base de
dados Norm; a British Standards Institution, pelo BSI-Standardline, e a
Association Franaise de Normalisation, pela Noriane. Alguns produtores
difundem bases de dados sobre normas em um campo especializado do
conhecimento. A Derwent Publications criou a base Standard drug file,
que a nomenclatura oficial no campo farmacutico.
Utilizao das normas
A utilizao das normas, salvo em casos precisos, como segurana e
contratos firmados com o Estado, no obrigatria. Ela representa na
realidade um obstculo que vai de encontro a usos locais e hbitos
individuais e obriga a mudanas que significam despesas. Elas tm valor,
como indicao ou guia e se referem, em geral, aos aspectos essenciais de
um produto ou de um procedimento, deixando aos usurios uma margem
de adaptao. Infelizmente, a normalizao cobre apenas uma pequena
parte do campo da informao cientfica e tcnica. Entretanto, a utilizao
das normas resulta em economia de custos, de tempo e de trabalho.
necessrio verificar as normas apropriadas para cada caso. Muitas vezes
necessrio escolher entre vrias normas (por exemplo, as normas do
sistema internacional de informao, as nacionais e as internacionais).
Deve-se dar preferncia norma que permita unidade de informao
atingir seus objetivos da melhor forma possvel. tambm necessrio
escolher a norma mais compatvel com a conjuntura nacional. Para tal,
deve-se examinar detalhadamente as condies de uso da norma para o
procedimento e o produto visados e fazer as adaptaes possveis, se for
necessrio.
2. ISO. Catalogue. Genve, ISO, 1988.
438
A normalizao
A qualidade de uma norma deve ser Julgada em funo da capacidade
de responder necessidade que a motivou; da facilidade de uso; de
instrues precisas e no-ambguas; da facilidade de aceitao pelos
usurios; possibilidade de dar os mesmos resultados, se for empregada
por pessoas diferentes em pases e em circunstncias diferentes.
A evoluo das normas segue a evoluo das tcnicas e das necessidades.
Uma norma pode ser anulada se perder sua utilidade. Ela pode ser
transformada por uma emenda, refeita, ou ser substituda por uma nova
norma melhor adaptada.
Questionrio de verificao
O que uma norma?
Quais so os diferentes tipos de normas?
Quais as vantagens da normalizao?
O que a ISO?
Uma norma pode ser revisada?
A aplicao de uma norma obrigatria?
O que o Isonet?
Bibliografia
Accs Vinformation normative: comment se renseigner ou tre inform sur
les normes et les rglements techniques travers le monde. Genve,
ISO, 1986.
ASSOCIATION FRANAISE DE NORMALISATION. Documentation (recueil
de normes), 3Bd. Paris, Lavoisier, 1986, 2 vol.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. Transfert de
Vinformation, 2 d. Genve, ISO, 1982.
ROPER, M. Directory o f national standards relating to archives administra-
tion and record management: a RAMP study. Paris, Unesco, 1986.
THOMAS, D. L. Survey on national standards on paper and ink to be used
by the administration f or records creation : a RAMP study with guide
lines. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/22.)
UNISIST _ Cuide to standard f or information handling. Paris, Unesco,
1980.
439
A normalizao
TC 46
IS04-1972 4
iso-in?
ISO/R9-1968 2 6
JSO/R 18-1956
ISO/R 30-1956 2
ISO 2J4-1976 6
ISO/R 215-1961 2
ISO/R 233-1961 5
ISO/R 259-1962 5
150435-1975 3
ISO 446-1975 3
ISO/R 452-1965 3
ISO 689-1975 4
ISO 690-1975 8
ISO 782-1975 4
ISO 832-1975 38
150133-1974 31
ISO/R 843 1968 3
IS0999-I975 2
ISO 1086 1975 2-
ISO 1116-1975 6
1S02I08-1972 2
ISO 2145-1972 2
ISO 2146-1972 2
ISO 2384-1977 4
ISO 2707-1976 2 6
ISO 2708-1976 2 8
ISO 2709-1973 4
ISO 2788-1974 13
ISO 2789 1974 4
ISO 31661974 22
1
ISO 3272/3-1975 4
ISO 3297-1975 4
ISO 3334-1976 4
ISO 3388-1977 29
UDC 002/050 778.14
Documentation - International code for the
bbreviationof taJe* of periodicai*
Documentation - Pretenuuon of periodical*
International *y*tem for the trantliteratofl of
Sltvk Cyrilfe character*
Sbort contenu li*t of periodical* ot ottcr
document*
Bibiographical urip |
Documentauon - Abttractt for publicationt ind
documentauon
Pretentaon of contnbution* to penodical*
International *y*tem for the tran*lterationof
Arabic character*
T rantitteration o Hebrtw
Documentaryreproducon - ISO convenonal
t>pogrsphical character for legibiiy tettt
{ISO character)
Microcopying - ISO No. I Mire --
Dewrtpon and ute tn photographic documentary
repfoduction
Euential cbaractertict of 35 mm microfilra
reading app&ratui
Mtcrocopywj - ISO micromire - Detcripon
u h i ute for checking a reading apparatu*
Documentation - Bibiographical reference* -
Ewenuai and juppJemeaury elemenu
Microcopying - Meaiuremem of *cren luminance
of mvcrofilm reader*
Documcntauon Bibiographical reference -
Abbreviauon* of typical word*
BilmguaJ edition
Documentation - International lt of
periodical title word abbreviaon
International jyitem for ihe tranditerationo
Cree characteri nto Laun character*
Documentation - Index of a publica tion
Documentation - Ttile-leave* of a book
Microcopying - 16 rom and 35 mm microfilra*,
tpool* and reeU
Documentation International *tandard bool
numbenng (ISBN)
Numbering o f divitiont and *ubdivi*ion* in
written document*
Directorte* of librariet, informauon and
documentation centres
Documentation - Preientattoo of tranjlation*
Microcopying - Tran*parent A6 tixe microfiche
of uniform divuon - lmage arrangement* No. I
and No. 2
Microcopying - Tramparent A6 *ae microfiche
ofvariaWe dvttion - lmage arrangement* A
tnd B
Documentation - Format* for biWtographic
information interchange on magnetic tape
Documentation - Guiddine* for the
eitabiihraent and development of monoiinguai
theiauri
International lbrary itatitki
Code* for the repretentation o namei of
countrie*
Amendment 1-1977
Microcopying of technical drawjng* and other
drawing oflfce document* - Part III ;
Unitiied 35 mm microftlm carner*
Documentation- International tundard serihl
numbertng{lSSN)
Microcopying - ISO Tet chart No. 2
Detcription and uw in photographic documentary
reproduction
Patent document* - Biblo|raphic reference* -
Eweniial and ccmolementary efeenent*
DMUMMtlO*
CDU 002/050 778.14
Documentation - Code mtemationaJ pour
1'abrvttion de* utre* de priodique
Documematton - Prjentauon de* pr iodique*
Syume imeroaonaJ pour la vantiittatiou
de* caractere* cynllique* tiave*
Somraaire de prwdiquea ou d auue* documenu
Manchette bibliographique
Documentation - Analyve pour !e* publicaticxi* et
la documentation
Prientatwn det artkle* de priodique*
Syttme intemational pour la t/antittrabou
det caracter c ar abe*
Trantlittration de ITwbreu
Reproduoion documentaire - Caractere
typographique conventionnel ISO pour enai* de
jibtlite (caractere ISO)
Microcopie -- Mire ISO no l - Detcriptkm
et uttjauon dan* la reproduction photojraphique
det document*
Caractrtkjue* estentielle* det appa/eil* de
lecture pour microfm* de 35 mm
Microcopie - Mtcromre ISO Detcription
et utilitauon pour 1'examen d'un appareil de
lecture
Documentation Rfrencea
bibliographique* lment* eaentiel* et
complmentairei
Microcopie - Meturage de la luminance det
cran* dappaml* de lecture
Documentation - Reference*
bibographique* - Abrviation de* mot*
t>pique*
Edition bilmgue
Documentation Litte internationale
d'abrviationi de mot* dan* le* titre* de
pcriodsque*
Syttme intemational pour la traniliuralon
det caractere* grecs en caractere* latmt
Documentation -- Index d'une puWicatton
Documentation - Fcuiliett de titre d'yn livre
Microcopie - Microfilm* de 16 mm et de 35 mm et
leurbobtne* d'approw*ionnemen et de lecture
Documentation - Sytme intemational pour la
numrotation de* livre* tISBN)
Numrotation de* divuiofl* et tubdivitions dan*
le* document* crit*
Rpertoire* de bibliothque*. de centre
dWormation et de documentation
Documentation - Pr*entation de* traduction*
Microcopie - Microfiche trantparente de format
A6 partitio" uniforme - Dispowtion*
d'imagetno 1et no 2
Microcopie - Microfiche tran*parente de format
A6 partition vanabte - Di*po*iuont
d'Lv,ag.;A tt S
Documentation - Dupcsition de* donne* sur
bande magntique pour 1echange d'informations
biWiographiqe*
Documentation - Prncipe* directeur* pour
I euWi**ement <t le d%<ioppementde
thwurutmcmnlngue*
Stattque* internationale* de bibliothque*
Code* pour la reprtentation det nom* de pay*
Amendement 1-1977
Microcopie des dcttint technique* et autre
document*de bureau d etudet - Partie III r
Microcopie* untaire* *ur tllm de 35 mm
Documentation - Numrotation internationale
normaliiedet publications en teriedSSNj
Microcopie ->ir* ISO no 2 - Deicriptron
e utilisation dan* la reproduction photographique
de* document*
Document* de brevet - Reference*
biblographique* - kmenU esuntiel* et
complmentairei
Lista das normas ISO (1988) referentes documentao.
d
i
t
a
p
a
r
1
'
a
s
c
o
c
i
a
i
l
o
n
f
r
a
n
a
U
a
t
f
n
o
r
m
a
f
l
a
a
t
i
o
n
i
a
f
n
o
r
)
t
o
u
r
u
r
o
p
a
c
e
d
a
x
7
9
2
0
6
0
p
a
r
i
a
la
r
f
A
f
a
n
t
a
t
l
.
M
l
7
7
8
-
1
3
-
2
8
A normalizao
ISO/TC 4 6 / S C 5 , ; 4 8 F
PSOJT DE
NORME FRANAISE
H0M0LCCC22
DOCUMENTATION
RGLES D'TABUSSEMENT
DES THSAURUS MONOLINGUES
IMF
Z 47 100
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
A
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
9
SOMMAIRE
Avant-propoa ................................................................
Objet at dcmelne d'applcation ...............................
Rle du thaauru dana la fonction documentaire
Cholx des termaa descripteurs .................................
Critres de choix de descripteurs ...................................
Choix de la forme dea descripteurs ...............................
Choix de la reprsentation dea descripteurs ................
Note explicativa ou note dapplication .........................
Les ralations entre descripteurs ...............................
Reiations d'quivalence .................................................
Relations hirarchiques ...................................................
Reiations associatives .....................................................
Page
2
2
2
3
. . . . 3
5
5
6
7
7
9
10
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
17
17
Misejour ....................................................................*............................................................. 17
Vocabulolre ............................................................................................................................... 18
loboration dun thsaurus ............................ 20
Conatructlon dfun thsaurus .....................................................................
Prliminaire ....................................................................................................
Collecte des termes significatifs du langage naturel, candidats descripteurs
Enregistrement des termes ...............................................................................
Vrification ..........................................................................................................
Choix .....................................................................................................................
valuation ............................................................................................................
tablissement des relations ..............................................................................
P rsentation du thsaurus ............................................................................
Introduction du thsaurus ................................................................................
T ypes de prsentation ........................................................................................
Esaai et miae jour thsaurus .....................................................................
Essais ...................................................................................................................
I prMnta rvxm rtmol*c norm# xp*rvnenul d indica
p ot t * * *n Ocembf* 1973
fn o r 19T1
Oroni raproductton
B i d traductkin ffrMrvia
pour :<xis p*y*
Rules for the establishment of monollngual thasaurl
Rlchtllnien fr de Erstellung von einsprachigan Thasaurl
Exemplo de norma francesa. Reproduzida com a autorizao da AFNOR.
441
.
A gesto e as
polticas de uma
unidade de
informao
A gesto o processo que dirige as competncias e a energia dos indivduos
e atribui os recursos materiais, com a finalidade de atingir um determinado
objetivo. A gesto tambm um conjunto de tcnicas que permitem tomar
decises racionais e pr estas decises em prtica, para que todos os
recursos do organismo sejam empregados da melhor forma possvel, tendo
em vista a sua eficcia. Estas tcnicas fundamentam-se na aplicao de
mtodos quantitativos ou de medidas to objetivas quanto possvel; na
busca da eficcia; na preparao cuidadosa das decises, em funo de
critrios bem-definidos e no trabalho de equipe, na direo de indivduos
e na animao de grupos;
A gesto moderna tambm um estado de esprito e uma atitude de
trabalho dirigidos para a eficcia e para a racionalidade. A gesto s pode
ser eficaz, se for uma preocupao de todos os membros de um grupo ou
de um organismo. Cada um tem um papel importante a cumprir e deve
conhecer os princpios de gesto. O poder de deciso deve ser atribudo
especificamente a uma pessoa ou a um grupo.
Os servios de informao devem preocupar-se particularmente com a
gesto, em funo da variedade de suas atividades, dos seus meios
materiais e humanos, da evoluo rpida das tcnicas e sobretudo das
suas funes relacionadas com as atividades dos usurios.
Campo da gesto
A gesto ocupa-se de todos os elementos humanos e materiais de um
organismo e de todas as atividades deste organismo, como a venda, ou a
organizao e o funcionamento do conjunto, bem como as regras de
promoo do pessoal. Isto no significa que a gesto deva ocupar-se de
todos os detalhes do servio, todo o tempo. Seu objetivo permitir ao
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
organismo atingir os melhores resultados, nas melhores condies
possveis.
Em um mundo em contnua modificao, este objetivo no pode ser
atingido se o organismo funcionar de acordo com os hbitos ou com a
intuio das pessoas. necessrio realizar um esforo sistemtico para
analisar as situaes; definir os objetivos; escolher os meios para atingir
estes objetivos da forma mais econmica possvel; organizar os recursos
para este fim; controlar os resultados; e adaptar os objetivos em funo
dos resultados, bem como em funo da evoluo do trabalho.
As polticas so frmulas, ou princpios gerais, que ajudam a traduzir
os objetivos em aes, para preparar as regras de conduta que sero
adotadas no momento da tomada de decises e da execuo das atividades.
Um dos aspectos essenciais da gesto a ao sobre as estruturas.
Quanto menor for um organismo, quanto mais limitados forem seus
recursos, melhor ele deve ser organizado. As estruturas de um organismo
so um fenmeno complexo. Elas so, ao mesmo tempo, internas
(organizao das unidades e repartio das tarefas no interior de um
organismo) e externas (ligaes do organismo com a instituio a que
pertence e com outros organismos), funcionais (organizao com vistas
execuo de tarefas) e relacionais (relaes entre as diversas unidades que
fazem parte do organismo).
A comunicao tem um papel importante na vida de qualquer unidade
de informao. Entretanto, ela a origem de muitos problemas. Pode-se
distinguir diversos tipos de comunicao:
- a hierrquica, ou vertical, descendente, isto , do escalo superior
aos escales subordinados e ascendente, no sentido inverso;
- a no-hierrquica, ou horizontal, que a comunicao entre
indivduos do mesmo nvel ou de nveis diferentes, sem respeitar a
hierarquia;
- a controlada, ou autntica, no qual o agente de comunicao tem
autoridade para tal e age de acordo com formas determinadas e a
comunicao espontnea;
- a formal, que tem canais, formas e suportes prprios e pr-
determinados e a comunicao informal;
A comunicao pode distinguir-se ainda de acordo com o seu contedo
(tcnica ou administrativa), com seu pblico (comunicao interna ou
externa, individual ou geral), com seu objetivo (ordem, relatrio) e com sua
forma (oral ou escrita).
A gesto deve preocupar-se, particularmente, com a comunicao para
prever, na medida do possvel, todos os tipos de comunicao necessrios
ao bom andamento do trabalho; para organizar os circuitos de comunicao,
de tal forma que cubram todas as necessidades, sejam to diretos quanto
possvel, sejam conhecidos de todos e utilizados plenamente; e para
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
certiflcar-se de que todos os mecanismos de comunicao funcionem bem,
Isto , que no sejam interrompidos, que as mensagens sejam adequadas,
emanem da autoridade competente e que sejam efetivamente executadas.
Toda unidade de informao deve ter uma gesto e polticas especificas
nos seguintes aspectos: organizao dos servios, pessoal, equipamento,
fundos, servios aos usurios, produo, relaes com os usurios,
relaes com a instituio a que est subordinada e relaes com outros
organismos, principalmente com outras unidades de Informao.
A direo da unidade de informao deve ter a responsabilidade da
gesto. Na maioria dos casos, a gesto partilhada com Instncias
superiores que podem ser externas unidade, como, por exemplo, a
direo da Instituio qual a unidade est subordinada. Estas instncias
podem ser ainda instituies que no participam das atividades da
unidade, como, por exemplo, o conselho de administrao e o comit
consultivo da unidade. Se a unidade de informao grande, a gesto deve
ser compartilhada com os chefes dos diversos servios e com o pessoal. Na
realidade, todas as pessoas devem participar, de uma forma ou de outra,
nas diferentes fases dos trabalhos de gesto, mesmo se o controle, a
avaliao das atividades e a escolha das polticas e dos planos sejam de
responsabilidade dos dirigentes.
O status da unidade impe alguns problemas na definio das polticas.
Se a unidade um servio pblico, deve ser submetida s regras da
administrao pblica que, muitas vezes, no so apropriadas para a
gesto de uma unidade de informao. Este tipo de unidade deve, muitas
vezes, servir a todos os usurios sem distino e de forma gratuita, ou
cumprir obrigaes que limitam sua margem de ao, como, por exemplo,
a conservao do patrimnio nacional.
Se a unidade de informao um organismo privado, ela submetida
s leis da concorrncia. Algumas pesquisas de informao feitas fora da
unidade podem revelar, por exemplo, a estratgia comercial da empresa.
Muitas unidades de informao dependem de outras instituies. O
problema que se coloca para este tipo de unidade determinar a forma de
atendimento possvel aos usurios externos e como estabelecer intercmbio
com outras unidades de informao.
Outros tipos de unidade tem como nico recurso o produto da venda
dos seus servios e, por esta razo, realizam apenas atividades rentveis.
As polticas relativas aos principais aspectos da vida das unidades de
Informao devem ser formuladas e atualizadas regularmente. Elas
devem fornecer orientaes claras e precisas com relao aos usurios que
a unidade deve atender e suas necessidades prioritrias: aos limites e o
contedo do campo de conhecimento a ser coberto; aos tipos de servio
que sero oferecidos; ao desenvolvimento das colees e sua gesto;
natureza e organizao das operaes tcnicas; s relaes com os
usurios; organizao dos meios materiais; gesto do pessoal;
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
organizao administrativa e s relaes com outras unidades de
informao e com a instituio a que est subordinada.
indispensvel no limitar a anlise unidade de informao, mas
considerar o ambiente em que est inserida e a evoluo deste ambiente,
ou seja, o ramo de atividade em que a unidade atua, a infra-estrutura
nacional e internacional de informao e as tcnicas de informao, para
determinar com preciso a relao da unidade com seus usurios e como
esta relao pode ser exercida eficazmente.
A definio das polticas pressupe o conhecimento preciso das
necessidades dos usurios.
O planejamento organiza a realizao dos meios da unidade por um
perodo de tempo determinado, para atingir os objetivos desejados.
Os planos e programas podem ser organizados de acordo com o perodo
de tempo coberto. Pode-se se organizar, por exemplo, planos a longo prazo,
com o objetivo de transformar a unidade de informao em um centro
nacional de documentao especializado, responsvel por uma rede de
informao; a mdio prazo, para a realizao dos estgios sucessivos de
desenvolvimento de um sistema; e a curto prazo, para o desenvolvimento
de cada servio dentro das vrias etapas do programa.
Eles podem ser organizados ainda de acordo com o tempo previsto para
a realizao dos servios. Pode-se organizar, por exemplo, um plano
estratgico para o desenvolvimento completo do sistema de informao,
para satisfazer 80% dos usurios potenciais; planos operacionais para a
realizao de servios como a difuso seletiva da informao; e planos
funcionais para a execuo das tarefas durante uma etapa de
desenvolvimento, como o tratamento intelectual dos documentos, para
constituir uma base de dados.
Estas etapas so naturalmente interdependentes. Os planos mais
vastos e mais complexos devem ser elaborados, ou esboados em primeiro
lugar.
Os planos da unidade de informao devem ser coerentes com relao
aos do organismo a que a unidade pertence e com os nacionais de
informao cientfica e tcnica. Os planos do organismo, por sua vez,
devem ser coerentes com os do seu ramo de atividade e com os nacionais.
Em unidades importantes, o planejamento necessitada interveno de
especialistas e do estabelecimento de uma estrutura prpria com grupos
de trabalho, comits consultores e conselhos de planejamento. Em
unidades menores, o planejamento poder ser parte integrante das tarefas
de gesto dos vrios responsveis pelos servios.
O planejamento tem vrias fases: formulao dos objetivos que devero
ser atingidos; anlise da situao e dos meios existentes; estimativa das
mudanas necessrias; desenvolvimento das propostas e dos planos de
mudana; determinao dos recursos necessrios realizao das
propostas adotadas; avaliao das vrias propostas e recomendaes do
plano; organizao e execuo do plano; reviso e atualizao do plano.
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
aconselhvel que os objetivos do plano sejam quantificados. Este
trabalho no pode ser feito com muita preciso, mas deve ao menos
estabelecer ordens de grandeza que podero ser comparadas com os
resultados.
Organizao de uma unidade de informao
A organizao de uma unidade de informao no deve ser uma
construo abstrata, derivada de uma lgica estritamente administrativa,
nem um trabalho definitivo. Ela deve ser um meio para facilitar ao mximo
a realizao dos objetivos da unidade. No se trata de modificar uma
organizao todo o tempo, mas deve-se fazer adaptaes sempre que
necessrio.
Pode-se estruturar uma unidade de informao em funo dos seguintes
critrios:
das operaes da cadeia documental, como aquisio, descrio
bibliogrfica e pesquisa retrospectiva;
- dos assuntos tratados;
- dos tipos de documentos (como livros, relatrios, peridicos,
documentos audiovisuais, colees especiais, documentos
legislativos e patentes);
- da localizao dos servios, no caso de uma grande unidade
(servio central, servios de informtica e depsito legal de
documentos);
- do pblico. Num banco de dados sobre desenvolvimento, por
exemplo, podem ser organizadas sees que servem direo geral,
dlreo de estudos, ao servio jurdico e s direes de emprstimos
industriais;
- dos servios, como biblioteca, centro de documentao, servio de
traduo, servio de publicaes, servio de informao industrial
e servios de contato.
possvel combinar estes critrios para responder melhor s
necessidades da unidade. Na prtica, Isso que acontece. A diviso de
funes deve ser sempre estudada, evidenciada e supervisionada, pois
dela depende a boa execuo das operaes.
Se a organizao se apia nas funes da cadeia documental, a
normalizao, o controle e a homogeneidade dos cargos so facilitados.
Entretanto, as tarefas fragmentam-se e mais difcil ter, em cada seo,
pessoas que conheam bem os vrios tipos de documentos, os vrios
assuntos e os diferentes tipos de usurio. As outras formas de organizao
oferecem tarefas mais ricas e levam em conta a diversidade das atividades,
mas podem levar a uma duplicao de servios, dificultando a normalizao
e o controle.
A estrutura escolhida deve minimizar os esforos, o que significa que
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
cada operao deve ser diretamente til maioria das tarefas e que tudo
o que necessrio para cada servio deva ser rpida e facilmente acessvel.
Esta estrutura deve permitir cada seo ter um papel bem-delimitado,
coerente e atrativo. Os circuitos de comunicao devem ser to curtos
quanto possivel. Deve-se evitar qualquer repetio intil, tanto para o
pessoal, como para os usurios.
No caso de uma unidade importante, como, por exemplo, o servio de
informao de um ministrio que serve unidades fisicamente distantes
umas das outras, coloca-se o problema da escolha entre centralizao e
descentralizao. A centralizao permite uma integrao dos servios,
mais simples e mais econmica. Entretanto, muitas vezes, este tipo de
gesto distancia a unidade dos usurios e isola a unidade. As vantagens
e desvantagens da descentralizao so inversas. Freqentemente, escolhe-
se uma frmula mista que centraliza as operaes tcnicas, como a
catalogao ou a produo de boletins, e descentraliza as funes de
entrada e sada.
til que a estrutura da unidade e suas modalidades de funcionamento
sejam descritas da forma mais clara e detalhada possvel, para que cada
funcionrio saiba onde se situa, o que deve fazer, como e porque. Este
o objetivo dos organogramas, conforme mostra a figura 37.
!
Comit*
especializados
Direo
Secretariado
Diviso de
operaes
Diviso de
servios dc
apoio
Biblioteca e
fundos
Servios
documentais
tcnicos
Servios aos
usurios
Servio dc
informtica
Laboratrio dc
reprografia
Atclic de
impresso
Servios
administrativos
Aquiln, Cailoguto, Entred dc dido, Promcio, Conccpodc
indexao, /fotesee gesto dos formao de SIS ma5,
arquivos, usurios, servio
elaborao dos de pergunta c
produtos resposta
avlizao
programao,
explorao dc
dados
5
Fotocpia,
micro filmagem,
produnao dc
micro fichas,
reproduo dc
microformas
Impresso,
encadernao
Pessoal,
contabilidade,
servios gerais:
correio, telex,
motoristas,
material,
manuteno
Figura 37. Organograma de uma unidade de informao.
448
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
Figura 38. Fluxograma de operaes de uma unidade de informao. 449
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
Anlise das tarefas
A anlise das tarefas e a organizao do trabalho devem ser uma
preocupao importante. Elas so indispensveis manuteno da
produtividade da unidade, diante do aumento crescente de informao a
tratar.
Ao analisar em detalhe o conjunto dos trabalhos realizados em uma
unidade de informao, pode-se distinguir operaes elementares, que
so as tarefas, as sries de tarefas que constituem uma operao e sries
de operaes que constituem uma funo ou um servio (ver figura 38).
As tarefas so atos elementares que no podem ser decompostos, pelos
quais so operadas transformaes nicas como, por exemplo, designar
o nmero de registro de um documento ou determinar o seu assunto
principal. Sua posio na cadeia documental ou no conjunto dos trabalhos
administrativos deve ser determinada com preciso. Cada tarefa requer,
conforme sua natureza, um nvel determinado de qualificao profissional.
Ela distihgue-se das outras em funo do seu nvel, do grau de autonomia
da pessoa que a executa e das responsabilidades necessrias sua
execuo. A automao obriga estudar cada tarefa em detalhe. Este
estudo conduz realizao de um fluxograma, ou representao grfica
detalhada (ver figura 39).
Cada funo constitui-se da reunio de um nmero determinado de
tarefas. Esta repartio de funes estabelecida de acordo com a
quantidade de trabalho a realizar, do nmero de pessoas disponveis e da
organizao da unidade de informao. Elas devem formar um conjunto
coerente de tarefas ou de operaes consecutivas do mesmo nvel. Em
princpio, nenhuma tarefa deve ser executada por uma pessoa mais
qualificada ou menos qualificada do que necessrio. As funes podem
organizar-se de acordo com os mesmos critrios estabelecidos para a
unidade no seu conjunto mencionados anteriormente. Uma diviso
puramente funcional pode levar monotonia. Este problema pode ser
evitado pela previso de troca peridica de funes. Uma diviso por
pblico, produto ou especialidade, leva a atribuir uma importncia
excessiva a tarefas que no exigem uma qualificao especfica, sobretudo
em unidades de informao que dispem de pouco pessoal. Como as
funes de uma unidade so interdependentes, aconselhvel que todos
os funcionrios conheam bem todas as funes da unidade, o que pode
ser realizado pela orientao especfica ou pela rotatividade do pessoal. A
maioria das unidades de informao tem pouco pessoal. Por esta razo,
aconselhvel que as funes sejam definidas com alguma flexibilidade e
que o pessoal seja, na medida do possvel, polivalente.
As funes da unidade de informao so divididas em:
- funes administrativas, como datilografia, contabilidade, servio
jurdico e servio de pessoal:
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
Tipo de
Comunicao
Distncia
Tempo
decorrido
Mdia Frequncia Objeto
Observao
Mensagem oral,
Conversao
de duas
pessoas,
Reunio,
Conferncia
1. Ficha de anlise: comunicao oral
Tarefas (importncia relativa das tarefas: observaes em horas
ou em porcentagem)
Observaes
Comunicao oral
Comunicao escrita
Classificao
Pesquisa de informao
Duplicao
Leitura
Deslocamento
2. Ficha de sntese do cargo
Fgura 39. Anlise de tarefas.
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
- funes tcnicas, como reprografla, encadernao e informtica;
- funes especializadas em informao cientfica e tcnica, como
arquivstica, documentao e biblioteconomia.
Estas funes podem ser realizadas a nas vrias fases de execuo ou
de direo (ver o captulo A profisso"). O importante que cada funo
seja descrita com preciso. O nvel hierrquico, a responsabilidade, as
tarefas a serem executadas do ponto de vista quantitativo e qualitativo, as
qualificaes exigidas, o salrio e o status administrativo so elementos de
uma descrio de cargo que deve ser exposta com clareza ao postulante
da funo. Quando os especialistas de informao tm status administrativo
reconhecido legalmente, as descries de cargo devem referir-se a este
status (ver no anexo deste captulo algumas descries de cargo).
A gesto de pessoal particularmente importante na carreira de
informao, porque suas perspectivas so limitadas em muitos pases. O
recrutamento deve ser feito com cuidado. O dinamismo do pessoal deve
ser estimulado por reunies, grupos de discusso e um esforo de
formao permanente.
A evoluo da escala de salrios deve estar em harmonia com as
condies gerais da profisso, com o aumento de responsabilidade, com
as qualificaes e com os resultados do trabalho. Os salrios podem ser
complementados por gratificaes. necessrio que o pessoal tenha
perspectivas claras de carreira e de salrio.
A medio dos custos e do desempenho a base da maioria das
atividades de gesto.
Os custos diretos so exclusivamente ligados uma funo documental
como, por exemplo, os salrios dos indexadores. Os custos indiretos
podem ser relativos ao conjunto das funes documentais (a manuteno
do tesauro, por exemplo, um custo indireto prprio ao sistema); e s
despesas gerais, (Iluminao, por exemplo, um custo indireto prprio
organizao).
Existem trs categorias de custos diretos: o pessoal, os materiais (como
os documentos e os materiais de consumo) e o equipamento (amortizao,
funcionamento e manuteno). A anlise dos custos pressupe a medio
dos movimentos e do tempo. Os movimentos so relativos quantidade e
ao valor dos produtos que entram na unidade de informao (por exemplo,
o nmero de microfichas adquiridas por ano e o seu preo total), a
quantidade e ao valor dos produtos intermedirios executados (por
exemplo, nmero de documentos indexados), quantidade e ao valor dos
produtos fornecidos aos usurios (como, por exemplo, o nmero de
fotocpias). O tempo refere-se ao nmero de horas consumidas na
execuo de cada tarefa. A medida do tempo pressupe a definio de uma
unidade de tempo e a definio das tarefas que devem ser controladas
como, por exemplo, o tempo necessrio para indexar um documento de 0
pginas. A medio do tempo traduz-se por um custo em salrio ou no
452 preo de utilizao de um equipamento.
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
As medidas devem ser estabelecidas a partir de unidades contbeis e
de registros sistemticos. Algumas medidas podem ser globais; entretanto,
para gerenciar eficazmente uma unidade de informao necessrio
estabelecer os custos por unidade de custo, isto , por funo, por meio
de um plano contbil. Este plano deve definir os diferentes tipos de custo
para cada funo. A delimitao das funes varia de acordo com a
estrutura de cada unidade.
Os prazos so outro aspecto importante. Eles podem ser controlados
pelo registro das datas de entrada dos documentos ou das perguntas em
cada seo. Este registro pode ser feito para cada documento ou por
grupos de documentos. Estes dados podem ser relacionados em um
quadro de planejamento, de forma a facilitar sua anlise. Apesar do
carter intelectual das atividades de informao, convm trat-las como
atividades de produo e verificar se as capacidades foram utilizadas em
sua plenitude. Desta forma, estabelece-se para as funes, bem como para
os equipamentos, um planejamento, que leva em conta, para o perodo
considerado, a capacidade terica de produo e o volume de atividade
previsto. Isto permite detectar a produtividade de cada pessoa e as causas
de baixa produtividade, se for o caso.
A anlise qualitativa de desempenho mais complexa. Se a unidade de
informao no tem um procedimento de verificao para cada tarefa ou
operao, deve-se realizar sondagens ou testes artificiais. No primeiro
caso, deve-se registrar a proporo de produtos rejeitados e as causas de
rejeio. Pode acontecer, por exemplo, que 5% das indexaes sejam
recusadas por falta de especificidade. Um controle til pode ser feito pela
solicitao sistemtica da opinio dos usurios sobre os servios.
Entretanto, tal controle pode revelar-se parcial e subjetivo.
Para cada funo, servio ou produto, pode-se determinar critrios
particulares, para apreciar o seu desempenho e proceder a verificaes
regulares e ocasionais. Por exemplo, a rapidez, a exaustividade, a preciso
e a facilidade de utilizao podem ser consideradas como medidas de
eficcia de um servio de pergunta e resposta. O conhecimento destes
dados e da estrutura dos custos permite agir com conhecimento de causa
em relao ao servio, bem como em relao ao conjunto da unidade.
O controle dos gastos integra os dados de planejamento, isto , o volume
de atividades previsto, como, por exemplo, o nmero de perfis de DSI que
podero ser realizados durante o ano e os dados da contabilidade, isto ,
o nmero de perfis realmente executados, o ritmo de produo e os custos.
Ele permite adaptar o funcionamento da unidade e prever melhor os
acontecimentos suscetveis de intervir em cada caso.
Os registros disponveis sobre custos e o desempenho das atividades
so raros e dificilmente comparveis. Eles so estabelecidos em funo da
situao e da estrutura de cada unidade e de formas de clculo que variam
consideravelmente. Os dados conhecidos so muito diversificados para
serem significativos.
A gesto e as politicas de uma unidade de Informao
Oramento e financiamento
O oramento e o financiamento das unidades de informao dependem
do seu status e de sua natureza. O oramento de um centro nacional
Informatizado ser naturalmente diferente do oramento de uma biblioteca
de um pequeno laboratrio de pesquisa de uma universidade. Entretanto,
eles apresentam traos em comum.
Os principais elementos de despesa so os seguintes:
- a remunerao do pessoal que , Juntamente com as despesas
anexas, o elemento mais importante de todas as unidades e
representa muitas vezes a metade das despesas:
- a aquisio de documentos que aparece em segundo lugar e
algumas vezes ultrapassa as despesas de pessoal;
- as despesas de tratamento, como a utilizao do computador e a
elaborao de boletins:
- o fornecimento de material;
- o equipamento (amortizaes, manuteno, e substituies);
- os locais que, em geral, representam uma despesa importante
apenas para as grandes unidades;
- as comunicaes, como correio, telefone, telex e transportes;
- as despesas gerais diversas, como eletricidade e limpeza;
- as despesas de contratao de servios de terceiros, que podem ser
importantes se algumas funes so confiadas a outros organismos
(por exemplo, o tratamento de informtica ou alguns trabalhos
confiados a terceiros, como a elaborao de um tesauro).
Os trs primeiros elementos de despesa representam dois teros do
oramento total. Os demais representam uma percentagem pequena.
Os recursos so, na maior parte dos casos, constitudos por dotaes
de oramento atribudas pela instituio de onde depende a unidade. Eles
so,em geral, determinados em funo das necessidades da unidade e das
suas possibilidades. Entretanto, existem normas que permitem determinar
o nvel Ideal de recursos da unidade com relao ao nmero de usurios
ou com relao ao oramento total da instituio. Multas vezes, a dotao
de recursos determinada em funo do que resta, depois que as
exigncias de outros servios do organismo foram satisfeitas. Por esta
razo, fundamental fazer uma boa gesto contbil e financeira, para que
a unidade possa defender seus recursos e uma boa gesto administrativa,
de maneira que os recursos sejam bem justificados.
As diversas formas de aquisio gratuita podem constituir um recurso
importante para algumas unidades, principalmente para as unidades
beneficirias do depsito legal. A venda de produtos e servios tende a
financiar cada vez mais as unidades de informao.
Algumas rubricas do oramento so bastante rgidas. A alocao das
despesas pouco suscetvel a modificaes e os recursos no podem ser
454
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
aumentados facilmente. Ao mesmo tempo, os custos de produo,
notadamente, os custos de pessoal e de aquisio tm tendncia a
aumentar regularmente. Estes fatores Impem um esforo especial de
gesto s unidades de Informao, notadamente uma definio cuidadosa
das polticas e um aumento de produtividade.
A preparao do oramento deve ser feitajuntamente com o planejamento
geral e deve levar em conta os dados e os resultados contbeis. O clculo
pode ser feito a partir dos recursos disponveis, de forma a reparti-los
entre os gastos necessrios, o que conduz a efetuar redues entre as
despesas, ou a buscar recursos suplementares. Muitas vezes, procede-se
das duas formas citadas. Os oramentos clssicos so estabelecidos em
funo de rubricas de oramento e divididos em oramento de Investimento
e oramento de funcionamento. Cada rubrica corresponde a uma categoria
de gastos. O mtodo recomendado atualmente o da racionalizao das
escolhas de oramento (RCB). Trata-se de apresentar o projeto do oramento
por objetivos, detalhando cada categoria de despesas, como, por exemplo
documentos, pessoal e equipamento, de acordo com o necessrio para
atingir um determinado objetivo fixado para o ano em questo. Na mesma
ordem de idias, faz-se um oramento com base zero, que consiste em
planejar o oramento para o ano seguinte sem levar em conta o oramento
do ano em curso, considerando apenas as necessidades previstas pelos
objetivos estabelecidos.
Muitas unidades de informao so servios pblicos e por esta razo
no podem cobrar seus servios. O pagamento vai contra a concepo,
muito difundida, segundo a qual a informao deve estar disposio de
todos. Isto verdade, mas existe tambm um direito sade e, portanto,
os servios mdicos so pagos. Entretanto, o pagamento pode ser utilizado
como um melo de gesto da unidade, porque uma medida de uso simples
e eficaz. Quando os servios de informao passam de gratuitos a pagos,
esta mudana provoca uma baixa de freqncia unidade de informao.
Isto verdadeiro tambm para os servios gratuitos oferecidos apenas a
ttulo de experincia. Entretanto, se o servio oferecido de qualidade, em
geral volta-se situao anterior e o nmero de solicitaes aumenta. Na
realidade, os usurios, ou ao menos os usurios ligados a atividades
produtivas, esto prontos a pagar um bom preo e mesmo um preo
elevado por informaes teis e oferecidas de forma adequada. Muitas
vezes, o usurio recusa-se a pagar porque rejeita um servio de baixa
qualidade.
As unidades de informao podem solicitar um pagamento pelo acesso
s suas instalaes, pelos seus servios e produtos, como publicaes,
perfis de DSI, respostas a perguntas e tradues, pelo fornecimento de
fotocpias ou de microcpias e pelas despesas de expedio, por exemplo.
O pagamento pode ser feito por cotizaes, por assinaturas, ou
prestaes. No caso de um usurio que utiliza regularmente a unidade de
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
456
informao, a cobrana pode ser feita por conta corrente, com pagamento
peridico.
O pagamento pode referir-se totalidade dos custos diretos e indiretos
de cada produto ou servio. Entretanto, esta frmula utilizada apenas
por um pequeno nmero de unidades de informao de carter comercial,
que podem ter um certo lucro. O pagamento pode englobar a totalidade dos
custos de produo, mas no englobar a parte referente organizao dos
servios e produtos. Ele pode englobar apenas os custos diretos de
produo ou uma parte destes custos. Este o caso do pagamento
simblico dos servios que representa uma pequena parte do custo real,
e tem o nico objetivo de evitar o desperdcio de informao e o
congestionamento de solicitaes atravs de pedidos inteis. O dumping
que engloba tambm apenas parte dos custos tem como objetivo tomar
conhecido e colocar no mercado uma nova fonte de informao ou um novo
servio, como o DSI, por exemplo.
O pagamento pode ser solicitado apenas para alguns produtos e
servios, particularmente os que impem uma carga suplementar de
trabalho unidade de informao. Pode-se definir, por exemplo, que as
pesquisas retrospectivas sero gratuitas e que as bibliografias seletivas
sero pagas.
Deve-se determinar o preo que o usurio deve pagar por cada servio
e produto. Deve-se ter em mente que a partir de determinado nvel o preo
toma-se proibitivo para o usurio, seja qual for seu interesse pelo produto
ou servio. necessrio tambm levar em conta os produtos e servios
similares existentes no mercado. O objetivo deve ser rentabilizar ao
mximo as atividades da unidade ou assegurar o mximo de lucro
possvel.
Promoo e marketing
A promoo e o marketing so Indispensveis em todas as unidades de
informao, mesmo para as unidades cuja utilidade evidente. O usurio
e o uso da informao so atualmente a principal preocupao dos
bibliotecrios e documentalistas. Infelizmente, as unidades dispem
apenas de uma experincia limitada no uso dos instrumentos que permitem
conhecer melhor as necessidades dos usurios.
Embora as enquetes sobre hbitos de leitura sejam relativamente
numerosas, as possibilidades oferecidas pelo marketing, para permitir
unidade de informao adequar melhor seus servios, so ainda pouco
conhecidas na maior parte dos pases.
O marketing e os mtodos de promoo dos servios de informao so
uma preocupao recente dos programas de formao e sua importncia
cada vez maior.
A Unesco publicou, em 1988, a obra Principes directeurs pour
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
Venseignement du marketing dans la formation des bibliothcatres,
documentalistes et archlvistes l . O marketing definido nesta obra como
uma filosofia de gesto, cujo objetivo principal favorecer a aproximao
de uma instituio com o seu pblico.
O marketing de uma organizao consiste em conhecer as necessidades
dos usurios reais ou potenciais: ajustar a organizao, bem como seus
produtos ou servios, em funo das necessidades, para garantir a
satisfao dos usurios: fazer-se conhecer pela comunicao com o
usurio: medir a satisfao do usurio, para fazer os ajustes necessrios.
Para alcanar estes objetivos, o responsvel pelo marketing deve
determinar:
- a clientela potencial dos diversos servios e produtos e conhecer
suas caractersticas, suas necessidades e suas motivaes:
- as caractersticas dos produtos (natureza, contedo, apresentao,
qualidade, disponibilidade, e, eventualmente, preo);
- a posio relativa do produto em relao aos produtos similares
como, por exemplo, a vantagem de um boletim de resumos analticos
nacional em relao a uma publicao estrangeira;
- as possibilidades de desenvolvimento do mercado por extenso, isto
, atingindo novos grupos de usurios potenciais, ou por
aprofundamento, isto , agindo para que o maior nmero possvel
de usurios potenciais se transformem em usurios reais:
as estratgias de promoo e de difuso dos produtos.
Muitas vezes, em algumas empresas, a biblioteca considerada como
um luxo, eventualmente til.
possvel determinar o fundamento desta imagem, pelo estudo das
diferentes categorias de usurios potenciais. Desta forma, pode-se saber
o que eles gostariam de encontrar na biblioteca e como eles gostariam de
utiliz-la. A partir deste estudo, pode-se deduzir como a biblioteca deve ser
organizada e o que deve adquirir. Pode-se tambm verificar se outras
bibliotecas oferecem os mesmos servios e quais suas vantagens especficas.
Deve-se saber quantos usurios potenciais podem ser atrados para a
biblioteca e como faz-lo, se necessrio abrir para os usurios externos
e como possvel atingi-los. Assim que a biblioteca estiver organizada,
realizam-se aes de promoo, que podem ser definidas a partir das
etapas precedentes. possvel que o marketing modifique muito a imagem
dos servios de informao documental. As implicaes do marketing so,
na realidade, bastante radicais, pois elas obrigam o organismo a questionar
muitas vezes seus fundamentos.
1. Prncipes directeurs pour l'enseignement du marketing dans ia formation des
bibiiothcaires, documentalistes et archivistes. Prpar par Rjean Savard. Paris, Unesco,
1988. (Doc. PGI-88/WS/1.)
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
A promoo um conjunto coerente de atividades, que tem os seguintes
objetivos:
tomar a unidade de informao, seus produtos e servios conhecidos
dos seus usurios potenciais:
- tomar os produtos e servios da unidade atraentes:
- fazer os usurios potenciais compreender como podem utilizar os
diferentes produtos e servios e quais so as vantagens que eles tm
em utilizar estes Instrumentos:
- manter contato com os usurios para inform-los continuamente
sobre a unidade e para conhecer suas reaes.
A promoo pode utilizar anncios na Imprensa, folhetos informativos
enviados a usurios potenciais, visitas unidade de informao,
demonstraes, cartazes, fornecimento experimental de produtos e servios,
contatos pessoais com os usurios individuais e com seus responsveis.
Os contatos pessoais so os mais eficazes, mas na prtica deve-se
combinar vrios meios pela elaborao de um plano de promoo.
Este esforo no deve ser limitado a determinados momentos, mas ser
constante. A promoo deve visar ao estabelecimento de um dilogo
permanente com os usurios, que podero, se necessrio, constituir uma
associao para que eles estejam direta ou indiretamente associados
gesto da unidade da maneira mais ativa possvel.
A promoo pode realizar-se pela formao dos usurios, isto , pelo
fornecimento de instrues adaptadas em forma de documentos ou de
aulas tericas e prticas, com o objetivo de ensin-los a utilizar os servios
e produtos da unidade da melhor forma possvel.
As relaes da unidade de informao com a instituio a qual est
subordinada tm uma influncia determinante no seu funcionamento.
Estas relaes podem ser consideradas pela posio da unidade na
hierarquia e na organizao do conjunto da instituio e pelas relaes
Informais de trabalho com os diversos servios e pessoas.
No primeiro caso, deve-se considerar vrias necessidades: estar prximo
dos usurios, sobretudo dos seus usurios principais (esta necessidade
pode levar a unidade de informao a vincular-se ao departamento de
pesquisa da organizao): ter relaes prximas e eficazes com todos os
servios: ter uma posio central, ou de prestgio, sobretudo se a unidade
deve coletar os documentos produzidos pelo organismo: oferecer condies
de trabalho convenientes para seu pessoal; e assegurar meios para seu
funcionamento.
Naturalmente, no existem solues prontas. Na prtica possvel
encontrar todo tipo de solues. A unidade pode estar vinculada ao servio
de pesquisa e desenvolvimento, a um servio tcnico, aos servios
administrativos ou direo geral. Ela pode estar ainda localizada no
escalo inferior da hierarquia ou ter o mesmo grau de importncia que os
outros servios. Cada organismo um caso particular e as decises devem
ser tomadas em funo dos objetivos, dos meios da unidade, da estrutura,
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
das polticas e da prpria vida do organismo. Estes dois ltimos aspectos
podem tomar menos confortvel, na prtica, uma soluo que pode
parecer satisfatria na teoria. Na maioria dos casos, a unidade de
informao no influi na escolha de sua posio no organismo.
Estas decises devem ser tomadas no momento da criao da unidade,
o que evidentemente tem conseqncias importantes, ou no momento de
uma reorganizao do conjunto da instituio.
A posio hierrquica da unidade de informao tem grande influncia
nas suas relaes com os outros servios, mas no determina estas
relaes. Pela natureza de sua misso, a unidade de informao deve
trabalhar paralelamente com todos os setores da instituio. Ela deve ter
relaes com todas as sees e servios da instituio. Algumas vezes
necessrio passar por cima das relaes formais de maneira a compensar
as reticncias existentes nos diversos setores. Se a unidade cultiva
sistematicamente relaes com outros setores, ela pode tomar-se um
ponto de referncia oficioso, ou at mesmo oficial do organismo. Agindo
desta forma, a unidade poder compensar as deficincias relativas sua
posio hierrquica.
A unidade de informao deve estabelecer relaes com os usurios
externos, com as autoridades responsveis pela poltica nacional de
informao e pelo desenvolvimento de infra-estruturas de Informao,
com as outras unidades de informao e com os profissionais da rea.
Se os usurios internos tm um regime privilegiado de atendimento, as
relaes com os usurios externos podem ser problemticas, pois
necessrio muitas vezes limitar o acesso a determinados servios. Algumas
vezes, os usurios externos devem pagar pelos servios, enquanto os
usurios internos no pagam. Outras vezes, os usurios externos pagam
mais caro pelos servios. Estas discriminaes tm sentido somente se a
unidade no dispe de meios para aumentar sua clientela. Na medida do
possvel, os usurios externos devem participar das atividades da unidade
da mesma forma que os usurios internos. As relaes da unidade com as
autoridades responsveis pela poltica nacional de Informao tm por
objetivo assegurar o reconhecimento da unidade dentro da Infra-estrutura
de Informao e permitir que estas autoridades participem na elaborao
da poltica e dos programas da unidade, notadamente em grupos de
trabalho e comisses de planejamento. Desta forma, a unidade pode
apoiar-se nas aes nacionais, a fim de orientar e promover seu
desenvolvimento.
As relaes com as outras unidades de informao objetivam estabelecer
relaes que permitam a troca de informaes e o apoio mtuo; trocar
servios em condies preferenciais; e cooperar, o que pode significar uma
simples repartio de tarefas, o estabelecimento de servios comuns, ou
ainda a formao de uma rede. De qualquer forma, indispensvel manter
contato com as unidades de informao que trabalham na mesma rea de
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
conhecimento e na mesma regio. Na malor parte dos casos, a cooperao
se Impe para evitar duplicao de esforos como, por exemplo, no caso
de compras de obras caras e pouco solicitadas que so disponveis em
outra unidade. Cada vez mais as unidades de informao compartilham
seus servios, mesmo quando no existe um programa nacional de
informao. Esta cooperao pode ser feita pela realizao de servios
comuns, como boletins bibliogrficos ou bases de dados, ou pela formao
de redes, isto , a adoo de normas de funcionamento e de tcnicas
comuns.
As relaes podem ser informais, mas prefervel que as aes comuns
sejam objeto de um acordo que defina os direitos e as obrigaes de cada
um. Entretanto, algumas vezes o regime das unidades no permite este
tipo de formalidade, mesmo se existem condies de cooperao. Se as
circunstncias so favorveis, a integrao entre duas unidades pode ser
bastante estreita, sem a necessidade de um acordo formal, o que permite
ultrapassar obstculos jurdicos ou polticos. Por exemplo, duas unidades
de informao podem adotar o mesmo sistema de tratamento dos
documentos ou o mesmo equipamento e trabalhar em cooperao, apesar
de no existir uma relao formal entre Instituies.
As relaes com a profisso so indispensveis. A unidade deve
estabelecer contatos com as organizaes profissionais, trocar informaes
tcnicas e participar de trabalhos metodolgicos coletivos, por exemplo.
Sua participao ativa contribui para reforar estas organizaes e para
o avano da profisso.
Avaliao das atividades de informao
A avaliao das atividades de informao no um exerccio terico
gratuito, mas um instrumento essencial de gesto que deve ser inserido
em todos os aspectos do funcionamento das unidades.
As vrias operaes e funes devem ser objeto de um controle a
intervalos regulares, em um nmero varivel de caractersticas essenciais,
de acordo com sua natureza. Por exemplo, pode-se verificar mensalmente
em 5% das questes tratadas em um servio de busca retrospectiva, se o
tempo de resposta, a preciso, a exaustividade das respostas e o
procedimento adotado estavam de acordo com as normas estabelecidas.
Periodicamente, aconselhvel fazer uma avaliao sistemtica,
notadamente no momento da preparao de um plano de longo ou mdio
prazo, distinguindo-se a avaliao de eficcia, a avaliao da relao
custo-eficcia e a avaliao da relao custo-beneficio. Na avaliao de
eficcia, procura-se determinar em que medida a unidade atingiu seus
objetivos, isto, satisfez todos seus usurios. Na avaliao custo-eficcia,
pesquisa-se qual a forma de funcionamento ao mesmo tempo mais
econmica e mais eficaz. Na avaliao custo-beneficio, procura-se conhecer
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
que benefcios os usurios obtm do funcionamento da unidade ou dos
seus servios e em que medida estes benefcios compensam os custos.
A avaliao deve ser uma pesquisa com hipteses e objetivos, definio
dos fenmenos a serem analisados, coleta dos dados (por documentos,
observao, de medidas e entrevistas), anlise dos dados e concluses.
Para cada operao ou funo existem mtodos de avaliao especficos
que podem ser adaptados, segundo as necessidades. Podem ser utilizadas
tcnicas avanadas, como os modelos, a simulao e a pesquisa operacional.
A pesquisa operacional a aplicao de mtodos cientficos e de tcnicas
de clculo na organizao das operaes humanas.
Pode-se avaliar o conjunto de funes de uma unidade de informao
ou algumas funes especficas. Para cada funo existem mtodos e
critrios especficos de avaliao. Os setores mais comumente avaliados
so as colees, o fornecimento de documentos primrios, a resposta a
perguntas, a pesquisa de informao, as bases de dados, os produtos
documentais, os catlogos, os servios tcnicos, a automao e a gesto.
Entre os critrios mais utilizados, pode-se citar as normas, os custos,
o esforo dispendido (quantidade e complexidade de trabalho necessrio
ao pessoal tcnico e ao usurio), o tempo de resposta, os diversos aspectos
da qualidade (exaustividade, preciso, revocao, novidade e validade) e
as diversas formas de satisfao dos usurios.
Estes estudos de avaliao tm objetivos precisos e prticos, como a
possibilidade de detectar as fraquezas eventuais da unidade, para remedi-
las, e/ou escolher e organizar novas atividades. O custo e os esforos
dispendidos na avaliao devem ser relativos s vantagens que podero
advir deste estudo. No se pode despender recursos em detrimento da
produo. Mas este argumento no justifica a recusa sistemtica de
avaliao que provoca mudanas. Se os servios das unidades de informao
no so avaliados, eles correm o risco de ficar ultrapassados.
Anlise de valor e anlise sistmica
Entre os mtodos de gesto conhecidos, existem duas ferramentas
originais de avaliao, que permitem s unidades de informao melhorar
sua performance: a anlise de valor e a anlise sistmica.
A anlise de valor pode ser definida como o processo de trabalho cujo
objetivo encontrar o compromisso ideal entre o custo dos produtos e
servios e as suas funes, assegurando um nvel de qualidade satisfatrio.
A novidade da anlise de valor est no questionamento da prpria
concepo do produto ou do servio. Os outros mtodos partem do
princpio que a concepo do produto e do servio est perfeitamente
definida. Seus estudos referem-se apenas produo do trabalho.
A anlise de valor questiona a concepo do produto que ser fabricado,
a partir do estudo exaustivo de trs dados:
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
- o valor (custo do produto, valor de uso, valor de troca, valor de
estima e valor de prestgio, entre outros);
- o custo (custos de produo diretos ou indiretos);
- a funo (servios que o produto deve proporcionar).
A partir destas informaes, a anlise de valor pode determinar a
concepo e a produo Ideais do produto ou do servio. A aplicao deste
mtodo nas unidades de informao significa fazer uma srie de perguntas:
Quanto custa tal tarefa, tal documento? Quanto custa, por exemplo, a
produo de um boletim de sumrios correntes ou a redao de uma
anlise informativa? Que benefcios este produto traz? Neste contexto, a
pesquisa tradicional mostra-se fundamentalmente antieconmica. O
documento pode ser recuperado ou no, mas o problema da rentabilidade
econmica, do servio com relao demanda, nunca colocado.
Os resultados de uma anlise de valor podem questionar um produto
ou servio habitual da unidade de informao. Para evitar conflitos, a
anlise de valor deve ser realizada com todas as pessoas da equipe em um
esprito de crtica construtiva.
A anlise sistmica outro mtodo ou instrumento de gesto de uma
unidade de informao.
Esta anlise visa definir corretamente os elementos de um sistema e
suas relaes. As relaes do sistema com seu melo, como os livreiros, os
fornecedores, as outras unidades de informao e as associaes
profissionais tambm devem ser estudas. A analise sistmica tem um
papel essencial para preparar mudanas em uma unidade de informao.
Ela a primeira etapa de implantao de um novo sistema. A anlise deve
revelar as caractersticas tcnicas, mas, sobretudo, os elementos intangveis
do sistema estudado, de forma a executar seu papel. Os elementos
intangveis podem ser definidos como um conjunto de elementos
caracterizados pelas suas relaes, como o conjunto de elementos de uma
determinada funo da unidade. Este estudo basela-se em quatro conceitos
fundamentais:
- a interao entre os elementos do sistema, como, por exemplo, o
estudo da relao de retroao existente entre indexadores e
usurios;
- a totalidade: um sistema no uma soma de elementos, mas um
todo organizado. Se um elemento do sistema funciona mal, esta
disfuno repercute no todo. Este o caso dos fundos documentais que
nunca so utilizados, por exemplo. Eles representam um
obstculo para o conjunto do sistema, mesmo se aparentemente
no perturbam o servio;
- a organizao que representa o conceito central da anlise sistmica,
em sua forma estrutural (organograma do sistema) ou em sua forma
funcional (programa do sistema). O papel do analista ser determinar.
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
entre as diversas solues possveis de atingir os objetivos fixados
pelo sistema, a soluo que minimiza os recursos (pessoal e
equipamento), visando atingir os melhores resultados. Este mtodo
conhecido como estudo das solues alternativas. A rotatividade
do pessoal pode ser um exemplo;
- a complexidade: o grau de complexidade de um sistema depende,
ao mesmo tempo, do nmero de seus elementos e do nmero de
tipos de relaes que os elementos tm entre eles. O grau de
complexidade do sistema define sua originalidade e mede a sua
riqueza de informao. As relaes com o meio, a organizao
hierrquica e a evoluo do sistema constituem caractersticas que
permitem descrev-lo em sua individualidade. O sistema pode ser
mais ou menos complexo, de acordo com seu tamanho, com seu pessoal
e com os produtos e servios que oferece.
A anlise sistmica desenvolve-se de forma lenta e regular nas unidades
de informao. Ela permite uma nova viso de estruturas que funcionam
muitas vezes por hbito.
Qu es t i o n r i o de v er i f i c a o
O que se entende por gesto?
Quais so as vantagens obtidas em organizar uma unidade de informao
por funo?
Quais so os principais elementos de despesa de uma unidade de
informao?
Quais so os diferentes nveis do planejamento?
possvel definir uma poltica considerando apenas a unidade de
informao?
Qual a utilidade de uma ao de promoo em uma unidade de
informao?
Qual o objetivo da avaliao?
Bibliografia
AHRENSFELD, J. L. ; CHRISTIANSON, E. B. er KING, D. E. Special
libraries a guide for management, 2 d. New York, Special Libraries
Associations, 1981.
ALAIN, J.-M. Pour une gestion adapte. Montral, ditions agence dArc,
1988.
BAUDRY, C. Manager les services. Paris, conomica, 1986.
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
CALIXTE, J. et MORIN, C. Management d'un systme dlnformatlon
documentalre. Paris, Les dltlonsdorganlsation, 1985. (Coll. Systmes
d'information et de documentation .)
Le dsherbage : limination et renouvellement des collections en
bibliothque. Paris, Bibliothque publique dinformation. Centre
Pompidou, 1986. (Dossier technique nB5.)
DUMOULIN, C. Management des systmes dinformation. Paris, Les
ditions dorganisation, 1986.
EISNER, J. et BEYOND, P. R. Marketing for libraries. New York, Bowker,
1981. (Library Journa,
Speclal Repart n 18.)
International reader in the management of library, Information and
archives services. A . Vaughan (dlr. publ.). Paris, Unesco, 1987. 672
p. (Doc. PGI-87/WS/22.)
KENNEDY, S. Marketing of professional Information services. Bradford ,
MCB Publications, 1981.
KOTLER, P. Marketing for nonprot organizations. 2 d. Englewood
CliTs, Prentice-Halls, 1982.
LEE, S. N. Prlncing and costs of monographs and seriais: national and
International issues. New York/London, Haworth Press, 1987.
MICHEL, J. et SUTTER, E. Valeur et comptitivit de 1information
documentalre : 1analyse de la valeur wn documentation. Paris, ADBS,
1988.
Organlsation and economics o f Information and documentation: proceed-
ings of the 40th FID Congress. Copenhague, 18-21 aot 1980. La
Haye, FID, 1982.
RIZZO, J. R. Management for librarians: fundamentais and issues. West
Port, CT, Greenwood Press, 1980.
ROBERT, S. A Cost management Service. Londres/Boston, Butterworths,
1985.
SAVARD, J. Princlpes directeurs pour lenseignemment du marketing
dans la formation des bibliothcaires, documentalistes et archivistes.
Paris, Unesco, 1988. (Doc. PGI-88/WS/1.)
STRAUS, L. J. ; SHREVE, I. M. et BROWN, A. L. Scientific and technical
libraries: their organlzation and administration. 2 d. Malabar, Fia.,
R.-G. Kriegar, 1984.
WEIGAND, D. E. Marketing public library services. New strategies. Chi
cago, American Library Assoclation, 1985.
464
A gesto e as polticas de uma unidade de Informao
Anexo
Alguns exemplos de descrio de
cargos em cincias da informao
PME1procura documentalista com formao ou experincia profissional
em biologia, ou qumica, ou em um laboratrio farmacutico, para gesto
de peridicos, seleo e indexao de artigos e acesso s bases de dados.
Ingls indispensvel. Conhecimento do programa Texto e datilografia.
Contatar...
Sociedade de servios em engenharia informtica procura, para um
projeto aeroespacial, um documentalista para ser responsvel pela
documentao tcnica, sob a direo de um chefe de seo, por um perodo
de um a quatro anos. Perfil: DUT Documentation ou Informtica, ou
equivalente. Experincia de no mnimo quatro anos em informtica.
Conhecimento de entrada de dados assistida por computador,
conhecimento do programa Texto e de gesto documental. Enviar Curricu-
lum Vitae e carta a...
Sociedade Financeira-Agentes de Cmbio procura, para seu escritrio
de estudos, documentalista para assistir o responsvel pela documentao,
particularmente na organizao de uma documentao econmica
informatizada. Perfil: candidato com bom potencial, disponvel. Sentido
do trabalho de equipe. Esprito rigoroso. Gosto (e se possvel, experincia)
em economia e finanas. Conhecimento de informtica documentria, se
possvel (Programas Texto e DBase III). Enviar carta manuscrita, C.V. e
foto a...
Sociedade busca, para seu departamento de pesquisa, situado perto de
Lausanne, documentalista para efetuar pesquisas bibliogrficas em bases
de dados e anlise da literatura. Perfil: formao cientfica. Experincia
em pesquisa bibliogrfica manual e automatizada (Chemical Abstracts,
Biological Abstracts, Index Medicus, etc.) Enviar C.V. e pretenses
salariais a...
Servio social de auxlio a imigrantes procura auxiliar de documentao
em tempo parcial para o servio de documentao regional Enviar
candidatura e C.V. a...
Procura documentalista para criao e gesto de um centro de
documentao agroalimentar (frutos-chocolate-blscoltos) bem como para
exercer funes de secretria. Perfil: DUT em Documentao. Experincia
mnima de dois anos. Conhecimento de ingls e de tecnologia alimentar.
Enviar C.V. e pretenses salariais ao servio de pessoal
Gabinete especializado em recrutamento procura assistente de pesquisa.
Perfil: cerca de 39 anos, curso superior (economia,direito, literatura).
1. Nota do tradutor. Na Frana, a sigla PME significa empresa de pequeno ou mdio porte.
A gesto e as polticas de uma unidade de informao
Prtica de ingls e de informtica. Experincia em funo similar. Bom
conhecimento de empresa. Disponibilidade. Esprito de Iniciativa. Contatar..
Grupo bancrio procura documentalista para substituio de um ano.
Experincia em economia e finanas. Bom conhecimento de leitura de
ingls. Enviar candidatura a...
Escritrio internacional de aconselhamento em estratgia de pesquisa
procura para seu departamentojurdico, jovem documentalista com curso
superior, ingls corrente, para coleta e anlise de estudos econmicos e
financeiros (base de dados interna). Enviar C.V. foto e pretenses
salariais a...
Laboratrio central de indstrias procura um(uma) documentalista.
Funo: anlise e indexao de documentos cientficos e tcnicos
(essencialmente em alemo e Ingls). Acesso a bases de dados. Perfil:
formao bsica cientfica ou tcnica. Prtica de tcnicas documentais.
Bom conhecimento de ingls e alemo. Experincia, se possvel. Enviar
carta manuscrita a...
Procura-se documentalista para anlise, indexao e recuperao de
documentos tcnicos em Mlcro-Questel. Perfil: Engenheiro ou diploma de
nvel superior. Prtica em informtica. Enviar C.V. a...
466
A gesto e as
polticas nacionais
e internacionais de
informao
A Informao um recurso nacional to Importante no mundo
contemporneo, quanto a energia e a mo-de-obra qualificada. Esta
concepo impe-se gradualmente h alguns anos a todos os pases do
mundo. Ela conduz os pases a engajar-se em aes, como consultas e
estudos visando criao de um organismo nacional, que permita
controlar e promover as atividades de informao cientfica e tcnica.
Ao mesmo tempo, o carter internacional da informao leva os
diferentes pases a cooperar neste campo, ou a considerar este aspecto em
suas relaes.
Atualmente, a organizao, a circulao e a utilizao da informao
so um problema importante no nvel nacional e internacional. Esta
Importncia aumenta dia a dia.
Poltica nacional de informao
A necessidade de uma poltica nacional de Informao resultante de
vrios fatores. O primeiro e, sem dvida, o mais determinante, o
seguinte: se os dados e os conhecimentos so indispensveis aos Indivduos,
s empresas, e s administraes de um pas, a soma destas necessidades
de informao cria, nacionalmente, uma necessidade global de informao.
Se esta necessidade satisfeita de forma precria, o desenvolvimento do
pas pode ser prejudicado. Este risco maior para os pases que devem
engajar-se em novas atividades, como os pases em desenvolvimento.
Um outro fator est relacionado ao custo total das Informaes
necessrias e ao tratamento destas informaes. Este custo aumenta
continuamente, porque estas informaes so cada vez mais numerosas.
Se as atividades de informao so desorganizadas, seu custo total
torna-se proibitivo. Se elas so iniciativas Isoladas, apenas os setores
A gesto e as polticas nacionais e Internacionais de informao
mais prsperos beneficiam-se destas iniciativas. Alm disso, os setores
mais privilegiados podem utilizar esta vantagem em detrimento dos
outros.
Por outro lado, as instituies pblicas ocupam um lugar importante
na produo e no tratamento da Informao.
A necessidade de uma poltica nacional de informao tambm
resultante do grande nmero de informaes que devem ser solicitadas a
outros pases. Esta situao tem como conseqncia o questionamento
das relaes internacionais.
Deve-se fazer com que as necessidades de informao de cada pas, ou
ao menos suas necessidades prioritrias sejam satisfeitas pela utilizao
econmica e eficaz dos meios disponveis. preciso um esforo coletivo
para o preparo e a execuo das decises tomadas, um consenso e uma
coordenao das atividades de informao. Este esforo deve ser realizado
pelo governo de cada pas.
Uma poltica nacional de informao tem por objetivo organizar um
sistema nacional de informao eficaz. Outros objetivos desta poltica so:
- determinar as necessidades de informao das diversas categorias
scio-profissionais;
- determinar quais as necessidades prioritrias:
- determinar qual ser a organizao do sistema nacional de
informao, que servios ele deve oferecer e como estes servios
sero oferecidos:
- avaliar permanentemente a capacidade da infra-estrutura nacional
de informao de satisfazer as necessidades de informao (entende-se,
por infra-estrutura nacional de informao os meios humanos, materiais
e financeiros consagrados informao cientfica e tcnica):
- determinar as aes que devem ser realizadas para que o sistema
nacional de informao possa cumprir sua misso;
- definir a evoluo do sistema nacional de informao.
De acordo com estas diretrizes, a poltica nacional de informao deve
reunir um conjunto de polticas especficas relativas a todos os aspectos
da informao cientfica e tcnica, notadamente:
- desenvolver e aperfeioar as publicaes primrias e colocar
informaes e dados disposio dos usurios;
- desenvolver as colees e facilitar o acesso informao:
acessar colees de documentos e bases de dados no exterior;
- desenvolver servios de traduo;
efetuar o controle bibliogrfico, a indexao e a anlise dos
documentos produzidos no pas;
desenvolver servios documentais como servios de orientao,
servios de busca retrospectiva, de informao corrente e DSI, entre
outros;
- coordenar as diversas unidades de informao e os subslstemas
especializados;
A ges to e as polticas nacionais e Internacionais de Informao
- desenvolver e normalizar equipamentos para o tratamento e a
comunicao de informaes, especialmente no campo da informtica e
da telemtica:
- desenvolver projetos-piloto para utilizao das novas tecnologias,
como as memrias ticas e a edio eletrnica:
- normalizar as tcnicas e os produtos de informao;
- desenvolver a mo-de-obra especializada e os meios para a formao
de pessoal;
- desenvolver e coordenar as atividades das associaes profissionais;
- financiar as unidades de informao;
- estabelecer uma legislao e uma regulamentao adaptadas s
atividades de informao;
- promover servios e a formao de usurios;
- promover a vulgarizao da informao cientfica e tcnica para o
grande pblico;
- estimular a pesquisa em cincias da informao:
- desenvolver a cooperao com outros pases e a participao em
redes internacionais.
Sistema nacional de informao:
estrutura, componentes e objetivos
A estrutura, os componentes e os objetivos de um sistema nacional de
informao variam em funo da situao particular de cada pas.
Entretanto, possvel apontar alguns princpios gerais.
O sistema nacional de informao, pela utilizao de tcnicas e de
meios apropriados deve:
- satisfazer as necessidades de informao de todos os usurios, da
forma mais adequada e completa possvel;
- assegurar um funcionamento harmonioso e uma utilizao completa
de todas as formas de comunicao possveis entre fontes e usurios de
informao;
preservar e tornar acessveis os documentos produzidos no pas;
- permitir um acesso fcil aos documentos produzidos em outros
pases;
- assegurar o controle bibliogrfico e a anlise dos documentos
produzidos no pas;
- permitir a utilizao dos servios de informao disponveis em
outros pases:
- assegurar a compatibilidade entre os diversos sistemas de informao
existentes no pas;
- assegurar a compatibilidade e a interconexo entre os vrios
sistemas de informao que compem o sistema nacional e os sistemas
internacionais correspondente;
Ages to eas polticas nacionais e Internacionais de Informao
- permitir que a gesto do conjunto do sistema seja realizada de forma
coordenada, econmica e eficaz.
Estes objetivos podem ser atingidos progressivamente, partindo das
necessidades das categorias de usurios consideradas prioritrias. Para
tal, devem ser elaborados planos e programas especficos. A curto prazo,
estes planos devem permitir reforar a estrutura existente, e racionaliz-
la, eliminando duplicaes de trabalho. Desta forma, possvel angariar
recursos. A longo prazo, estes planos devem permitir a modernizao e a
extenso do sistema.
Um sistema nacional de informao compem-se de:
- diversos grupos de produtores e de usurios da informao:
- um conjunto de meios de comunicao, como editores de peridicos
e de outros tipos de documentos e entidades organizadoras de congressos:
- o conjunto das unidades de informao, sejam elas isoladas ou
organizadas em redes especializadas, como bibliotecas, arquivos, servios
de documentao e centros referenciais:
- o conjunto de sistemas de informao, no seu sentido restrito, isto
, a gama de produtos e servios e de tcnicas utilizadas para realiz-los;
- o conjunto do pessoal especializado em informao cientfica e
tcnica;
- o conjunto de equipamentos utilizados no processo de comunicao,
isto , o material de reprografia, o material de tratamento da informao
e as telecomunicaes;
- os recursos financeiros utilizados para executar estas atividades;
- os mecanismos e os rgos de coordenao e de direo de todos os
organismos citados;
- as associaes profissionais.
Conforme pode-se verificar, um sistema nacional de informao um
organismo vasto e diversificado. Sua estrutura extremamente varivel,
tanto do ponto de vista dos processos realizados, como das relaes entre
os indivduos, grupos e instituies que o compe.
Alguns sistemas so apenas o resultado da coexistncia de vrios
componentes que tem relaes aleatrias entre si. Este tipo de sistema tem
uma eficcia reduzida. necessrio organizar o sistema atravs de uma
ao voluntria, de forma a limitar os desperdcios, aumentar a cobertura
das fontes e das necessidades de informao, diminuir o tempo de
resposta e os custos e controlar seu funcionamento.
A estrutura institucional de um sistema nacional de informao
organizado compe-se obrigatoriamente dos seguintes rgos: de direo,
que formulam as polticas e os programas; de coordenao, que
supervisionam a realizao dos programas; e de execuo, que asseguram
o funcionamento do sistema (essencialmente, as unidades de informao).
Para a execuo, um sistema nacional compe-se de subconjuntos que
cobrem, por um lado, os diversos ramos de atividade como a agricultura.
470
A gesto e as polticas nacionais e Internacionais de Informao
as vrias indstrias, as infra-estruturas e os transportes e as funes da
cadela documental, como o acesso aos documentos primrios e o controle
bibliogrfico. Podem existir ainda, subconjuntos que cobrem as vrias
regies territoriais (subsistema local, regional e nacional).
Estes subsistemas podem ser organizados com uma certa rigidez, e
podem ser centralizados ou descentralizados, dentro de sua estrutura e
com relao aos outros sistemas. Na realidade, todas estas formas de
organizao podem coexistir em um sistema nacional de informao.
possvel encontrar em um mesmo pas, por exemplo, um subconjunto de
documentao social praticamente desorganizado, uma rede de informaes
descentralizada sobre pecuria, uma rede de pequenas empresas
estruturada geograficamente com agncias locais, regionais e nacionais,
uma rede de emprstimo entre bibliotecas bem-estruturada e um sistema
de tradues desorganizado.
At o presente momento, os sistemas nacionais de informao tm
controlado os circuitos de comunicao baseados nos documentos, mas
no conseguem controlar os outros processos de comunicao, embora
estes processos possam oferecer solues para vrios problemas.
Os rgos de direo e o quadro institucional devem ser escolhidos em
funo da situao e das condies prprias a cada pas e tambm em
funo das circunstncias. Embora exista atualmente uma diversidade
muito grande de frmulas, esta escolha no deve ser aleatria. Muitas
vezes, escolhas feitas irrefletidamente, ou concesses excessivas a
problemas existentes, dificultam consideravelmente a gesto do sistema.
Por esta razo, prefervel no fixar regras multo rgidas no momento da
constituio do sistema, mas proceder por etapas.
Os rgos de direo de um sistema nacional de informao devem
assegurar a tomada de decises, isto , a escolha das polticas e dos
programas; e a anlise da situao e dos problemas e a formulao das
propostas. Em ambos os casos, estes rgos devem possibilitar a interveno
de todas os componentes do sistema e permitir o consenso entre as partes.
A administrao, a pesquisa, os setores produtivos, as instituies
especializadas em informao cientfica e tcnica e os usurios devem
estar representados de forma apropriada nestes rgos. Eles podem ter
designaes variadas, como por exemplo, conselho, comit, ou escritrio.
Se o nmero de participantes restrito, pode-se criar um rgo nico,
mas, na maior parte dos casos, deve-se criar um comit de direo,
composto pelos representantes das principais categorias de participantes
e um ou vrios comits especializados por setor de atividade, ou por
funo. No caso de um sistema com subsistemas setoriais j estruturados
(como por exemplo, agricultura, indstria e pesquisa), os rgos de
direo podem ser compostos pelos comits responsveis por cada
subsistema e por um comit nacional.
A coordenao central do sistema pode ser um rgo autnomo, como.
A gesto eas polticas nacionais e Internacionais de Informao
por exemplo, um escritrio de informao cientifica e tcnica, mas na
maioria dos casos ele funciona junto a um organismo da administrao
central, como, por exemplo o Gabinete do Primeiro Ministro, ou os
Ministrios do Planejamento, da Pesquisa ou da Educao, da Indstria
ou ainda o Conselho Nacional de Pesquisa. Cada frmula tem suas
vantagens e seus inconvenientes.
Os rgos de coordenao so constitudos por secretariados
permanentes dos rgos de deciso. Eles podem ser formados por uma
pequena equipe ou ter uma organizao mais complexa, de acordo com a
importncia do sistema. Sua tarefa preparar o trabalho dos rgos de
deciso e assegurar sua continuidade. Entretanto, eles devem velar
sobretudo pela aplicao das decises, isto , estimular, sustentar e
coordenar o funcionamento do sistema nacional em seu conjunto. Esta
uma tarefa fundamental.
Em geral, o secretariado permanente gerencia diretamente os recursos
colocados disposio do rgo coordenador central do sistema para a
execuo dos programas ou intervm na sua execuo. Alm desta
interveno direta, pelos contratos de estudo e de desenvolvimento, pela
subveno a instituies existentes ou pelo financiamento de novas
atividades, o secretariado permanente pode agir por diretrizes, normas,
conselhos, e sobretudo, organizando a cooperao entre os diversos
elementos constitutivos do sistema nacional.
Para este fim, o secretariado deve ter relaes estreitas com todos os
participantes do sistema, principalmente com as unidades de informao.
Como uma de suas atividades funcionar como rbitro e como guia destas
unidades, aconselhvel que o secretariado funcione de forma
independente. Os vnculos das unidades de informao com o secretariado
devem ser fundamentados na troca, na cooperao e na conscincia do
trabalho comum a ser realizado, e no baseados em relaes de dependncia
ou de autoridade. O secretariado permanente deve relacionar-se ainda
com secretariados de outros rgos de coordenao e com as organizaes
internacionais.
Os rgos de execuo so/instituies que participam do sistema
nacional de informao, como as unidades de informao, as universidades,
as associaes cientficas e profissionais, os editores, as administraes
e os meios de comunicao de massa. Eles intervm no sistema pela
execuo de suas atividades normais, mas tambm pelo cumprimento das
diretrizes do sistema e da realizao progressiva de medidas de
racionalizao decididas em comum e pela coordenao dos seus esforos.
Eles Intervm tambm, pela modernizao de suas atividades ou pela
realizao de novas atividades, de acordo com os programas de
desenvolvimento do sistema nacional, ou por seus prprios meios, com a
cooperao do secretariado permanente.
No caso em que o sistema nacional tenha sido estruturado em
472 subslstemas especializados (como, por exemplo, um subsistema de
A gesto eas polticas nacionais e Internacionais de informao
documentao agrcola e uma rede de catalogao cooperativa) a execuo
e, em certa medida, a coordenao e as decises podem ser confiadas aos
rgos competentes destes subslstemas.
A passagem a este estgio superior de integrao, que constitui um
sistema nacional de informao organizado, supe um grande esforo de
gesto por parte de cada participante.
O sistema deve ter relaes estreitas com o rgo responsvel pelo
planejamento nacional de desenvolvimento econmico e social, para que
a poltica nacional de Informao seja eficaz. indispensvel que a infra-
estrutura de informao atinja um estgio de desenvolvimento mnimo, a
partir do qual o sistema poder oferecer servios. Mas, alm deste objetivo
imediato, o desenvolvimento do sistema nacional de Informao deve ter
como meta apoiar o desenvolvimento do conjunto do pas. Se, por exemplo,
a prioridade nacional o desenvolvimento de indstrias de transformao
de matrias-primas, o sistema de informao deve dar prioridade a este
setor, e no ao setor de bibliotecas pblicas, mesmo que estas tenham
atingido um nvel de desenvolvimento promissor, e tenham tambm
importncia fundamental.
A poltica e o plano nacional de informao devem estar em harmonia
com o plano global de desenvolvimento. A formulao e a elaborao deste
plano deve privilegiar as atividades de informao. Isto significa que os
responsveis pelo sistema nacional de informao devem participar na
elaborao do plano nacional de desenvolvimento econmico e social, na
parte relativa informao e colaborar na elaborao do plano para os
outros setores. Na realidade, impossvel planejar o desenvolvimento da
produo agrcola de vveres, sem se preocupar com os meios de informao
desta rea.
O plano de informao deve fazer a sntese de dois aspectos: necessidades
estruturais do sistema nacional de informao e necessidades de informao
conjunturais ou estruturais dos sistemas de produo e de troca.
Os problemas financeiros dos sistemas nacionais so complexos. As
despesas do sistema dizem respeito, em primeiro lugar, coordenao
geral do sistema (reunies de rgos de direo, despesas com pessoal e
funcionamento do secretariado permanente, entre outras). Estas despesas
no so em geral muito importantes, medida que a maioria dos
participantes paga pelas instituies de que dependem. Alguns trabalhos
preparatrios podem ser financiados por estas instituies. Entretanto, os
estudos e sobretudo o desenvolvimento do sistema necessitam de um
financiamento especial.
Em primeiro lugar, aconselhvel conhecer o montante que os
organismos participantes destinam informao, o que permite ter uma
idia da necessidade de novas despesas e avaliar a situao financeira.
Muitas vezes as novas despesas so mnimas em relao ao oramento
total da instituio.
A gesto e as polticas nacionais e Internacionais de Informao
Em segundo lugar, o funcionamento organizado do sistema nacional
permite a racionalizao do trabalho, a eliminao de duplicaes (como,
por exemplo, a indexao de uma mesma publicao por duas ou trs
unidades de informao distintas), e o compartilhamento de tarefas. Esta
racionalizao permite angariar recursos de vulto que podem ser facilmente
reinvestidos no sistema.
Entretanto, uma parte importante das novas atividades deve ter um
financiamento especial. Este financiamento , em geral, garantido pelas
unidades de informao e pelos subsistemas interessados. O rgo
coordenador deve receber uma dotao oramentria que lhe permita
responsabilizar-se pelas despesas de interesse geral e contribuir para os
desenvolvimentos especficos do sistema.
Se a poltica de informao pertinente e o sistema gerenciado de forma
correta, as despesas so compensadas com ganhos de produtividade, com
decises mais geis, e com a atualizao permanente de conhecimentos.
Estudo e tipologia dos sistemas
nacionais de informao
Os sistemas nacionais apresentam diferenas relativas a variveis do
sistema econmico, social e poltico e do grau de desenvolvimento de cada
pas. Por esta razo difcil estabelecer uma tipologia. Qualquer estudo de
sistema nacional de informao deve ter dados quantitativos e se
fundamentar no exame de dois tipos de informao. O primeiro tipo
refere-se s caractersticas do pas capazes de influenciar na organizao
do sistema: so os dados econmicos, polticos, demogrficos e religiosos,
entre outros. O segundo tipo refere-se aos meios de comunicao de
massa, edio, livrarias, infra-estrutura de Informtica e telemtica e,
sobretudo, o conjunto dos sistemas de informao documental
propriamente dito.
Em 1983, a Unesco publicou o documento Index o f Information utiliza-
tonpotential. O objetivo deste estudo calcular um ndice para o setor de
informao correspondente ao que o PNB representa para a economia.
Este ndice comporta 230 variveis, repartidas em 21 grupos que se
referem a dados de vrios tipos, desde o meio ambiente fisico aos
equipamentos de tratamento da informao. A lista destas variveis
constitui-se em um ponto de partida interessante para os planificadores
de sistemas de informao, pois mostra a diversidade de dados necessrios
para planejar um sistema nacional de informao racional (exemplos de
variveis: nmero de editores com relao populao e nmero de
associaes profissionais no campo das cincias de informao).
Do ponto de vista dos sistemas nacionais de informao, os pases esto
agrupados em regies relativamente homogneas, que correspondem, de
A gesto e as poltica* nacionais e Internacionais de Informao
certa forma, s regies geopoltlcas. O critrio que permite criar uma
tipologia mais realista o nvel de desenvolvimento econmico e social de
cada pas. Apesar das diferenas que os pases industrializados possam
ter entre si, existem mais semelhanas e pontos em comum entre os
sistemas nacionais de informao destes pases, que entre estes e os
sistemas dos pases do Terceiro Mundo. Estes pases tm problemas
especficos comuns, como o fraco desenvolvimento de sua infra-estrutura
bsica (como bibliotecas e arquivos); a dependncia em relao aos
grandes sistemas internacionais de informao concebidos por e para os
pases industrializados; e a ausncia de pessoal qualificado, entre outros.
Um dos objetivos da cooperao internacional justamente reduzir estas
desigualdades.
Todos os pases, industrializados ou no, deveriam beneficiar-se das
novas tecnologias, como a informtica, a telemtica, as tcnicas de
arquivamento eletrnico e a microcpia. Os pases em desenvolvimento
esto sendo gradativamente conectados s redes de informao, pelos
satlites de comunicao e pelo telefacsimile. As tecnologias avanadas
representam um elemento importante no desenvolvimento dos sistemas
de informao nacionais.
Participao nas atividades internacionais
A participao nas atividades internacionais Justifica-se por vrias
razes. Em primeiro lugar, porque nenhum pas pode ser auto-suficiente
em informao. Por iss, deve-se acessar os sistemas de informao de
outros pases, para beneficiar-se do legado internacional. Com o objetivo
de permitir e facilitar estas trocas de informao, que esto em contnuo
crescimento, foram criados vrios mecanismos como os acordos
internacionais, as convenes bilaterais, os comits, as associaes e as
redes de informao. O pas que no participa destas trocas permanece
fora do circuito de cooperao internacional.
Por outro lado, as razes que levaram os pases a organizar sistemas de
informao nacionais, e os problemas j citados conduziram criao de
sistemas internacionais de informao, que permitem aos pases
participantes o compartilhamento das tarefas e um acesso mais fcil e
mais econmico informao nos campos do conhecimento cobertos por
estes sistemas. Os pases que no participam destes sistemas tm
seguramente um dficit de informao e correm o risco de refazer
inutilmente trabalhosj realizados. Num futuro prximo, todos os campos
da informao estaro cobertos pelos sistemas internacionais.
Independentemente da necessidade de harmonizar os sistemas nacionais
para conect-los a outros sistemas, e completar desta forma as redes
internacionais, os contatos entre sistemas nacionais permitem aos vrios
pases comparar seus mtodos, seus resultados, suas concepes, tirar
A ges to e as polticas nacionais e Internacionais de Informao
proveito dos progressos tcnicos respectivos, e, desta forma, progredir.
Cada pas deve ter uma organizao apropriada para o sistema nacional
e para cada especialidade (como informao agrcola, industrial e
informao sobre patentes) para poder participar das atividades
internacionais. Todos os interessados devem participar dos encontros
internacionais, particularmente os delegados dos vrios pases, para
servir de contato entre o pas e a comunidade internacional. A participao
nos programas e redes internacionais de informao permite:
- facilitar o acesso s informaes a curto prazo:
- desenvolver o sistema nacional de informao em harmonia com os
sistemas de outros pases:
- facilitar a interconexo entre sistemas que permitie uma
comunicao mals completa e mais gil das informaes e um
compartilhamento de tarefas que resultam em reduo dos custos:
agir para que as necessidades e os problemas prprios a cada pas
sejam levados em considerao nos programas e no desenvolvimento
dos sistemas internacionais.
O pas que deseja participar de um sistema internacional no necessita
ter uma infra-estrutura de informao desenvolvida. possvel associar-
se a um sistema internacional de informao informatizado, utilizando
tcnicas tradicionais e meios reduzidos. Entretanto, indispensvel que
a infra-estrutura de Informao do pas seja organizada, isto , que
existam mecanismos e rgos capazes de conhecer com preciso a
situao nacional. Alm disso, o pas deve ter polticas e programas de
informao definidos. Para tal, deve ter um rgo coordenador central, ou
uma coordenao por ramo do conhecimento e estabelecer ligaes
eficazes entre este rgo e os outros sistemas ou instncias internacionais.
Na maioria dos casos, a participao de um pas nos programas e redes
internacionais se realiza por:
- definio da contribuio nacional e pelo acerto entre os organismos
nacionais Interessados, que deve realizar-se em um escritrio de
coordenao central, se este organismo existir, ou em um comit nacional
criado especialmente para este fim;
coordenao das atividades nacionais e relaes com os
participantes, que devem ser asseguradas pelo secretariado permanente
do rgo coordenador central, ou por um organismo criado especialmente
para este fim:
contribuies dos vrios organismos nacionais.
No caso de participao em uma rede internacional, geralmente
designado um centro nacional, que tem como funes tratar as
informaes de acordo com as normas da rede, enviar estas Informaes
ao sistema, geralmente por um centro de tratamento internacional
(conhecido tambm como centro de registro) e receber os produtos e
servios fornecidos pelo sistema para difundi-los nacionalmente
[ver figura 40).
A gesto e as polticas nacionais e Internacionais de Informao
A cooperao tcnica internacional permite aos pases em
desenvolvimento remediar, de certa forma, a insuficincia de seus recursos
humanos e materiais no campo da informao cientfica e tcnica.
A cooperao internacional pode variar de acordo com sua durao (de
algumas semanas a vrios anos), de acordo com seus objetivos (como
auxlio na formulao, na planificao e no estabelecimento de sistemas,
na formao de pessoal, auxlio para aquisio de documentos e auxlio
Centros nacionais
Pas 1
Pas 2
r \
Informao
internacional difundida
____________________y
Dados nacionais
Dados internacionais
Centro de registro:
tratamento de
informao.
Fornecimento de
produtos e servios
Informaes nacionais
coletadas
Figura 40. Representao gerai de um sistema internacional de informao do
tipo 1NIS ou Agris.
A gesto e as polticas nacionais e Internacionais de informao
para a compra de equipamentos), e de acordo com suas modalidades
(como doaes, bolsas, envio de consultores e projetos no local).
Esta assistncia oferecida pelas organizaes internacionais, pelas
agncias de cooperao bilateral, pelas organizaes internacionais no-
governamentais (como as associaes cientficas e profissionais) e por
organismos particulares (como as fundaes e os organismos
especializados).
Cada um destes organismos utiliza procedimentos de complexidade
variada. Geralmente o pas solicitante formula um pedido, isto , expe um
projeto para o qual ele requer auxlio. Este pedido discutido com o
organismo financiador, reformulado, aceito e executado. A seguir, os
resultados so avaliados. necessrio considerar que as solicitaes de
auxlio so numerosas e que os recursos existentes, que devem ser
repartidos entre todos os pases, so relativamente limitados. A preferncia
dada, em geral, s solicitaes que representem contribuio sensvel ao
desenvolvimento de um sistema de informao especfico. Esta contribuio
dada em funo da qualidade do projeto e da sua execuo, o que implica
um planejamento rigoroso e em uma gesto eficiente. Esta gesto e este
planejamento dependem, por sua vez, do bom funcionamento do sistema.
A maior parte das aes de cooperao internacional so limitadas. Por
esta razo importante inseri-las em um programa nacional coerente e
controlado, de forma a tirar o maior beneficio possvel para o sistema
nacional de informao no seu conjunto.
Questionrio de verificao
Todos os pases devem ter uma poltica nacional de aquisio?
Quais so os elementos que constituem um sistema nacional de
informao?
Qual o papel do secretariado permanente ou da coordenao central
de um sistema nacional de informao?
Quais so os benefcios resultantes da organizao harmonizada de um
sistema nacional de informao?
Quais so os mecanismos que os pases devem organizar para tirar
o melhor partido possvel da cooperao internacional no campo da
informao cientfica e tcnica?
De acordo com que critrios possvel estabelecer uma tipologia de
sistemas nacionais de informao?
478
A gesto e as polticas nacionais e internacionais de informao
Bibliografia
BORKO, H. et MENOU, M. Index of information utilization potential.
Paris, Unesco, 1983. (Doc. PGI-83/WS/29.)
DOLIER, J.-H. etDELMAS, B. Laplanifvcationd.es infrastrueturesnationales
de documentation, de bibliothques et d'archives. Paris, Unesco, 1974.
(Documentation, bibliothques et archives. tudes et recherches, 4.)
GROLIER, . de. L organisation des systmes d'information des pouvoirs
publies.. 2ed. Paris, Unesco, 1985. (Documentation, bibliothques et
archives. tudes et recherches, 8.)
HILL, M. W. National information policies: a review o f the situation in
seuenteen industrialized countries, with particular reference to scien-
tific and technical information. La Havey, FID, 1989. (FID n 678.)
International seminar on national information policy and planning.
Dubrounik, Yougoslauie, 1984. Paris, Unesco, 1984. (Doc. PG1-85/
WS/8.)
Meeting o f experts on national scientijlc and technical information policy.
Pkin, 1986. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/19.)
OCDE. L'conomie de Vinformation : tendances. Paris, OCDE, 1986.
(Politiques d'information, dinformatique et de communication.)
Politique nationale de Vinformation : porte, laboration et mise en oeuvre.
Projet pour obseruation. Paris, Unesco, 1983. (Doc. PGI-83/WS/2.)
Le rle et Vorganisation d'un centre national de documentation dans un
pays en voie de dveloppement. Sous la direction de H. Shutx. 2* d.
Paris, Unesco, 1985. (Documentation, bibliothques et archives.
tudes et recherches. 7).
UNESCO. Prncipes directeurspour la planification des systmes nationaux
d'information scientifique et technique. Paris, Unesco, 1975. (Doc.SC-
75/WS/39.)
The use o f satellite communication f o r information transfer. Paris, Unesco,
1982. (Doc. PGI-82/WS/5.)
WESLEY-TANASKOVIC, I. Principes directeurs relatifs aux politiques
nationales de Vinformation : porte, formulation et mise en oeuvre.
Paris. Unesco, 1985. (Doc. PGI-85/WS/14.)
479
.
Os usurios
O usurio um elemento fundamental de todos os sistemas de informao,
pois a nica justificativa das atividades destes sistemas a transferncia
de informaes entre dois ou mais interlocutores distantes no espao e no
tempo.
Entretanto, o conceito de usurio ainda mal definido. Para alguns, o
usurio aparece apenas no final da cadeia documental, quando solicita
um servio, como a comunicao de um documento primrio ou uma
pesquisa bibliogrfica. Para os servios de bases de dados, o usurio a
pessoa que interroga estas bases; na prtica, este usurio um especialista
de Informao que trabalha em uma unidade de informao. Alguns vem
o usurio como cliente dos servios de informao e como produtor de
informao. Outros integram o usurio ao sistema de informao, como
produtor e cliente e como agente de certos tipos de comunicao.
Os papis de cada individuo em relao informao so complexos e
mudam muito. Um jornalista cientfico, por exemplo, pode ser ao mesmo
tempo, um produtor de informao pelos artigos que escreve, que sero
tratados pelas unidades de informao; um usurio dos servios de
orientao e de pesquisa bibliogrfica, quando busca Informao para
preparar seus artigos; um colaborador da unidade de informao, quando
sintetiza e reformula informaes; e um agente de difuso, por sua arte em
passar uma mensagem para seu pblico. Alm disso, este jornalista pode
ser ainda responsvel pelos meios, pela orientao e pelo programa da
unidade de informao do jornal onde trabalha. Embora se adote
genericamente o termo usurio, no se deve perder de vista a multiplicidade
dos papis que ele exerce, bem como definir as polticas relativas a cada
um destes papis.
Os usurios
Papel do usurio
Em geral, o usurio interage com as unidades de informao em dois
sentidos. Ele pode ser responsvel pela existncia, pela manuteno, pela
atribuio de recursos e pela poltica da unidade de informao, como
administrador ou como membro do conselho de direo da unidade, como
membro do conselho de direo da instituio a que a unidade pertence,
ou ainda como contribuinte. O usurio deve ser a base da orientao e da
concepo das unidades e dos sistemas de informao, a serem definidos
em funo de suas caractersticas, de suas atitudes, de suas necessidades
e de suas demandas.
O usurio intervm na maioria das operaes da cadeia documental.
Ele conhece as fontes de informao que pode sinalizar e avaliar, pode
ajudar a selecionar as aquisies e mesmo decidi-las. Ele pode facilitar o
acesso literatura no-convencional porque diretamente informado
sobre este tipo de documento. O usurio pode e deve contribuir na
organizao de instrumentos de trabalho, como a linguagem documental
e na definio da estrutura dos arquivos e dos formatos de comunicao.
Ele pode ainda colaborar na descrio de contedo, na formulao de
estratgias de busca e na avaliao dos resultados de pesquisa. Ele utiliza
os produtos e servios e formula suas exigncias com relao sua
natureza e sua apresentao. O usurio produz informaes e documentos
e participa diretamente na circulao da informao pelos seus contatos
pessoais. Portanto, o usurio um agente essencial na concepo,
avaliao, enriquecimento, adaptao, estmulo e funcionamento de
qualquer sistema de informao. Ele um fator dinmico, mas pode ser
tambm um fator de resistncia se desconhece os mecanismos da
informao e se retm informaes.
O dilogo entre os usurios e os especialistas de informao no
simples. necessrio ultrapassar as atitudes negativas e as concepes
simplistas ou errneas de ambas as partes. Muitos usurios ainda no
perceberam as atividades de informao como um conjunto de tarefas
especficas que requerem tcnicas particulares e uma organizao coletiva.
Eles pretendem apropriar-se da informao e tm pouca considerao
para com as unidades de informao e para com seu pessoal. Por outro
lado, o pessoal destas unidades tem tendncia a fechar-se e a privilegiar
a conservao e a classificao, negligenciando a difuso e as necessidades
reais dos usurios.
Para ultrapassar estes problemas, deve-se estabelecer algumas
condies:
- os especialistas de informao devem tomar conscincia do fato que
a finalidade de sua profisso o servio aos usurios; devem ter a
capacidade de desvendar suas necessidades e de traduzi-las em demandas;
devem adaptar seus servios em funo da evoluo da demanda e das
Os usurios
tcnicas: e aceitem colaborar com os usurios.
- os usurios devem tomar conscincia das exigncias dos mecanismos
modernos de transferncia do conhecimento; devem aceitar a disciplina
resultante destes mecanismos; e delegar algumas tarefas aos especialistas
de informao; ter confiana nestes especialistas e seguir uma formao
adaptada s tcnicas de informao.
Durante muito tempo, as unidades de informao ofereceram aos
usurios apenas um sucedneo de informao, em forma de documentos
primrios ou de referncias. A evoluo das tcnicas permite oferecer
servios mais concretos, diretamente utilizveis e mais personalizados,
como a difuso seletiva da informao, a pesquisa on-line e os servios de
contato. Mas muita coisa ainda deve ser feita para integrar verdadeiramente
os usurios aos sistemas de informao.
Categorias de usurios
As categorias de usurios podem ser definidas em dois tipos de
critrios:
- os critrios objetivos, como a categoria scio-profissional, a
especialidade e a natureza da atividade para a qual a informao
procurada e o objeto da relao com os sistemas de informao;
- os critrios psicossociolgicos, como as atitudes e os valores relativos
informao, em geral, e s relaes com as unidades de informao, em
particular; os fundamentos do comportamento de pesquisa e de
comunicao, da informao e do comportamento na profisso e as
relaes sociais em geral.
Pode-se distinguir alguns grandes grupos de usurios que esto
apresentados na figura 41. possvel destacar trs grupos principais:
- os usurios que ainda no esto na vida ativa, ou estudantes;
os usurios engajados na vida ativa, cujas necessidades de
informao se originam da vida profissional. Estes so classificados de
acordo com sua funo principal (como direo, pesquisa, desenvolvimento,
produo e servios), de acordo com seu setor de atividade e/
ouespecialidade (como administrao, agricultura e indstria) e ainda de
acordo com seu nvel de formao e de responsabilidade (especialistas,
tcnicos ou auxiliares);
- o cidado, considerado com relao s suas necessidades de
informao geral, ligadas sua vida social.
Na prtica, esta anlise pode ser mais aprofundada. Por muito tempo
ientou-se definir categorias de usurios pela pergunta: Informao para
quem?. Entretanto, cada indivduo tem vrias ocupaes e a questo
verdadeira deve ser: Informao para fazer o que?. Um mesmo indivduo
pode estar em vrias categorias de usurios. Desta forma, prefervel
Os usurios
perguntar para que se destina a informao e no para quem. Um
pesquisador que prepara um projeto de pesquisa no tem as mesmas
necessidades nem o mesmo comportamento no momento em que escreve
um artigo para ser publicado em uma revista especializada, ou quando
prepara uma aula sobre o mesmo assunto.
GRUPOS PRINCIPAIS ATITUDE COM RELAO
A INFORMAO
TIPO DE NECESSIDADE
DE INFORMAO
estudantes
pesquisadores
pessoal de produa
aprendizado vulgarizada
cnaao
interpretao
exaustiva
pertinente
planificadores,
administradores,
polticos
deciso precisa-atual
professores
cidados
vulgarizao
excesso/falta de
informao
sintetizada
mltipla
Figura41. Classificao dos usurios da informao.
As necessidades de informao nem sempre so formalizadas, porque
a coleta e o tratamento da informao no so atividades isoladas, mas so
parte permanente de um conjunto de atividades de cada pessoa. Cada
indivduo recebe uma grande quantidade de informaes e dispe de uma
srie de informaes recebidas por sua formao e experincia. Na
realidade, as necessidades de informao mudam em funo da natureza
das tarefas realizadas e de sua evoluo.
Depois que a necessidade de informao reconhecida, deve-se definir
a forma de satisfaz-la, isto , seu contedo, os assuntos, mas tambm
sua apresentao (como documentos originais ou resumos) e sua forma de
comunicao (escrita, oral, informao obtida no local de trabalho ou em
outro local). Deve-se tambm ter conhecimento do volume de informao
necessrio, da freqncia das comunicaes e do prazo em que a informao
deve ser fornecida. Cada categoria de usurios tem formas de informao
preferenciais para cada caso, em funo de sua formao, de sua posio
Os usurios
hierrquica ou de suas relaes, da confiana que tem nas diferentes
fontes de informao, das condies materiais e de seus hbitos de
trabalho. Um arquiteto, por exemplo, prefere receber uma fotografia ou
um desenho do que um texto descrevendo uma habitao.
As modalidades da pesquisa e da comunicao das informaes so,
muitas vezes, confundidas com as necessidades de informao. Entretanto,
estes dois fatores so estruturalmente diferentes.
Uma parte importante das informaes cientficas e tcnicas que pode
ser estimada em cerca de 50%, apesar das variaes entre os diversos
campos do conhecimento, produzida, posta em circulao, recuperada
e explorada fora das unidades de informao. Por esta razo importante
conhecer estes diferentes circuitos, determinar sua confiabilidade e suas
vantagens, para tirar lies para a concepo e a realizao de servios de
unidades de informao e utilizar estes circuitos da melhor forma possvel.
O comportamento com relao informao manifesta-se nas relaes
do usurio com as unidades de informao, com seus produtos e servios
em diversos nveis. Que conhecimento o usurio tem da informao?
Como o usurio seleciona as suas fontes? Como ele formula suas
questes? Como escolhe suas informaes?
Muitos fatores influenciam o comportamento com relao informao,
notadamente a formao bsica do usurio, o treinamento que possui na
utilizao dos produtos e servios das unidades de informao, a
acessibilidade destas unidades, as condies de trabalho e o tempo que
dispe. Outros fatores importantes so o status hierrquico do usurio,
sua posio scio-profissional, sua sociabilidade, o grau de competio
dentro do seu grupo, a imagem da informao que cada um tem e as
experincias anteriores.
As relaes entre usurios e unidades de informao dependem das
necessidades e dos comportamentos dos usurios, da adequao das
unidades e da definio de uma poltica apropriada. Em muitos casos, o
nmero de usurios potenciais muito superior ao dos usurios reais,
mesmo quando o servio oferecido corresponde bem s necessidades. Este
fato conseqncia de fatores materiais e psicolgicos. Os estudantes e
os pesquisadores utilizam muito mais os servios de informao que os
tcnicos. Em primeiro lugar, porque estes servios correspondem melhor
s necessidades dos primeiros, e, em segundo, porque os^ servios de
informao so ainda essencialmente concebidos para estas categorias de
usurios. Os tcnicos tm necessidade de informaes rpidas e precisas
e no de listas de referncias; os servios adaptados a este tipo de clientela
so ainda poucos e relativamente recentes.
Os usurios manifestam-se essencialmente quando recorrem aos
servios das unidades de informao. Sua participao, direta em outras
atividades, como a concepo e a avaliao de servios, a aquisio e as
formas de tratamento, , em geral, limitada. Embora o papel do usurio
Os usurios
seja fundamental no momento de decidir pela crlao ou pela manuteno
de uma unidade de informao, ou de um servio especfico, as decises
sobre estes assuntos so tomadas, na maior parte dos casos, em funo
de consideraes gerais, e no em funo de uma anlise das necessidades
e dos objetivos da unidade de informao. As grandes empresas que
operam em campos do conhecimento que se renovam rpida e
constantemente so uma exceo com relao a este assunto.
As relaes entre os especialistas da informao e os usurios deveriam
ser to constantes, estreitas e diversificadas quanto possvel. A unidade
de informao deve estar to prxima do usurio quanto possvel. Esta
proximidade no deve ser apenas geogrfica, mas sobretudo intelectual.
Os usurios devem ver a unidade de informao como um instrumento de
trabalho. Isto significa que o dinamismo, a abertura e a eficcia da
unidade devem traduzir-se em fatos concretos. A unidade de informao
deve fazer todo o possvel para conhecer bem as necessidades reais dos
seus usurios e sua evoluo, determinar o seu grau de satisfao e
adaptar-se de acordo com isso. Alm de estudos das necessidades e dos
comportamentos, isto implica um contato pessoal to estreito quanto
possvel com o usurio. Suas crticas, conselhos e sugestes devem ser
solicitados e ouvidos. Conversas informais, reunies, questionrios simples,
e visitas regulares permitem atingir este objetivo.
Com a introduo das novas tecnologias nas unidades de informao,
principalmente com o acesso a bases de dados distncia, surgiu uma
distino entre o usurio final e o intermedirio, que , na maioria das
vezes, o documentalista. Esta distino traz um problema fundamental
com relao ao futuro da profisso (ver os captulos A profisso" e A
formao").
Obstculos comunicao
Os obstculos comunicao so complexos e numerosos, embora a
comunicao seja o fundamento das sociedades. Estes obstculos entre
Indivduos, entre grupos e com relao aos sistemas de informao
devem-se a vrias causas:
- obstculos institucionais, ligados ao status das pessoas e dos
organismos, s estruturas hierrquicas e ao segredo que protege
determinadas informaes;
- obstculos financeiros, determinados pelo custo da informao.
A assinatura de um peridico, por via area, por exemplo, custa o dobro
que uma assinatura por via martima; entretanto, os peridicos recebidos
por via martima chegam tarde demais e as informaes perdeuseu
interesse;
- obstculos tcnicos, como a necessidade de dispor de aparelhos de
leitura para microfilmes, a alterao de informaes devido a tratamentos
Os usurios
imprprios, como, por exemplo, uma descrio de contedo muito
sumria ou pouco informativa, ou ainda uma m apresentao dos
produtos documentais, como ndices muito longos, mal estruturados,
acesso lento aos documentos ou pouca legibilidade. Pode-se ainda destacar
a tiragem limitada de documentos, a m formulao de perguntas, o
desconhecimento, por parte dos usurios, dos procedimentos e prazos de
pesquisa de informao e a falta de qualiflcao dos especialistas de
informao, entre outros;
- obstculos lingsticos: em todos os pases, uma parte importante
das informaes necessrias so expressas em lnguas que os usurios
no conhecem;
- obstculos psicolgicos: da parte dos usurios, desconfiana e
reticncia com relao aos especialistas da informao; resistncia s
mudanas de hbitos adquiridos, o que pode causar a formalizao dos
procedimentos de informao; recusa das limitaes e da disciplina
impostas pela organizao da circulao da informao; medo de perder
o prestgio, o que inoportuno, pois fazer perguntas nunca foi sinnimo
de incompetncia; vontade mais ou menos consciente de preservar o poder
ligada posse de informao; recusa em admitir ignorncia em um
determinado o assunto, e, sobretudo, recusa em admitir que outra pessoa
conhece melhor determinado assunto.
Da parte dos especialistas da informao: desafio com relao aos
usurios; desconhecimento de suas reais necessidades, ou indiferena
com relao a estas necessidades; rigidez no trabalho e conflitos no
desempenho de papis, entre outros.
Mesmo que alguns destes obstculos sejam independentes da vontade
das pessoas, muitos podem ser atenuados, ou mesmo eliminados por
aes apropriadas, abertura recproca e dilogo constante.
A satisfao dos usurios expressa indiretamente pelo uso das
unidades de informao e de seus servios. Esta informao mais
significativa quando os servios oferecidos pelas unidades de informao
so pagos. Entretanto, necessrio conhecer o conjunto da situao: os
usurios podem estar satisfeitos com um servio, simplesmente porque
no conhecem outro ou porque no tm possibilidade de utilizar outro
servio. Eles podem ficar satisfeitos com o prazo de um ms para a entrega
de uma pesquisa bibliogrfica retrospectiva, porque no conhecem sistemas
de pesquisa on-line. Isto no quer dizer que este prazo seja satisfatrio. Por
esta razo necessrio obter avaliaes diretas, por ocasio de estudos
pontuais, ou sistematicamente, pela solicitao da opinio dos usurios
sobre os servios oferecidos.
A satisfao deve ser medida em funo de vrios critrios: rapidez do
servio, que deve ser medida pelo tempo decorrido entre o aparecimento
de uma informao e sua difuso, ou entre o tempo decorrido entre uma
demanda de informao e sua resposta; nmero de pedidos satisfeitos em
relao s demandas expressas; taxa de preciso das respostas, isto ,
Os usurios
proporo das informaes pertinentes fornecidas; novidade das respostas
ou das informaes difundidas, isto , a proporo de informaes
fornecidas que no eram conhecidas dos usurios: exaustividade, isto ,
capacidade do servio em cobrir todos os aspectos da demanda, ou
capacidade da unidade de informao em fornecer todos os servios
solicitados; esforo que os usurios devem realizar para ter acesso aos
servios; complexidade dos procedimentos, tempo, preo pago, comodidade
relativa dos meios de comunicao, legibilidade e apresentao dos
produtos e servios de forma simples e atrativa.
Os estudos de usurios podem ter trs objetivos complementares,
descritos a seguir:
- a anlise das necessidades, isto , o contedo e o tipo de informao
procurados e aceitos, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Este
estudo permite definir os produtos, os servios e at o tipo de unidade de
informao melhor adaptado s circunstncias;
- a anlise dos comportamentos de informao, que indicam como as
necessidades so satisfeitas, precisam as condies que os servios e
produtos devem preencher e permitem definir o tipo de formao necessria
aos usurios;
- a anlise das motivaes e das atitudes, isto , dos valores, dos
desejos de informao expressos e no-expressos e a imagem dos servios
de informao e dos especialistas. Esta anlise permite e x p 1i c a r o
fundamento dos comportamentos e das necessidades.
Estes estudos podem ser feitos tambm com a finalidade de adquirir
conhecimentos tericos sobre sociologia das organizaes ou sobre
comunicao. Eles fornecem as bases para conceber ou transformar um
produto ou servio de informao, ou um sistema inteiro em funo de um
pblico determinado. Estes estudos podem ser realizados antes da criao
de uma unidade, no lanamento de um servio, ou no decorrer de uma
determinada atividade.
Mtodos de estudo de usurios
Os mtodos de estudos de usurios so os mtodos de pesquisa
psicossociolgica. Eles se realizam por questionrios e entrevistas feitas
de acordo com planos estruturados; coleta de dados fornecidos pelos
instrumentos de controle das unidades de informao, como dados de
emprstimo e registros de solicitaes de fotocpias; observao do
comportamento; anlise dos registros do usurio sobre as suas atividades
de informao; da anlise dos documentos produzidos pelo usurio, como
documentos administrativos, programas de trabalho e descries de
cargos. Estes estudos podem se realizar ainda pela anlise de entrevistas
no-estruturadas; por estudos estudos de incidente crtico, isto , estudo
da forma como o usurio obteve as informaes necessrias para realizar
Os usurios
um trabalho recente; pela experimentao de novos produtos e servios,
novas formas de apresentao de produtos ou novas formas de acesso
informao.
Em geral, vrios mtodos so utilizados conjuntamente. A escolha de
um mtodo depende, em primeiro lugar, dos dados que se quer obter, em
segundo, da possibilidade de obter estes dados a um custo aceitvel, com
relao aos meios que se dispe e da possvel utilizao dos resultados.
Estes estudos devem ser feitos por especialistas, que devem assumi-los
integralmente ou ao menos ajudar na sua concepo, realizao e na
explorao dos dados. Os dados quantitativos, embora necessrios, no
so suficientes para explicar o funcionamento dos servios e a circulao
da informao. Por exemplo, o aumento do nmero de destinatrios de um
boletim de informao em 10% em um ano no significa que este boletim
est sendo mais utilizado, pois vrios organismos podem ter solicitado o
boletim, mas no utiliz -lo. necessrio, portanto, ter informaes
qualitativas. Entretanto, as respostas qualitativas so difceis de ser
interpretadas. Os destinatrios do boletim informativo podero dizer, por
exemplo, por cortesia, que o boletim interessante ou que ele multo
consultado, o que pode no ser verdade. necessrio analisar as
informaes com cuidado, o que demanda bastante tempo.
Estas enquetes so indispensveis e do indicaes preciosas, dentro
de certos limites.
A promoo das unidades de informao deve ter como propsito tom-
las conhecidas dos usurios potenciais, mostrar as vantagens que os
usurios podem obter com seu uso e solicitar sua participao e seu apoio.
A promoo pode ser feita com o uso de diversas tcnicas, como visitas
de orientao, contatos pessoais, publicidade direta ou pela imprensa e
fornecimento de servios a ttulo de experincia.
Estes meios devem ser adaptados ao pblico visado e ao objetivo
proposto. Qualquer que seja a sua forma, deve ser feito um esforo
constante de promoo.
Formao de usurios
Pode-se distinguir dois tipos de formao. O primeiro visa criar uma
conscincia individual e coletiva das condies modernas de informao.
O segundo visa adquirir conhecimentos ou qualificaes em funo de
uma necessidade especfica de informao ou de um sistema de informao
em especial.
As aes de formao do primeiro tipo visam essencialmente a
transmisso de conhecimentos gerais e fundamentais. As aes do
segundo tipo podem visar uma srie de objetivos cada vez mais precisos.
Entre as aes pode-se distinguir:
a sensibilizao, que d conhecimento geral, mais do que uma prtica;
Os usurios
- a orientao, pela qual pode ser feita uma introduo sumria aos
recursos da unidade de informao e a forma de utiliz-los;
- a formao, que permite conhecer em detalhe como se servir dos
recursos disponveis e como funcionam os meios modernos de informao
documental;
- a formao especializada, que permite aprender a utilizar um
servio em especial e participar deste servio, se for o caso.
Atualmente, admite-se que a formao dos usurios deve comear na
escola e ser parte integrante da formao bsica. Esta formao pode ser
complementada, quando for o momento, por uma formao especializada.
Infelizmente isso no acontece, porque faltam meios para tal e porque as
sociedades no compreenderam ainda a importncia e as novas dimenses
da informao. Entretanto, vrios pases realizaram esforos significativos
de formao nos ltimos anos.
A formao de usurios realizada ainda exclusivamente pelas unidades
de informao ou por organizaes profissionais nacionais e internacionais.
Algumas vezes esta formao parte integrante dos programas de ensino.
Ela deve comportar essencialmente aspectos prticos, sem negligenciar
completamente o aspecto torlco das cincias da informao. Estaformao
pode ser realizada sob a forma de estgios, de cursos, de trabalhos na
unidade de informao, de acordo com os objetivos a que se prope. Sua
durao deve variar conforme seus objetivos. Toda ao de formao deve
ser realizada de acordo com um plano que responda s seguintes questes:
Para quem? (estudo da populao-alvo); Como? (reflexo sobre os mtodos
de ensino: estudos de caso e simulaes); Por quanto tempo? E de que
forma? (sesses continuas, sesses descontnuas); Onde? (em uma sala de
reunies, no servio de informao); Para quem? (para profissionais, para
professores).
O objetivo deste tipo de formao no deve ser, em nenhuma hiptese,
inverter os papis, isto , transformar os usurios em especialistas de
informao. As tcnicas de tratamento e as operaes das unidades de
informao devem ser apresentadas e explicadas aos usurios, medida
que permitam uma melhor compreenso da utilizao dos produtos e
servios e que permitam ao usurio participar na sua realizao, se este
for o caso.
O esforo na formao de usurios dificultado freqentemente pela
falta de meios e pelas resistncias, conscientes ou inconscientes, dos
especialistas de informao e dos usurios. Entretanto, este esforo
fundamental. necessrio convencer os usurios que til questionar os
hbitos e as formas de relaes estabelecidos entre eles e os
documentalistas.
A Unesco realiza muitas atividades no campo da formao de usurios,
por meio de encontros, de assistncia aos pases em desenvolvimento e
publicaes e recomendaes. Este organismo uma boa fonte de
490 Informao.
Os usurios
Questionrio de verificao
Quais so os vrios papis dos usurios na comunicao da informao?
Quais so os obstculos comunicao documental?
Para que servem os estudos de usurios?
Em funo de que critrios um servio de informao pode ser avaliado?
Quais os principais objetivos da formao de usurios?
De que forma a satisfao dos usurios pode ser expressa?
Para que serve a promoo de uma unidade de informao?
Como feita esta promoo?
Bibliografia
Approche mlhodologique pour identifier le besoins en Information des
ingnieurs. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-84/WS/24.)
Bases de donnes : 1'utilisateur face aux systmes. Dijon 14-15 nouembre
1985. Paris, AFCET/INR1EA, 1985.
DELIA, G. User satisfaction as a measure of public library performance.
Chicago, American Library Association, 1980.
EVANS, A.-J. ; RHODES, R. G. et KEENAN, S. Formation des utilisateurs
de Vinformation scientifique : guide de VUnisist pour les enseignants.
Paris, Unesco, 1982.
Formation des ingnieurs et techniciens supriwurspour Vindustrialisation
et le dveloppement rural en Afrique de VOuest: rle des associatlons
nationales des ingnieurs et techniques. Abidjan, 28 septembre - 3
octobre 1981. Paris, FMOI, 1982.
La formation des utilisateurs Vre de la recherche en ligne. Actes du
sminaire IATUL, compigene, 7-11 Juillet 1986. C. Pierrey et Associa
tion intemationale des bibliothques d'universits polytechniques
(INT) (dir. publ.), Compigne, Bibliothque universitaire de technologie
de Compigne, 1986.
HOPKINS, M. European communities information, its use and users.
Londre/New York, Mansell Publishing, 1985.
Information sur Vnvironnement pour les ingnieurs. Paris, 3-5 novembre
1982. Paris, Fdration Internationale des organisations d'ingnieurs,
1982. (Coll. Recherche environnement.)
OCDE. Les besoins d'information des utilisateurs. Paris, OCDE/DIRR,
1986.
Principes directeurs pour le tudes sur les utilisateurs de Vinformation.
Paris, Unesco, 1980. (Doc. PGI-81/WS/2.)
Psychosociologie du transfert des connaissances. Dans : G. Van Slype,
Conception et gestion des systemes documentaires, p. 45-86. Paris,
Os usurios
Les ditions d'organisation, 1977.
Sminaire surVinJoiniationpour pettes etmoyennes entreprses industrielles.
Buenos Aires, 1981. Paris, Unesco, 1981. (Doc. PGI-81/WS/17.)
TAYLOR, H. A. Les services d'archives et la notion dutilisateur: une tude
RAMP. Paris, Unesco, 1984. (Doc. PGI-84/WS/5.)
WILSON, T. D. Principes directeurs pour Vlaboration et la mise en oeuvre
d'un programme national deformation et dducation des usagers de
Vinformation. Paris, Unesco, 1980. (Doc. PGI-80/WS/28.)
492
A formao
profissional
A formao profissional nas atividades de informao to importante
quanto em qualquer outra atividade. H algum tempo bastava um pouco
de bom senso para improvisar mtodos de tratamento para os documentos.
As unidades de informao recorrem cada vez mais a tcnicas e
equipamentos variados que se aperfeioam dia a dia. Esta atividade
baseia-se essencialmente nos recursos humanos. O bom andamento dos
servios, bem como a satisfao pessoal dos tcnicos so conseqncia da
qualidade da formao recebida.
Possibilidades de formao
As possibilidades de formao no campo das cincias da informao
acompanharam, em todos os pases, o desenvolvimento quantitativo e
qualitativo dos sistemas de informao. No incio do sculo existiam
apenas algumas escolas especializadas em um nmero reduzido de
pases. Esta formao evoluiu para a multiplicao de escolas; a
diversificao dos contedos e dos programas; a diversificao dos mtodos
e das modalidades de ensino; a implantao de uma cooperao
Internacional em poltica de formao, compatibilizao entre mtodos e
programas, e avaliao das atividades de formao.
Particularmente, a demanda de especialistas em informao nos pases
em desenvolvimento conduziu criao de inmeras escolas e programas
regulares na maioria destes pases; extenso progressiva dos seus ciclos
de estudo, dos nveis elementares aos programas avanados; e criao
de programas de ensino especficos, oferecidos pelos pases mais avanados
e pelas organizaes internacionais.
A formao profissional
Criou-se, desta forma, um grande nmero de possibilidades de acesso
formao inicial, e a programas de reciclagem sucessivos que permitem
a qualquer pessoa, de qualquer nvel, obter uma qualificao profissional
que responda s suas aptides.
Devido diversidade dos programas de formao existentes, h uma
certa confuso relativa aos nveis de formao, equivalncia dos diplo
mas, s possibilidades de acesso ao ensino de nvel superior nos diversos
estabelecimentos e adequao dos diplomas com relao ao status
profissional.
Para escolher o tipo de formao profissional adequado, necessrio
informar-se sobre o tipo de cursos existentes. A escolha deve estar de
acordo com o cargo que se pretende exercer.
Alguns repertrios informam sobre os programas de ensino, seus
nveis, e ajudam a orientar a escolha entre as diversas possibilidades de
formao existentes. A Unesco publicou o Cuide mondial des coles de
bibliothconomie et documentation. A IFLA edita o International guide to
library and information Science education. A FID prope um Inventaire des
actlvits de formation de brve dure dans le domaine de labibllothconomie,
des sciences de Vinformation et de Varchiuistique. Existem outros repertrios
publicados em nvel nacional ou regional1.
Tipos de programas de formao
A formao do especialista de informao pode ser feita de vrias
formas:
- por uma formao inicial em cincias da informao nos diversos
nveis;
- por uma formao inicial em uma disciplina ou campo do
conhecimento, seguida ou eventualmente precedida por uma formao
especializada em cincias da informao;
- por uma formao especializada em um campo de informao,
como, por exemplo, em reprografia ou em informtica documentria;
- por uma formao ad hoc em uma tcnica ou em um campo da
informao, como, por exemplo, em indexao, na utilizao de um
sistema especifico, na utilizao de um programa especfico de automao,
ou na utilizao de uma base de dados especfica;
por uma formao durante o trabalho;
- por formao contnua.
A cada um destes tipos de formao correspondem tipos de ensino,
contedos e qualificaes especficos.
Os programas de formao regulares, que vo do ensino secundrio ao
doutorado, correspondem aos quatro nveis profissionais geralmente
1. Ver a bibliografia no final do capitulo.
A formao profissional
conhecidos: paraprofissional, profissional elementar, profissional mdio
e profissional superior ou dirigente (ver o captulo A profisso). Pode-se,
desta forma, distinguir os programas de formao de assistentes, de
formao de tcnicos ou de auxiliares e os programas de nvel universitrio.
Os programas de formao de assistentes, de tcnicos ou de auxiliares
destinam-se aos candidatos que tenham concludo a formao secundria
sem ter obtido um diploma. Estes programas permitem adquirir um certo
nmero de tcnicas simples que do a possibilidade de executar tarefas
rotineiras como, por exemplo, o registro de documentos, a reproduo de
fichas catalogrficas e o armazenamento de documentos. Este tipo de
curso , em geral, realizado em tempo parcial ou no perodo noturno, para
permitir a formao de pessoas que trabalham. Sua durao , em geral,
de um ano. No final do curso, o aluno recebe um diploma de tcnico de
biblioteca. Este tipo de formao pode ser realizado por organizaes
profissionais, por estabelecimentos de ensino ou pela prpria unidade de
informao.
Os programas de nvel universitrio exigem diploma de estudos
secundrios e se dividem em:
- formao de primeiro ciclo, orientada para as tcnicas documentais
ou para uma tcnica em especial. Esta formao no pressupe um
conhecimento prvio do assunto tratado. Estes cursos tm a durao de
um ou dois anos e do diplomas gerais ou especficos, como,por exemplo,
bibliotecrio-assistente, assistente documentalista ou tcnico em
documentao;
formao de segundo ciclo, que exige formao prvia em uma
disciplina especfica (ou algumas vezes, excepcionalmente, cinco anos de
atividade profissional especializada) e destina-se aos profissionais que
tm um bom conhecimento dos mtodos e tcnicas de tratamento da
informao, bem como especializao em um tipo especfico de
documentao. Esta formao combina ensino terico e prtica e dura
geralmente dois anos. Este curso d diploma equivalente licenciatura.
A necessidade de especializao prvia em um ramo da informao
cientfica e tcnica um assunto muito discutido. Muitas funes
documentais, particularmente as funes de anlise dos documentos e de
interao com os usurios, pressupem uma dupla especializao, isto ,
especializao cientfica aprofundada em um ramo do conhecimento e
especializao profissional necessria prtica da profisso. Esta
especializao pode levar a outras especializaes, como, por exemplo,
documentao audiovisual, telemtica ou videotexto. Geralmente,
adquire-se especializao em um campo do conhecimento. A seguir, feit
uma formao em tcnicas documentais. Entretanto, esta prtica parece
estar atualmente se invertendo. Seja qual for a prtica, a dupla
especializao indispensvel a partir do nvel profissional mdio;
formao de terceiro ciclo, que prepara os profissionais para uma
qualificao tripla: conhecimento dos mtodos e tcnicas documentais,
A formao profissional
conhecimento de um assunto ou disciplina e conhecimento da gesto e do
desenvolvimento dos sistemas de informao. Ela forma especialistas em
informao cientfica e tcnica, que podem dedicar-se pesquisa e ao
ensino. Esta formao d diploma de estudos superiores, doutorado ou
equivalente. O curso dura um ou dois anos. Neste nvel, podem ser
admitidos tambm generalistas que no tm obrigatoriamente formao
especializada nos assuntos que sero tratados nos sistemas. Estes
profissionais podem ser formados na anlise, na concepo, na avaliao
e na gesto de sistemas de informao (ver o quadro 6).
Atualmente, esto sendo criados mdulos metodolgicos de iniciao
s tcnicas documentai sem nvel universitrio. Nos currculos de formao
de engenheiros e de pessoal cientfico e tcnico existem disciplinas como
Acesso informao cientfica e tcnica". Este tipo de formao tem por
objetivo preparar o usurio para utilizar de forma autnoma sistemas de
informao. Ela permite adequar a formao atual s necessidades reais.
Neste ponto, coloca-se a seguinte questo: se os usurios se tornam
autnomos com relao busca de informao, qual ser o futuro do
profissional de informao?
A formao ad hoc tem por objetivo preparar pessoas para uma tarefa
ou para uma funo especfica, geralmente em um campo bem-definido.
Esta formao pode ser organizada por estabelecimentos de ensino, por
unidades de informao ou por outras instituies. Ao contrrio dos
programas regulares, este tipo de formao proposta em funo de uma
demanda ou de uma necessidade especfica.
Esta formao pode ter formas e modalidades variadas, como cursos,
seminrios ou conferncias. As sesses de formao so de curta durao
e no do nenhum diploma.
Para que esta formao seja eficaz, deve-se fazer uma seleo rigorosa,
para que os participantes tenham um nvel terico e prtico adaptado e
homogneo.
Estes programas tm, em geral, uma parte terica e um grande nmero
de horas de aulas prticas. A cada ano realizam-se vrios cursos deste
tipo, notadamente cursos internacionais.
A formao em servio pode ser realizada em forma de aprendizado.
Neste tipo de formao os conhecimentos tericos e prticos necessrios
execuo das vrias tarefas de uma unidade de informao so
transmitidos por pessoas mais experientes ou por especialistas. Esta
formao pode comportar programas ad hoc organizados pela unidade e
constituir-se em um plano de formao de pessoal. Ela oferecida, em
geral, aos funcionrios novos de uma unidade, mas pode tambm aceitar
participantes externos. Sua eficcia depende da sua formalizao, do
recurso a mtodos e instrumentos pedaggicos preparados especialmente
para o curso e de uma avaliao sistemtica.
A formao contnua indispensvel em uma profisso em que as
A formao profissional
tcnicas e os conhecimentos evoluem rapidamente e na qual a demanda
e as novas necessidades esto em crescimento contnuo.
Ela pressupe esforo individual constante e disponibilidade de esprito.
necessrio ter conscincia que, por mais prestigiado que um curso
possa ser, no garante a qualificao, nem o futuro profissional de
guadro 6. Os tipos de formao
Nvel de Estudo
Exigido
Nvel de
Qualificao
Perfil da
Formao
Diploma Perfil
Profissional
Escolaridade Paraprofissional.
Aquisio de Tcnico Auxiliares de
secundria
(sem diploma)
Nvel de
execuo
auxiliar
tcnicas
bsicas em
cincia da
informao.
bibliotecas
Diploma de Profissional Aquisio de Universitrio de Auxiliar de
escolaridade elementar.
tcnicas 10ciclo bibliotecrio,
secundria Nvel de
adaptao.
documentrias,
de informtica
e de
comunicao
tcnico de
documentao,
auxiliares de
documentao
Diploma Profissional Conhecimento Diploma
Tcnicos
universitrio de mdio nvel aprofundado de universitrio de mdios e
1ou 2 ciclo de controle. tcnicas
documentrias,
de Informtica
e de
comunicao,
especializao.
2 ciclo equivalentes
Diploma Profissional
Conhecimento Doutorado ou Tcnicos de
universitrio do superior. Nivel dos mtodos e equivalente nvel superior
2 ciclo ou de controle de tcnicas. engenheiros,
equivalente coordenao dc Especializao
concepo tcnicas de
gesto e de
organizao.
administradores
de sistema,
professores,
pesquisadores
documentallstas,
chefes de servio
A formao profissional
ningum. A formao contnua deve ter por objeto no apenas as cincias
e as tcnicas de informao, mas tambm disciplinas correlatas, o
aprendizado de lnguas e de todos os assuntos capazes de enriquecer a
personalidade, e de atualizar conhecimentos.
A formao contnua , em geral, organizada por associaes
profissionais, por estabelecimentos de ensino e por organizaes
Internacionais. Ela pode dar direito a diploma ou no. As principais
modalidades de ensino so:
- estudos em tempo integral (de um a quatro anos):
- estudos em tempo parcial, que permitem exercer, ao mesmo tempo,
uma atividade profissional:
- cursos intensivos (em geral, muito especficos) com durao que
pode variar de algumas semanas a alguns meses:
- seminrios de curta durao:
- estgios prticos em uma unidade de informao;
- cursos noturnos duas a trs vezes por semana, durante um ou dois
anos;
conferncias de formao;
- grupos de discusso.
A formao continua no o nico meio de atualizar-se na profisso.
Uma autoformao absolutamente indispensvel, pela leitura regular de
publicaes especializadas (ver o captulo A profisso"), de encontros
entre profissionais, da participao em congressos, de viagens de estudo
e de visitas a organismos. A rotatividade do pessoal dentro de um servio
pode ser um excelente meio de formao. Este tipo de prtica sempre
possvel e depende naturalmente da especificidade prpria de cada
unidade de informao.
Para escolher um curso adaptdo s necessidades deve-se fazer uma
pesquisa rigorosa.
Em primeiro lugar, necessrio informar-se, com preciso, sobre o tipo
de ensino oferecido local e internacionalmente. A seguir, necessrio
verificar as necessidades locais com especialistas de informao, definir
suas prprias aptides e conhecimentos, para depois optar em funo do
nvel de instruo desejado e dos objetivos profissionais. conveniente
escolher bem o tipo de programa, sobretudo quando se trata de uma
formao especfica.
necessrio avaliar tambm a durao e o custo dos estudos. Existem
muitas possibilidades de obteno de bolsas, especialmente para os
pases em desenvolvimento. As associaes profissionais, as organizaes
Internacionais e os servios culturais das embaixadas fornecem este tipo
de informao.
Quando se faz um curso no exterior, importante assegurar-se que o
diploma obtido vlido no pas de origem. A formao no exterior
proporciona vantagens inegveis. Entretanto, o ensino pode no ser
A formao profissional
adaptado s condies culturais e tcnicas do pas onde a profisso ser
exercida e o diploma pode no ser reconhecido.
Os programas de ensino diferem muito de pas a pas, conforme as
especializaes, os objetivos, e as possibilidades que oferecem. Entretanto,
possvel distinguir, na formao geral, dois eixos essenciais. O primeiro
centrado na biblioteconomia tradicional, o segundo mais aberto
informtica, matemtica, s cincias da comunicao, como lingstica
e psicologia, bem como gesto de sistemas.
Uma formao generalista em biblioteconomia e documentao
comporta, em geral, as seguintes disciplinas:
- comunicao humana e estudo de usurios da informao:
- o documento, as fontes de informao. Seleo e aquisio;
- o tratamento da informao. Catalogao, classificao e indexao;
- os documentos secundrios. Difuso e pesquisa;
os equipamentos e a tecnologia:
organizao e gesto de uma unidade de informao.
Os programas caracterizam-se por sua natureza interdisciplinar e pelo
fato de conjugarem ensino terico e prtico. O conhecimento de lnguas
fundamental no aprendizado destas tcnicas, principalmente o ingls,
que um instrumento indispensvel.
A especializao em cincias da informao pode ser feita em
biblioteconomia, arquivstica, ou documentao, ou ainda em uma tcnica
ou setor de atividade, como o tratamento de peridicos ou de livros raros.
possvel especializar-se em uma categoria especfica de usurios, como
as crianas ou os pesquisadores, ou em uma disciplina, como a histria
ou as cincias naturais.
Entre estas vrias possibilidades de especializao profissional existem
elementos comuns que correspondem aos fundamentos das cincias e das
tcnicas de informao, o que, em geral, conhecido como tronco comum.
A natureza de cada especializao varia de acordo com as escolas.
indispensvel que uma parte do currculo seja consagrada cultura geral.
Entretanto, necessrio especializar-se, sobretudo no incio da carreira
(ver figura 42).
Os problemas da formao levam a refletir sobre os professores. Quem
deve ensinar cincias da informao? O professor, ou o tcnico que exerce
a profisso? Na maioria dos cursos, o ensino ministrado por estes dois
tipos de profissionais. Isto representa uma garantia de equilbrio entre
teoria e prtica. Alm da questo Quem deve ensinar? existe o problema
da formao dos professores. A reciclagem dos professores deve ser
realizada nos mesmos termos que a reciclagem dos profissionais, ou seja,
por leituras especializadas, colquios, reunies, encontros com
organizaes profissionais, contatos pessoais com os tcnicos e pesquisas
individuais ou em equipe.
499
A formao profissional
Cultura geral
Cincias humanas. Cincias
sociais. Direito. Economia
Lnguas. Civilizao.
Fundamentos das cincias e tcnicas da informao
Teoria da informao e da comunicao
Direito da informao
Tecnologia da informao
Organizao e gesto
O mundo da informao
Cincias da informao
Aquisio. Seleo. Tratamento dos documentos.
Armazenamento. Avaliao. Difuso.
Automao. Pesquisa.
Arquivstica Biblioteconomia Documentao
Figura 42. Os programas de formao e suas especializaes
Evoluo da formao
Os programas de formao no so estticos, mas evoluem com a
profisso. Atualmente, os especialistas da informao vivem um perodo
de grandes mutaes. A unidade de informao est sendo profundamente
afetada pela evoluo das novas tecnologias. A microinformtica, a
telemtica e as memrias ticas abrem novas perspectivas para o tratamento
e para a difuso de informaes. Paralelamente, ou em conseqncia
destas novas tecnologias, constata-se a existncia de mudanas sociais
na relao com a informao. Surgem novos tipos de informao e, ao
mesmo tempo, o usurio final est se tornando cada vez mais autnomo.
A profisso sofre transformaes profundas devidas a vrios fatores. Os
programas atuais no ignoram estas transformaes. Todos os cursos
devem dar um lugar importante s novas tecnologias. Vrios tipos de
formao incluram novas disciplinas para cobrir a criatividade da sociedade
informacional como marketing, tcnicas de comercializao e psicologia
social, entre outros. Entretanto, a questo essencial continua a mesma:
esta formao prepara profissionais aptos a gerir, no futuro, a informao
e suas novas necessidades? Haver uma transformao total e radical das
A formao profissional
profisses da informao? Vrias escolas de biblioteconomia americanas
fecharam suas portas. Muitos anunciam que a profisso de bibliotecrio
vai ter uma importncia reduzida no campo da informao; outros
afirmam que estas profisses, fundamentalmente dependentes do
computador, tornar-se-o parte das profisses ligadas informtica. A
questo est em saber se as novas tecnologias pressupem o surgimento
de novas profisses que exijam qualificaes novas e programas especiais.
Os cursos tradicionais podero continuar existindo ao lado das novas
formaes? Ou estes cursos tm tendncia a desaparecer? Existir, ainda,
uma coexistncia das profisses tradicionais modernizadas com as novas
tecnologias e as novas profisses que sero criadas? Ou alguns cursos
tomar-se-o obsoletos a partir da introduo das novas tecnologias? Ou,
ao contrrio, estes cursos devero apenas adaptar-se aos novos
equipamentos e aos novos procedimentos, enquanto a essncia da profisso
continua a mesma?
Estas questes ligada ao problema do futuro da profisso so estudas
no captulo consagrado a este assunto.
Questionrio de verificao
A formao profissional indispensvel a um especialista da informao?
Quem pode obter uma qualificao em informao cientfica e tcnica?
Quais so as diversas formas que pode ter a formao do tcnico em
documentao?
Para que serve a formao contnua?
Quais so os critrios que devem guiar a escolha de um tipo especfico
de formao?
indispensvel ser especialista em um assunto para tratar a informao
relativa a este assunto?
O que formao ad hod?
Para que serve este tipo de formao?
501
A formao profissional
Bibliografia
Ad hoc committee on education and training policy and programme, 6th
session, Paris, 1988. Final report. Paris, Unesco, 1988.
Association internalionale des coles en sciences de rinformation. Pdagogie
et sciences de Vinfoimation. Rabat, AIESI-AUPELE, 1985.
Association internationale des coles en sciences de rinformation. Thorle
et pratique dcinsl'enseignementdes sciences de Vinformation. Montral,
Universit de Montral, 1988.
ATHERTON, P. Principes directeurs pour Vorganisation de cours, stages et
sminaires de formation dans le domaine de Vinformation et de la
documentation scientifiques et techniques. Paris, Unesco, 1975. (Doc.
SC-75/WS/29.)
Changing technology and education for librarianship and information
sciences. Basil Stuart-Stubbs (dir. publ.), Greenwich/Londres, JAI
Press Inc., 1985.
COOK, M. Principes directeurs pour Vlaboration de programmes
denseignement dans le domaine de la gestion des documents et de
Vadministration des archives modemes : une tude RAMP. Paris,
Unesco, 1982. (Doc. PGI-82/WS/16.)
Education and trainning in developed and developing countries: with
particular attention to the Asian region. La Haye, FID, 1983.
FANG, J. R. et NAUTA. P. International guide to library and information
Sci ence education. Munich, K. G. Sar, 1985. 537p.
FID. Inventaire des activits de formation de brve dure dans le domaine
de labibliothconomie, des sciences de Vinformation et de Varchivistique.
La Haye, FID, 1985.
FISHBEIN-MEYER, H. A model curriculumfor the education and training of
archivists in automation: a RAMP study. Paris, Unesco, 1985. (Doc.
PGI-85/WS/27.)
Formation continue et sciences de Vinformation. Montral, AUPELF, 1986.
Cuide mondial des coles de bibliothconomie et documentation, 2a d.
Londres/Paris, Clive Bingley Ltd./Unesco, 1981.
HALL, N. Teachers, information and school libraries. Paris, Unesco, 1986.
(Doc. PGI-86/WS/17.)
Harmonisation des formations en bibliothconomie, en sciences de
Vinformation et en archivistique. Paris, Unesco, 1987. (Doc. PGI-87/
WS/2.)
Inventaire des activits de formation de brve dure dans le domaine de la
bibliothconomie, des sciences de Vinformation et de Varchivistique. La
Haye, FID, 1985.
A formao profissional
LANCASTER, F. W. Prncipes directeurs pour Vvaluationdes cows, stageset
sminaires de formation dans le domaine de Vinformation et de la
documentation scientifiques et techniques, 2Qd. Paris, Unesco, 1983.
(Doc. BEP-83/1II.)
LARGE, J. A. A modular curriculum in information studies. Paris, Unesco,
1987. (Doc. PGI-87/WS/5.)
NEELMEGHAN, A. Prncipes directeurs pour 1'laboration des politiques
relatiues laformationthorique et pratique ainsiquau dveloppement
du personnel des bibliothques et de Vinformation. Paris, Unesco,
1978. (Doc. PGI-78/WS/29.)
SARACEVIC, T.A course in information consolidation: a handbook for
education and training in analysis and reparckaging of information.
Preliminary version. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/14.)
SAUNDERS, W.-L. Principies directeurs pour 1'laboration de programmes
d'enseiguement dans le domaine de 1information. Paris, Unesco,
1978 (Doc. PGI-78/WS/27.)
Symposium intemational pour 1harmonisation des programmes
dducation et de formation dans les sciences de 1'information, la
bibliothconomie et larchivistique. Paris. Unesco. 1984. (Doc. PGI/
E.T./HARM.II/3-4-5-6-8.)
Wasserman, P. et Rizzo, J. R. Cours dadministration pour les responsables
de services d'information pour les responsables de services
d'information. Paris, Unesco, 1977. (Doc. SC-76/WS/10.)
WATSON, D.G. Guidelines for the organisation of short courses and
workshops on the dissemination of data in science and technology.
Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/11.)
503
A profisso
As profisses da informao desenvolveram-se conjuntamente com a
evoluo histrica e tcnica. medida que foram surgindo novas atividades,
estas profisses receberam novas denominaes. Existem trs grandes
grupos tradicionais: os arquivistas, os bibliotecrios e os documentalistas.
Algumas atividades especializadas, como as atividades de bibligrafo e de
indexador, foram transformadas em ocupaes especficas. Em geral,
estas profisses tm grupos de formao e carreiras especficas, que se
distinguem uma das outras, tm algumas particularidades e rivalizam
entre si. Atualmente, pode-se afirmar que as profisses da informao so
subcategorias de uma profisso nica, com multas diversificaes, que
conhecida pela expresso especialista em informao".
Perfil de um especialista em informao
O perfil de um especialista em informao comporta, necessariamente,
aspectos especficos relativos a cada profisso ou especializao, mas
apresenta traos comuns, originrios das principais linhas do trabalho,
que so os seguintes:
- tratar documentos e informaes, o que significa dominar as
tcnicas correspondentes;
- estar ao servio dos usurios, o que significa estar motivado e ter
aptido para as relaes humanas;
- agir da forma mais eficaz possvel, o que significa ter gosto pela
ordem, pelo mtodo, senso de organizao e de imaginao.
As caractersticas gerais da profisso so os seguintes:
- trata-se de uma profisso de servio. Salvo excees, o especialista
em Informao trabalha para os outros. Ele deve estar consciente das
frustraes que isto pode causar. Ele deve ter sobretudo o desejo de ser
A profisso
til, o que no impede que esta utilidade seja reconhecida e remunerada;
- trata-se de uma profisso de comunicao e de contato. Na realidade,
na maior parte dos casos, o trabalho de informao , antes de tudo, um
trabalho de equipe. Alm disso, as relaes pessoais com os usurios e
com os produtores de informao so determinantes para a eficcia do
servio. O especialista em informao deve ser capaz de compreender os
outros, de participar da vida coletiva, de despertar confiana, em outras
palavras, de comunicar. Este ltimo aspecto implica conhecimentos e
aptides lingsticas e capacidade de expressar-se de forma clara e
coerente, tanto por escrito, como oralmente;
- trata-se de uma profisso que exige um bom julgamento, pois as
informaes, bem como a comunicao, esto sujeitas a contingncias
que mudam muito. Alm disso, no existem solues prontas nem receitas
que podem ser aplicadas cegamente. A todo instante o especialista de
informao deve tomar decises em funo de numerosos critrios,
muitas vezes opostos uns aos outros;
- trata-se de uma profisso que exige curiosidade com relao s
pessoas, s instituies, s coisas, aos fatos, s idias e s tcnicas. No
possvel memorizar conhecimentos nem fazer circular informaes sem
ter interesse nestes problemas;
- trata-se de uma profisso em evoluo, pois as tcnicas profissionais
e os conhecimentos transformam-se rapidamente. As necessidades dos
usurios esto tambm em constante evoluo. O especialista em
informao deve ter o esprito aberto, adaptvel e ser capaz de dominar a
tcnica. A rotina e a passividade so inimigos mortais deste profissional
e so muitas vezes dissimuladas por procedimentos rigorosos e coerentes,
necessrios para cumprir vrias tarefas;
- trata-se de uma profisso de perseverana e de modstia. O
trabalho de informao demanda esforos constantes e muitas vezes
esforo fsico. Entretanto, os resultados so pouco visveis a curto prazo
e muitas vezes so os usurios que recebem os mritos (ver o quadro 7);
necessrio ter uma deontologia, isto , um conjunto de regras e de
princpios de conduta para praticar a profisso. Em alguns casos, existe
um cdigo escrito, vlido para um pais determinado, ou para o conjunto
da profisso, ou vlido apenas para alguns tipos de ocupaes, ou ainda
um cdigo de conduta vlido para uma unidade de informao especfica
(ver no anexo deste captulo o Code de dontologie de la Corporation des
bibliothcairesprofessionnels du Quebec). Embora a sua formalizao seja
til, estas regras em geral no so escritas, mas admitidas implicitamente
por consenso dos profissionais. Elas referem-se, em geral, ao respeito
informao, isto , obrigao de no modific-la, no ret-la ou no
deform-la em detrimento dos usurios e em funo de interesses ou de
opinies pessoais. Elas referem-se tambm ao segredo profissional e
discrio, pois o especialista da informao sabe muitas coisas que dizem
A profisso
respeito ao usurio. O respeito a estas regras, sejam elas formalizadas ou
no, deve ser garantido pelas associaes profissionais e pelos responsveis
das unidades de informao.
Quadro 7. Formulrio de entrevista para o recrutamento de um documentalista.
CARACTERSTICAS OBSERVAOES
Fsica Vitalidade
Boas maneiras e boa apresentao
Formao Formao geral
Experincia Formao especializada
Conhecimento de lnguas
Experincia profissional
Atitudes Esprito de anlise
intelectuais Esprito de sntese
Capacidade de julgamento
Mtodo, organizao
Curiosidade
Traos do Modstia
carter Perseverana
Iniciativa
Rapidez, eficcia
Atitudes Esprito de equipe e sociabilidade
relacionais Disponibilidade
Facilidade de fazer contatos
Aptides para liderar
Ambio
Expresso escrita e oral
Acesso profisso
Pode-se ingressar na profisso de vrias formas. Muitos especialistas
em informao ingressam nesta profisso diretamente aps sua formao
inicial, que pode ser paraprofissional de nvel secundrio, com um ou dois
anos de especializao, ou uma formao profissional. Esta formao
pode ser unicamente em cincias da informao, ou complementar a um
curso em outra disciplina, como, por exemplo, dois, trs ou quatro anos
de estudo aps o curso secundrio.
Pode-se tambm entrar na profisso depois de ter exercido uma
atividade em outro ramo durante um certo tempo. Este , muitas vezes,
o caso dos especialistas de informao que tm qualificao em um
assunto especfico, como qumica, engenharia, medicina ou administrao,
por exemplo, ou em uma tcnica utilizada em unidades de informao.
A profisso
como reprografia, informtica e tcnicas de audiovisual. Este tipo de
profissional faz uma formao inicial em um estabelecimento de ensino
especializado em cincias da informao e recebe formao em servio por
cursos ad hoc. Algumas pessoas entram na profisso no final de uma
carreira quando, por uma razo ou por outra, no tm mais possibilidade
de exercer plenamente sua atividade inicial. A experincia destes
profissionais, sua competncia na especialidade inicial e, eventualmente,
sua posio hierrquica, podem ser vantagens preciosas para algumas
atividades nas unidades de informao. Entretanto, mais dificil para
estes profissionais adquirir uma formao apropriada em cincias e
tcnicas de informao.
Em alguns pases, o recrutamento e a seleo de profissionais de
informao se faz somente por concurso. Isto acontece principalmente no
servio pblico. No setor privado, a seleo feita, em geral, por agncias
especializadas encarregadas de selecionar o candidato, por meio de
formulrios de solicitao de emprego, de entrevistas e de testes.
A especializao na profisso pode ser definida em relao ao tipo de
unidade de informao, s funes exercidas e aos assuntos tratados.
Estes critrios podem ser combinados entre si.
Pode-se dividir a profisso em arquivistas, bibliotecrios,
documentalistas e agentes de contato ou information brokers que podem
ter, eventualmente, competncia especial em uma disciplina ou em um
ramo de atividade, como, por exemplo, bibliotecrio ou documentalista
especializado na rea mdica, ou especializado em oncologia. Estes
profissionais podem ainda ser especializados em determinada tcnica,
como, por exemplo, catalogadores, analistas-indexadores ou
documentalistas especializados em pesquisas bibliogrficas.
O ensino e a pesquisa em cincias da informao so campos de
especializao, bem como a consultoria em sistemas de informao. Com
o desenvolvimento das redes e dos grandes sistemas de informao e a
criao de rgos complexos especializados em poltica de informao,
comea a surgir uma nova especialidade de administrador de informao.
Profissionais com formao em informtica ou em telecomunicaes
podem tambm especializar-se em sistemas de informao.
As profisses documentais esto se diversificando e se ampliando. Este
fenmeno traduz-se pela multiplicao das denominaes que designam
estas profisses. H. Soenen1, em sua pesquisa apresentada no Colquio
IDT87 identificou 1.306 tipos diferentes de profisses ligadas informao.
Esta diversidade um reflexo das mutaes de uma disciplina jovem que
ainda no definiu bem sua natureza, mas tambm um reflexo da evoluo
da imagem e do papel desta disciplina.
1. H.Soenen, Les mtiers de l'information-documentation:ana\yse de leurs appelations
Congrs sur 1'lnformation et la Documentation. Strasbourgm 1987, p.97-101. (ADBS, 5, av
Franco-Russe, 75007 Paris.
A profisso
Estas novas especializaes exigem slida formao em cincias da
informao, formao especializada em outra disciplina e capacidade de
organizao e de sntese.
Historicamente, o desenvolvimento da profisso realizou-se a partir do
escalo mais baixo, por um aumento quantitativo e qualitativo e uma
diferenciao progressiva.
Mas as situaes variam consideravelmente de um pas a outro. Estas
diferenas so bastante complexas. Entretanto, nos pases em
desenvolvimento encontram-se dois tipos de situao: a primeira aquela
em que a profisso composta sobretudo por pessoas que podem ser
classificadas no primeiro escalo mencionado, o que limita
consideravelmente o leque de funes e de servios: a segunda aquela em
que a profisso composta sobretudo por profissionais de segundo e
terceiro escales. A falta de pessoal executivo muitas vezes frustrante e
leva a uma taxa elevada de abandono da profisso.
Alm disso, a forte demanda de especialistas em diferentes profisses
dificulta o recrutamento de profissionais da rea de informao, o que
um obstculo para o desenvolvimento de servios de qualidade. A dupla
especializao uma exigncia fundamental para a maior parte dos
trabalhos de informao e, principalmente, para a direo das unidades
de informao.
Estatuto da profisso
O estatuto da profisso um conjunto de regras que definem os
escales hierrquicos, as qualificaes, as condies da carreira, as
vantagens e as responsabilidades de cada cargo e os nveis de formao e
de experincia necessrios.
Este estatuto pode ser definido nacionalmente, como acontece em
alguns pases, por ramos de atividade, ou ainda por organismo particular.
Infelizmente, na maioria dos pases, este estatuto muitas vezes indefinido
e incompleto.
A existncia de um estatuto muito importante, porque define a
situao da profisso no seu conjunto e permite atrair e conservar as
pessoas que tenham o perfil correto. Quando no existe estatuto,
principalmente no caso de ocupaes novas, corre-se o risco de resolver
situaes individuais de forma aleatria, principalmente se a profisso
no tem um grupo de presso forte.
A estrutura da profisso divide-se sistematicamente em uma srie de
nveis:
o nvel paraprofissional, composto por tcnicos ou ajudantes, ou
nvel de execuo:
- o nvel profissional elementar, ou nvel de adaptao:
- o nvel profissional mdio, em geral com conhecimentos em cincias
A profisso
da informao e/ou conhecimentos em uma disciplina ou em um domnio
especfico, ou nvel de controle;
- o nvel profissional superior, ou dirigente, que pode ter nveis mais
ou menos distintos, de acordo com o estgio de desenvolvimento da
infra-estrutura de informao. Na maioria dos pases, este nvel
ainda pouco desenvolvido e muitas vezes insuficiente.
As tarefas das atividades de informao definem-se por seu nvel de
complexidade, pelos conhecimentos tcnicos e gerais exigidos e pelas
responsabilidades necessrias. Para a execuo, distinguem-se as tarefas
elementares de carter rotineiro ou material, geralmente confiadas aos
agentes de execuo (tcnicos, auxiliares ou assistentes). O pessoal que
executa estas tarefas deve ser guiado e controlado. Ele deve, na medida do
possvel, receber iniciao nas tcnicas documentais, por estgios curtos.
Para a adaptao, as tarefas tcnicas exigem certo grau de qualificao
profissional. Estas tarefas so a catalogao, a indexao e a pesquisa
bibliogrfica, entre outras. O pessoal desta etapa deve ser capaz de
compreender as necessidades de informao e saber utilizar os meios de
informao. Deve tambm ter responsabilidade e iniciativa.
As tarefas de superviso, de controle e de organizao das diferentes
funes da cadeia documental exigem no apenas slida formao
profissional e geral, mas tambm experincia de alguns anos na profisso.
Para isto exige-se capacidade de anlise e viso global da evoluo e das
possibilidades de utilizao das novas tecnologias. As tarefas tcnicas
demandam boa formao e uma experincia confirmada nas disciplinas
cobertas. So as tarefas de anlise da informao, de avaliao da
informao e os servios de contato com os usurios, entre outras. Fazem
tambm parte deste nvel de controle as tarefas de concepo e de direo
de conjunto, bem como as tarefas pedaggicas e de pesquisa.
Nas pequenas unidades de informao estas diferentes tarefas tendem
a confundir-se. A profisso comporta, portanto, nmero grande de
generalistas, que podem ter, eventualmente, qualificao em um campo
ou em uma tcnica, em nvel mdio ou em nvel superior. Nas unidades de
tamanho mdio, estas tarefas so muitas vezes divididas entre vrias
pessoas, o que refora o esprito de equipe que todo profissional de
informao deve possuir. Nas grandes unidades, muitas vezes necessrio
chamar um especialista ou um consultor para estudar um produto ou
servio especfico, como a elaborao de um tesauro ou a criao de uma
base de dados.
A carreira profissional de informao pode parecer pouco prestigiada.
Mas esta situao , em parte, resultante da situao atual da disciplina
e no corresponde ao que se espera de sua evoluo. Na realidade, as
atividades de informao encontram-se em plena evoluo e sua utilidade
social cada vez mais importante e reconhecida.
A profisso
A poltica de desenvolvimento de pessoal um elemento da poltica
global que deve ser desenvolvido pelo administrador da unidade de
informao. esta poltica que define as aes de formao contnua e o
status da profisso.
Atualmente, as carreiras de informao tm muitas perspectivas, em
razo de suas finalidades, de suas modalidades e de sua evoluo tcnica.
Uma promoo na carreira pode resultar em maiores responsabilidades
ou no desenvolvimento de um setor especfico. A disciplina qualidade
indispensvel aos profissionais da informao. Esta profisso proporciona
renovao constante de conhecimentos.
As associaes profissionais
As associaes profissionais so grupos voluntrios de pessoas que
exercem uma profisso ou uma especialidade dentro da profisso. Elas
manifestam a vitalidade da profisso e tm um papel importante a
cumprir. Em alguns casos, estas associaes so reconhecidas legalmente
e o ingresso em uma associao impe condies precisas de qualificao
e de experincia. Algumas vezes, para exercer a profisso obrigatrio
filiar-se a uma associao. O objetivo das associaes a defesa e a
promoo da profisso. Elas so locais de encontro de profissionais para
troca de idias, de experincias e para trabalhos em comisses ou em
grupos de discusso de assuntos especficos, como os servios tcnicos,
a formao, o estatuto e a deontologia.
As associaes vivem da cotizao dos seus membros, eventualmente
de subvenes e, sobretudo, da atividade benvola de seus participantes.
O trabalho em uma associao fonte insupervel de enriquecimento
individual e de progresso coletivo, mesmo que isso signifique uma carga
suplementar para o profissional. Todo o profissional deveria, em um
momento de sua vida, participar nas atividades da associao que o
representa e defende.
Alm dos grupos de trabalho, a atividade das associaes traduz-se
pela publicao de boletins informativos e de peridicos especializados, da
organizao de conferncias e congressos, visitas, estgios e programas de
formao permanente. As associaes podem contribuir ainda na definio
e na implantao da poltica nacional e internacional de informao.
Existem associaes por especialidade de informao, como, por
exemplo, associaes de bibliotecrios, de documentalistas, ou associaes
que reagrupam todos os profissionais de um nico organismo. possvel
ainda formar-se associaes especializadas em um ramo do conhecimento,
como, por exemplo, a informao agrcola, jurdica, ou associaes de
unidades de informao de um determinado tipo, como as bibliotecas
universitrias (ver o captulo Os programas e os sistemas internacionais
de informao).
A profisso
Fontes de informao profissional
As fontes de informao profissional so mltiplas e variadas.
importante conhec-las, pois uma atividade nova, determinada em grande
parte pela evoluo das tcnicas, supe atualizao contnua dos
conhecimentos.
necessrio destacar, em primeiro lugar, os trabalhos e publicaes
das associaes nacionais e internacionais. As trs organizaes no-
governamentais referentes aos ramos principais da informao so a
Federao Internacional de Documentao (FID), para a documentao,
a Federao Internacional de Associaes de Bibliotecrios (IFLA) para as
bibliotecas e o Conselho Internacional de Arquivos (CIA) para os arquivos.
Todas estas organizaes publicam estudos, monografias, relatrios e
peridicos. Nestes documentos possvel encontrar informaes de dois
tipos informaes referentes vida da profisso, diversas e especializadas.
As associaes nacionais publicam tambm ofertas e pedidos de emprego.
necessrio ainda freqentar estabelecimentos de ensino especializado,
congressos e organismos nacionais e setoriais que permitem atualizao
com a produo documental e o estabelecimento de contatos pessoais.
Alm disso, a documentao produzida pelo Programme Gnral
dInformation da Unesco trata de problemas da vida profissional,
principalmente em plano internacional. Esta documentao responde, em
prioridade, s necessidades dos pases em desenvolvimento.
Algumas editoras tm colees especializadas em cincias da informao,
como a Wiley, a Scarecrow, a Sar, a Gauthier-Villars e as ditions
d'Organisation.
Muitos peridicos especializados em cincia da informao so
publicados no mundo. Entre os mais importantes, merecem destaque:
Archiuum (revista anual do CIA), Library Quarterly (Estados Unidos),
Journal of Librar ianship (Inglaterra), Special Libraries (Estados Unidos),
Journal o f Documentation (Inglaterra), Information Processing and
Management (Estados Unidos), Naucno-Techniceskaya Informaciya
(Russia), Documentaliste (Frana), Nachrichten fuer Dokumentation
(Alemanha), Libri (Dinamarca), ArgusjQuebec), Arbido (Sua). Entre os
peridicos dos pases em desenvolvimento pode-se citar Resadoc (Pases
do Sahel) e Ruue Maghrbine de Documentation. Dois outros peridicos
do destaque s atividades profissionais dos pases em desenvolvimento.
So eles Information Deuelopment: the intemationaljoumal for librarians,
archiuists and information specialists (Estados Unidos) e International
Library Reuiew (Inglaterra). Algumas publicaes secundrias repertoriam
e difundem as referncias da literatura especializada, particularmente,
Pascal Thema (Frana): Information Science Abstracts (Estados Unidos),
Library and Information Science Asbstracts, tambm conhecida como LISA
(Inglaterra), LibraryLiterature(EstadosUnidos), ReferatiuyiZumal,sesso
A profisso
59 (Rssia), e R & D in Documentation (FID). Pascal thema, LISAe Infodata
so acessveis on-line.
As revista anuais, como a Annual Review of Information Science and
Technology, publicada pela American Society for Information Science e o
ALA Yearbook of Library and Information Services, publicado pela Ameri
can Library Association, so Instrumentos indispensveis a qualquer
especialista de informao.
O futuro da profisso
Os bibliotecrios e os especialistas de informao interrogam-se cada
vez mais sobre o futuro da profisso. Uma srie de estudos com ttulos
provocadores vem chamando a ateno sobre este problema e inquietando
os profissionais. So eles: Librarians: dinosaurs in an electronic informa
tion age? (Bibliotecrios: dinossauros na era da informao eletrnica?),
Dial up and die; can information systems survive the on line age? (A morte
no outro lado da linha: os sistemas de informao podem sobreviver a era
do acesso on-line?) e The doomsday scenario (O cenrio do apocalipse),
entre outros. As profisses da informao estaro condenadas a desaparecer
com a introduo das novas tecnologias? Estes questionamentos sugerem
duas opinies fundamentais.
Para uns, as funes essenciais e clssicas de armazenamento, de
tratamento e de difuso da informao executadas pelas unidades de
informao sero realizadas pelos sistemas de acesso on-line e de edio
eletrnica. O registro, a anlise e a busca da informao sero assistidos
pelos sistemas especialistas. O usurio ter, desta forma, acesso direto
informao desejada sem ter que solicitar os servios de um Intermedirio,
ou seja, das bibliotecas, arquivos e servios de documentao. Estes
servios, em sua forma atual, desaparecero e sero substitudos por
sistemas novos, organizados e gerenciados por pessoas com novas
qualificaes.
Para outros, a era de informao, que est se iniciando, representa uma
chance para os profissionais da informao, pela demanda cada vez mais
diversificada de pessoal e a necessidade cada vez maior de especialistas
da rea.
Alm disso, as novas tecnologias podero trazer prestgio cada vez
maior profisso, permitindo mostrar a eficcia deste trabalho, pois as
tarefas repetitivas e desagradveis, que perturbam e complicam o trabalho
de informao sero executadas pelas mquinas. O problema est em
dinamizar as unidades de informao existentes. Se os profissionais de
informao no quiserem ser ultrapassados pela revoluo eletrnica,
eles devem adaptar-se, buscar as oportunidades de modernizao oferecidas
e exercer seu papel na sociedade de informao.
Ameaa ou adaptao so as palavras-chave do debate. Duas teses
A profisso
privilegiam o mesmo raciocnio, salientando as atuais: a mutao
tecnolgica, oriunda da informtica; e a social, oriunda da passagem da
sociedade Industrial sociedade ps-industrial, tributria da informao.
Para sustentar a reflexo sobre a profisso, preciso situ-la no
contexto sclo-econmico atual. Vrios fenmenos marcam profundamente
nossas sociedades: o surgimento do computador; a exploso da informao;
a importncia cada vez maior que os governos do aos sistemas de
informao; o aumento da populao do setor tercirio e a reapropriao
dos sistemas de informao pelo usurio final.
O surgimento do computador comparvel inveno da mquina a
vapor no incio do sculo dezoito, com as conseqncias scio-econmicas
espetaculares que esta Inveno causou, na poca, pela revoluo indus
trial. A revoluo eletrnica tem a mesma importncia. Qualquer mutao
tecnolgica tem trs conseqncias possveis com relao ao emprego: a
supresso de empregos, com um possvel desemprego; a desapario de
empregos que se tomam obsoletos e a criao de empregos novos. Com
relao s profisses da informao, estas trs conseqncias suscitam as
seguintes questes: quais so as tarefas e, eventualmente, os nveis de
emprego correspondentes que iro desaparecer com a automao? As
novas tecnologias significaro diminuio de pessoal? Que funes novas
sero criadas e qual ser a especificidade e a novidade destas funes com
relao s j existentes? Todas as tarefas repetitivas esto ameaadas.
Elas correspondem aos nveis mais baixos de qualificao. A duplicao
de fichas e a alfabetao de fichrios manuais no tm razo de existir em
um sistema de informao automatizado.
Em um futuro mais longnquo, o armazenamento dos documentos ir
tambm desaparecer. O armazenamento J est sendo executado em
algumas bibliotecas, por robs, simplificando, desta forma, as pesquisas
e a comunicao de documentos. O pessoal de execuo ser, dentro de
pouco tempo, substitudo pela mquina. Entretanto, a mquina que cria
novos processos, novas tcnicas e novas possibilidades, ser tambm a
fonte de novas profisses? Algumas pessoas pretendem que as profisses
da informao que dependem cada vez mais do computador transformar-
se-o em novos ramos de profisses da informtica e desaparecero. Na
realidade, a linha de demarcao existente entre estas duas disciplinas -
as profisses da informao e a informtica - atualmente mal definida.
Entretanto, as profisses de informao do futuro no esto ligadas
apenas informtica. Os profissionais de informao devem compreender
e saber utilizar esta cincia. Devem ser capazes de dialogar com o pessoal
de informtica sem que seja necessrio tomar-se analistas de sistema.
Entretanto, muitas facetas da profisso no tm nenhuma relao com a
informtica. Anlises atuais da profisso permitem afirmar que a introduo
do computador nas unidades de informao no traz, pelo menos no
momento, o problema do desaparecimento de empregos, mas apenas um
problema de reciclagem.
A profisso
A exploso da Informao um outro argumento no qual se aplam os
defensores das duas teses, embora com concluses opostas. A crescente
complexidade de nossa sociedade deve-se, em grande parte, extraodinria
exploso de conhecimentos. A cincia, por exemplo, produz milhares de
informaes anualmente (ver a introduo desta obra). Os servios de
informao devem tratar esta enorme massa de informaes, recuper-la
e distribu-la. indispensvel que estas unidades possam gerenciar esta
massa que cresce continuamente em volume e em complexidade.
A eficcia da gesto mais imperativa porque a informao mais til
e pertinente , muitas vezes, aquela cuja durao menor. As unidades
de informao tradicionais esto cada vez menos possibilitadas de
responder de forma satisfatria a estas novas informaes. Para alguns,
os sistemas criados para organizar o fluxo de informaes no esto
adaptados s funes das unidades de informao existentes atualmente.
Para outros, ao contrrio, estas unidades j criaram ferramentas que
permitem organizar a informao: a automao e as redes so exemplos.
Os sistemas de informao modernos exigem nova capacidade de gesto.
Esta capacidade exige um novo tipo de formao mas no leva ao
desaparecimento da profisso.
necessrio fazer outra constatao: a importncia cada vez maior que
os governos do informao e sua vontade crescente de investir em
sistemas de informao. A informao tomou-se uma riqueza, matria-
prima e condio de desenvolvimento de todas as naes. Ela uma parte
cada vez mais importante da economia de todos os pases. Para algumas
pessoas, as unidades tradicionais de Informao no esto capacitadas
a exercer este novo papel. Os fornecedores de informao que buscam
documentao sob demanda no so mais necessrios. O que se necessita
de controladores de informao, chamados a participar cada vez mais
na tomada de decises das empresas. No organograma destas organizaes
a unidade de informao deve localizar-se ao nvel da direo, o que,
atualmente, raro, e fazer parte das foras inovadoras da empresa. Para
tal, a unidade de informao deve ser capaz de avaliar a informao, uma
funo que, em geral, no realizada pelas unidades tradicionais. Os
profissionais de hoje sentem-se sensibilizados pelas transformaes da
profisso e evoluem em direo s funes de sntese e de avaliao de
informaes, participando cada vez mais na realizao de polticas
nacionais que avanam neste sentido.
Um outro dado importante a considerar com relao ao futuro da
profisso o desenvolvimento do setor tercirio. Em todas as sociedades
desenvolvidas assiste-se a um crescimento espetacular dos efetivos do
setor tercirio. A modernizao das atividades industriais e agrcolas
liberou muitos empregos e gerou novas necessidades que transferem
pessoas para atividades de servio e para trabalhos de escritrio. A
informao o denominador comum e a base de todas as atividades do
setor tercirio. por constatao que os partidrios das novas profisses 515
A profisso
e das novas necessidades encontram o seu principal argumento. O
raciocnio o seguinte: a transferncia da informao no pertence
exclusivamente s unidades de informao. As escolas, os bancos, as
administraes, as companhias de seguro tambm manipulam a
informao. Todos estes organismos tm uma necessidade grande de
especialistas de informao. necessrio, portanto, definir tarefas e
programas de formao para estes profissionais. Na realidade, os estudos
relativos a estas novas profisses da informao encontram dificuldades
em estabelecer previses quantitativas e em descrever seus principais
servios, funes e responsabilidades. Partindo das mesmas constataes,
outras pessoas vem no aumento da populao, ligada aos servios
tercirios, uma necessidade cada vez maior de especialistas em
transferncia de informao, o que corresponde funo essencial das
profisses de informao atualmente existentes.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da telemtica autoriza a livre
circulao da informao. A introduo dos sistemas de teletexto pe a
informao ao alcance do grande pblico. Neste mundo de informaes
sem fronteiras reside um dos argumentos mais importantes relativos
evoluo ou ao desaparecimento das profisses da informao. Uma das
conseqncias possveis ser a generalizao de sistemas de informao
sem especialistas da rea, alimentados por produtores e explorados
diretamente pelos usurios finais. O intermedirio eliminado. O papel
do produtor reforado. Mas pode-se assistir a um fenmeno de
concentrao desta populao encarregada da seleo e da organizao
da informao. Desta forma, a necessidade de pessoal de informao
tende a diminuir muito. Neste esquema, o usurio final um ponto de
interrogao, porque a banalizao da informao pode levar sua
asfixia.
O cidado telemtico" , na realidade, submergido pela informao:
ela muitas vezes redundante. Esta exploso toma talvez mais dificil o
acesso a informaes de carter realmente inovador. O verdadeiro problema
da qualidade da informao dar a cada um, quando tem necessidade,
a informao feita sob medida, que lhe permita melhorar suas decises e
seu bem-estar. O futuro da profisso passa seguramente pela noo de
servio oferecido ao usurio, pois este tem cada vez mais necessidade de
uma informao personalizada, de uma informao tratada previamente
que responda sua pergunta. Os servios de informao sero chamados
cada vez mais a reformatar" a informao, de maneira a tom-la
diretamente utilizvel. Esta nova orientao da difuso da informao
afeta principalmente os servios de pesquisa bibliogrfica em sua forma
atual. O usurio no necessita de longas listas de referncias bibliogrficas,
se no pode ter acesso ao documento primrio. Ele no deseja receber
informaes adicionais. necessrio propor ao usurio snteses, estados
da questo e apreciar para ele a qualidade e a validade da informao. No
A profisso
a quantidade de referncias bibliogrficas recuperadas em uma pesquisa
documental que faz a sua qualidade. A qualidade nasce da seleo feita
pelo documentalista, que elimina no apenas os documentos duplicados,
mas tambm as informaes redundantes. Para tal, o documentalista
deve especializar-se no ramo do conhecimento da unidade de informao
onde trabalha e possuir slidas qualidades de anlise e de sntese.
As sociedades entram na era ps-industrial. As novas tecnologias
fazem parte desta era e evoluem rapidamente. Em 1971, os especialistas
da Unisist notavam esta evoluo e escreveram: O essencial pode ser
resumido em duas proposies: em primeiro lugar, as dimenses, a
disperso e a especializao crescente da informao, da forma que
registrada nos documentos ou nos bancos de dados, deve levar a
comunidade cientfica a refletir mais e esforar-se em organizar este
conhecimento, por meio mecanismos de seleo, de avaliao e de sntese.
Por outro lado, em razo desta necessidade, os especialistas de informao
devem cooperar de forma mais estreita com os pesquisadores nos seus
campos de especializao, de forma a criar instrumentos eficazes de
avaliao e de sntese da cincia.." 2.
Bloqueados muito tempo entre a velha imagem do copiador de fichas"
e o novo conceito do especialista da informao, os profissionais de
informao sofrem com uma Imagem ultrapassada da sua atividade. As
novas tecnologias e as transformaes sociais podem lhes dar nova
identidade e nova imagem social. Esto surgindo novas profisses:
administradores de bases de dados, mediadores, gerentes de informao,
agentes de contato ou injormation brokers, entre outras. Todas estas novas
atividades refletem, pelo seu nome, o dinamismo de uma nica profisso:
a profisso de especialista em transferncia de informao.
Questionrio de verificao
Cite os grupos tradicionais das atividades documentais.
Quais so as caractersticas principais da profisso de especialista de
informao?
Cite algumas tarefas que o especialista de informao deve realizar.
O que significa o termo estatuto da profisso?
Qual o objetivo de uma associao profissional de documentalistas?
Cite algumas fontes de informao profissional.
Cite algumas revistas profissionais
Quais so os temas de reflexo com relao ao futuro da profisso?
2. Citado em Unisist, op.dt. p.395.
A profisso
Bibliografia
ASSOCIATION DES BIBLIOTHCAIRES FRANAIS (ABF). Le mtier de
bibliothcatre : cours lmentatre de formation professiormelle. Paris,
Promodls, 1983.
BURRINGTON, G. A. Equal opportunities in librarianship ? Londres, L.A.
Publishing, 1987.
CONDON, P. DE et SIKORA, M. Les mtiers de Vinformation et de la
communication:Joumalisme, publicit, relations publiques, documen
tation. Paris, d. Gnration/Bordas, 1983.
COOK, M. Guidelines on curriculum development in information technology
for librarians, documentalists and archivists. Paris, Unesco, 1986.
(Doc. PGI-86/WS/26.)
Les documentlistes de demain. Colloque UCC-CFDT, Dijon, 16 mars 1987.
Paris, UCC-CFDT, 1987.
ducation, formation et nouveaux mtiers. Montpellier, IDATE, 1986.
FERGUSON, E. et MOBLEY, E. R. Special libraries at work. Hamden,
Conn., Library Professionnal Publications, 1984.
HACHI, O. Le statut des archivistes des services publics dans les pays
arabes: unetudeRAMP. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-86/WS/21.)
(Publi uniquement en arabe.)
THE LIBRARY ASSOCIATION. Draft code of professional ethics _ a discus-
sion document. Chicago, Library Association Record, 1980.
MOORE, N. The emerging markets for librarian and information workers.
Londres, British Libraiy Research and Development Department,
1987.
MOORE, N. J. Principes directeurs pour la ralisation d'enqules sur la
main-d'oeuvre du secteur de Vinformation. Paris, Unesco, 1986. (Doc.
PGI-86/WS/3.)
ORLANS, J. D. Le statut des archivistes par rapport celui des autres
professionnels de Vinformation dans les services publics en Afrique :
une tude RAMP. Paris, Unesco, 1985.
Rpertoire intemaational des associations de bibliothcaires, darchivistes
et de spcialistes des sciences de Vinformation, 29d. Paris, Unesco,
1986. (Doc. PGI-86/WS/20.)
SEIBEL, B. Au nom du livre. Analyse sociale dune profession : le
bibliothcatre. Paris, La Documentation franaise, 1988.
TANODI, A. Le statut des archivistes par rapport celui des autres
professionnels de Vinformation dans les services publics en Amrique
latine : une tude RAMP. Paris, Unesco, 1986. (Doc. PGI-85/WS/13.)
TRABER, M. The myth of the information revolution : social and ethnic
implications of communication technology: Londres/New Delhi, Beverly
Hills/Sage, 1986.
A profisso
Anexo: Cdigo de Deontologia da Corporation des
Bibliothcaries Professionnels du Quebec1
Captulo I
Disposies gerais
1. No presente cdigo, a no ser que o contexto indique o contrrio, os
termos que se seguem significam:
Bibliotecrio: o bibliotecrio profissional, especialista de
biblioteconomia, de documentao e de cincias da informao que
possua as qualificaes universitrias mencionadas no artigo 8 e 10 da lei,
e que est inscrito no quadro da corporao:
Usurio: o beneficirio dos servios profissionais do bibliotecrio ou
qualquer pessoa que acessa a informao e os documentos dos centros de
documentao e das bibliotecas;
Corpora&o: a Corporation des bibliothcaires professionnels du
Qubec;
Lei: a lei que constitui a Corporation des bibliothcaires professionnels
du Qubec (l.Q. 1969,c. 105).
Captulo II
Deveres e obrigaes para
com a sociedade
2. O bibliotecrio deve ter como objetivo tomar a cultura e a informao
acessveis a todos os cidados, sem discriminao.
3. Agindo dentro do esprito da Charte des drolts et liberts de la
personne (L.Q. 1975,C.6), o bibliotecrio deve opor-se a qualquer tentativa
que vise limitar o direito do indivduo informao.
4.0 bibliotecrio deve contribuir ativamente para o bem-estar cultural,
social e econmico da comunidade.
5. O bibliotecrio deve apoiar qualquer medida capaz de assegurar
1. Cdigo de deontologia, J anina Clata Szpakowska, J ean Bonthillete, Robert Cardinal,
Use Cota e Pierre Guilmete (dir. publ.), Montral (360, rue de Le Moyne, Qubec H2y 1y3),
Corporao dos bibliotecrios profissionais do Qubec, 1979. 16p. ISBN 2-9065-028-6.
A profisso
servios profissionais de qualidade populao.
6. O bibliotecrio deve favorecer medidas que visem formar o pblico,
tendo em vista uma explorao mais racional dos recursos documentais,
de forma a tomar a informao acessvel a todos.
7. Como gestionrio dos fundos pblicos, de forma direta ou indireta,
o bibliotecrio responsvel pela utilizao racional destes recursos
financeiros perante a sociedade.
Captulo III
Deueres e obrigaes para
com o usurio
Disposies gerais
8.0 bibliotecrio no pode recusar-se a executar servios profissionais
para um usurio por motivos de discriminao fundados na raa, idade,
condies sociais, convices polticas e costumes.
9. O bibliotecrio no deve aceitar um servio, se ele no possui as
aptides, os conhecimentos e os meios humanos, documentais e tcnicos
necessrios para tal.
10. Como agente ativo de comunicao, o bibliotecrio deve se abster
de exercer sua profisso de forma impessoal. Para tal, ele deve:
a) estabelecer uma relao de ajuda 2entre ele e seu usurio;
b) estabelecer a comunicao respeitando as particularidades do
usurio.
11.0 bibliotecrio deve se abster de intervir nos assuntos pessoais de
seu usurio, a menos que ele esteja agindo como mandatrio.
Integridade
12.0 bibliotecrio deve ter lealdade para com seus usurios e probidade
intelectual no exerccio da profisso.
13. Se a natureza de um servio solicitado ultrapassar as competncias
do bibliotecrio, ou a capacidade do equipamento cultural e tecnolgico da
biblioteca, o bibliotecrio deve dirigir seu usurio a outro especialista ou
a outra unidade de informao.
14. Quando age como conselheiro, o bibliotecrio deve evitar fornecer
informaes incompletas, desatualizadas, no-verificveis, inexatas ou
parciais.
15. Antes de expressar sua opinio ou de dar conselhos, o bibliotecrio
deve procurar aprofundar seus conhecimentos relativos ao problema que
2. Estas so as caractersticas de relaes de ajuda, definidas por Carl Rogers. Elas se
aplicam, segundo este psiclogo, a quase todas as relaes de conselheiro-cliente, sejam
eles conselheiros pedaggicos, orientadores profissionais, ou conselhos de nvel estritamente
pessoal". Carl Rogers, Le dvelopement de la personrte, Paris, Dunod, 1968, p.30.
A profisso
lhe foi submetido.
16.0 bibliotecrio deve prevenir o usurio o mais rpido possvel se, no
momento de prestar um servio profissional, ele cometeu um erro que
possa prejudic-lo.
Disponibilidade e diligncia
17. Devido natureza de seus servios profissionais (tratamento,
difuso da informao..), o bibliotecrio deve realizar suas obrigaes
para com o usurio com diligncia, disponibilidade e rapidez.
18. O bibliotecrio deve assegurar a disponibilidade permanente dos
servios e dos recursos documentais.
19. O bibliotecrio deve fornecer a seu usurio as explicaes orais e
escritas necessrias compreenso e apreciao dos servios que ele lhe
oferece.
20. O bibliotecrio deve atender ao usurio, quando solicitado.
21. O bibliotecrio deve mostrar objetividade e desinteresse quando
seus usurios lhe pedem conselhos.
22. O bibliotecrio no pode, salvo motivo justo, deixar de auxiliar um
usurio. So motivos justos:
a) a perda de confiana em um usurio;
b) o conflito de interesses;
c) as situaes em que sua independncia profissional posta em
dvida;
d) a incitao a atos que atentem contra a deontologia da profisso, por
parte do usurio.
23. Antes de encerrar o exerccio de suas funes, o bibliotecrio deve
assegurar-se que esta atitude no prejudica seu usurio.
Responsabilidade
24. O bibliotecrio deve, no exerccio de suas funes, ser responsvel,
pelos seus atos.
25. O bibliotecrio deve assinar todo o documento ou relatrio 3pelo
qual ele diretamente responsvel ou cuja realizao ele supervisionou
pessoalmente, exceto se o texto for modificado sem sua concordncia.
26. O bibliotecrio deve evitar exercer funes como a pesquisa
documental, os servios de informao e a correspondncia, de forma
annima. Desta maneira ele assegura plenamente sua responsabilidade
profissional.
Independncia e desinteresse
27.0 bibliotecrio deve subordinar seu interesse pessoal aos interesses
de seus usurios.
3. Documentos ou relatrios como anlise de sistemas e de procedimentos, resultados
de pesquisa documental, perfis, indexao, compilaes bibliogrficas, avaliaes dos meios
de comunicao, relatrios de avaliao, resumos sinalticos ou analticos, snteses, listas de
aquisies, listas seletivas anotadas, relatrios crticos, publicaes ou qualquer outro
procedimento de avaliao de documentos.
A profisso
28. O bibliotecrio deve ignorar qualquer interveno de uma terceira
pessoa que possa influenciar a execuo de seus deveres profissionais de
forma a prejudicar seus usurios.
29. O bibliotecrio deve sempre resguardar sua independncia
profissional e evitar qualquer situao de conflito de interesses.
30. O bibliotecrio deve evitar receber qualquer comisso relativa ao
exerccio de sua profisso, com exceo da remunerao a que tem direito.
Segredo profissional
31.0 bibliotecrio deve respeitar o segredo de qualquer informao de
natureza confidencial obtida no exerccio de sua profisso.
32. No caso de uma pesquisa confidencial, o bibliotecrio deve guardar
segredo sobre a natureza dos servios que realizou4.
33. O bibliotecrio deve respeitar o carter privado de qualquer
informao obtida de um usurio durante uma comunicao de
documentos, durante entrevistas ou sesses de aconselhamento.
34. O bibliotecrio deve respeitar o carter secreto de qualquer
documento de natureza confidencial que lhe for confiado.
Acessibilidade de dossis e de documentos de trabalho
35.0 bibliotecrio deve respeitar o direito que seu usurio tem de tomar
conhecimento de qualquer documento que lhe diga respeito.
Captulo IV
Direitos e deveres com relao
profisso
Cargos e funes incompatveis
36. O bibliotecrio deve recusar qualquer cargo ou funo incompatvel
com os objetivos precisos da Corporao, identificados no artigo 4 da lei.
4. Natureza dos servios documentrios oferecidos, assunto, finalidade, tipo de projeto,
nome do usurio e outros.
5. Estes artigos so:
56. "Nenhum profissional pode recusar-se a fornecer servios a uma pessoa por razes
de raa, de cor, de sexo, de idade, de religio, de ascendncia nacional ou de origem social
da pessoa em causa.
57.Ningum pode utilizar um titulo de especialista, nem agir como se o fosse, se no
detm o certificado apropriado.
A profisso
Atos derrogatrios
37. Alm dos mencionados nos artigos 56 e 57 do Code des
professions 5(L.Q. 1973,c.43), derrogatrio dignidade da profisso de
bibliotecrio:
a) no possuir a competncia requerida para o exerccio de suas
funes;
b) favorecer o recrutamento de pessoal no-qualificado no seior onde o
bibliotecrio responsvel;
c) aceitar vantagens pessoais em troca de um contrato, de uma compra,
ou de uma transao particular, pela qual o bibliotecrio utilize fundos
confiados a sua gesto;
d) o fato de no comunicar Corporao quando acredita que um colega
transgride a deontologia profissional;
e) no respeitar o segredo profissional.
Relaes com a Corporao e com os colegas
38. O bibliotecrio no deve abusar de boa f de seus colegas de
profisso. Ele no deve atribuir a si prprio os mritos de trabalhos de seus
colegas.
39. O bibliotecrio que consultado por um colega deve dar-lhe sua
opinio e sua recomendaes no menor prazo possvel.
40. Se chamado a colaborar com colegas, o bibliotecrio deve
preservar sua independncia pessoal.
41.0 bibliotecrio deve informar ao Secretariado da Corporao o local
onde exerce sua profisso, em um prazo de 30 dias, a partir do incio de
suas funes.
42.0 bibliotecrio com responsabilidades administrativas deve trabalhar
para garantir o status profissional de seus colegas, isto , autonomia,
independncia e remunerao eqitativas.
43. O bibliotecrio deve encorajar seus colegas a tomar-se membros da
Corporao. Ele deve recomendar a admisso na Corporao como
condio para obter um trabalho.
Contribuio para o progresso da profisso
44. O bibliotecrio deve ajudar o desenvolvimento de sua profisso por
contribuio nas revistas profissionais e cientficas; pela troca de
conhecimentos com seus colegas e com os estudantes; pela sua colaborao
em trabalhos de pesquisa no campo da biblioteconomia, da informao
documental ou de disciplinas conexas; pela sua participao em associaes
profissionais ou ainda por qualquer forma capaz de melhorar a qualidade
da profisso.
45. O bibliotecrio responsvel por sua autoformao e deve recorrer
aos meios de aperfeioamento profissional disponveis que ele julgar
apropriados.
46. O bibliotecrio deve cooperar no recrutamento de novos candidatos
profisso.
:;b - K r ' : ; ^ .
A pesquisa em
cincias e tcnicas
da informao
Papel e campos de pesquisa
O papel da pesquisa foi e continua considervel no desenvolvimento dos
sistemas de informao modernos e no aperfeioamento da transferncia
de conhecimentos. Embora este campo no tenha conhecido transformaes
substanciais at a primeira metade deste sculo, ele entrou em uma fase
de mudanas to rpidas e profundas nas ltimas dcadas, que algumas
pessoas falam de uma revoluo.
As pesquisas bibliogrficas automatizadas surgiram nos anos 50.
(Vinte) anos mais tarde, milhes de referncias podem ser recuperadas de
um continente a outro pelo acesso on-line. Pode-se afirmar que a maioria
dos objetos e das tcnicas que constituem o universo dos especialistas da
informao surgiram recentemente ou passaram e continuam passando
por transformaes importantes.
A pesquisa e a inovao tcnica foram mais sensveis e mais
determinantes no setor de equipamentos com o surgimento das geraes
sucessivas de computadores, dos meios de telecomunicao, do material
de reprografia e de impresso, dos documentos no-impressos e das
memrias ticas. A pesquisa em cincia da informa, baseou-se
essencialmente na introduo destes novos meios e equipamentos para
aperfeioar a gesto e o desempenho dos sistemas de informao. As
pesquisas sobre inteligncia artificial so outro aspecto importante. O
surgimento dos sistemas especialistas aplicados documentao um
campo de explorao que deve revolucionar a inteligncia dos sistemas
atuais de informao, notadamente a anlise de textos e a pesquisa de
informao. Alm de aprofundar os conhecimentos sobre as bases tericas
da informao, a pesquisa dever conduzir ao aperfeioamento do
funcionamento interno dos sistemas de informao e sua transformao
qualitativa, para permitir, no apenas acesso diferenciado aos
conhecimentos existentes, mas, sobretudo, melhor insero e interao
na sociedade.
A pesquisa em cincias e tcnicas da informao
A pesquisa em cincias da informao cobre um campo variado e
bastante extenso. As necessidades de informao, a forma como a
inovao circula e utilizada, os comportamentos individuais e coletivos
de comunicao e as relaes entre os homens e as mquinas que
permitem o acesso s informaes so assuntos pouco explorados at o
presente, mas que devero ter papel essencial. As enquetes
psicossociolgicas sobre usurios e profissionais de informao mostram
a necessidade de uma descrio mais completa de todos os atores que
intervm na comunicao da informao, que devem levar em conta
aspectos como motivao, mentalidade, censura, falta de informao e
excesso de informao;
Um segundo grupo de pesquisas, que sempre ocupou lugar importante,
refere-se estrutura dos sinais e dos smbolos de qualquer natureza, seu
funcionamento no processo de comunicao, s linguagens naturais e
artificiais, anlise semntica e semitica, ao tratamento automtico dos
textos e lingstica. A indexao e a traduo automatizadas so campos
de pesquisa que se destacam. A maior parte das pesquisas, at o presente
momento, teve como objeto um terceiro grupo de assuntos: as tcnicas
documentais em geral, os sistemas de classificao e de indexao, a
anlise de contedo dos documentos, a utilizao do computador para
auxiliar ou para realizar completamente as operaes e a organizao de
sistemas de armazenamento e de pesquisa da informao. Pertencem
ainda a este grupo as pesquisas sobre estruturao de bases de dados,
sobre automao das operaes de difuso (como produo de ndices, de
boletins bibliogrficos e DSI), sobre automao das operaes de bibliotecas,
o desenvolvimento das redes e a gesto de unidades e de sistemas de
informao.
Um quarto grupo refere-se anlise e avaliao das operaes de
informao, s medidas qualitativas e quantitativas de desempenho e
simulao.
O reconhecimento de caracteres, a anlise da palavra, o tratamento de
imagens, a Inteligncia artificial e os sistemas auto-adaptados constituem
um quinto grupo de temas de pesquisa. Os aspectos legais, como os
direitos de autor e a proteo dos direitos dos indivduos, a segurana dos
sistemas de informao e, sobretudo, os aspectos da economia da
informao em maior ou em menor escala, bem como as suas implicaes
sociais, ocupam tambm lugar importante na pesquisa. A pedagogia e a
ergonomia dos sistemas documentais constituem tambm temas de
estudo. So ainda objeto de investigaes a profisso, sua evoluo e suas
fronteiras com as outras profisses.
A pesquisa em cincia da informao utiliza mtodos de vrias
disciplinas. Ela sofre a influncia do desenvolvimento destas disciplinas,
como a teoria geral dos sistemas, as teorias matemticas da informao,
a epistemologia, a ciberntica, a lgica, a informtica, a sociologia, em
particular a sociologia da cincia e das organizaes, a gesto, a psicologia,
A pesquisa em cincias e tcnicas da informao
a lingstica e a teoria da deciso, entre outras. Embora procurem
formalizar suas teorias e resultados, as cincias da informao foram, at
o presente momento, cincias aplicadas. Elas so ainda cincias novas,
limitadas pela impreciso de seus conceitos e por dificuldades metodolgicas
resultantes da complexidade do assunto. As cincias da informao
devem encontrar elementos de resposta a problemas fundamentais, como
a natureza da informao e do conhecimento, para poder atingir um
estgio superior.
O impacto potencial da pesquisa nos sistemas de informao
considervel. Os sistemas de informao, sofreram grandes transformaes
em quase todos os seus aspectos. Este impacto manifesta-se pela
generalizao do recurso aos procedimentos automatizados; pela extenso
das redes informatizadas que do acesso a um volume cada vez maior de
informaes diversificadas; pelo uso de novos suportes e canais de
comunicao; pela apario de tcnicas de avaliao e de controle da
informao, que permitem acumular os conhecimentos e no apenas
recuperar referncias bibliogrficas; e por maior possibilidade de interao
entre usurios e sistemas. Alm disso, o custo do tratamento e da difuso
de informaes est diminuindo rapidamente. Desta forma, possvel
enfrentar o aumento potencial do volume de Informaes e a necessidade
de banalizar o acesso informao.
As principais funes da unidade de informao no devem sofrer
modificaes essenciais. Entretanto, a biblioteca com colees legveis por
mquina e consultadas distncia no mais um sonho. Os sistemas
pblicos de informao acessveis por telefone so um passo nesta
direo. As modalidades de funcionamento das unidades de informao
devero ser continuamente adaptadas s novas tcnicas e s novas
condies scio-econmicas. necessrio, portanto, que os especialistas
de informao estejam ao corrente das tendncias e dos resultados das
pesquisas. Esta atualizao pode ser realizada pela participao nas
atividades das associaes profissionais, nas conferncias e seminrios
especializados e pela consulta regular literatura primria e secundria
da rea, bem como aos repertrios sobre pesquisas em andamento. O
dinamismo da pesquisa em cincias da informao manifesta-se pela
multiplicao de trabalhos universitrios neste campo do conhecimento,
como teses e relatrios de pesquisas. A criao de sociedades de pesquisa
em alguns pases um fenmeno relativamente novo.
Mtodos de pesquisa
Os mtodos de pesquisa em cincias da informao so muito variados,
e so conseqncia da diversidade dos assuntos. Eles utilizam ferramentas
matemticas e estatsticas, bem como ferramentas grficas, como
fluxogramas e organogramas. A pesquisa operacional e os modelos so
A pesquisa em cincias e tcnicas da informao
tambm utilizados, notadamente para os problemas complexos, ligados a
fluxos, como as redes e o desenvolvimento de colees. Utilizam-se ainda
mtodos das cincias humanas e sociais, como a anlise de contedo, as
enquetes por questionrios e entrevistas e os mtodos de observao-
participao. Estes mtodos so utilizados em particular para as pesquisas
sobre necessidades de informao e comportamento de usurios. Os
mtodos de organizao e de gesto, como a anlise sistmica e a anlise
de valor, so igualmente adaptados organizao e gesto de sistemas de
informao.
A experimentao dificultada pela natureza dos objetos das cincias
da informao, como bases de dados, indivduos ou grupos humanos, que
tm caractersticas muito especficas e so dificilmente manipulveis. Na
maioria dos casos, necessrio constituir amostragens (de colees ou de
grupos de usurios), ou exemplos artificiais, o que delicado e pode
deformar os resultados. Outra dificuldade metodolgica importante provm
da impreciso de numerosos conceitos da rea, a comear pelo conceito
de informao e pelos julgamentos de valor Implcitos em muitas
observaes, como a pertinncia de uma referncia.
A contribuio das unidades de informao para a pesquisa pode ser
determinante. Na realidade, as cincias da informao, em seu estgio
atual, devem acumular observaes para poder analis-las, e, em um
segundo estgio, verificar as teorias e as regras.
Praticando uma gesto rigorosa, registrando de forma explcita e
detalhada as transaes internas das operaes tcnicas (como, por
exemplo, o tempo de solicitao de fotocpias a uma central de emprstimo
e sua recepo, ou as razes de recusa, por parte do revisor, de certos
termos propostos pelos indexadores), bem como as transaes com os
usurios (como, por exemplo, a forma de comunicao das questes), as
unidades de informao acumulam dados que podem ser preciosos tanto
para a pesquisa como para seu prprio aperfeioamento.
Estas unidades podem, ao mesmo tempo, identificar problemas para os
quais necessrio orientar e conduzir as pesquisas. medida que
funcionem de forma bem estruturada, com parmetros conhecidos e
controlados, as unidades de informao podem oferecer possibilidades de
experimentao. Esta participao das unidades de informao na pesquisa
em duplo sentido necessria, sobretudo nos pases em desenvolvimento,
onde o estudo das atividades de informao ainda pouco desenvolvido.
O progresso das cincias e das tcnicas de informao no deve ser a
preocupao de um pequeno nmero de especialistas privilegiados,
isolados em preocupaes esotricas, mas de toda a comunidade de
especialistas de informao e de usurios conscientes.
528
A pesquisa em cincias e tcnicas da Informao
Questionrio de verificao
A pesquisa em cincias da informao importante?
Qual seu campo de aplicao?
Quais so as caractersticas da evoluo atual dos sistemas de
informao?
De que forma possvel estar par da evoluo da pesquisa?
De que forma as unidades de informao podem contribuir para
a pesquisa?
Bibliografia
BOLAND, R. J. et MIRSCHHEIN, R. A. Criticai issues in information
systems research. New York, Wiley, 1987.
DEBONS, A. ; HORNE, E. et CRONENWETH, S. Information science: and
integrated view. Boston, G. K. Hall, 1988.
Directory of institutions and individuais active in the field of research in
information science, librarianship and archival records. Supplment
R&D. projects in documentation and librarianship. La Haye, FID, 1980.
138 p. (FID, 485.)
KEENAN, S. Research reviews in information and documentation.
Supplment du FID news bulletin and intemational forum on informa
tion and documentation. La Haye, FID, 1989.
MACHLUP, F. et MANSFIELD, V. The study of information: interdiscipli-
nary messages. New York, Wiley, 1983.
SPARK JONES, K. Information retrieval experlment. Londres, Butterworth,
1981.
VARET, G. Pour une science de Vinformation comme discipline rigoureuse
: profil pistmologique du concept dinformation. Paris, Les Belles
Lettres, 1987 (tome 1).
VICKERY, B. C. et VICKERY, A. Information science in theory andpractice.
Londres, Butterworth, 1987.
529
Lista de siglas
AACR
ABF
ACCIS
ACCT
ACS
ADBS
AFNOR
AG
AGLINET
AGRIS
AIEA
AIESI
ALA
ALDOC
Anglo American Cataloging Rules/Regras de Catalogao
Anglo-Americanas
Association des Bibliothcaires Franais/Associao dos
Bibliotecrios Franceses
Comit Consultatif pour la Coordination des Systmes
dInformation/Comit Consultor para a Coordenao dos
Sistemas de Informao
Agence de Coopration Culturelle et Technique/Agncia de
Cooperao Cultural e Tcnica
American Chemical Society/Sociedade Americana de Qumica
Association des Documentalistes et Bibliothcaires Spcialiss
(Frana)/ Associao dos Documentalistas e Bibliotecrios
Especializados
Association Franaise de Normalisation/Associao Francesa
de Normalizao
Aktiengesellschaft
Rseau des Bibliothques Agricoles/Rede de Bibliotecas Agrcolas
Systme International dInformation sur les Sciences et 1a
TechnologieAgricoles/Sistemalntemacional de Informao em
Cincias e Tecnologias Agrcolas
Agence Internationale de 1Enrgie Atomique/Agncia
Internacional de Energia Atmica
Association Internationale des coles en Sciences de
rinformation/Associao Internacional de Escolas de
Cincias da Informao
American Library Association/Associao Americana de
Bibliotecas
Arab League Documentation and Information Centre/Centro de
Documentao e de Informao dos Pases da Liga rabe
Lista de siglas
ALECSO
ALP
ASE
ASFA
ASMO
BIRD
BOSS
CAB
CAEM
CARIS
CAS
CAV
CBU
CCN
CC
CCE
CCF
CCI
CCITT
CD/ROM
CDU
CEA
CEA
CEAO
Arab League Educational, Cultural and Scientific
Organiza tion/Organizao da Liga dos Estados rabes
para a Educao, a Cultura e a Cincia
Dveloppement de la Bibliothconomie dans le TIers Monde/
Desenvolvimento da Biblioteconomia no Terceiro Mundo
Agence Spatiale Europene/Agncia Espacial Europia
Systme d'Information sur les Sciences Aquatiques e la Pche
Sistema de Informao em Cincias Aquticas e Pesca
Arab Organization for Standardization and Metrology/
Organizao rabe para a Normalizao e a Metrologia
Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Dveloppement/Banco Internacional para a Reconstruo e o
Desenvolvime nto
Book Order and Selection System/Slstema de Seleo e de
Compra de Livros
Commonwealth Agricultural Bureau/Escritrio Agrcola da
Comunidade Britnica
Conseil dAssistance conomique Mutuelle/Conselho de
Assistncia Econmica Comum
Systme dInformatlon sur les Recherches Agronomiques en
Cours/Sistema de Informao sobre as Pesquisas Agronmicas
em Curso
Chemical Abstracts Service/Servio de Resumos Qumicos
Vltesse Angulaire Constante/Velocidade Angular Constante
Controle Bibliographique Universel/Controle Bibliogrfico Universal
Catalogue Collectlf National (Frana)/Catlogo Coletivo Nacional
Colon Classlflcatlon/Classlflcao de Colon
Commission des Communauts Europennes/Comisso da
Comunidade Europia
Common Communication Format/Formato Comum de
Comunicao
Chambre de Commerce Internationale (ONU)/Cmara de
Comrcio Internacional
Comit Consultatif International Tlgraphique et
Tlphonique/Comit Consultor Internacional de Telegrafia e
Telefonia
Compact Disc Read Only Memory/Disco compacto apenas para
leitura
Classificao Decimal Universal (em ingls UDC)
Commissariat 1'nergie Atomique/Comissariado de Energia
Atmica
Commission conomique pour lAfrique (ONU)/Comisso
Econmica para a frica
Commission conomique pour lAsie Occidentale (ONU)/
Comisso Econmica para a sia Ocidental
Lista de siglas
CEE
CEI
CEPAL
CESAP
CIA
CIEPS
CILSS
CIS
CITE
CIUS
CLV
CMA
CNRS
CNUCED
CODATA
COM
COMNET
CRDI
CRIT
CTC
Commission conomique pour 1Europe (ONU)/Comisso
Econmica Europia
Commission lectrotechnique Internationale/Comisso
Eletrotcnica Internacional
Comisso Econmica para a Amrica Latina (ONU)
Commission conomique pour l'Asie et le Pacifique/Comisso
Econmica para a sia e o Pacifico
Conseil International dArchives/Conselho Internacional de
Arquivos
Centre International pour lTSnregistrement des Publications en
Srie/Centro Internacional para o Registro das Publicaes
Seriadas
Comit Permanent Inter-tats de Lutte contre la Scheresse au
Sahel/Comit Permanente Entre Estados contra a Seca no
Sahel
Centre International d'InformationsurlaScuritet 1Hygine/
Centro Internacional de Informao sobre a Segurana e a
Higiene
Current Information Transfer in English/Transferncia de
Informao Atual em Ingls
Conseil International des Unions Scientifiques/Conselho
Internacional das Associaes Cientficas
Vitesse Linaire Constante/Velocidade linear constante
Conseil Mondial de 1'Alimentation/Conselho Mundial de
Alimentao (ONU)
Conseil National de la Recherche Scientiflque/Conselho Nacional
de Pesquisa Cientfica
Confrence des Nations Unies sur le Commerce et le
Dveloppement/Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio
e Desenvolvimento
Committee on Data for Science and Technology/Comit de
Dados em Cincia e Tecnologia
Computer Output on Microform/Sada de Computador em
Microforma
Rseau International de Documentation sur les Recherches et
Politiques en Matire de Communication/Rede Internacional
de Documentao sobre as Pesquisas e Polticas de Comunicao
Centre de Recherches pourle Dveloppement International/
Centro de Pesquisas sobre Desenvolvimento Internacional
(Canad)
Centre Rgional de Coordination pour la Formation en Matire
de Information/Centro Regional de Coordenao para a Formao
em Informao
Centre sur les Organisations Transationales/Centro sobre
Organizaes Transnacionais
DARE
DB
DC
DC
DEVCO
DEVPRO
DIRR
DON
DSE
DSI
ECHO
ENDS
EPROM
ESA/IRS
FAO
FID
FIDA
FISE
FMI
FMOI
GAP
GARP
GATT
GBM
GFFIL
HCR
IA
Systme de Dplstage Automatlque des Donnes pour les
Sciences Soclales/Slstema de Recuperao Automtica de Dados
de Cincias Sociais
Descrio bibliogrfica
Classificao de Dewey
Descrio de contedo
Comit de Dveloppement/Comit de Desenvolvimento
Bureau de Coordlnation Permanent pour la Promotlon de la
Normalisation dans les Pays en Dveloppement/Escritrio de
Coordenao Permanente para a Promoo da Normalizao
nos Pases em Desenvolvimento
Documentation Internationale en Recherche Routire/
Documentao Internacional sobre Pesquisa de Estradas
Disque optique numrique/Disco tico numrico
Fondation Allemande pour le Dveloppement International/
Fundao Alem para o Desenvolvimento Internacional
Difuso seletiva da informao
European Commission Host Organlzation
Service Europen de Documentation Nuclaire/Servio Europeu
de Documentao Nuclear
Erasable Programmable Read Only Memory/Disco tico Apagvel
e Programvel
European SpaceAgency/Information Retrieval Service/Servio
de Recuperao da Informao da Agncia Espacial
Europia
Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e a
Agricultura
Federao Internacional de Documentao
Fonds International de Dveloppement Agricole (ONU)/Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrcola
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance/Fundo das Naes
Unidas para a Infncia
Fundo Monetrio Internacional
Fdration Mondiale des Organisations d'Ingnieurs/Federao
Mundial das Organizaes de Engenheiros
Gnrateur Automatlque de Programmation/Gerador
Automtico de Programao
Programme de Recherches Atmosphriques Global/Programa
Global de Pesquisas P tmosfricas
Acordo Geral sobre a& Tarifas Alfandegrias e o Comrcio
Groupe de la Banque Mondiale (ONU)/Grupo do Banco Mundial
Groupement Franals des Foumlsseurs dInformation en Ligne/
Grupo Francs de Fornecedores de Informao on-line
Comissariado das Naes Unidas para os Refugiados
Inteligncia artificial
Lista de siglas
IBI International Bureau of Informatics/Escritrio Internacional de
Informtica
ICIREPAT International Cooperation in Information Retrieval among
Patent Offices/Cooperao Internacional em Pesquisa
Documental entre Escritrios de Patentes
ICIST Institut Canadlen de 1Information Scientifique et Technique/
Instituto Canadense de Informao Cientifica e Tcnica
ICOM International Council on Museums/Conselho Internacional de
Museus
ICR International Council for Reprography/Conselho Internacional
de Reprografia
ICSTI International Council for Scientific and Technical Information /
Conselho Internacional para a Informao Cientifica e Tcnica
ICSU IntemationalCouncllofScientificUnions/Conselholntemaclonal
de Organizaes Cientficas
ICSU-AB International Council of Scientific Unions-Abstracting Board/
Conselho Internacional das Organizaes Cientficas-Escritrio
de Resumos
IDCAS Centre de Dveloppement Industriei pour les tats Arabes/
Centro de Desenvolvimento Industrial para os Estados rabes
IFIP Fdratlon Internationale pour le Traitement de 1'Information/
Federao Internacional para o Tratamento da Informao
IFLA International Federation of Library Associations and
Institutions/Federao Internacional de Associaes de
Bibliotecrios e de Bibliotecas
IINTE/ILIS Institut Informacji NaukoweJ Technicznej 1 Ekinomiczne/
Centro Nacional de Informao Cientfica, Tcnica e Econmica
(Polnia)
INED International Network for Educational Information/Rede
Internacional de Informao em Educao
INFOTERM Centre International d'Information pour laTermlnologle/Centro
Internacional de Informao em Terminologia
INFOTERRA Systme International de Rfrence aux Sources de
Renseignements sur 1Environement/Sistema Internacional de
Referncia sobre Fontes de Informao sobre o Melo Ambiente
INID International Numbers for the Identification of Data/Nmeros
Internacionais para a Identificao de Dados
INIST Institut de 1'Information Scientifique etTechnologique (France)/
Instituto de Informao Cientfica e Tcnica
INIS Systme International dInformation Nuclaire/Sistema
Internacional de Informao Nuclear
INPADOC International Patent Documentation Center/Centro
Internacional de Documentao sobre Patentes
INPI Institut National de la Proprit Industrielle/Instituto Nacional
de Propriedade Industrial
Lista de siglas
INTIB IndustrialTechnological Information Bank/Banco de Informao
de Indstria e Tecnologia
IPPEC Inventaire des Priodiques trangeres et des Publications en
Srie trangres Reues en France par les Bibliothques et
Organismes de Documentation/Inventrio de Peridicos
Estrangeiros e de Publicaes Seriadas Estrangeiras Recebidas
na Frana pelas Bibliotecas e Organismos de Documentao
IRCIHE Service International dOrientation sur les Matriels de
Traitement de rinformation /Servio Internacional de Orientao
sobre Materiais de Tratamento da Informao
ISBD-A Numro Normalis International du Livre pour les Livres
Anciens/Nmero Normalizado Internacional para Livros Antigos
ISBD-CM International Standard Bibliographic Description for
Cartographic Material/Descrio Bibliogrfica Normalizada
Internacional para Material Cartogrfico
ISBD-CP Numro Normalis International du Livre pour les Parties
Composantes ou Citations Bibliographiques/Nmero
Normalizado Internacional do Livro para as Partes
que o compem ou para as Citaes Bibliogrficas
ISBD-G Description Bibliographique Internationale Normalise/
Descrio Bibliogrfica Internacional Normalizada
ISBD-M Description Bibliographique Internationale Normalise pour
les Monographies/Descrio Bibliogrfica Normalizada
para as Bibliografias
ISBD-MPR Numro Normalis International du Livre pour les Fichlers
Lisibles en Machine/Nmero Normalizado Internacional do
Livro para Arquivos Legveis por Computador
ISBD-MUSICNumro normalis International du Livre pour les
Partitions Musicales/Nmero Normalizado Internacional para
as Partituras Musicais
ISBD-NBM International Standard Bibliographic Description for Non-Book
Material/Descrio Bibliogrfica Normalizada Internacional
Description Bibliographique Internationale Normalise pour
les Publications en Srie/Descrio Bibliogrfica Normalizada
Internacional para as Publicaes Seriadas
Numro Normalis International du Livre/Nmero Normalizado
Internacional do Livro
Systme International de Donnes sur les Publications en
Srie/Sistema Internacional de Dados sobre Publicaes
Seriadas
Integrated Set of Information Systems/Conjunto Integrado de
Sistemas de Informao
Organisation Internationale de Normalisation/Organizao
Internacional de Normalizao
ISBD-S
ISBN
ISDS
ISIS
ISO
536
Lista de siglas
ISORID
ISSN
ITADA
ITC
KWIC
KWOC
LOLITA
MARC
MEDLARS
NATIS
NATO
NLM
OACI
OCDE
OCLC
OCR
OEA
OIG
OIT
OMCI
OMM
OMPI
OMS
OMVS
ONG
ONUDI
Registre International des Recherches en Documentation/
Registro Internacional de Pesquisas em Documentao
Numro Normalis International des Publications en Srie/
Nmero Normalizado Internacional de Publicaes Seriadas
Individualised Instruction Aids for Data Access/Auxilio
Individualizado para Acesso a Dados
Centre Europen de Traduction/Centro Europeu de Traduo
Key word in context
Key word out of context
Libraiy On Line Information and Text Access/Informao on
line e Acesso a Textos para Biblioteca
Machine-Readable Catalogue/Catlogo Legivel por Computador
Medicai Literature Automatic Retrieval System/Sistema de
Recuperao Automtico de Literatura Mdica
National Information System/Sistema de Informao Nacional
North Atlantic Treaty Organization/Organizao do Tratado do
Atlntico Norte (em francs OTAN)
National Libraiy of Medicine
Organisation de 1'Aviation Civile Intemationale/Organizao
da Aviao Civil Internacional (ONU)
Organisation de Coopration et de Dveloppement Economiques/
Organizao de Cooperao e de Desenvolvimento Econmico
Ohio College Library Center
Optical Character Recognition/ Reconhecimento tico de
Caracteres
Organizao dos Estados Americanos
Organisation Internationale Gouvemementale/Organizao
Internacional Governamental
Organizao Internacional do Trabalho
Organisation Intergouvernementale Consultative de la
Navigation Maritime (ONU)/Organizao Intergovemamental
de Consulta sobre Navegao Martima
Organisation Mtorologique Mondiale/Organlzao
Meteorolgica Mundial (ONU)
Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ONU)/
Organizao Mundial da Propriedade Industrial
Organisation Mondiale de la Sant/Organizao Mundial de
Sade (ONU)
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sngal/
Organizao para a Valorizao do Rio Senegal
Organisation Non-gouvernamentale / Organizao
No-Govemamental
Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement
Industriei/Organizao das Naes Unidas para o
Desenvolvimento Industrial
Lista de siglas
OPAC
OPS
OSI
OTAN
PAC
PAM
PAO
PGI
PIPS
PNUD
PNUE
POPIN
RAMP
RCB
RESADOC
RISC PT
RITA
RNIS
ROC
SCSI
SDIM
SFI
On-line Public Access Catalogue/Catlogo de Acesso Pblico
On-line
Organisation Panamricaine de la Sant/Organlzao
Panamericana de Sade
Open Systems Interconnection/Interconexo de Sistemas Abertos
OrganisationduTraitNord-Atlantique/Organizao do Tratado
do Atlntico Norte (em ingls NATO)
Preservao e conservao
Programme Alimentaire Mondiale/ Programa Mundial de
Alimentao
Publicao assistida por computador
Programme Gnral dInformatlon/Programa Geral de
Informao (Unesco)
Systme International sur 1change de rinformation en
Science et Technologie/Sistema Internacional de Troca de
Informaes em Cincia e Tecnologia
Programme des Nations Unies pour le Dveloppement/
Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
Programme des Nations Unies pour 1Environnement/Programa
das Naes Unidas para o Meio Ambiente
Rseau dInformation Dmographique/ Rede de Informaes
Demogrficas
Records and Archives Management Programme/ Programa de
Gerenciamento de Arquivos e Documentos
Rationalisation des choix budgtaires/ Racionalizao do
Oramento
Rseau dInformation et de Documentation Scientifique et
Technique / Rede de Informao ede D o c u m e n t a o
Cientfica e Tcnica
Registre International des Produits Chimiques Potentiellement
Toxlques/Registro Internacional dos Produtos Qumicos
Potencialmente Txicos
Rule Intelligent Terminal Agent
Rseau Numriquelntegration de Services/Rede Numrica de
Integrao de Servios
Reconnaissance Optique de Caractre (em ingls OCR)/
Reconhecimento tico de Caracter
Small Computer Standard Interface/Interface Normalizada para
Pequenos Computadores
Systme de Documentation et d'Information pour Ia Mtallurgie
(Europa)/Sistema de Documentao e de Informao em
Metalurgia
Statistiques Financires Internationales/Estatsticas
Financeiras Internacionais
538
SGBD
SIBIL
SIFB
TAO
TERMNET
TEST
TIC
TRANSDOC
UAP
UBCIM
UDC
UDT
UIT
UNBIS
UNDRO
UNESCO
UN1DIB
UNIMARC
UNISIT
UNITAR
UNU
UPU
URBANET
Systme de Gestion de Base de Donnes/Sistema de Gesto de
Base de Dados
Systme Intgr pour les Bibllotques de Lausanne/ Sistema
Integrado das Bibliotecas de Lausane
Society of International Furnace Builders/Sociedade
Internacional de
Traduction assiste par ordinateru/Traduo assistida por
computador
Rseau International sur la Terminologie/Rede Internacional
de Terminologia
Thesaurus of Engineering and Scientific Terms
Technological Innovations Board/Grupo de Inovaes
Tecnolgicas
Transmission lectronique de documents/Transmisso
eletrnica de Documentos
Universal Availability of Publication/Acesso Universal s
Publicaes
Universal Bibliographie Control International Marc/Controle
Bibliogrfico Universal-Marc Internacional
Classificao Decimal Universal
FluxTransfontire des Donnes et Tlcommunications/Fluxo
de Dados e de Comunicaes entre Fronteiras
Union Internationale des Tlcommunications (ONU)/Unio
Internacional de Telecomunicaes
United Nations Bibliographie Information System/Sistema de
Informaes Bibliogrficas das Naes Unidas
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours
enCas de Catastrophe/Escritrio do Coordenador das Naes
Unidas para Casos de Catstrofe
Organisation des Nations Unies pour 1ducation, la Science et
la Culture/Organizao das Naes Unidas para a Educao,
Cincia e Cultura
Centre International pour les Inscriptions Bibliographiques/
Centro Internacional para as Inscries Bibliogrficas
(Unisist/PGI)
Universal Marc Format/Formato Marc Universal
Systme dInformation Scientifique Mondial/Sistema de
Informao Cientifico Mundial
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche/
Instituto das Naes Unidas para a Formao e a Pesquisa
Universit des Nations Unies/Universidade das Naes Unidas
Union Postale Universelle (ONU)/Unio Postal Universal
Rseau d'Information sur 1Urbanisme, lAmnagement,
lEnvironement et les Transports/Rede de Informao em
Urbanismo, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Transportes
VINITI
VTTA
WCPR
WDEBT
WORM
WRMA
wn
WWW
Vseoyuznyy Institut Nauchnqyi Technicheskqy Informastil/
Instituto de Informao Cientfica e Tcnica (Unio
Sovitica)
Volunteers in Technical Assistance/Voluntrios de Assistncia
Tcnica
Programme Mondial de Recherches sur le Climat/Programa
Mundial de Pesquisas sobre Clima
World Bank Debt Tables/Tabela de Dvidas do Banco Mundial
Write Once Read Many
Write Many Read Always
World Translation Index
Veille Mtorologique Mondiale/Viglia Meteorolgica Mundial
540
Você também pode gostar
- Como usar a biblioteca na escola: Um programa de atividades para o ensino fundamentalNo EverandComo usar a biblioteca na escola: Um programa de atividades para o ensino fundamentalNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (2)
- OLIVEIRA, Marlene de - Ciência Da Informação e Biblioteconomia (Novos Conteúdos e Espaços de Atuação) (2005)Documento120 páginasOLIVEIRA, Marlene de - Ciência Da Informação e Biblioteconomia (Novos Conteúdos e Espaços de Atuação) (2005)Livia Serpa71% (7)
- Resumo-ALMEIDA, M. C. B. De. Planejamento de Bibliotecas e Serviços de InformaçãoDocumento12 páginasResumo-ALMEIDA, M. C. B. De. Planejamento de Bibliotecas e Serviços de InformaçãoRodrigo Rocha100% (1)
- Accart LIVRO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO PRESENCIAL AO VIRTUAL PDFDocumento159 páginasAccart LIVRO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO PRESENCIAL AO VIRTUAL PDFBarbara Souza73% (11)
- Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência Da InformaçãoDocumento178 páginasFundamentos de Biblioteconomia e Ciência Da InformaçãoTaís Silva100% (4)
- Introduao A Rda Um Guia BasicoDocumento12 páginasIntroduao A Rda Um Guia BasicoanaraphaellaAinda não há avaliações
- Ccaa2 - CompletoDocumento744 páginasCcaa2 - Completomartinato2491% (11)
- Accart LIVRO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO PRESENCIAL AO VIRTUAL PDFDocumento159 páginasAccart LIVRO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO PRESENCIAL AO VIRTUAL PDFThaís Brito100% (2)
- BARBALHO BERAQUET Planejamento Estrategico para Unidades de InformacaoDocumento73 páginasBARBALHO BERAQUET Planejamento Estrategico para Unidades de Informacaosab73100% (1)
- Indexacao e Resumos - Teoria e Pratica (F. W. Lancaster)Documento285 páginasIndexacao e Resumos - Teoria e Pratica (F. W. Lancaster)Allan Júlio Santos75% (4)
- SILVA, Odilon Pereira Da - CDD (Manual Teórico-Prático... ) LDocumento63 páginasSILVA, Odilon Pereira Da - CDD (Manual Teórico-Prático... ) Lkarine100% (2)
- TESAURO Linguagem de Representação Da Memória Documentária PDFDocumento119 páginasTESAURO Linguagem de Representação Da Memória Documentária PDFmusdoncv100% (1)
- AACR2 2002 Completo 20081008CC1466 PDFDocumento79 páginasAACR2 2002 Completo 20081008CC1466 PDFLetícia MirandaAinda não há avaliações
- A Biblioteca Digital - Cap 12Documento17 páginasA Biblioteca Digital - Cap 12Umberto100% (1)
- A biblioteca escolar: Temas para uma prática pedagógicaNo EverandA biblioteca escolar: Temas para uma prática pedagógicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Biblioteca Escolar (Temas para Uma Prática Pedagógica) (2001)Documento29 páginasA Biblioteca Escolar (Temas para Uma Prática Pedagógica) (2001)Fabricia CristinaAinda não há avaliações
- A Biblioteca Escolar (Temas para Uma Prática Pedagógica) (2001) PDFDocumento29 páginasA Biblioteca Escolar (Temas para Uma Prática Pedagógica) (2001) PDFFabricia Cristina100% (1)
- Gestão de documentos arquivísticos digitais para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e TecnológicaNo EverandGestão de documentos arquivísticos digitais para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e TecnológicaAinda não há avaliações
- Fluxos de informação no desenvolvimento de produtos biotecnológicosNo EverandFluxos de informação no desenvolvimento de produtos biotecnológicosAinda não há avaliações
- Competência em informação no Brasil: Dimensão técnica e perspectivasNo EverandCompetência em informação no Brasil: Dimensão técnica e perspectivasAinda não há avaliações
- Catalogação CooperativaDocumento21 páginasCatalogação CooperativaFabrício Silva Assumpção100% (2)
- ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência Da Informação - O Diálogo PossívelDocumento215 páginasARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência Da Informação - O Diálogo PossívelBenjamin FranklinAinda não há avaliações
- Curso de Bacharelado em Biblioteconomia Na Modalidade A DistânciaDocumento166 páginasCurso de Bacharelado em Biblioteconomia Na Modalidade A DistânciaJullyana AlmeidaAinda não há avaliações
- Manual Da CduDocumento41 páginasManual Da CduDaniel SilvaAinda não há avaliações
- Biblioteconomia e Os Ambientes de Informacao 2.inddDocumento265 páginasBiblioteconomia e Os Ambientes de Informacao 2.inddMariane Costa Pinto100% (1)
- E Book Biblioteconomia e Os Ambientes de InformacaoDocumento282 páginasE Book Biblioteconomia e Os Ambientes de InformacaoBruno AlvesAinda não há avaliações
- O MARC BIBLIOGRÁFICO - Um Guia Introdutório. Furrie, Betty.Documento48 páginasO MARC BIBLIOGRÁFICO - Um Guia Introdutório. Furrie, Betty.joelhodiego100% (2)
- Glossario de BiblioteconomiaDocumento9 páginasGlossario de Biblioteconomiaapi-3723370100% (6)
- VALENTIM Org Formacao Do Profissional Da InformacaoDocumento154 páginasVALENTIM Org Formacao Do Profissional Da InformacaomakohubnerAinda não há avaliações
- Tomael & Outros. Fontes de Informação Na Internet. Avaliação e AcessoDocumento19 páginasTomael & Outros. Fontes de Informação Na Internet. Avaliação e AcessoAlexandre CarneiroAinda não há avaliações
- CORTE ALMEIDA ROCHA LAGO Avaliacao de Softwares para Bibliotecas e Arquivos 2 EdDocumento218 páginasCORTE ALMEIDA ROCHA LAGO Avaliacao de Softwares para Bibliotecas e Arquivos 2 EdMaria Helena Xavier100% (2)
- Avaliação de Softwares para BibliotecasDocumento102 páginasAvaliação de Softwares para BibliotecasGracy Martins100% (2)
- O MARC Bibliográfico - FurrieDocumento48 páginasO MARC Bibliográfico - Furriegabits13100% (1)
- TESAURO Linguagem de Representação Da Memória Documentária PDFDocumento119 páginasTESAURO Linguagem de Representação Da Memória Documentária PDFnubinanda85% (13)
- Classificação BibliográficaDocumento29 páginasClassificação BibliográficaantenorjsnetoAinda não há avaliações
- Apostila Gustava HennsDocumento99 páginasApostila Gustava HennsViviane MartinelloAinda não há avaliações
- AACR2 EsquematizadaDocumento70 páginasAACR2 Esquematizadacristina melo100% (1)
- Temas de Pesquisa em Ciência Da Informação No BrasilDocumento341 páginasTemas de Pesquisa em Ciência Da Informação No BrasilRoger GuedesAinda não há avaliações
- Selecao de Materiais de InformacaoDocumento59 páginasSelecao de Materiais de InformacaoAna Paula Neves Longobuco100% (5)
- Escola de Chicago e Ciência da Informação:: Influências, Aproximações e ContribuiçõesNo EverandEscola de Chicago e Ciência da Informação:: Influências, Aproximações e ContribuiçõesAinda não há avaliações
- Bibliotecas Digitais ou Plataformas Digitais Colaborativas? :: Por uma Compreensão do Funcionamento das Bibliotecas Digitais (Não) Autorizadas no Espaço DigitalNo EverandBibliotecas Digitais ou Plataformas Digitais Colaborativas? :: Por uma Compreensão do Funcionamento das Bibliotecas Digitais (Não) Autorizadas no Espaço DigitalAinda não há avaliações
- Tópicos de inovação em bibliotecas e sistemas de informação: tendências, inquietações e possibilidadesNo EverandTópicos de inovação em bibliotecas e sistemas de informação: tendências, inquietações e possibilidadesAinda não há avaliações
- Competências Arquivísticas no Mercado de TrabalhoNo EverandCompetências Arquivísticas no Mercado de TrabalhoAinda não há avaliações
- Informação e redes sociais: Interfaces de teorias, métodos e objetosNo EverandInformação e redes sociais: Interfaces de teorias, métodos e objetosAinda não há avaliações
- CBO Bibliotecario PDFDocumento6 páginasCBO Bibliotecario PDFfreescholarAinda não há avaliações
- Ciencia Da Informação - UfrrDocumento78 páginasCiencia Da Informação - UfrrRegiane SilvaAinda não há avaliações
- 000728745Documento11 páginas000728745Marcelino Joao MunahiaAinda não há avaliações
- Mini Guia Disciplinas BCI PDFDocumento191 páginasMini Guia Disciplinas BCI PDFjeffersonfriasAinda não há avaliações
- SBRC MCDocumento258 páginasSBRC MCMarcelo AndersonAinda não há avaliações
- Teoria Da Informação Audiovisual Autor Ana Graciela M. F. Da Fonseca VoltoliniDocumento52 páginasTeoria Da Informação Audiovisual Autor Ana Graciela M. F. Da Fonseca VoltoliniIsaías SousaAinda não há avaliações
- Mic IiDocumento11 páginasMic IiNur Rodrigues AmadeAinda não há avaliações
- Revisão SistemáticaDocumento17 páginasRevisão Sistemáticacelio_santanaAinda não há avaliações
- FASCICULO Introducao Banco Dados 30 08Documento70 páginasFASCICULO Introducao Banco Dados 30 08Junior Castelo BrancoAinda não há avaliações
- 2006 594 643 1 PBDocumento22 páginas2006 594 643 1 PBIKE PimentelAinda não há avaliações
- Não Brigue Com A Catalogação PDFDocumento3 páginasNão Brigue Com A Catalogação PDFFabricia CristinaAinda não há avaliações
- Aula Verbo 2Documento62 páginasAula Verbo 2Fabricia CristinaAinda não há avaliações
- Apostila Oxi-Acetilenica - OxicorteDocumento93 páginasApostila Oxi-Acetilenica - OxicorteFabricia Cristina100% (1)
- Desenho Técnico Mecânico Caderno de ExerciciosDocumento47 páginasDesenho Técnico Mecânico Caderno de ExerciciosFabricia CristinaAinda não há avaliações
- Apostila Desenho Tecnico Qualificação MMDocumento170 páginasApostila Desenho Tecnico Qualificação MMFabricia CristinaAinda não há avaliações
- 1 Ajustagem MecânicaDocumento208 páginas1 Ajustagem MecânicaFabricia CristinaAinda não há avaliações
- Prova MINCDocumento8 páginasProva MINCFabricia CristinaAinda não há avaliações
- Apoio AdministrativoDocumento208 páginasApoio AdministrativoFabricia CristinaAinda não há avaliações