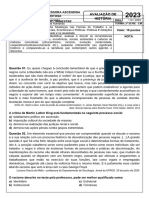Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Direitos de Raca
Direitos de Raca
Enviado por
Gustavo FordeDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Direitos de Raca
Direitos de Raca
Enviado por
Gustavo FordeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
213 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.
2004
C ota racial e Estado
C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, p. 213-239, jan./abr.2004
C O TA RAC IAL E ESTAD O : ABO LI O
D O RAC ISM O O U D IREITO S D E RA A?
C ELIA M ARIA M ARIN H O D E AZEVED O C ELIA M ARIA M ARIN H O D E AZEVED O C ELIA M ARIA M ARIN H O D E AZEVED O C ELIA M ARIA M ARIN H O D E AZEVED O C ELIA M ARIA M ARIN H O D E AZEVED O
Instituto de Filosofia e C incias H um anas da U niversidade Estadual de C am pinas
cleo@ unicam p.br
RESU M O
O objetivo deste artigo exam inar a proposta corrente de racializao da populao brasileira
pelo Estado, com vistas a am parar program as de ao afirm ativa para o atendim ento especfico
daqueles que se autodenom inarem negros. Analisa-se, inicialm ente, o ressurgim ento da noo
de raa entre acadm icos, polticos e m ilitantes do anti-racism o, bem com o as dificuldades de se
delim itar quem negro no Brasil. Em seguida, exam ina-se o m odelo de cota racial dos Estados
U nidos e seu apregoado sucesso. Por fim , busca-se avaliar at que ponto a instituio de cota
racial no em prego e na universidade deveria se im por com o a nica opo poltica para aqueles
que pretendem a abolio do racism o na sociedade brasileira.
RAA AO AFIRM ATIVA CO TA RACIAL BRASIL ESTAD O S U N ID O S
ABSTRAC T
RACIAL Q U O TA AN D G O VERN M EN T: RACISM ERRAD ICATIO N O R RACE RIG H TS?. The objective
of this article is to exam ine the current governm ent proposal of racializationin the Brazilian
population, in order to offer support to affirm ative action program s that m eet the specific needs
of those w ho classify them selves as black. Firstly w e focused on the revival of the notion of race
am ong scholars, politicians, and anti-racism activists, as w ell as on the difficulty in determ ining
w ho is black in Brazil. N ext w e exam ined the racial quota system in the U nited States and its
proclaim ed success. Finally, w e assessed the extent to w hich the introduction of racial quota in
em ploym ent and university enrollm ent should be im posed as the sole political option for those
intending to elim inate racism in Brazilian society.
RACE AFFIRM ATIVE ACTIO N RACIAL Q U O TA BRAZIL U N ITED STATES
TEM AS EM D EBA TEM AS EM D EBA TEM AS EM D EBA TEM AS EM D EBA TEM AS EM D EBATE TE TE TE TE
A O AFIRM ATIVA
214 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
A faixa com dizeres colossais foi afixada perto da entrada da Faculdade de
D ireito da U niversidade de So Paulo no Largo So Francisco: Abaixo as cotas de
80% para brancos na U .S.P.
1
. O transeunte que desconhecesse o sistem a de ves-
tibular da U SP im aginaria que para ter algum a chance de entrar na faculdade seria
preciso provar a pele branca em prim eiro lugar. Se eu sou negro de que m e
adiantaria estudar? Afinal, se a cor da pele o que im porta, de que m e adiantaria
racharpara o vestibular? Se os outros 20% forem dos negros, eu teria de rachar
para ficar apertado entre os m elhores dos negros. M elhor ento que as vagas fos-
sem distribudas eqitativam ente: 50% para brancos e 50% para negros. M elhor
seria ainda se eu pudesse concorrer a 100% das vagas. M as isso seria im possvel, j
que o que im porta em prim eiro lugar a cor da pele; ou se branco, ou se preto,
e isso que decide em que cota eu entro.
Esta um a possvel leitura da m ensagem da faixa, pois afinal, a despeito de
todos os esforos das cincias hum anas, nunca se sabe o que se passa exatam ente
na cabea das pessoas. D o m esm o m odo, parece-m e que os autores da faixa, na
m elhor das intenes anti-racistas, procuraram operar um a inverso irnica no argu-
m ento crtico da cota racial: Afinal, o que vocs esto reclam ando? Reivindicam os
apenas 20% das vagas na universidade para os estudantes negros, enquanto os bran-
cos continuaro retendo quase a totalidade das vagas. A nica diferena que, daqui
em diante, eles j no podero concorrer a 100% das vagas, im pedindo que o gru-
po racial historicam ente discrim inado tenha algum a chance de m obilidade social.
Se as m inhas duas leituras hipotticas fizerem algum sentido, term inaram os
no m esm o beco. Perdem os estudantes brancos, perdem os estudantes ne-
gros, pois ningum m ais teria o direito de concorrer a 100% das vagas m ovido
pelo seu prprio esforo, disciplina e talento, j que o quesito identidade de cor
teria precedncia sobre o m rito individual de cada vestibulando.
M as eu j posso ouvir os proponentes da cota racial a reclam ar de tanta
ingenuidade: esforo, disciplina, talento, enfim , m rito, no existem em abstrato,
assim com o no passa de um m ito a tradicional aspirao ilum inista de igualdade de
todos perante a lei. Tudo depende das oportunidades de cada um , ou m elhor, do
ponto de arrancada de cada um na grande corrida pela vida. O s m elhores, os
vencedores, sero aqueles que tiverem reunido a m aior gam a de oportunidades
j ao nascer e ao longo da vida. Este, evidentem ente, no seria o caso da populao
1 Ver foto da faixa em C apelas e Alencar, 2003, p.11.
215 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
negra brasileira, a qual tem sido vitim ada historicam ente pela pobreza e pela discri-
m inao racial inerentes ao crculo vicioso do racism o institucional
2
. Assim , se qui-
serm os contraporm o-nos ao racism o subjacente e invisvel das nossas instituies,
precisam os, em prim eiro lugar, garantir a criao de oportunidades para os negros
brasileiros, sem o que no lhes ser possvel vencer no cenrio com petitivo da
sociedade m oderna de livres e iguais perante a lei.
A proposio, portanto, dos m ilitantes anti-racistas defensores da instituio
das cotas raciais pelo Estado brasileiro visaria garantir a igualdade de todos perante
a lei m ediante o reconhecim ento da diversidade racial do grupo negro. D iferentes,
m as iguais, a verso anti-racista diferencialista do separado
3
, m as igualda cle-
bre proposio racista que em basou o sistem a de segregao racial nos estados do
sul dos Estados U nidos a partir dos anos de 1880.
N este artigo no vou, evidentem ente, discutir se o racism o brasileiro m ais
ou m enos perverso do que aquele praticado em pases nos quais as prticas racistas
so abertas, visveis e reguladas por lei. C entenas de estudos acadm icos, denncias
e artigos na im prensa, escritos da m ilitncia negra e depoim entos de vtim as do
racism o, no deixam dvida sobre a perversidade do racism o praticado institucio-
nalm ente no Brasil. Q uanto a isso no haveria o que discutir entre aqueles que se
pretendem parte das fileiras anti-racistas.
M as ouso levantar aqui trs questes: 1. a racializao pelo alto, ou seja, a
racializao im posta pelo Estado a fim de garantir a instituio em ergencial da cha-
m ada discrim inao positiva, isto , cotas raciais nos em pregos e nas universida-
des, pretende com isso alcanar a abolio do racism o? 2. o reconhecim ento de
grupos raciais, especialm ente o grupo racial negro, pela populao a partir de
2 m uito apropriada a definio de Robert M iles para se pensar o racism o institucional no Bra-
sil. Segundo ele, o conceito de racism o institucional refere-se a prticas excludentes desenca-
deadas a partir de um discurso racista anterior, silenciado posteriorm ente, m as institucionalizado
para garantir a continuidade daquelas m esm as prticas. Ver M iles (1989).
3 A expresso separado, m as igualserviu para provar a legalidade de separao das raas
branca e negra nos m ais diversos espaos pblicos dos estados sulistas sem , no entanto,
pretender-se ferir o direito igualdade dos cidados garantida pela C onstituio dos Estados
U nidos. O bviam ente, para se provar a legalidade da segregao racial era preciso assum ir o
pressuposto de que as raas existem ... Sobre a construo do sistem a segregacionista am eri-
cano, batizado com o nom e de Jim C row, ver W oodw ard (1966). Sobre os cam inhos tortuo-
sos da celebrao das diferenas entre m ilitantes de esquerda no Brasil, ver Pierucci, 1999.
Sobre os paradoxos dos anti-racism os universalista e diferencialista, ver Azevedo (2000).
216 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
um a poltica anti-racista de Estado poder ser desfeito pelo m esm o Estado quando
um dia se chegar concluso que a discrim inao positivaj surtiu o efeito dese-
jado, ou seja, a am pliao das oportunidades para todos sem distino de raa? 3.
lutar pela abolio do racism o com vistas a um a sociedade futura universalista e
por que no ousar ainda dizer, socialista ou lutar pelo reconhecim ento das iden-
tidades raciais pelo Estado dentro da sociedade com petitiva e individualista, ou seja,
a triste e esfuziante sociedade capitalista que nos restou neste com eo de sculo?
O RESSURGIMENTO TRIUNFANTE DA RAA
H ouve um tem po o tem po em que o m undo se apercebeu do holocausto
em sua plenitude em que se pensou que a noo de raa estivesse definitivam en-
te fadada a desaparecer do cenrio m undial. Em seu lugar, a noo de racism o
ganhou cada vez m aior relevo, tendo sido rapidam ente incorporada ao vocabulrio
de inm eros povos aps a sua prim eira apario nos dicionrios
4
de lngua inglesa e
francesa na dcada de 1930.
Entretanto, o que se percebe nos dias de hoje um vigoroso m ovim ento
pela retom ada da noo de raa nos m eios acadm icos e polticos internacionais.
Esse m ovim ento duplo: de um lado, tem os um a perspectiva tradicional da raciologia
alim entada por novas pesquisas cientficas tendentes a provar a existncia das raas
hum anas, bem com o suas desigualdades biolgicas e culturais
5
. C om o exem plo
desta postura, podem os citar o livro A curva do sino, cujos autores reuniram em
m ais de 800 pginas os resultados de suas pesquisas com brancos e negros nos
Estados U nidos. Aps a dem onstrao m eticulosa de m uitos grficos, quadros e
estatsticas, e farto uso dos resultados de testes de inteligncia, pretendeu-se com -
provar a inferioridade m ental dos negros am ericanos. Seu apelo final aos leitores
para que cada um reconhea a sua identidade racial, e, em conseqncia disso, o
seu lugar na hierarquia social, dando-se ensejo a um a sociedade harm oniosa a des-
peito de suas desigualdades (H errnstein, M urray, 1994).
M as, por outro lado, deparam o-nos com a crescente difuso de um a nova
perspectiva da raciologia entre acadm icos e polticos que se definem com o liberais
4 Sobre os term os raa e racism o, ver M iles (1989) e D elacam pgne (1983).
5 Raciologia, segundo Paul G ilroy, designa o m odo pelo qual a m odernidade catalizou distintos
regim es de verdade, ou seja, os m odos com o raasparticulares foram historicam ente inven-
tadas e socialm ente im aginadas, engendrando-se um discurso sobre elas. Ver G ilroy (2000).
217 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
ou de esquerda. A novidade dessa perspectiva o reconhecim ento da existncia
social das raas hum anas e a defesa de polticas de ao afirm ativa capazes de insti-
tuir esquem as de discrim inao positivaem favor dos grupos raciais historicam en-
te discrim inados. Para exem plificar tal postura, recorro s palavras de G oldberg:
Q uero sugerir que em bora a raa tenha tendido historicam ente a definir condies de
opresso, ela pode, sob um a interpretao culturalista (...) ser o lugar de um contra-
ataque, um solo ou cam po para deslanchar projetos de libertao ou a partir do qual
se poderia expandir a(s) liberdade(s) e abrir espaos em ancipatrios. (1995, p.211)
Essa perspectiva, porm , revela um a espinhosa tenso interna, pois com o
atacar a form idvel herana racista das teorias raciais cientficas no im aginrio coletivo
e ao m esm o tem po reafirm ar a existncia social das raas hum anas? O raciocnio aqui
sem pre tortuoso: sim , verdade, a raa no passa de um a inveno de elites racis-
tas, m as ela de fato existe em term os sociais e sim blicos; se quiserm os libertarm o-
nos do racism o, precisam os afirm ar a raa, porm , com fins benficos. H ainda um a
sada tem porria para um tal im brglio: m elhor em pregar a palavra etnia em lugar de
raa; a raa j est por dem ais saturada de conotaes biolgico-racistas, etnia m ais
cultural, m enos naturalizada, em bora saibam os que a raciologia nunca deixou de
associar biologia e cultura ao definir as caractersticas de cada grupo racial
6
.
M as para os que ainda se ressentem da tortuosidade de tais raciocnios, nada
m elhor do que buscar refgio na designao m ista tnico-racialque, ao final, ape-
nas serve para reafirm ar o que se quis dizer de incio: sim , sentim os m uito, m as as
raas existem e no h com o escapar desta inveno m acabra da m elhor cincia
desenvolvida ao longo dos sculos X IX e X X . C om o bem observou Pierucci,
N o fundo, tudo se passa no cam po das esquerdas com o se aqueles que defendem
a diferena e a celebram soubessem que transportam um a carga explosiva que, m al
usada, pode detonar um potencial destrutivo cujos alvos sero, com toda a certeza,
os indivduos e os grupos m ais frgeis, subordinados, oprim idos, discrim inados e
estigm atizados que de sada se queria defender, prom over, resgatar, libertar e assim
por diante. (1999, p. 49)
6 J no sculo X IX , pretendia-se que o term o etnia designasse um m odo de associao form a-
do a partir de laos intelectuais com o a cultura ou a lngua em contraposio ao term o raa,
o qual servia para designar caractersticas m orfolgicas tais com o altura, ndice enceflico etc.
e, tam bm , qualidades psicolgicas. Ver a respeito: Poutignat, Streiff-Fenart (1995).
218 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
Pragm ticos, os porta-vozes desta postura de retom ada da noo de raa
para fins benficos reconhecem a sua sujeio inicial aos pressupostos conceituais
de um a cincia com prom etida com a explorao e a opresso dos povos africanos,
asiticos, indgenas. N essa perspectiva, G uim ares aponta para a necessidade de
teorizar as raascom o elas so, ou seja, constructos sociais, form as de identidade
baseadas num a idia biolgica errnea, m as socialm ente eficaz para construir, m an-
ter e reproduzir diferenas e privilgios(1999, p.64).
Assim , nesse trabalho de teorizao das raas, convenientem ente entre aspas
para denotar a sua precria verdade, caberia aos cientistas sociais destituir o concei-
to de raa de sua fundam entao biolgica e dot-lo, doravante, de significado so-
ciolgico, relacionado a um a certa form a de identidade social(G uim ares, 1999,
p.68). O u com o enfatizam O m i e W inant: Ao reconhecerm os a raa, poderem os
desenvolver a viso e a m obilizao poltica necessrias para tornarm os os Estados
U nidos um a sociedade m ais justa e igualitria em term os raciais (1994, p.159).
M as qual seria esta certa form a de identidade social, visualizada por G uim a-
res, que deve estar positivam ente relacionada ao conceito sociolgico de raa?
Para ele, a nica form a de identidade social possvel seria aquela nascida da oposi-
o identitria binria branco/negro, m ais precisam ente aquela que se constri nos
term os raciaispropostos por O m i e W inant, para os Estados U nidos, e reafirm a-
dos pelos resultados de pesquisas estatsticas da populao brasileira. Segundo G ui-
m ares, censos e pesquisas am ostrais por dom iclios tm dem onstrado que no h
diferenas entre os grupos no-brancosentre si, ou seja, pardose pretosem
m atria de renda, educao, residncia etc. A grande diferena ocorre entre bran-
cos e no-brancos. Logo, se os cientistas sociais quiserem afirm ar os interesses e
valores do povo negro brasileiro preciso dar vida nova ao conceito de raa, tal
com o usado no senso com um (G uim ares, 1999, p.66-68).
H , neste ltim o raciocnio de G uim ares, dois aspectos com plicados e que
parecem deslizar perigosam ente num pntano totalitrio com pretenses hum anistas.
Em prim eiro lugar, tem os a voz do cientista social, ou o discurso da com petncia,
postulando-se com o aquele que sabe quais so os verdadeiros interesses e valores
do povo negro brasileiro
7
. Em segundo lugar, encontram os o cientista social que se
7 Inspiro-m e aqui em M arilena C hau para pensar que O discurso com petente o discurso
institudo. aquele no qual a linguagem sofre um a restrio... no qualquer um que pode
dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstncia. Sub-
219 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
subsum e quilo que ele reconhece (ou m elhor, que ele seleciona) com o de senso
com um a percepo da raaentre a populao, ou a diferena negro/branco
para to-som ente reafirm -lo (M iles, 1989, p. 72).
Estes dois aspectos crticos de um estranho anti-racism o, que pretende im -
por a consolidao da raano im aginrio social, a partir das prticas com binadas
do saber das cincias hum anas e do poder de Estado, so caractersticos do discur-
so anti-racista diferencialista. M as para que o triunfo da raa seja com pleto preciso
antes construir a figura de um povo negro brasileirocujos interesses e valores
m onolticos apontam para um a identidade racial to essencializada em term os socio-
lgicos quanto um dia ela foi pensada em term os biolgicos.
POLTICAS DE AO AFIRMATIVA E SUA CHAVE MESTRA: A COTA
RACIAL
O debate sobre as polticas de ao afirm ativa, cuja chave m estra a cota
racial, tem exposto repetidam ente um a assertiva: o racism o s pode ser com batido
se o Estado reconhecer a existncia real das raas no cenrio social. A defesa do
editor Siegfried Ellw anger, cidado brasileiro, acusado de com eter o crim e de racis-
m o por publicar livros de teor anti-sem ita e sim pticos ao nazism o, fez am plo uso
desta assertiva. Segundo W erner Becker, advogado de Ellw anger, o ru no pode-
ria ser condenado pelo crim e de racism o pela sim ples razo de que os judeus no
constituem um a raa. O ra, indagou o advogado perante o Suprem o Tribunal Fede-
ral, se esta ltim a um a afirm ativa defendida pelos m ais em inentes judeus, por
que o ru deveria ser condenado pelo crim e de racism o? (Becker, 2003, p.3).
A Suprem a C orte dos Estados U nidos julgou um caso sem elhante h alguns
anos. Em m aio de 1987, os juzes indagaram -se a respeito de judeus e rabes serem
ou no racialm ente distintos dos caucasianos, term o ainda m uito utilizado naquele
pas para designar m em bros da raa branca. Em caso de resposta negativa, a con-
cluso seria que a Lei dos D ireitos C ivis no poderia aplicar-se ao julgam ento de atos
de discrim inao sofridos por eles. C om o observou Barbara Jeanne Fields, havia algo
im plcito nessa retom ada pela Suprem a C orte de conceitos racistas do sculo X IX .
Trata-se do costum e vigente entre os am ericanos de se pensar nos negros com o a
m etido a esse discurso, o hom em passa a relacionar-se com a vida, com seu corpo, com a
natureza e com os dem ais seres hum anos atravs de m il pequenos m odelos cientficos nos
quais a dim enso propriam ente hum ana da experincia desapareceu(1981, p.7, 12).
220 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
nica raa, sendo, portanto, os nicos a serem protegidos pela Lei dos D ireitos
C ivis. Assim , ao invs de considerar que a discrim inao contra quem quer que seja
intolervel num a dem ocracia, os juzes preferiram reentronizar o dogm a racial su-
persticioso do sculo X IX para julgar esse caso (Fields, 1990, p.97).
Q uanto atual controvrsia em torno da introduo da cota racial na univer-
sidade e na esfera pblica em geral, encontram os os term os raa e racism o de tal
form a entrelaados que se torna difcil im aginar a possibilidade de com bater o racis-
m o sem ao m esm o tem po assum ir o pressuposto da existncia real da raa negra.
N esse raciocnio, podem os distinguir trs passagens bem definidas:
1. os negros brasileiros constituem um grupo diferente da populao brasilei-
ra (ora se diz grupo racial, ora etnia);
2. racism o reproduz e perpetua as desigualdades de raa;
3. grupo racial negro tem sido atingido pelo racism o.
D esenvolvidas estas trs prem issas, a concluso aponta para um a soluo
incontornvel: o nico m odo de com bater o racism o seria definir polticas de ao
afirm ativa que estabeleam cotas raciais para contem plar positivam ente o grupo
racial negro. a cham ada discrim inao positiva, ou, num term o m ais cordial, a
criao de oportunidades para a raa negra.
Em m inha opinio, o conjunto das trs prem issas form a um raciocnio falacioso
por partir da noo de raa e tornar o racism o um m ero term o derivado daquela
noo, a tal ponto que perdem os a dim enso histrica da construo im aginria das
raas. M eu raciocnio bem outro: o racism o no deriva da raa, ou m elhor, da
existncia objetiva da raa, seja em term os biolgicos ou culturais. O racism o cons-
tituiu-se historicam ente em diferentes contextos sociais do m undo m oderno, siste-
m atizando-se com o um a prtica discursiva, m edida que as teorias raciais cientfi-
cas im puseram a noo de raa com o verdade. o racism o que cria a raa; ou dito
de outro m odo, o racism o que opera o processo social e cultural de racializao.
Esse processo de racializao das pessoas que com pem um a dada sociedade al-
cana pleno sucesso sobretudo quando conta com o apoio form al do Estado na
construo de um a ordem racial explcita
8
.
8 Sobre a inveno da idia de raa com o elem ento-chave da em ergncia do racism o com o
prtica discursiva da m odernidade, ver Azevedo (2002).
221 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
N este ponto, im portante lem brar a proposio de M iles sobre a necessida-
de de rom per o lao conceitual entre o racism o e o discurso sobre a raa. Em pa-
lavras eloqentes, ele denuncia o em prego da noo de raapelas cincias hum a-
nas: ...os cientistas sociais (inclusive m uitos que se definem com o m arxistas...) tm
prolongado, perversam ente, a vida de um a idia que deveria ser explcita e consisten-
tem ente confinada poeira dos term os analiticam ente inteis(1989, p. 72).
D o m esm o m odo, G ilroy prope aos cientistas sociais e com batentes do
racism o que renunciem raa com o instrum ento analtico. Para ele, preciso
deixar de lado o ritual piedosoem que sem pre concordam os que a raa in-
ventada para em seguida aceitar o seu im bricam ento no m undo. Em sum a, a ao
poltica contra as hierarquias sociais seria m uito m ais efetiva caso fosse expurgada
de qualquer respeito pela idia de raa(2000, p.13, 51-52).
D e m odo irnico, o problem a que tem dado asas controvrsia sobre a
introduo da cota racial na sociedade brasileira que o conceito de raa no existe
to solidam ente im plantado no nosso im aginrio com o ocorre nos Estados U nidos.
C om o nunca tivem os em nossa histria de nao independente um Estado segrega-
cionista form al, as categorias de raa nunca foram im plantadas explicitam ente por
lei. Em conseqncia disso, a populao brasileira nunca foi obrigada por determ i-
naes legais a identificar-se racialm ente. Ao contrrio dos Estados U nidos e da
frica do Sul, o nacionalism o brasileiro alim entou-se do m ito da dem ocracia racial,
o qual j vinha sendo reconhecido e alardeado desde a prim eira m etade do sculo
X IX em pases com o os Estados U nidos, a Frana e a Inglaterra
9
. O preconceito de
no ter preconceito
10
to generalizado entre ns que ainda hoje h os que se
surpreendem em encontrar herisda nossa histria a esbanjar term os racistas
finam ente com pilados da raciologia cientfica do sculo X IX (Azevedo, 2001a).
A concluso que m uitos tiram desta constatao de que o Estado brasileiro
nunca obrigou a populao a definir-se racialm ente em term os form ais que no
seria possvel com bater o racism o na ausncia de tais categorias raciais. M as, com o
vim os, este raciocnio explica-se a partir do pressuposto de que o racism o deriva da
raa, ou m elhor, da existncia real das raas e da conseqente dom inao de um a
9 Sobre a form ao do m ito da dem ocracia racial em m eio ao m ovim ento abolicionista interna-
cional, ver Azevedo (2003); para um a com parao sobre o papel do Estado na estruturao
da ordem racial nos trs pases, consultar M arx (1998).
10 A expresso preconceito de no ter preconceito de Florestan Fernandes (1971), ao sin-
tetizar o problem a do m ito da dem ocracia racial.
222 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
raa por outra, seja em term os biolgicos ou sociais. Assim , se quisesse provar seu
em penho anti-racista no cenrio internacional, o Estado precisaria criar raas onde
elas ainda no existem to nitidam ente delineadas, m ais precisam ente, no im agin-
rio social brasileiro.
QUEM NEGRO? A PALAVRA FINAL COM OS JUZES DA COR
N o h nada que deixe m ais irado um proponente do anti-racism o diferen-
cialista do que lanar a questo de com o definir o negro no Brasil. D e fato, todo o
debate sobre as cotas raciais tem partido e girado em torno desta sim ples pergunta:
com o definir negroem terras onde m uitos se orgulham de ser m orenos?
verdade, o fantasm a de G ilberto Freyre anda perigosam ente s soltas a
infernizar as vidas daqueles que s conseguem discernir preto e branco entre as
m uitas cores com que a populao brasileira insiste em se colorir. Acastanhada,
agalegada, alva-escura, azul-m arinho, bem -clara, bem -m orena, branca-queim ada,
cor-de-caf, cor-de-canela, cor-de-rosa, cor-firm a, jam bo, laranja, m elada, m eio-
m orena, m orena-bem -chegada, rosa, roxa, sarar, trigueira, verde... estas so al-
gum as das cores saborosas com que se tingiram os entrevistados da Pesquisa N acional
por Am ostra de D om iclios PN AD , realizada pelo IBG E em 1976. N o h
com o no adm irar (e aplaudir) esta dem onstrao de bom hum or e de irreverncia
em relao racializao, que perguntas sobre a identidade de corcobram a cada
passo, m esm o que na form a suave de auto-atribuio. Ao final, com pilada um a
longa lista de 135 cores e diante de um a tal engenhosidade popular, os pesquisado-
res viram -se s voltas com o seguinte problem a: ou desistiam sim plesm ente da
varivel cor, ou restringiam as possibilidades im aginativas dos entrevistados, desig-
nando um conjunto de opes para a varivel cor. C oncluiu-se, assim , pela im po-
sio de um quadro fechado de term os racializadores, capazes de podar pela raiz a
am bigidade das respostas livres e criativas da populao. Sem isso, no haveria
condies para desenvolver estatsticas precisas e seguras... A partir da, decidiu-se
que o brasileiro a ser recenseado pode ter apenas cinco cores: branca, parda, ne-
gra, indgena, am arela
11
.
M as o problem a da am bigidade contida nos nm eros persiste m esm o adota-
da esta soluo. Ao cham ar a ateno para a pretensa objetividadedos censos, Edith
11 Ver lista de 135 cores em Turra e Venturi (1998, p. 33-35).
223 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
Piza e Flvia Rosem berg citam um a pesquisa de percepo de corentre recensea-
dores. Aps exam inar 34 fotos de jovens de am bos os sexos e de tipos fsicos diver-
sos, os recenseadores divergiram quase totalm ente nas suas respectivas atribuies
de cor, havendo unanim idade apenas em relao a dois casos. M esm o levando em
considerao que o IBG E adota o princpio de autoclassificao, as autoras sugerem
que pode ocorrer um a dissonncia entre o reconhecim ento de si m esm o e o re-
conhecim ento atravs do olhar do outro(Piza, Rosem berg, 2002, p. 105-106). Se
tiverm os em m ente, com o bem lem bram as autoras, que a cor (ou pertencim ento
racial) que algum se atribui confirm ada ou negada pelo olhar do outro, pode-
m os aventar que na interao im pessoal de entrevistador e entrevistado, a cor es-
colhida entre as opes oferecidas pelo prim eiro pode ser aquela que o segundo im a-
gina ser-lhe-ia atribuda pelo outro.
N a m esm a linha de reflexo que alerta para o problem a da im posio de ca-
tegorias raciais sobre a populao, um a equipe de quatro pesquisadores recenseou
os habitantes de um a pequena cidade da Bahia para averiguar os efeitos de se usar a
palavra pardoem lugar de m oreno, term o este m uito em pregado pelos entre-
vistados da PN AD de 1976. C onstataram a preferncia dos entrevistados de se auto-
identificarem com o m orenosem vez de pardos, e concluram que da m esm a
m aneira que a discrim inao percebida com o um a questo de direitos civis, tam -
bm deveria ser visto desse m odo o direito de os indivduos definirem -se de acordo
com o seu prprio senso de identidade (H arris et al., 1993, p. 451-462)
12
.
C ontudo, o term o pardotem sido usado oficialm ente nos registros de
nascim ento dos brasileiros j h m uito tem po, tendo sido retom ado pelo IBG E, a
partir do C enso de 1980, para designar aqueles que escapam linha de cor im agi-
nria preto/branco. Segundo explicou N elson do Valle Silva, o term o m orenofoi
descartado por ser por dem ais am bguo, um a vez que ele se pode referir tanto
cor da pele, com o cor dos cabelos dos entrevistados. J o term o pardoperm i-
tiria um a m edio m ais exata em relao cor da pele com a qual se identificam os
entrevistados, cor da pele aqui vista com o sinnim o de pertencim ento racial. A que
ponto podem chegar os m alabarism os m entais dos cientistas sociais em penhados
em provar a existncia objetiva das raas! (Silva, 1988, p.146).
M as, afinal, com o definir o negro, se tantos insistem em se cham ar de
m orenos, e outros tantos so designados oficialm ente pardos? Para os propo-
12 O s quatro pesquisadores so: M arvin H arris, Josildeth G om es C onsorte, Joseph Land e Bryan
Byrne.
224 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
nentes das cotas raciais, este um problem a inescapvel devido sua difcil defini-
o. Bem , nem todos diriam que to difcil. D urante um debate sobre racism o no
Brasil, um m ilitante negro levantou-se com um a resposta decisiva: se vocs no
sabem quem negro no Brasil, perguntem ao prim eiro policial que encontrarem !
A resposta, claro, recebeu m uitos aplausos, inclusive os m eus, pois sabem os j de
longa data que os jovens negros so os preferidos para sofrerem todos os vexam es
e violncias em um a batidapolicial noturna.
C ontudo, as 135 designaes de cor obtidas pela PN AD , assim com o os
492 term os de cor obtidos em outra pesquisa de M arvin H arris, esto a dizer-nos
que, para alm da dim enso repressiva da polcia, existe um a dim enso de convi-
vncia hum ana profundam ente enraizada no cotidiano cultural brasileiro e que no
pode ser sim plesm ente descartada pela cham ada engenharia socialde um Estado
que se pretende dem ocrtico
13
. N esta dim enso de convivncia hum ana, aberta e
fluida, encontram os diferentes m odos de classificao das aparncias m tuas, de-
pendendo do contexto especfico em que as pessoas se relacionam .
Segundo Peter Fry, podem os encontrar diferentes m odos de classificao
pela aparncia das pessoas no cotidiano brasileiro. O m ais com um o m odo m l-
tiplo com suas centenas de term os a que j m e referi. M as h tam bm o m odo
bipolar negro/branco e um terceiro, m ediano, que inclui alm do negro e do bran-
co, o m ulato. Todos esses m odos fazem a convivncia hum ana num a sociedade
em que o racism o, a despeito de im pregnar as instituies e as prticas do cotidia-
no, jam ais se explicitou em lei. Assim , com o explica Fry, tudo depende da situao
vivenciada por algum : em situao de conflito aflora a bipolaridade popular, m as
nem por isso se deixa de conviver com o m odo m ltiplo de classificao, o qual em
sua infinita variao situacional perm ite aquilo que ele denom ina desracializao da
identidade individual(Fry, 1995-1996, p.132).
D iante de tais dificuldades para se chegar a um denom inador com um sobre
quem negro no Brasil, m uitos m ilitantes anti-racistas concluram que no have-
ria outro cam inho a no ser apelar para um a interveno do Estado nas instituies
im pregnadas de racism o, bem com o nas prticas ora desracializantes, ora racializantes
13 H arris et al., 1993, p. 452. Em 1970, H arris realizou um a pesquisa de percepo de fentipo
entre 100 pessoas. C ada um a delas exam inou as figuras de 36 hom ens e 36 m ulheres com
fentipos m uito diversos e identificou-as em term os de identidade racial. M ais um a vez,
centenas de term os apontaram para a engenhosidade popular avessa racializao bipolar
preto/branco em m atria de auto-identificao.
225 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
da sociedade civil. C om o bem lem bra Valter Roberto Silvrio, a presena do Esta-
do foi decisiva na configurao de um a sociedade livre que se funda com profunda
excluso de alguns de seus segm entos, em especial da populao negra(Silvrio,
2002, p. 225). D e fato, o grande acontecim ento da im igrao europia no Brasil,
em fins do sculo X IX , contou com o papel decisivo de polticos im igrantistas cujos
argum entos explicitam ente racistas apontavam para a necessidade de um a purifi-
caoda populao nacional associada em dem asia com os vciose a inferiori-
dadeda raa negra(Azevedo, 1987).
C ontudo, o m esm o Estado que assegurou o sucesso da poltica im igrantista
racista no precisou apelar para polticas de segregao form ais, o que significa que
a populao brasileira jam ais foi convocada para um a classificao racial forada,
dando-se assim livre curso difuso do m ito da dem ocracia racial brasileira. D eve-
m os, a partir disso, concluir que a prom oo da igualdade de todos os cidados, tal
com o determ inada pela C onstituio de 1988, s poder ser assegurada se o Esta-
do instituir polticas pblicas que obriguem a populao a se definir de acordo com
o m odo bipolar de classificao racial?
Kabengele M unanga (2001, p.35), entre diversos outros defensores das po-
lticas de ao afirm ativa com delim itao de cota racial, assegura que a prpria
C onstituio de 1988 determ ina a discrim inao positiva, com vistas a am parar
m edidas legislativas e adm inistrativas destinadas a garantir a igualdade racial na socie-
dade brasileira. Para am parar esta interpretao da C onstituio, ele cita as palavras
do Relatrio que foi levado pelo C om it N acional 3 C onferncia M undial das
N aes U nidas contra o Racism o, D iscrim inao racial, xenofobia e intolerncia
correlata, realizada em D urban, na frica do Sul, em 2001. M as se form os ao texto
da C onstituio, encontrarem os artigos que probem a discrim inao de qualquer
tipo e a definio da prtica do racism o com o crim e inafianvel e im prescritvel. J
na pgina de abertura do texto constitucional encontram os entre os objetivos fun-
dam entais da Repblica Federativa do Brasil: prom over o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem , raa, sexo, cor, idade e quaisquer outras form as de discrim i-
nao(Ttulo I, art. 1, IV)
14
.
14 H dio Silva Jnior lem bra que a C onstituio de 1988 no probe a adoo de m edidas espe-
ciais que prom ovam a igualdade. C ontudo, significativo que este estudioso da questo do
racism o nas diversas constituies brasileiras no tenha enveredado pela proposio de que a
atual C onstituio perm itiria a discrim inao positiva, isto , a definio de cotas raciais no
em prego e na universidade. Ver artigo de Silva Jnior (2000, p. 359-387). Silva Jnior favo-
rvel classificao racial dos brasileiros pelos orgos de Estado em outro artigo (2002, p. 3).
226 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
N o h, portanto, em m inha opinio, nada no texto constitucional que per-
m ita a instituio legal da discrim inao positiva. M as para alm do respeito
C onstituio, se quiserm os construir um a sociedade dem ocrtica, im porta cham ar
a ateno para a questo da interveno do Estado no cotidiano da sociedade civil.
Seria legtim o forar a classificao racial da populao, im pondo sobre o seu dia-a-
dia o m odo bipolar negro/branco, m esm o que o legislador se pautasse pelas m e-
lhores intenes anti-racistas?
15
O s defensores da cota racial parecem no ter dvi-
das sobre isso. M as com o ocorre com todo sistem a de classificao forada da
populao, logo surge a suspeita de fraudede identidade. C om o im pedir que
brancos se finjam de negros e tirem vantagem das cotas raciais, ganhando em pre-
gos ou vagas nas universidades custa de outros que seriam realm ente negros?
A resposta que tem sido dada a esta pergunta por diversos proponentes da
cota racial tem sido to sim ples quanto pode ser o raciocnio autoritrio: organizem -
se com its de julgam entoem cada instituio, as quais ficariam encarregadas de
exam inar a veracidadedo pertencim ento racial declarado pelo candidato ao em -
prego ou vaga em universidade. Seria interessante, se no fosse trgico, acom pa-
nhar o trabalho de um a dessas com isses de juzes da cor. M uito provavelm ente,
eles teriam de aprender com os funcionrios encarregados desse servioao tem -
po do apartheid da frica do Sul. Em casos de dvidas quanto origem racial de um
exam inado de pele clara dem ais, aplicava-se o teste do pente: pente enroscado
no cabelo era sinal de negro; m as, pente deslizando para o cho, sinal de branco...
16
U m ltim o problem a persiste para os proponentes das cotas raciais: o que
fazer com os m ulatos, ou seja, aqueles que os herdeiros atuais da antiga fico
cientfica das raas identificam com o am bguos em dem asia para perm itir o perfeito
funcionam ento das cotas raciais? Assim , Kabengele M unanga refere-se aos cham a-
dos m ulatos:
O s cham ados m ulatos tm seu patrim nio gentico form ado pela com binao dos
crom ossom os de brancoe de negro, o que faz deles seres naturalm ente
15 Eunice R. D urham lem bra que a opo por um a ou outra categoria (branco/negro) a ser feita
no sistem a de cotas, m esm o sendo voluntria, j im plica violncia, j que as pessoas podem
no se reconhecer com o parte nem de um a nem de outra dessas divises artificialm ente
criadas(D urham , 2003, p.8).
16 Paul C oquerel, outubro 1997. Para propostas de com it ou com isso de julgam ento da cor
dos candidatos, ver entrevistas com : H lio Santos, dezem bro 2002; e Roberto M artins, 30
junho 2003.
227 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
am bivalentes, ou seja, a sim biose de um e de outro, do brancoe do negro... os
m estios so parcialm ente negros, m as no o so totalm ente por causa do sangue
ou das gotas de sangue do branco que carregam . O s m estios so tam bm brancos,
m as o so apenas parcialm ente por causa do sangue do negro que carregam .
Se no plano biolgico, a am bigidade dos m ulatos um a fatalidade da qual no
podem escapar, no plano social e poltico-ideolgico, eles no podem perm anecer
um e outro, brancoe negro; no podem se colocar num a posio de indife-
rena ou de neutralidade quanto a conflitos latentes ou reais que existem entre os
dois grupos, aos quais pertencem , biolgica e/ou etnicam ente. (2002, p.19-20)
C om o vem os, o autor no tem dvidas sobre a existncia real, biolgica, das
raas, assim com o no tinham o C onde de G obineau, Louis Agassiz, Francis G alton,
Paul Broca e tantos outros hom ens ilustres da cincia racista do sculo X IX . Por
isso, ele ao m enos no precisa enveredar por m uitos exerccios da m ente para
construir um a teoria sociolgica sobre a existncia social das raas a exem plo de
Antonio Srgio G uim ares e outros defensores das cotas raciais. A concluso de
Kabengele M unanga lm pida e certa: se pela biologia o m ulatopertence ao
branco e ao negro [no seria bom contar exatam ente quantos crom ossom os de
cada lado?], em term os sociais ele deve identificar-se com o segundo por um a
questo de solidariedade poltica com a m aior vtim a da sociedade com a qual se
identificam e so identificados(2002, p. 20). N o preciso m uito para concluir
que as cotas raciais dariam um bom em purro naqueles que ainda hesitassem em
tirar o av do arm rio e, em pouco tem po, teram os estabelecido no Brasil a bipo-
laridade negro/branco a exem plo do to alardeado bem -sucedido sistem a racial
one drop rule (isto , um a s gota de sangue) que em basa as polticas de ao afirm a-
tiva dos Estados U nidos. M as ser m esm o to bem -sucedido?
COTA RACIAL DOS ESTADOS UNIDOS E SEU APREGOADO SUCESSO
Em debate recente na U niversidade Estadual de C am pinas, um m ilitante
socialista afirm ou que a poltica de cota racial contribuiria decisivam ente para acir-
rar as contradies do capitalism o. U m passeio rpido pelos guetosnegros, ou
ainda pelas prises e corredores da m orteda dem ocracia am ericana, talvez pu-
desse despertar algum a dvida nesse fervoroso socialista quanto possibilidade de
se usar a cota racial com o arm a contra o capital. M as, para isso, j no bastaria ver
na tev a C onselheira de Segurana N acional C ondoleezza Rice e o Secretrio de
Estado C olin Pow ell, rebentos ilustres da cota racial, alados m isso de co-autores
228 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
da poltica racista e im perialista do presidente Bush? Bem , responderia o m ilitante
socialista, so traidores, m eros traidores da raa.
Esta no um a questo, contudo, que possa ser descartada to facilm ente
pelos defensores da cota racial no Brasil. N o im enso debate sobre o sucesso ou
fracasso das polticas de ao afirm ativa, que se desenrolou na ltim a dcada nos
Estados U nidos, h um a afirm ativa constante, reconhecida at m esm o pelos defen-
sores da cota racial: as polticas de ao afirm ativa beneficiaram sobretudo pessoas
pertencentes classe m dia negra, deixando intocado o problem a da pobreza da
m aior parte da populao negra am ericana.
interessante lem brar aqui a opinio de dois historiadores am ericanos cha-
m ados pelo governo Fernando H enrique C ardoso para integrar o sem inrio
M ulticulturalism o e Racism o, realizado em Braslia, em 1996. A ordem do presiden-
te era para que os participantes usassem do seu poder de inveno e pensassem
em solues para o racism o brasileiro (Souza, 1997, p.16). G eorge Reid Andrew s
e Ronald W alters deixaram claro que a grande inveno am ericana a cota racial
tinha funcionado at certo ponto. Andrew s desfiou grande quantidade de dados para
m ostrar o crescim ento notvel da classe m dia negraem conseqncia das pol-
ticas de ao afirm ativa. Esclareceu, porm , que a classe m dia negra no foi um a
criao das polticas de ao afirm ativa, um a vez que ela sem pre existiu nos Esta-
dos U nidos, com um a base econm ica nas em presas e instituies negras criadas
durante o perodo da segregao. M as alm da enorm e hostilidadeque os incen-
tivos aos afro-descendentes tm despertado na populao branca, as polticas de
ao afirm ativa deixaram m ostra um lado m uito negativo, um a vez que no foram
inclusivas o suficiente para abarcar toda a populao negra.
Enquanto a classe m dia negra cresceu nos anos 1970 e 1980, esse crescim ento no
reduziu a porcentagem das fam lias negras pobres, que tem oscilado em torno de 30%
da populao negra, entre 1965 e hoje. A porcentagem das fam lias negras com ren-
dim entos inferiores a U S$ 15 m il (em dlares constantes de 1993) tam bm se m an-
teve em torno de 33% e 34% , desde 1970 at 1990, para depois atingir nveis en-
tre 37% e 38% , na prim eira m etade dos anos 1990. (Souza, 1997, p.138-139)
Em sum a, de acordo com os dados apresentados por Andrew s, as polticas
de ao afirm ativa sim plesm ente no existiram para os cidados negros pobres.
M uitos deles caram , at, abaixo da linha de pobreza, assinalada pela m eno aos
rendim entos inferiores a U S$ 15 m il anuais, engrossando o nm ero de pessoas
229 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
sem teto que hoje vivem acam pados em parques, em pores insalubres, ou esm o-
lando pelas ruas das grandes cidades am ericanas sem nenhum dos direitos bsicos
de vida que a C onstituio lhes deveria garantir
17
.
W alters, tam bm sim ptico cota racial, concorda com Andrew s, m as lem -
bra aos crticos que no se pode cobrar da ao afirm ativa algo a que ela nunca se
props: a ao afirm ativa jam ais teve por objetivo ser o program a exclusivam ente
designado para dim inuir a pobreza das classes inferiores. Alm disso, com o lem bra
ele dentro de um a estrita argum entao liberal, a culpa da pobreza deve ser busca-
da nas foras de m ercado: o enfraquecim entoda econom ia, com binado com a
elim inao ou enfraquecim ento de program as federais e estatais para enfrentar a
pobrezanas ltim as dcadas, tem produzido a expanso da pobrezana socieda-
de am ericana (Souza, 1997, p.117). O u seja, o m ercado produz a pobreza; e a
poltica acom panha o m ercado... O que diria agora o nosso m ilitante socialista en-
tusiasta da cota racial?
Possivelm ente, a m elhor resposta para quem no esteja to preocupado
com o problem a da pobreza e da m isria no Brasil, ou em acirrar as contradies
do capitalism o, encontre-se nas palavras efusivas de C arvalho:
A no h nenhum a discusso do capital, nenhum a proposta socialista, nenhum a
proposta renovadora da ordem do capital; todo m undo pode acum ular riqueza. M as,
digam os assim , celebra a diversidade. Seja com o for, pelo m enos alguns passaram a
ser bilionrios: ndios bilionrios, latinos bilionrios, negros bilionrios. (2001, p. 19)
interessante lem brar aqui que num sim psio prom ovido em 1995 pela
revista de esquerda am ericana D issent, as opinies favorveis ou contrrias polti-
ca de preferncia racial deixaram claro que este no foi um cam inho inevitvel da
luta contra o racism o. Joanne Barkan afirm a que os lderes do m ovim ento dos direi-
tos civis dos anos de 1960 viam com suspeita as propostas de polticas anti-racistas
de teor diferencialista.
17 Para os que quiserem constatar com o vivem alguns dos sem tetoam ericanos, sugiro um
passeio pelos belos (e tristes) jardins litorneos de Santa M nica, na C alifrnia, prxim o de
Los Angeles e da fam osa praia de M alibu. L o turista brasileiro poder com provar que a
m isria am ericana feita de todas as cores e sexos, entre jovens e idosos, sem distino.
Tratarei adiante da denncia de que tam bm os brancos pobres foram abandonados pelos
poderes pblicos dos Estados U nidos. O utra fonte im portante para se perceber a dim enso
da m isria da populao negra nos Estados U nidos o livro de Loc W acquant (2001).
230 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
M artin Luther King Jr. e outros percebiam os vrios pontos fracos das preferncias
raciais: social (criariam ressentim ento branco e agravariam as tenses raciais), polti-
co (m inariam as coalizes progressivas potenciais), psicolgico (estigm atizariam os
beneficirios), e m oral (resultariam em discrim inao racial reversa). Pelo contrrio,
estes lderes aconselhavam a reform a da econom ia de m odo a criar um a igualdade
substancial de oportunidades para todos os am ericanos. (Barkan, 1995, p. 461)
Em sum a, os lderes do m ovim ento dos direitos civis propunham reform as
radicais econm icas com binadas com a execuo rigorosa de leis antidiscrim inao.
M as, explica Barkan, o declnio estrutural da econom ia a partir de 1970 no perm i-
tiu a concretizao dos sonhos de King Jr. e do resto da esquerda dem ocrtica
18
.
Barkan faz, ainda, um a observao im portante e que nos perm ite refletir
sobre o atual m om ento vivido pela econom ia brasileira: o perodo da deteriorao
econm ica coincidiu com a era da ao afirm ativa. D evido ao declnio econm ico,
nada m ais teria restado a fazer a no ser instituir este pequeno e defeituoso instru-
m ento, a ao afirm ativa com o poltica de preferncia racial em em pregos, contra-
tos e universidades.
Se esta autora, favorvel cota racial, sugere que a crise da econom ia inter-
na am ericana teria levado inevitavelm ente ao fracasso das reform as radicais econ-
m icas e, por conseguinte, instituio da ao afirm ativa, outro articulista de D issent,
contrrio cota racial, descarta esta leitura liberal dos rum os inevitveis da histria
sob a batuta das foras im pessoais de m ercado. Segundo Richard Rodriguez, sig-
nificativo que a ao afirm ativa tenha tido incio durante o governo de um presiden-
te sulista, Lyndon Johnson (1964-1968). Isto porque, para ele, a ao afirm ativa
baseia-se num a determ inada com preenso do racism o e da integrao apropriada
ao contexto especfico do sul-am ericano. O sistem a form al segregacionista desaba-
va por inteiro no m om ento em que um a criana negra pisava num a escola at en-
to restrita por lei s crianas brancas. M as no norte do pas, com seu sistem a
segregacionista encoberto, no definido por lei e diga-se de passagem , m uito se-
m elhante ao racism o institucional brasileiro com o im aginar que a ao afirm ativa
18 As reform as econm icas radicais, desejadas pelos lderes do m ovim ento dos direitos civis, o
quais contavam com o apoio de m ilitantes de esquerda e liberais reform istas, eram : pleno
em prego, treinam ento profissional, escolas pblicas de qualidade, sistem a nacional de sade,
atendim ento criana a preos razoveis, e servio universal de preveno droga. Ver
Barkan (1995, p. 462).
231 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
pudesse m udar a vida das crianas pobres que se concentravam nos guetos negros
das grandes cidades?
N os anos iniciais da ao afirm ativa em H arvard ou Berkeley, ouvia-se m uito
...palavreado sobre m odelos de papise voltar para ajudar o seu povo. Q uesto
em baraante, pois os prim eiros beneficirios da ao afirm ativa eram principalm en-
te da classe m dia. E pior: aqueles de dentro ganhavam o rtulo de m inoriadevi-
do sua suposta relao com um grande nm ero de pessoas de fora. O que levava
culpa. O s graduandos de classe m dia sabiam que eles estavam ganhando nas
costas dos pobres. (Rodriguez, 1995, p.474)
A partir das palavras de Rodriguez, podem os perceber que a ao afirm ativa
com preferncia racial jam ais foi inevitvel, m esm o nos Estados U nidos, m as se
tratou, sim , de um a escolha poltica ao gosto de polticos sulistas m ais preocupados
em afastar de si as acusaes nacionais e internacionais de racism o do que em
enfrentar o grande problem a da pobreza, e m esm o da m isria, que acom etia gran-
de parte da populao negra e tam bm parte da populao branca. Q uanto es-
querda, Rodriguez denuncia seu conform ism o em relao a essa opo poltica, e
m esm o seu oportunism o:
Q uando a raa se tornou a nica m etfora para a diviso social, a esquerda am erica-
na se esqueceu com pletam ente dos pobres. O s brancos pobres, sobretudo, foram
com pletam ente apagados da agenda liberal. Agora a esquerda est preocupada com
o poder o seu prprio e com vises de m udana social que se im pem de cim a
para baixo... Eles insistem que ao criar um a classe de liderana em H arvard ou no
C itibank, as pessoas de baixo sero transform adas. (Rodriguez, 1995, p.474)
Se M artin Luther King Jr. era reticente em relao s polticas anti-racistas de
teor diferencialista, M alcolm X era enftico na sua denncia da poltica de token
integration, ou seja, integrao sim blica, expresso que se sintetizou com o tokenism
nos acesos debates sobre a cota racial nos Estados U nidos da ltim a dcada. Veja-
m os as palavras adm irveis deste m ilitante negro que a m dia perpetuou com o o
apstolo do dioao branco:
Se algum segura um a arm a contra um hom em branco e o obriga a m e abraar...
isto no am or e nem fraternidade. O que eles esto fazendo obrigar o hom em
branco a ser um hipcrita, a praticar hipocrisia. M as se o hom em branco m e abraar
232 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
com vontade, voluntariam ente, por seu prprio desejo, ento isto am or, isto
fraternidade, isto um a soluo para o problem a. (M alcolm X , 1989, pp.31-32)
Stokely C arm ichael e C harles V. H am ilton, herdeiros intelectuais de M alcolm
X , desenvolveram esta linha de raciocnio, denunciando a poltica de ao afirm ativa
com o m era reprodutora da suprem acia branca, na m edida em que se reforava a
idia de que o branco autom aticam ente superior ao negro, sendo este ltim o a
vtim a a ser protegida pelo prim eiro. Em contrapartida, enfatizavam que o racism o
institucional, ou seja, aquele que im pregnava as instituies de form a invisvel, per-
m anecia intocado, reproduzindo dia a dia a m isria nos guetos negros. Em lugar de
polticas de ao afirm ativa, estes autores propunham polticas de controle com uni-
trio das instituies pblicas e privadas localizadas nos bairros negros (C arm ichael
e H am ilton, 1967).
EPLOGO: A QUEM INTERESSA A OPO POLTICA DA COTA RACIAL?
O debate sobre a cota racial no Brasil, ou para usar um eufem ism o m ais
palatvel, a ao afirm ativa, tem dividido as opinies entre aqueles que celebram os
sucessos desta poltica nos Estados U nidos, e aqueles que desconfiam de qualquer
coisa que se parea com im portao de idiasexticas nossacultura. N esse
debate, a questo assum e um a conotao divisora entre esquerda e direita. co-
m um que quem defende a cota racial se julgue de esquerda e diga que os outros
so de direita. Q uem ousa se colocar contra a cota racial, defende-se com o pode
para afastar de si o jargo de direita e pior ainda, o de racista
19
.
Espero ter deixado claro que a questo bem m ais com plexa do que isso. Em
prim eiro lugar, a poltica de preferncia racial esteve longe de ser um sucesso, se
levarm os em considerao a triste condio da m aioria da populao pobre negra
am ericana, sem nos esquecerm os ainda dos brancos pobres am ericanos. Em segun-
do lugar, a poltica de preferncia racial foi um a escolha poltica de governantes am e-
ricanos interessados em salvaguardar a im agem do grande pas capitalista em plena
era da G uerra Fria, garantindo-se alianas internacionais contra as foras com unistas,
entre elas o tem ido vietcongue. Salvava-se a im agem , m ostrando-se ao m undo que
o m ito do self-m ade m an ainda fazia sentido, com binado com um a poltica de pro-
19 Para um a dem onstrao nesse sentido, ver o nvel das acusaes sofridas por C sar Benjam in
(2002) aps escrever um artigo contra a cota racial.
233 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
teo, ou para usar o eufem ism o do m om ento, de reparao aos negros, apropria-
dam ente definidos nos catecism os escolares com o as m aiores vtim as da nossa his-
tria
20
. Ao m esm o tem po, procurava-se garantir a paz interna, abrindo-se algum as
portas da frente queles que raram ente passavam da porta da cozinha.
N esse clim a, no difcil perceber por que acabaram soterradas as denncias
de que o tokenism da ao afirm ativa no s reafirm ava e reproduzia a inferioridade
dos negros (ao olhar de brancos e de negros) com o se fazia em detrim ento das
vidas de alguns m ilhares de am ericanos negros, e tam bm brancos, reduzidos
pobreza e a um a eterna cidadania de segunda classe. M as, claro, no podem os
esquecer que esta tam bm foi um a opo poltica de parte da esquerda am ericana,
cujos integrantes engrossaram os quadros adm inistrativos das instituies pblicas
de poder a partir de ento, abrindo m o de sua antiga pretenso de lutar contra o
capital, ou ao m enos de alcanar reform as radicais da econom ia de teor univer-
salizante.
E no Brasil, a quem interessa instituir a cota racial? C ertam ente, ela interessa
a algum as correntes do M ovim ento N egro, cujas reivindicaes nesse sentido j se
fazem ouvir desde m eados dos anos de 1980, a princpio na voz isolada do ento de-
putado Abdias do N ascim ento. M as sintom tico que a sua concretizao s tenha
com eado a ocorrer a partir de 2001, ou seja, na segunda m etade do segundo
m andato do governo de Fernando H enrique C ardoso, alis, j por dem ais desgastado
e necessitado de produzir novidadessociais no incio da largada de m ais um a cam -
panha eleitoral para a presidncia
21
. N o seria bom suspeitar um pouco das inten-
es oportunistas de polticos que em poca prxim a de eleio presidencial abra-
aram a causa da cota racial? O governador Anthony G arotinho, poca, candidato
presidncia, m al se lem brou de consultar a com unidade acadm ica sobre isso,
apressando-se em produzir projeto de lei de estabelecim ento de cota racial nas uni-
versidades estaduais do Rio de Janeiro j a partir da seleo de 2002/2003. E o que
dizer do senador Jos Sarney, poltico que cresceu som bra da D itadura M ilitar,
20 Para um a viso crtica dos black studies (estudos do negro), os quais desenvolveram um a
retrica de celebrao e vitim izao do negro na histria dos Estados U nidos desde a sua
introduo nas universidades am ericanas, no incio da dcada de 1970, ver Peter N ovick
(1996, cap. 14).
21 Para a trajetria de projetos de lei form ulados de incio por m ilitantes negros e depois por
polticos de todas as cores e bandeiras, ver Sabrina M oehlecke (2002) e tam bm Abdias do
N ascim ento (1983).
234 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
detentor do poder poltico (e econm ico) h dcadas em um estado conhecido pelos
ndices de extrem a m isria de grande parte da sua populao?
22
A instituio progressiva da cota racial pelo Estado nacional nas m ais diversas
reas da sociedade civil certam ente no pode ser considerada com o a nica (e
inevitvel) opo poltica aberta queles que se preocupam com o problem a do
racism o institucional e da m isria de grande parte da populao negra brasileira. H
inm eras proposies de reform as econm icas e sociais circulando pela sociedade,
a com ear pela realizao inadivel de um a reform a agrria, cujo m odelo poderia
inspirar solues para o problem a da populao sem teto das cidades brasileiras.
H tam bm proposies de teor bem m enos radical e alarm ante para a classe que
concentra a m aior riqueza do pas, entre elas, o Projeto de Renda Bsica U niversal
do senador Eduardo Suplicy, e o Program a Bolsa-Escola do m inistro da Educao
C ristovam Buarque. So propostas de polticas pblicas de teor universalista, que
passam ao largo dos esquem as espetaculares e pantanosos da filantropia de Estado,
infelizm ente to em voga nos dias de hoje. Talvez por isso m esm o am bas as pro-
postas no tenham m erecido at hoje a ateno necessria dos cham ados repre-
sentantes do povo.
J em m atria de proposies que visam com bater o racism o, tem os grande
nm ero de atividades educacionais em andam ento, entre elas, os cursinhos para
negros e pobres e a concesso de bolsas de estudo para alunos negros de escolas
pblicas das periferias. So atividades educacionais, no filantrpicas, desenvolvidas
por organizaes civis sem pre s voltas com a falta de recursos m ateriais e hum a-
nos. Alm disso, m uito poderia ser im plem entado em m atria de fiscalizao e
preveno da discrim inao, valorizando-se o trabalho de organism os com o o SO S
Racism o e as delegacias de crim es raciais
23
.
22 Q uatro das dez cidades brasileiras m ais m iserveis encontram -se no M aranho, de acordo
com o M apa do Fim da Fom e 2da Fundao G etlio Vargas. Ver Figueiredo, 2003. Projeto
de lei de autoria de Jos Sarney, estabelecendo polticas de prom oo da igualdade racial
em vrias reas foi recentem ente aprovado pela C om isso de C onstituio e Justia do Sena-
do. Ver artigo de Santos (2002), que sada este projeto, o qual institui a classificao racial
com o um a vitria do m ovim ento negro e da dem ocracia brasileira. M as preciso perguntar:
todo o m ovim ento negro apia a cota racial? Em conversas com m ilitantes, profissionais e
estudantes negros, percebi que o m ovim ento negroest longe de obter um a tal unanim i-
dade nessa questo.
23 Ver, por exem plo: Yvonne M aggie, 2001; M arina Am aral, 2000; Rosana H eringer, 2000;
Sueli C arneiro, 1996 ; H enrique C unha Jnior, 1996.
235 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
Entretanto a opo poltica pela cota racial, ou por seu eufem ism o ao
afirm ativa, tem -se desenhado rapidam ente no cenrio das instituies do Estado
brasileiro, contando, ainda, com os generosos incentivos financeiros oferecidos por
fundaes dos Estados U nidos, atuantes na rea de educao e de pesquisa dos
cham ados pases de terceiro m undo. Pierre Bourdieu e Loc W acquant cham am a
ateno para as artim anhas da razo im perialista, entre elas, a m undializaodo
m odelo one drop rule, ou seja, o princpio da hipodescendncia segundo o qual os
filhos de um a unio m istaso autom aticam ente situados na casta inferior dos
negros. Segundo eles, as grandes fundaes am ericanas tm desem penhado um
papel m otorna difuso internacional desse m odelo diferencialista gerado em plena
era da segregao legal sulista, agora travestido de um a inteno dem ocrtica e
anti-racista (Bourdieu, W acquant, 2002, p.15-33). Assim , no se trata sim plesm en-
te de oferecer incentivos educao e pesquisa, m as de incentiv-las num a deter-
m inada direo, ou seja, aquela que passa ao largo de reform as econm icas m ais
radicais e de teor universalista. , enfim , um a poltica cientfica que aspira a recons-
truir o m undo im agem e sem elhana do atual grande poder im perialista.
M as, afinal, o que querem os? Abolio do racism o ou criao de direitos de
raa? Espero ter deixado claro ao longo deste artigo que, em m inha opinio, o
com bate ao racism o significa lutar pela desracializao dos espritos e das prticas
sociais. Para isso preciso rechaar qualquer m edida de classificao racial pelo
Estado com vistas a estabelecer um tratam ento diferencial por raa, ou, para ser-
m os m ais claros, os direitos de raa. Tal com o na atual discusso sobre o desar-
m am ento de populao, m inha posio que no se com bate a arm a com outra
arm a, ou seja, no se pode pretender com bater o racism o com a racializao oficial
da populao. M uitos que enveredam pela defesa da cota racial consolam -se com a
idia de que se trata de um a poltica em ergencial, tem porria. M as, evidentem en-
te, no se convoca oficialm ente a populao para ela definir-se em term os de raa
negra/branca, em term os de usufruto de direitos para um belo dia decretar a todos:
esqueam a raa, ela no passa de um a inveno!.
Se a raa foi um a inveno danosa aos destinos da hum anidade, tal com o
reconhecem m uitos defensores da cota racial, por que reivindicar a racializao
pelo Estado? Ser que a H istria nos aprisionaria irrem ediavelm ente s categorias
raciais inventadas pelos cientistas do sculo X IX ? Frantz Fanon, psicanalista que ana-
lisou a si m esm o e aos seus pacientes aprisionados num sentim ento devastador de
inferioridade racial, acenou j h m uitos anos com a liberao da hum anidade das
suas pesadas correntes de raa. Para ele, no se tratava de buscar refgio num
236 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
m undo de reparaes retroativas, tornando-se um prisioneiro da H istria. Pes-
soas negras e brancas precisariam distanciar-se das vozes desum anas de seus ante-
passados, um a vez que o verdadeiro salto consistiria em introduzir a inveno na
existncia (Fanon, 1983, p.188-190).
Se quiserm os engendrar o nascim ento de um a autntica com unicaohu-
m ana, tal com o sonhada por Fanon e tantos outros com batentes do racism o, pre-
cisam os desconstruir esta devastadora fico cientfica das raas que se quer im por
um a vez m ais, porm na roupagem atrativa e ilusria da discrim inao positiva.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AM ARAL, M . C ursinho para pobres. C aros am igos, So Paulo, p.13-15, fev. 2000.
AN D REW S, G . R. Ao afirm ativa: um m odelo para o Brasil? In: SO U ZA, J. (org.)
M ulticulturalism o e racism o: um a com parao BrasilEstados U nidos. Braslia: Paralelo 15,
1997. p.137-144.
AZEVED O , C . M . M . de Abolicionism o: Estados U nidos e Brasil, um a histria com parada.
So Paulo: AnnaBlum e, 2003.
.Para alm das relaes raciais: por um a histria do racism o. In: SILVA, J. P.
et al. (org.) C rtica C ontem pornea. So Paulo: AnnaBlum e, 2002. p.129-148.
. C otas raciais e universidade pblica brasileira: um a reflexo luz da expe-
rincia dos Estados U nidos. Projeto H istria, So Paulo, PU C , n. 23, p. 347-358, nov. 2001.
.Q uem precisa de So N abuco? Estudos Afro-Asiticos, Rio de Janeiro: U ni-
versidade C ndido M endes, v. 23, p. 85-97, jan.-jun. 2001a.
.Entre o universalism o e o diferencialism o: um a reflexo sobre as polticas
anti-racistas e seus paradoxos. Intersees, Rio de Janeiro: U ERJ, v. 2, n. 1, p. 85-94, 2000.
.O nda negra, m edo branco: o negro no im aginrio das elites, Brasil, sculo
X IX . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
BARKAN , J. Affirm ative action under fire. D issent, p. 461-463, fall 1995.
BEC KER, W . U m a Q uesto m eram ente jurdica. Folha de S. Paulo, C oluna Tendncias/D e-
bates, p. A3, 26 jun. 2003.
BEN JAM IN , C . Racism o no. C aros am igos, p. 21-22, set. 2002.
BO U RD IEU , P.; W AC Q U AN T, L. Sobre as artim anhas da razo im perialista. Estudos Afro-
Asiticos, Rio de Janeiro: U niversidade C ndido M endes, v.24, n. 1, p.15-33, 2002.
237 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
C APELAS, A.; ALEN C AR, G . C otas nas universidades pblicas: direito ou privilgio? Revista
do Livro U niversitrio, v. 3, n. 13, p.11, m ar./abr. 2003.
C ARD O SO , F. H . Pronunciam ento do Presidente da Repblica na abertura do Sem inrio
M ulticulturalism o e Racism o. In: SO U ZA, J. (org.) M ulticulturalism o e racism o: um a com pa-
rao Brasil Estados U nidos. Braslia: Paralelo 15, 1997. p.13-17.
C ARM IC H AEL, S.; H AM ILTO N , C . Black pow er: the politics of liberation in Am erica. N ew
York: Vintage Books; Random H ouse, 1967.
C ARN EIRO , S. A Experincia do geleds: SO S racism o na tutela dos direitos de cidadania da
populao negra. In: KABEN G ELE, M . (org.) Estratgias e polticas de com bate discrim ina-
o racial. So Paulo: Edusp; Estao C incia, 1996. p.133-139.
C ARVALH O , J. J. de As Propostas de cotas para negros e o racism o acadm ico no Brasil. So-
ciedade e C ultura, G oinia: U niversidade Federal de G ois, v. 4, n. 2, p. 13-30, jul./dez. 2001.
C H AU , M . C ultura e dem ocracia: o discurso com petente e outras falas. So Paulo: M oder-
na, 1981.
C O Q U EREL, P. N oirs et blancs en Afrique du Sud: lapartheid triom phant. LH istoire, n. 214,
p.46-47, out.1997.
C U N H A J N IO R, H . As Estratgias de com bate ao racism o: m ovim entos negros na escola,
na universidade e no pensam ento brasileiro. In: KABEN G ELE, M . (org.) Estratgias e polticas
de com bate discrim inao racial. So Paulo: Edusp; Estao C incia, 1996. p.147-156.
D ELAC AM PG N E, C . LInvention du racism : Antiquit et M oyen-Age. Paris: Fayard, 1983.
D U RH AM , E. D esigualdade educacional e cotas para negros nas universidades. N ovos Estu-
dos C ebrap, So Paulo, n. 66, p.3-22, jul. 2003.
FAN O N , F. Pele negra, m scaras brancas. Salvador: Fator, 1983.
FERN AN D ES, F. O N egro no m undo dos brancos. So Paulo: D ifel, 1971.
FIELD S, B. J. Slavery, race and ideology in the U nited States of Am erica. N ew Left Review , n.
181, p.95-118, m ai.-jun.1990.
FIG U EIRED O , T. N o Rio, m orador de favela trabalha m ais. Folha de S. Paulo, p.C 4, 26 set.
2003.
FRY, P. O que a C inderela N egra tem a dizer sobre a poltica racialno Brasil. Revista U SP,
n. 28, p. 122-135, dez./fev. 1995/1996. (D ossi Povo negro, 300 anos.)
G ILRO Y, P. Against race: im agining political culture beyond the color line. C am bridge, M ass.:
The Belknap Press of H arvard U niversity Press, 2000.
238 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C elia M aria M arinho de Azevedo
G O LD BERG , D . T. Racist culture: philosophy and the politics of m eaning. C am bridge, M ass.:
Blackw ell Publishers, 1995.
G U IM ARES, A. S. A. Racism o e anti-racism o no Brasil. So Paulo: Fundao de Apoio
U niversidade de So Paulo; Editora 34; Fundao Ford, 1999.
H ARRIS, M . et al. W ho are the w hites? Im posed census categories and the racial dem ography
in Brazil. Social Forces, v. 72, n. 2, p. 451-462, dez. 1993.
H ERIN G ER, R. A Agenda anti-racista das O N G s brasileiras nos anos 1990. In: G U IM ARES,
A. S. A.; H U N TLEY, L. (orgs.) Tirando a m scara: ensaios sobre o racism o no Brasil. Rio de
Janeiro: Paz e Terra; Southern Educational Foundation Inc., 2000.
H ERRN STEIN , R. J.; M U RRAY, C . The Bell curve: intelligence and class structure in Am erican
Life. N ew York: Free Press, 1994.
KABEN G ELE, M . Introduo. In: REIS, E. de A. dos. M ulato: negrono-negro e/ou branco
no-branco. So Paulo: Altana, 2002. p.19-21.
.Polticas de ao afirm ativa em benefcio da populao negra no Brasil: um
ponto de vista em defesa de cotas. Sociedade e C ultura, G oinia: U niversidade Federal de
G ois, v. 4, n. 2, p.31-43, jul./dez. 2001.
M AG G IE, Y. O s N ovos bacharis: a experincia do pr-vestibular para negros e carentes.
N ovos Estudos C ebrap, So Paulo, n. 59, p.193-202, m ar. 2001.
M ALC O LM X . Tw enty m illion black people in a political, econom ic, and m ental prison. In:
PERRY, B. (org.) M alcolm X : the last speeches. N ew York: Pathfinder, 1989. p.25-57.
M ARTIN S, R. H aver conflito. poca, p.267, 30 jun. 2003. (Entrevista.)
M ARX , A. M aking race and nation: a com parison of the U nited States, South Africa, and
Brazil. C am bridge: C am brige U niversity Press, 1998.
M ILES, R. Racism . Londres; N ew York: Routledge, 1989.
M O EH LEC KE, S. Ao afirm ativa: histria e debates no Brasil. C adernos de Pesquisa, So
Paulo: Fundao C arlos C hagas, n. 117, p.197-217, nov. 2002.
N ASC IM EN TO , A. C om bate ao racism o: discursos e projetos. Braslia: C m ara dos D eputa-
dos, 1983.
N O VIC K, P. That N oble dream : the objectivity questionand the am erican historical profession.
C am bridge: C am bridge U niversity Press, 1996.
O M I, M .; W IN AN T, H . Racial form ation in the U nited States from the 1960s to the 1990s.
N ew York; Londres: Routledge, 1994.
239 C adernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr.2004
C ota racial e Estado
PIERU C C I, F. C iladas da diferena. So Paulo: Editora 34, 1999.
PIZA, E.; RO SEM BERG , F. C or nos censos brasileiros. In: C ARO N E, I.; BEN TO , M . A. S.
(orgs.) Psicologia social do racism o: estudos sobre branquitude e branqueam ento no Brasil.
Petrpolis: Vozes, 2002. p.91-120.
PO U TIG N AT, P.; STREIFF-FEN ART, J. Thories de lethnicit. Paris: PU F, 1995.
RO D RIG U EZ, R. Affirm ative action under fire. D issent, p.473-474, fall 1995.
SAN TO S, H . N egro no problem a, soluo. C aros am igos, v. 6, n. 69, p.29-37, dez.
2002. (entrevistada.)
SILVA Jr., H . D o Racism o legal ao princpio da ao afirm ativa: a lei com o obstculo e com o
instrum ento dos direitos e interesses do povo negro. In: G U IM ARES, A. S. A.; H U N TLEY,
L. (orgs.) Tirando a m scara: ensaios sobre o racism o no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra;
Southern Educational Foundation Inc., 2000. p.359-387.
SILVA, N . do V. C or e processo de realizao scio-econm ica. In: H ASEN BALG , C .; SILVA,
N . do V. Estrutura social, m obilidade e raa. So Paulo: Vrtice; Editora Revista dos Tribunais;
Rio de Janeiro: Iuperj, 1988. p.144-163.
.O s U sos da cor. Folha de S. Paulo, Seo Tendncias e D ebates, p.A3, 16
m aio 2002.
SILVRIO , V. R. Ao afirm ativa e o com bate ao racism o institucional no Brasil. C adernos de
Pesquisa, So Paulo, Fundao C arlos C hagas, n. 117, p. 219-246, nov. 2002.
SO U ZA, J. (org.) M ulticulturalism o e racism o: um a com parao BrasilEstados U nidos. Braslia:
Paralelo 15, 1997.
TU RRA, C .; VEN TU RI, G . Racism o cordial: a m ais com pleta anlise sobre o preconceito de
cor no Brasil. So Paulo: tica, 1998.
W AC Q U AN T, L. As Prises da m isria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
W ALTERS, R. Racism o e ao afirm ativa. In: SO U ZA, J. (org.) M ulticulturalism o e racism o:
um a com parao BrasilEstados U nidos. Braslia: Paralelo 15, 1997. p.105-123.
W O O D W ARD , C . V. The Strange career of Jim C row . O xford: O xford U niversity Press, 1966.
Recebido em : outubro 2003
Aprovado para publicao em : novem bro 2003
Você também pode gostar
- Desigualdade Social e Raça No BrasilDocumento19 páginasDesigualdade Social e Raça No BrasilBreno AlencarAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Oesste Da BahiaDocumento2 páginasUniversidade Federal Do Oesste Da BahiaVandeildoAinda não há avaliações
- Fichamento Educação Do Negro No BrasilDocumento7 páginasFichamento Educação Do Negro No Brasilrayanne dos santos silvaAinda não há avaliações
- Cidadania e Responsabilidade Social - UNIDADE 02Documento21 páginasCidadania e Responsabilidade Social - UNIDADE 02Gabriel PassosAinda não há avaliações
- Livro 4 T 2Documento15 páginasLivro 4 T 2marina.oliveira01Ainda não há avaliações
- Mozart L. Da SIlva - Mestiçagem e Dispositivo de Segurança No Brasil Pós-AboliçãoDocumento10 páginasMozart L. Da SIlva - Mestiçagem e Dispositivo de Segurança No Brasil Pós-AboliçãoGabrielaAinda não há avaliações
- Relacoes - Raciais - Baixa ELAINE E ANGELICADocumento25 páginasRelacoes - Raciais - Baixa ELAINE E ANGELICArizzademoraisAinda não há avaliações
- Questões Bauman, Democracia Racial e Violência SimbolicaDocumento5 páginasQuestões Bauman, Democracia Racial e Violência SimbolicalolozinhagguedesAinda não há avaliações
- Cotas Raciais - Por Que Sim?Documento62 páginasCotas Raciais - Por Que Sim?Ibase Na Rede100% (2)
- Revista de Ciências Sociais - Raça e Racismo PDFDocumento396 páginasRevista de Ciências Sociais - Raça e Racismo PDFClaudia S SouzaAinda não há avaliações
- Racismo Institucional - Apontamentos IniciaisDocumento17 páginasRacismo Institucional - Apontamentos IniciaisMoisesAinda não há avaliações
- Revista Brasileira 112-113 InternetDocumento296 páginasRevista Brasileira 112-113 Internetthekthiago2Ainda não há avaliações
- CasaGrande&Senzala RacialDocumento24 páginasCasaGrande&Senzala RacialJu MoraisAinda não há avaliações
- Simulado 2 CefetDocumento11 páginasSimulado 2 CefetMarina CostaAinda não há avaliações
- Plano de Aula GilmarDocumento4 páginasPlano de Aula GilmarWilliam Matheus Bomfim CabralAinda não há avaliações
- Mmotabrasil,+publico Privado 40 11 PDFDocumento17 páginasMmotabrasil,+publico Privado 40 11 PDFHelen LimaAinda não há avaliações
- Educação para A Diversidade - Raça e MinoriasDocumento119 páginasEducação para A Diversidade - Raça e MinoriasPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Avaliação Parcial - Socio - 3 AnoDocumento4 páginasAvaliação Parcial - Socio - 3 AnoRafael SoaresAinda não há avaliações
- RIBEIRO - 2014 Políticas de Promoção Da Igualdade Racial No BrasilDocumento368 páginasRIBEIRO - 2014 Políticas de Promoção Da Igualdade Racial No Brasilnazareth.soaresAinda não há avaliações
- Avaliação Final - Conteúdos Transversais - Etnias e RaçasDocumento8 páginasAvaliação Final - Conteúdos Transversais - Etnias e RaçaspaulorodolfoigAinda não há avaliações
- PRÉ-PROJETO UFRJ EducacaoDocumento11 páginasPRÉ-PROJETO UFRJ EducacaoJOSE CARLOS SOUSA ARAUJOAinda não há avaliações
- IANNI, Octavio - Tendencias Do Pensamento BrasileiroDocumento20 páginasIANNI, Octavio - Tendencias Do Pensamento BrasileiroLou BordAinda não há avaliações
- Avaliação - 2 SÉRIE - 3° TrimestreDocumento5 páginasAvaliação - 2 SÉRIE - 3° TrimestreKaroline ProfiroAinda não há avaliações
- Antropologia e Cultura Brasileira - O Que Nos TornarDocumento26 páginasAntropologia e Cultura Brasileira - O Que Nos TornarMario Botarelli BotarelliAinda não há avaliações
- TCC Ana CarolinaDocumento51 páginasTCC Ana CarolinaMarciano SancaAinda não há avaliações
- Dissertação ThiaraDocumento140 páginasDissertação ThiaraThiara Vasconcelos de FilippoAinda não há avaliações
- Discursos Racistas Na Web e Nas Mídias SociaisDocumento36 páginasDiscursos Racistas Na Web e Nas Mídias SociaisEliaquim FerreiraAinda não há avaliações
- Cap 5 Raça e Etinia e MulticulturalismoDocumento8 páginasCap 5 Raça e Etinia e MulticulturalismoRoseli RoseAinda não há avaliações
- DOMINGUES, Petrônio. O Mito Da Democracia Racial e A Mestiçagem No BrasilDocumento16 páginasDOMINGUES, Petrônio. O Mito Da Democracia Racial e A Mestiçagem No BrasilDaniel Cruz de Souza100% (1)
- RacismoDocumento32 páginasRacismoassAinda não há avaliações