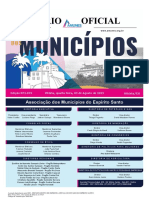Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 Politica Nacional Desenvolvimento Urbano
1 Politica Nacional Desenvolvimento Urbano
Enviado por
Floriano Freaza-AmoedoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 Politica Nacional Desenvolvimento Urbano
1 Politica Nacional Desenvolvimento Urbano
Enviado por
Floriano Freaza-AmoedoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Poltica nacional de
desenvolvimento urbano
Ministrio
das Cidades
Novembro de 2004
1
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
LUIZ INCIO LULA DA SILVA
Presidente
MINISTRIO DAS CIDADES
OLVIO DUTRA
Ministro de Estado
ERMNIA MARICATO
Ministra Adjunta e Secretria-Executiva
JORGE HEREDA
Secretrio Nacional de Habitao
RAQUEL ROLNIK
Secretria Nacional de Programas Urbanos
ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO
Secretrio Nacional de Saneamento Ambiental
JOS CARLOS XAVIER
Secretrio Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana
JOO LUIZ DA SILVA DIAS
Presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU
AILTON BRASILIENSE PIRES
Diretor do Departamento Nacional de Trnsito Denatran
MARCO ARILDO PRATES DA CUNHA
Presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre Trensurb
APRESENTAO
A criao do Ministrio das Cidades representa o reconhecimento do Governo
do presidente Luiz Incio Lula da Silva de que os imensos desaos urbanos do
pas precisam ser encarados como poltica de Estado.
Atualmente cerca de 80% da populao do pas mora em rea urbana e, em
escala varivel, as cidades brasileiras apresentam problemas comuns que foram
agravados, ao longo dos anos, pela falta de planejamento, reforma fundiria,
controle sobre o uso e a ocupao do solo.
Com o objetivo de assegurar o acesso moradia digna, terra urbanizada,
gua potvel, ao ambiente saudvel e mobilidade com segurana, iniciamos
nossa gesto frente ao Ministrio das Cidades ampliando, de imediato, os
investimentos nos setores da habitao e saneamento ambiental e adequando
programas existentes s caractersticas do dcit habitacional e infra-estrutura
urbana que maior junto a populao de baixa renda. Nos primeiros vinte
meses aplicamos em habitao 30% a mais de recursos que nos anos de 1995
a 2002; e no saneamento os recursos aplicados foram 14 vezes mais do que o
perodo de 1999 a 2002. Ainda pouco. Precisamos investir muito mais.
Tambm incorporamos s competncias do Ministrio das Cidades as reas
de transporte e mobilidade urbana, trnsito, questo fundiria e planejamento
territorial.
Paralelamente a todas essas aes, iniciamos um grande pacto de
construo da Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano PNDU, pautado
na ao democrtica, descentralizada e com participao popular, visando
a coordenao e a integrao dos investimentos e aes. Neste sentido, foi
desencadeado o processo de conferncias municipais, realizadas em 3.457 dos
5.561 municpios do pas, culminando com a Conferncia Nacional, em outubro
de 2003, e que elegeu o Conselho das Cidades e estabeleceu os princpios e
diretrizes da PNDU.
Em consonncia com o Conselho das Cidades, formado por 71 titulares que
espelham a diversidade de segmentos da sociedade civil, foram elaboradas
as propostas de polticas setoriais de habitao, saneamento, transporte e
mobilidade urbana, trnsito, planejamento territorial e a PNDU.
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Como mais uma etapa da construo da poltica de desenvolvimento,
apresentamos uma srie de publicaes, denominada Cadernos MCidades,
para promover o debate das polticas e propostas formuladas. Em uma primeira
etapa esto sendo editados os ttulos: PNDU; Participao e Controle Social;
Programas Urbanos; Habitao; Saneamento; Transporte e Mobilidade Urbana;
Trnsito; Capacitao e Informao.
Com essas publicaes, convidamos todos a fazer uma reexo, dentro
do nosso objetivo, de forma democrtica e participativa, sobre os rumos das
polticas pblicas por meio de critrios da justia social, transformando para
melhor a vida dos brasileiros e propiciando as condies para o exerccio da
cidadania.
Estas propostas devero alimentar a Conferncia Nacional das Cidades, cujo
processo ter lugar entre fevereiro e novembro de 2005. Durante este perodo,
municpios, estados e a sociedade civil esto convidados a participar dessa grande
construo democrtica que a Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Olvio Dutra
Ministro de Estado das Cidades
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
INTRODUO 7
DESENVOLVIMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONMICO 15
UM PACTO FEDERATIVO 23
A CRISE URBANA 27
A DESIGUALDADE REGIONAL E AS CIDADES 31
Novas dinmicas regionais e as cidades 33
Regies metropolitanas 39
A DESIGUALDADE URBANA 43
Dcits quantitativos e qualitativos na poltica habitacional 45
Insustentabilidade da mobilidade urbana trnsito e transporte 38
Regressividade do investimento em saneamento ambiental 50
PROPOSTAS ESTRUTURANTES DA PNDU 53
Implementao dos instrumentos fundirios do Estatuto da Cidade 55
Novo Sistema Nacional de Habitao 59
Promoo da mobilidade sustentvel e cidadania no trnsito 62
Novo marco legal para o saneamento ambiental 66
Capacitar e Informar as cidades 68
A CONSTRUO DEMOCRTICA DA PNDU 73
ANEXOS 77
Princpios, diretrizes e objetivos da PNDU denidos na 1 Conferncia das Cidades 77
Populao urbana brasileira - Mapas do IBGE 83
INTRODUO
7 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
O documento que ora apresentamos d continuidade construo da Poltica Nacional
de Desenvolvimento Urbano PNDU. O seu passo inicial foi em 2003 na 1 Conferncia
Nacional das Cidades, quando foram denidos pelos 2510 delegados eleitos nas reuni-
es realizadas em todo o pas os princpios e diretrizes da poltica urbana brasileira.
Essa construo democrtica ter prosseguimento durante a preparao e realizao
da prxima conferncia, em novembro de 2005. Apresentamos esta proposta para ali-
mentar os encontros municipais, estaduais e tambm os debates dos vrios segmentos
envolvidos com o desenvolvimento urbano: movimentos sociais, empresrios, parla-
mentares, universidades, centros de pesquisa, ONGs, sindicatos e entidades prossio-
nais. Como veremos em seguida, assume especial importncia a participao dos entes
federativos na formulao dessa proposta, tendo em vista as competncias estabeleci-
das pela Constituio Federal de 1988.
O caminho adotado para a denio da PNDU a pactuao democrtica , seria
certamente mais curto caso esta fosse denida apenas por consultores em seus gabine-
tes, como ocorreu durante o Regime Militar. No se trata apenas de amor democracia,
mas de entender que no h outra alternativa para formular uma poltica urbana sus-
tentvel e duradoura. A via da concertao nacional constitui, alm de condio polti-
ca, uma condio tcnica para formular polticas pblicas num pas pouco acostumado
a planejar investimentos e com uma sociedade pouco informada sobre tais assuntos.
Um grande movimento pedaggico a forma de assegurar a conscincia sobre os pro-
blemas urbanos atuais e construir alguns consensos que orientem as aes da socieda-
de e dos diversos nveis de governo.
Esta Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano adota uma tese central e diversas
teses secundrias. A tese central a de que vivemos uma Crise Urbana que exige uma
poltica nacional orientadora e coordenadora de esforos, planos, aes e investimentos
dos vrios nveis de governo e, tambm, dos legislativos, do judicirio, do setor privado
e da sociedade civil. O que se busca a eqidade social, maior ecincia administrativa,
ampliao da cidadania, sustentabilidade ambiental e resposta aos direitos das popu-
laes vulnerveis: crianas e adolescentes, idosos, pessoas com decincia, mulheres,
negros e ndios.
Esse documento abre o conjunto de oito cadernos que apresentam o estgio atual
desta discusso no Ministrio das Cidades e no Conselho das Cidades:
Desenvolvimento Urbano Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano
Participao e Controle Social
Programas Urbanos Planejamento Territorial Urbano e Poltica Fundiria
Poltica Nacional de Habitao
8
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Saneamento Ambiental
Mobilidade Urbana Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentvel
Trnsito Questo de Cidadania
Capacitao e Informao
So propostas de natureza intra-urbana estruturantes da PNDU, que levam em con-
siderao denies emanadas de outros ministrios e, ainda, o acmulo de estudos e
experincias de outros nveis de governo e tambm da sociedade.
Alm dos temas estruturantes da poltica urbana ou, mais apropriadamente, da polti-
ca intra-urbana, a PNDU trata da insero das cidades na dinmica regional e no territ-
rio nacional. Para tanto, leva em conta a Poltica Nacional de Desenvolvimento Regional
em detalhamento na Cmara de Polticas de Integrao Nacional e Desenvolvimento
Regional. Est em elaborao tambm a pesquisa Brasil: Cidades e Desenvolvimento
Regional, que tem como objetivo denir uma tipologia das cidades brasileiras, cuja
apresentao faz parte desse documento. Ambas as propostas devero alimentar a ela-
borao de um Plano Nacional das Cidades em 2005.
Podemos denir o desenvolvimento urbano como a melhoria das condies mate-
riais e subjetivas de vida nas cidades, com diminuio da desigualdade social e garantia
de sustentabilidade ambiental, social e econmica. Ao lado da dimenso quantitativa da
infra-estrutura, dos servios e dos equipamentos urbanos, o desenvolvimento urbano
envolve tambm uma ampliao da expresso social, cultural e poltica do indivduo e
da coletividade, em contraponto aos preconceitos, a segregao, a discriminao, ao
clientelismo e a cooptao.
O objeto de uma poltica de desenvolvimento urbano o espao socialmente cons-
trudo. No estamos tratando das polticas sociais, de um modo geral, mas daquelas
que esto relacionadas ao ambiente urbano. Considerando esse tema, um novo recorte
torna mais objetivo o escopo do trabalho em torno dos temas estruturadores do espao
urbano e de maior impacto na vida da populao: habitao, saneamento ambiental e
mobilidade urbana e trnsito. Dois temas estratgicos se somam a este conjunto: a pol-
tica fundiria / imobiliria e a poltica de capacitao / informaes.
Esse recorte remete para uma etapa seguinte, outros tpicos no tratados aqui, mas
fundamentais para a poltica urbana, tais como a questo scal, tributria e nanceira
das cidades, a energia no espao urbano e nas edicaes, o desenho urbano, a arquite-
tura e a produtividade na construo civil, o papel dos governos estaduais no desenvol-
vimento urbano e at mesmo o conceito de cidade na legislao brasileira. So temas
que j esto em estudo, mas que compem uma agenda ainda aberta.
O tema da sustentabilidade ambiental no mereceu um captulo parte neste do-
cumento, uma vez que permeia todas os programas e aes do Ministrio das Cidades,
como revelam os cadernos que contm a exposio detalhada das polticas estruturan-
tes. A prioridade para as pesquisas e desenvolvimento tecnolgico est presente em
alguns cadernos especcos e tem sido objeto de entendimentos entre o Ministrio das
Cidades e a FINEP / Ministrio de Cincia e Tecnologia. Sua formulao completa ser
lanada em 2005.
9 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Os dcits e metas a serem alcanados pela PNDU esto detalhados nos cadernos
especcos. importante lembrar o compromisso do governo Lula com o Plano Pluria-
nual 2004-2007 do Governo Federal, o Projeto Brasil em Trs Tempos, formulado pelo
Ncleo Estratgico da Presidncia da Repblica, e principalmente, as Metas do Milnio
da Organizao das Naes Unidas, pelas quais o pas, at 2015, deve diminuir pela
metade o nmero de pessoas sem acesso ao saneamento bsico e reduzir tambm o
nmero de pessoas que vivem em condies habitacionais indignas.
Complementam esse caderno dois documentos que esto em anexo: 1. Princpios,
Diretrizes e Objetivos da PNDU denidos na 1 Conferncia Nacional das Cidades em
outubro de 2003; e 2. Populao urbana brasileira, contendo informaes sobre a medi-
o da populao urbana pelo IBGE.
Pequeno histrico da poltica urbana federal: 1964-2002
Em apenas cinco dcadas no sculo passado, a populao brasileira passa de majori-
tariamente rural para majoritariamente urbana. Uma das mais aceleradas urbanizaes
do mundo aconteceu sem a implementao de polticas indispensveis para a insero
urbana digna da massa que abandonou e continua a abandonar o meio rural brasileiro,
cuja estrutura agrria contribuiu para essa rpida evaso de populao.
No momento de propor uma Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano preciso
entender as polticas pblicas que vigoraram durante esse espantoso movimento de
urbanizao.
A tentativa mais clara de formulao de uma poltica urbana na histria do Pas se
deu durante o regime militar. O 2 Plano Nacional de Desenvolvimento formulou, em
1973, diretrizes para uma Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano, cuja implemen-
tao cava cargo da Secretaria de Articulao entre Estados e Municpios adminis-
tradora do Fundo de Participao dos Municpios , e o Servio Federal de Habitao e
Urbanismo, que administrava o Fundo de Financiamento ao Planejamento. Esses rgos
foram sucedidos pela Comisso Nacional de Poltica Urbana e Regies Metropolitanas,
administradora do Fundo de Desenvolvimento Urbano e do Fundo Nacional de Trans-
porte Urbano este ltimo, transferido posteriormente para a Empresa Brasileira de
Transporte Urbano.
Neste perodo, o planejamento urbano obteve grande prestgio, ainda que fosse
marcado por uma acentuada ineccia. Os planos diretores se multiplicavam, mas sem
garantir um rumo adequado para o crescimento das cidades. Da vasta bibliograa que
trata do tema suciente reter aqui que a aplicao destes planos a uma parte das ci-
dades ignorou as condies de assentamento e as necessidades de grande maioria da
populao urbana, relegada ocupao ilegal e clandestina das encostas e baixadas
das periferias ou, em menor escala, aos cortios em reas centrais abandonadas. Inme-
ros estudos e planos diretores tiveram as gavetas como destino. A sociedade pouco se
envolveu ou teve notcia dessa grande produo intelectual e tcnica.
Na dcada de 70, a marca tecnocrtica e autoritria desse planejamento se fez de
fato presente nos organismos criados em 1964 para dirigir a poltica urbana do regime
10
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
militar. O Sistema Financeiro da Habitao e o Banco Nacional da Habitao (BNH) fo-
ram responsveis pelo maior movimento de construo que o Brasil conheceu nas cida-
des. Entre 1964 e 1985 foram construdas mais de 4 milhes de moradias e implantados
os principais sistemas de saneamento do pas. Esse grande movimento de construo
foi alimentado pelas contribuies compulsrias dos assalariados ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servio (FGTS) e pela poupana privada relativa Sociedade Brasileira de
Poupana ou Emprstimo. No saneamento, o modelo centralizador do Plano Nacional
de Saneamento Bsico (Planasa) orientava a concesso dos servios municipais de sa-
neamento para grandes companhias estaduais e o governo federal no hesitou em at
mesmo condicionar emprstimos habitacionais a esse propsito.
A imagem das cidades brasileiras mudou devido vasta construo de edifcios de
apartamentos destinados principalmente classe mdia, que, como mostram vrios
estudos, absorveu a maior parte dos subsdios contidos nos nanciamentos habitacio-
nais pelo FGTS. A indstria de materiais de construo e as obras civis contriburam para
assegurar altas taxas de crescimento do PIB nos anos 70, especialmente na segunda
metade da dcada, quando declinaram as grandes obras de infra-estrutura para a pro-
duo como portos, aeroportos e estradas.
Dentre as crticas mais constantes ao do BNH grande parte delas era dirigida
produo de conjuntos habitacionais populares fora do tecido urbano existente e que
submetia seus moradores ao sacrifcio de viverem fora da cidade, segregados e iso-
lados, contrariando o adequado desenvolvimento urbano e o mercado de terras. Essa
prtica tem persistido nas administraes pblicas at nossos dias e comea a merecer
uma ao estratgica voltada para a poltica urbana e fundiria.
Nos anos 80 e 90, o pas pra de crescer a altos ndices e entra em compasso de bai-
xo crescimento. A reestruturao produtiva internacional durante as chamadas dcadas
perdidas impacta fortemente o nanciamento pblico e privado. O crescimento dos
setores produtivos ligados habitao e ao saneamento recua e o BNH, afundado em
dvidas, extinto em 1986.
Com a Caixa Econmica Federal assumindo o esplio do BNH, tem incio uma verda-
deira via crucis institucional da poltica urbana, reveladora da pouca importncia que
ela tem na agenda federal a partir da crise econmica. Em 1985, foi criado o Ministrio
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Em 1987 ele se converte no Ministrio
da Habitao, Urbanismo e Meio Ambiente, ao qual ca subordinada a Caixa Econmica
Federal. Em 1988 criado o Ministrio da Habitao e do Bem-Estar Social e, em 1990, o
Ministrio da Ao Social, que vincula a poltica habitacional s polticas de ao social.
Ainda que a administrao predadora do FGTS possa ser constatada em vrios momen-
tos de sua histria, em nenhum momento ela foi to grave quanto no governo Collor,
que deixou uma herana de mais de 300 mil unidades habitacionais inacabadas ou
invadidas, parte delas sob administrao da Empresa Gestora de Ativos, por problemas
jurdicos e contbeis, at nossos dias. Em 1995 foi criada a Secretaria de Poltica Urbana,
subordinada ao Ministrio do Planejamento e Oramento, que, ainda na vigncia do
governo Fernando Henrique Cardoso que a instituiu, foi transformada em Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU), vinculada Presidncia da Repblica.
11 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Diante da fragilidade da SEDU e das restries oramentrias do governo federal, a
Caixa Econmica Federal termina por conduzir, ainda que sem uma orientao formal e
explcita, o rumo da poltica urbana, tendo em vista seu poder como agente operador
do FGTS a maior fonte de recursos para o nanciamento pblico da habitao e do
saneamento.
O corte nos investimentos pblicos e a restrio de crdito para o setor pblico,
conforme orientao do FMI, promoveram um forte recuo das aes nas reas do sa-
neamento ambiental, especialmente entre 1998 e 2002. No mesmo perodo, 70% dos
recursos federais para habitao (majoritariamente do FGTS) foram destinados popu-
lao com renda superior a 5 salrios mnimos, quando o acmulo de dcadas de exclu-
so nas cidades criou um dcit habitacional composto em 92% por famlias com renda
abaixo destes mesmos 5 salrios mnimos. Esse foi o resultado da falta de polticas seto-
riais claras e de uma gesto macroeconmica que priorizou a ajuste scal.
Mas nem tudo deixou de avanar ao longo do perodo.
O movimento pela reforma urbana e a conquista do Ministrio das Cidades
Em 1963, o Encontro Nacional de Arquitetos, que contou com representao de ou-
tras categorias prossionais, lana um tema indito nos debates sobre as Reformas de
Base que mobilizaram a sociedade brasileira: a Reforma Urbana. Depois dos desfechos
polticos que se seguiram ao golpe de 1964 este foi o tema que, em meados dos anos
70, mobilizou os movimentos comunitrios urbanos apoiados pelas Comunidades Ecle-
siais de Base da Igreja Catlica.
O crescimento das foras democrticas durante os anos 80 alimentou a articulao
dos movimentos comunitrios e setoriais urbanos com o movimento sindical. Juntos,
apresentaram a emenda constitucional de iniciativa popular pela Reforma Urbana na
Assemblia Nacional Constituinte de 1988. A incorporao da questo urbana em dois
captulos da Constituio Federal permitiu a incluso nas constituies estaduais e nas
leis orgnicas municipais de propostas democrticas sobre a funo social da proprie-
dade e da cidade.
A regulamentao desses captulos constitucionais, no entanto, levou 13 anos. Nesse
perodo o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, reunido no Frum Nacional pela
Reforma Urbana, no deu trgua ao Congresso Nacional. Foram muitas aes e mani-
festaes, idas e vindas de militantes (de movimentos sociais, entidades prossionais,
ONGs, entidades universitrias e de pesquisa e mesmo de prefeitos e parlamentares)
que buscavam a aprovao do Projeto de Lei denominado Estatuto da Cidade. Em 2001
esse projeto de importncia mpar aprovado no Congresso Nacional e se torna a Lei
Federal 10.257.
Articulados luta pelo Estatuto da Cidade, diversos movimentos urbanos organizam
ocupaes e protestos contra a falta de habitao e elaboram o primeiro Projeto de
Lei de Iniciativa Popular tal como previsto na nova Constituio Federal , propondo
a criao do Fundo Nacional de Moradia Popular, a ser formado por recursos tanto
oramentrios quanto onerosos e controlado democraticamente por um Conselho
Nacional de Moradia Popular. Esse Projeto de Lei foi subscrito por 1 milho de eleitores
de todo o pas e entregue ao Congresso Nacional em 1991. Em 2004, um texto substitu-
12
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
tivo instituindo o fundo foi aprovado pela Cmara Federal, aps entendimentos entre
deputados federais, governo federal e representantes das entidades que elaboraram
o Projeto de Lei original. Em novembro de 2004, ele ainda aguarda sua aprovao no
Senado Federal. O Legislativo Federal, atravs da Comisso de Desenvolvimento Urbano
e Interior, se torna receptivo luta do Movimento Nacional de Reforma Urbana e realiza
quatro Conferncias das Cidades, sendo a primeira delas fundamental para a aprovao
no Congresso Nacional da nova Lei do Desenvolvimento Urbano.
O comeo dos anos 90 tambm se caracterizou pela mobilizao das entidades do
saneamento em torno do Projeto de Lei 199/91, que propunha uma nova poltica nacio-
nal para o setor em substituio ao Planasa. O projeto foi aprovado no Congresso Na-
cional e vetado no quinto dia do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique
Cardoso, o que deixou o setor sem um marco regulatrio at a presente data. O saldo
organizativo dessa mobilizao, no entanto, deu origem Frente Nacional pelo Sanea-
mento Ambiental, que reuniu 17 entidades nacionais da sociedade civil, de gestores a
trabalhadores, passando por movimentos sociais, associaes prossionais e entidades
de defesa do consumidor.
O tema do transporte urbano permanece sem muita repercusso nos anos 90 (em
contraste com as revoltas e depredaes dos anos 70), embora mostrasse uma forte e
progressiva degradao de servios. Em 2003, as mobilizaes emergem sob a forma
de protestos de estudantes contra os aumentos de tarifas em vrias cidades brasileiras.
Uma articulao suprapartidria ocupa a cena poltica com a criao do Movimento
Nacional pelo Direito ao Transporte e da Frente Parlamentar de Transporte Pblico.
Vrias experincias sociais relevantes ocorreram nas cidades brasileiras durante a
redemocratizao iniciada com as eleies diretas para prefeitos e vereadores de capi-
tais, em 1985. Experincias como o Oramentos Participativo (que projetou internacio-
nalmente a cidade de Porto Alegre), os planos diretores participativos, programas de
regularizao fundiria, urbanizao de favelas, conselhos setoriais, audincias pblicas,
relatrios de impacto ambiental, implementao do IPTU progressivo e criao de ZEIS
Zonas Especiais de Interesse Social marcaram diversas administraes locais nas d-
cadas de 80 e 90.
Em 1996, realizada em Istambul a Habitat II, a 2 Conferncia Mundial das Naes
Unidas pelos Assentamentos Humanos. Essa grande reunio culminou uma mudana
nos paradigmas da questo urbana e fortaleceu, cada vez mais, as campanhas da Agn-
cia Habitat da ONU. Desde 1976, ano da Habitat I, ocorrida em Vancouver, as adminis-
traes locais e as organizaes no-governamentais ganharam importncia na gesto
das cidades e promoveram um avano da conscincia poltica sobre a urbanizao da
pobreza e a insustentabilidade ambiental no crescimento das cidades, especialmente
nos pases desenvolvidos.
Esta conscincia poltica da questo urbana se fez presente na criao em 2003 do
Ministrio das Cidades pelo Presidente Luiz Incio Lula da Silva. a realizao de uma
proposta lanada em 2000 atravs do Projeto Moradia, documento elaborado com
a promoo do Instituto Cidadania e a participao de um grande nmero de con-
sultores e lideranas sociais e empresariais. De acordo com o Projeto Moradia, no h
13 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
soluo para o problema da habitao seno por meio da poltica urbana. O projeto
desenvolveu, ainda, uma proposta para o nanciamento habitacional e uma proposta
de carter institucional.
O Ministrio das Cidades foi estruturado levando em considerao a reunio das
reas mais relevantes (do ponto de vista econmico e social) e estratgicas (sustentabi-
lidade ambiental e incluso social) do desenvolvimento urbano. Foram criadas quatro
Secretarias Nacionais: Habitao, Saneamento Ambiental, Mobilidade e transporte urba-
no e Programas Urbanos. Foram transferidos ao Ministrio das Cidades o Departamento
Nacional de Trnsito, do Ministrio da Justia; a Companhia Brasileira de Trens Urbanos e
a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., ambas do Ministrio dos Transportes.
A transversalidade um paradigma que o Ministrio das Cidades carrega em sua pr-
pria estrutura para ser o formulador, naquilo que de competncia do governo federal,
das polticas de saneamento ambiental, habitao e mobilidade/transporte urbano e
trnsito; o denidor de diretrizes e princpios da poltica urbana, conforme norma cons-
titucional; e o gestor da aplicao e distribuio de recursos do FGTS e do Oramento
Geral da Unio aos temas concernentes. A Caixa Econmica Federal a principal opera-
dora da poltica urbana e das polticas correlatas. O Banco Nacional de Desenvolvimen-
to (BNDES) tambm opera polticas urbanas, em especial saneamento e transporte.
O Ministrio das Cidades possui um quadro enxuto de funcionrios e cargos de livre
provimento, motivo pelo qual o papel dos operadores absolutamente fundamental
para a descentralizao e a viabilidade da ao em todo o territrio nacional. Ainda em
2003, ele promove a Conferencia Nacional das Cidades, evento que foi precedido de
reunies em 3400 municpios em todos os estados. Na ocasio, criado o Conselho das
Cidades, que se rene pela primeira vez em maro de 2004. Ainda neste ano o Minis-
trio das Cidades cria os Comits Tcnicos do Conselho das Cidades: Habitao, Sanea-
mento Ambiental, Transporte/Mobilidade e Trnsito e Planejamento Territorial.
Desenvolvimento urbano e
desenvolvimento econmico
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
FOTO CUSTDIO COIMBRA
DESENVOLVIMENTO URBANO E
DESENVOLVIMENTO ECONMICO
O difcil reconhecimento da questo urbana
como ponto da agenda poltica nacional pode
ser comprovado com o rumo errtico, resumi-
do acima, tomado pelas polticas do governo
federal para o desenvolvimento urbano (com
destaque para habitao e saneamento). Foi
exatamente nesse perodo que as cidades
mais se expandiram e seus problemas mais se
agravaram, mas nem isso fez com que fossem
vistas como essenciais para o crescimento
econmico ou para o desenvolvimento do
Pas nos documentos que tratam do assunto.
O pensamento econmico freqentemente
ignora as cidades.
Essa uma constatao surpreendente.
Como no reconhecer a importncia eco-
nmica de gigantescas ocupaes ilegais e
informais do territrio urbano, que colocam
em risco mananciais de gua potvel como
acontece em So Paulo e mesmo em Curitiba?
Qual o custo do tratamento dessa gua cres-
centemente poluda? Qual o custo de buscar
fontes de gua em bacias mais distantes? Qual
o custo de manter essa populao em condi-
es precrias de vida? E em relao ques-
to fundiria urbana, quanto custa manter
reas servidas de infra-estrutura em condies
ociosas, devido ao espraiamento horizontal
das cidades? Quanto se perde pela ilegalidade
fundiria de reas de ocupao consolidada
que, em alguns municpios perifricos metro-
politanos, ultrapassam em muito a metade da
rea urbana total? Quanto se perde no sistema
de sade devido a doenas ligadas falta de
saneamento ambiental? Quanto se perde em
negcios, empregos, arrecadao e recursos
naturais pela ausncia de uma poltica urbana
e metropolitana? Quanto se perde na falta de
coordenao e planejamento dos investimen-
tos dos trs nveis de governo nas cidades?
Vamos tomar os dados sobre a crise que
est afetando os transportes pblicos para
dar um exemplo concreto das deseconomias,
com suas evidncias empricas. A pesquisa
Reduo das deseconomias urbanas com
a melhoria do transporte pblico no Brasil
(IPEA/ANTP, 1998), realizada em Belo Horizon-
te, Braslia, Campinas, Curitiba, Joo Pessoa,
Juiz de Fora, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro e So Paulo, estimou de forma con-
servadora que os gastos excessivos, devido a
congestionamentos severos, atingem a cifra
de 506 milhes de horas por ano; 258 milhes
de litros de combustvel; 123 mil toneladas
de monxido de carbono; 11 mil toneladas
de hidrocarbonetos; 8,7 milhes de m em
espao virio pavimentado para circular e
estacionar veculos; e 3.342 nibus a mais que
so colocados em circulao para compensar
a queda de velocidade. Uma projeo destes
desperdcios para as demais cidades mdias e
grandes permite estimar que at 2% do PIB
perdido nos congestionamentos das cidades
brasileiras.
Ainda segundo a mesma pesquisa, a cada
ano mais de 33 mil pessoas so mortas em
acidentes de trnsito no Brasil. Dos cerca de
400 mil feridos, 120 mil pessoas tornam-se
invlidas permanentes. De 1961 a 2000, o n-
mero de feridos no trnsito multiplicou-se por
quinze, o de mortos por seis, e, quantitativa-
17 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
COMO NO RECONHECER A IMPORTNCIA ECONMICA
DE GIGANTESCAS OCUPAES ILEGAIS E INFORMAIS
DO TERRITRIO URBANO, QUE COLOCAM EM RISCO
MANANCIAIS DE GUA POTVEL COMO ACONTECE EM
SO PAULO E MESMO EM CURITIBA? QUAL O CUSTO
DO TRATAMENTO DESSA GUA CRESCENTEMENTE
POLUDA? QUAL O CUSTO DE BUSCAR FONTES DE
GUA EM BACIAS MAIS DISTANTES? QUAL O CUSTO
DE MANTER ESSA POPULAO EM CONDIES
PRECRIAS DE VIDA?
18
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
mente, os acidentes de trnsito representam
o segundo maior problema de sade pblica
no Brasil s perdendo para a desnutrio. Os
custos correspondem a perdas das horas de
trabalho das pessoas mortas ou feridas, que
podem car permanentemente incapacitadas
para o trabalho; internaes mdico-hospi-
talares; suporte previdencirio; recuperao
ou perda dos veculos; entre outros. O total
de gastos decorrentes de acidentes de trn-
sito nas reas urbanas brasileiras de R$ 5,3
bilhes por ano ou 0,4% do PIB do Pas. Deste
total, R$ 3,6 bilhes concentram-se em 49
aglomeraes urbanas. Este custo sobe para
R$ 10 bilhes por ano, somando-se os custos
dos acidentes rodovirios.
A queda da mobilidade geral nas me-
trpoles brasileiras e atinge ricos e pobres,
embora estes sejam impactados mais forte-
mente pela m qualidade dos transportes co-
letivos: nas ltimas dcadas aumentaram suas
viagens a p ou por bicicleta e diminuram
os usurios de transporte coletivo. Segundo
pesquisa da Cia. do Metropolitano de So
Paulo, em alguns bairros da periferia de So
Paulo mais de 50% das viagens so feitas a p.
Isso signica que grande parte da populao
lembremos, os jovens no saem de bairros
pobres e mal equipados.
Nossas grandes cidades esto na iminncia
de um apago logstico.
Em que pese este quadro, h muito tempo
o desenvolvimento urbano e as polticas se-
toriais incidindo sobre as cidades habitao,
saneamento, transporte so implementadas
como um captulo das chamadas polticas
sociais, isto , polticas que operam antes nos
efeitos que nas causas das desigualdades so-
cial e territorial que constituem a caracterstica
principal de nossa sociedade.
Apesar de tudo e mesmo percebendo que
nossas cidades so fortemente, cruelmente
injustas, o que implica em reconhecer que
alguns ganham com as carncias sociais ou
com as valorizaes geradas pelo investi-
mento pblico, preciso reconhecer que a
radicalizao dos problemas urbanos, princi-
palmente a questo da falta de mobilidade,
acarreta prejuzo a todos, aos trabalhadores
principalmente, mas tambm aos demais as-
pectos da atividade produtiva e circulao
de mercadorias.
Para muitos, a cidade apenas reexo
passivo das condies macroeconmicas,
uma posio que no restrita aos conser-
vadores de direita. Para outros, ela palco de
acontecimentos sociais e polticos importan-
tes, uma grande arena para o exerccio do po-
der, seja para os grupos locais seja em relao
ao cenrio nacional, quando se trata de uma
metrpole. Para a Poltica Nacional de Desen-
volvimento Urbano, a cidade no neutra e
pode ser vista como uma fora ativa, uma
ferramenta ecaz para gerar empregos e ren-
da e produzir desenvolvimento econmico.
Quando se trata das regies metropolita-
nas, a interdependncia entre urbano e eco-
nmico mais forte e desfaz o mito de sua
obsolescncia econmica difundido nos anos
80, segundo o qual a revoluo dos meios de
transportes e das comunicaes iria tornar
autnomas as empresas, em relao a econo-
mia, da aglomerao fornecida pelas grandes
reas urbanas. Muitos estudos demonstram,
ao contrrio, que as metrpoles continuam a
oferecer as maiores vantagens de aglomera-
o para os circuitos dinmicos da economia.
Elas concentram o poder econmico e polti-
co, as capacidades de inovao e as foras de
trabalho necessrias para dirigir e coordenar
os uxos produtivos do pas. Ainda assim, as
cidades so oferecidas pelos governos locais
como mera plataforma de vantagens scais
para os capitais volteis, ao invs de territrios
de ancoragem duradoura dos circuitos econ-
micos em ambiente de cooperao federada.
19 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Vrias pesquisas mostram que as metrpo-
les com vantagens na competio pela atra-
o dos uxos econmicos so as de menor
ndice de polarizao social e no as de me-
nores custos salariais. Ou seja, as cidades com-
petitivas so as que se recusam a desmontar
os seus sistemas de proteo social. Aquelas
que buscam oferecer a desregulamentao
como vantagem tiveram seu crescimento limi-
tado pela prpria queda na qualidade de vida.
nas metrpoles onde se produz a maior
parte do PIB brasileiro. Na sociedade con-
tempornea, que antes de mais nada uma
sociedade urbana, elas constituem vetor de-
cisivo do processo de desenvolvimento. Visto
sob essa tica, o nanciamento ao desenvol-
vimento urbano, longe de ser uma alocao
de recursos compensatrios, uma condio
sine qua non da prpria continuidade do cres-
cimento econmico que teve sua retomada
em 2004.
As cidades no so marcadas apenas pela
questo social. Existe no universo urbano
grandes desaos Nao o desenvolvimen-
to do Pas, a cooperao federativa, a desi-
gualdade regional e urbana e a ampliao da
democracia.
O financiamento da poltica urbana
Como j foi alertado anteriormente, as
propostas para a poltica scal e tributria que
dizem respeito ao desenvolvimento urbano
sero formuladas, debatidas e divulgadas a
partir de 2005. No entanto, a importncia do
tema do nanciamento da poltica urbana exi-
ge uma introduo. Considere o leitor que ela
bastante preliminar.
Em nenhum pas do mundo houve desen-
volvimento urbano num contexto econmico
de restrio ao investimento pblico. Essa
tendncia se agrava quando se trata de pases
como o Brasil, onde a produo de infra-estru-
tura urbana no tem tradio de investimento
privado e o mercado residencial se restringe,
acentuadamente, aos imveis de luxo.
Sem o investimento pblico, o crescimen-
to econmico insuciente para promover
o desenvolvimento social e, portanto, para
promover o desenvolvimento urbano. O Brasil
cresceu a taxas mdias de 7% ao ano entre
1940 e 1980, mas deixou como herana desse
perodo cidades marcadas por uma desigual-
dade social cada vez mais agravada pelas cri-
ses nanceiras dos anos seguintes.
Com as polticas de ajuste scal, o nancia-
mento ao desenvolvimento urbano encontra,
ao longo dos ltimos anos, duas ordens de
constrangimentos. Em primeiro lugar, a pura e
simples retrao dos investimento pblicos di-
retos. Em segundo, a restrio da capacidade
de endividamento de estados e municpios,
que leva ao contingenciamento de recursos
destinados ao nanciamento do setor pblico.
Esse impedimento de segunda ordem
mostra que no houve e no h propriamen-
te uma falta de recursos, como atestaram e
atestam atualmente as fontes do FGTS e do
Fundo de Amparo do Trabalhador, operadas
pela Caixa Econmica Federal e pelo BNDES.
Tambm as agncias internacionais como o
Banco Mundial e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento encontram diculdades
para fechar novos contratos de nanciamen-
tos governamentais. Na Amrica Latina, estas
agncias recebem desde 2000 muito mais
PARA MUITOS, A CIDADE APENAS REFLEXO
PASSIVO DAS CONDIES MACROECONMICAS,
UMA POSIO QUE NO RESTRITA AOS
CONSERVADORES DE DIREITA. PARA OUTROS, ELA
PALCO DE ACONTECIMENTOS SOCIAIS E POLTICOS
IMPORTANTES, UMA GRANDE ARENA PARA O
EXERCCIO DO PODER, SEJA PARA OS GRUPOS LOCAIS
SEJA EM RELAO AO CENRIO NACIONAL, QUANDO
SE TRATA DE UMA METRPOLE.
20
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
recursos com pagamento de dvidas do que
desembolsam com emprstimos.
Nos anos de 2003 e 2004, o contingen-
ciamento de emprstimos ao setor pblico
dicultou a contratao de parte do investi-
mento de R$ 600 milhes inicialmente previs-
to para o programa Pr-Moradia. O mesmo
aconteceu com os outros R$ 600 milhes do
Programa Pr-Transporte, destinado ao nan-
ciamento do transporte pblico. Os recursos
foram ento transferidos para a rea de sanea-
mento at o limite previsto pelas normas que
regem o FGTS.
Os governos brasileiros em seus diversos
nveis, especialmente o federal, contrataram
nos anos 90 recursos internacionais alm da
capacidade de bancar as contrapartidas (apro-
ximadamente US$ 600 milhes). So recursos
internacionais que, mesmo parcialmente ocio-
sos, custam a todos os brasileiros o pagamen-
to de taxas de permanncia.
Como enfrentar a restrio de recursos ao
desenvolvimento urbano diante do ajuste
scal?
O Ministrio das Cidades tem buscado v-
rias alternativas.
J no incio de 2003 o Ministrio das Cida-
des, por intermdio da Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental, contratou R$
1,6 bilho em recursos do FGTS para o setor
pblico, atravs de dispositivos vigentes na
resoluo 2827/01 do Conselho Monetrio
Nacional. A partir de dezembro de 2003, um
acordo entre o Fundo Monetrio Internacio-
nal e o Governo Federal permitiu a liberao
de R$ 2,9 bilhes de recursos do FGTS e FAT
para contratos na rea de saneamento. Nos
anos de 2003 e 2004 o total de contrataes
com recursos do FGTS e do FAT atingiu cerca
de R$ 4 bilhes. Mesmo com a obrigatorie-
dade do retorno scal dos investimentos, por
meio da cobrana de tarifa plena instituda
pelas Portarias 2827/01, 3153/03 e 3173/04 do
Conselho Monetrio Nacional, a retomada do
nanciamento para esta rea de fundamental
importncia para o desenvolvimento urbano
comea a reverter o quadro de baixssimo in-
vestimento dos anos anteriores.
A esses recursos onerosos se somaram, nos
dois primeiros anos do governo Lula, recursos
do Oramento Geral da Unio, em especial
da Fundao Nacional de Sade. At junho
de 2004 foram contratados R$ 5,1 bilhes em
abastecimento de gua, esgotamento sani-
trio, coleta de lixo e drenagem urbana a
maior parte pelo Ministrio das Cidades em
conjunto com os ministrios de Meio Ambien-
te, Integrao Nacional e Sade.
Na rea de habitao, houve um esforo
bem-sucedido para ampliar as fontes de in-
vestimentos. Em 2003, o oramento total do
governo federal para a habitao ultrapassou
R$ 5 bilhes, valor 25% superior ao de 2002.
Em 2004, os recursos somam R$ 8,8 bilhes,
provenientes das seguintes fontes:
Recursos nanceiros para habitao (em
R$ 1 milhes) Governo Federal 2003/2004
Recursos 2003 2004
Fundo de Garantia por
Tempo de Servio
2.761,00 4.050,00
Caixa Econmica
Federal
552,52 1.792,77
Fundo de
Arrendamento
Residencial
1.116,60 1.180,00
Oramento Geral da
Unio
492,73 670,48
Fundo de Amparo
do Trabalhador
164,29 597,00
Fundo de
Desenvolvimento
Social
0,00 542,00
TOTAL 5.087,14 8.832,25
21 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
A maior parte desses recursos vem do
FGTS, seguindo orientao de seu Conselho
Curador, em que tomam assento governo e
sociedade civil. O desempenho notvel deste
fundo indicativo da recente recuperao
dos empregos formais no pas.
Alm destes recursos, as aprovaes em
2004 da Lei Federal 10.931 (Lei do Patrimnio
de Afetao) e da Resoluo 3.177 do Con-
selho Monetrio Nacional asseguram para o
setor habitacional investimentos, a partir de
poupana privada, da ordem de R$ 12 bilhes
anuais para 2005 e 2006, segundo estimativa
do Ministrio da Fazenda e da Associao
Brasileira das Entidades de Crdito Imobilirio
e Poupana. So iniciativas que promovem
o reaquecimento da atividade produtiva na
construo civil, setor que gera empregos ao
longo de uma extensa cadeia produtiva de
base nacional e que expandem a produo de
habitao pelo mercado para um segmento
populacional at ento excludo dos nancia-
mentos privados: a classe mdia, com renda
entre 5 a 10 salrios mnimos.
Com estes estmulos ao mercado habita-
cional, espera-se que os recursos do FGTS
possam ser dirigidos s faixas mais baixas de
renda e que cumpram, assim, o importante
papel social que deles se espera h dcadas.
O Ministrio das Cidades, que gestor da
poltica urbana, est propondo ao Conselho
Curador do FGTS, com o apoio do Ministrio
do Trabalho e da Caixa Econmica Federal,
respectivamente gestor e operador dos re-
cursos, esta reorientao dos nanciamentos
habitacionais.
preciso lembrar que importante para a
Poltica Nacional de Desenvolvimento Urbano
a ampliao dos investimentos pblicos por
meio das Parcerias Pblico-Privadas, confor-
me projeto de lei em debate no Congresso
Nacional neste ano de 2004. As Parcerias
Pblico-Privadas constituem uma alternativa
importante de nanciamento da infra-estru-
tura em transportes, saneamento e habitao,
e o Ministrio das Cidades j estuda algumas
possibilidades. Esses recursos, no entanto,
devero complementar o papel insubstituvel
do poder pblico em sua responsabilidade de
atender populao mais vulnervel, que no
tem condies de pagar o preo do mercado
pelos servios.
Apesar do aumento signicativo de recur-
sos federais se comparado aos anos anterio-
res, o Ministrio das Cidades considera urgen-
te a expanso dos investimentos pblicos em
habitao e em infra-estrutura urbana nos trs
nveis de governo e sua destinao no-one-
rosa s famlias com renda mensal inferior a 3
salrios mnimos, a imensa maioria dos brasi-
leiros que compem o dcit de moradias e
infra-estrutura em nossas cidades.
A absoluta necessidade destes recursos
pblicos levou o Ministrio das Cidades a
propor no Frum Urbano Mundial, realizado
em outubro de 2004 em Barcelona, a excluso
dos investimentos em habitao e infra-estru-
tura urbana do clculo do supervit primrio
dos pases no desenvolvidos, proposta j de-
fendida pelo presidente Lula junto s Naes
Unidas e que resultou em documento apro-
vado pelos pases latino-americanos reunidos
no Grupo do Rio.
APESAR DO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE RECURSOS
FEDERAIS SE COMPARADO AOS ANOS ANTERIORES,
O MINISTRIO DAS CIDADES CONSIDERA URGENTE
A EXPANSO DOS INVESTIMENTOS PBLICOS EM
HABITAO E EM INFRA-ESTRUTURA URBANA
NOS TRS NVEIS DE GOVERNO E SUA DESTINAO
NO-ONEROSA S FAMLIAS COM RENDA MENSAL
INFERIOR A 3 SALRIOS MNIMOS, A IMENSA
MAIORIA DOS BRASILEIROS QUE COMPEM O DFICIT
DE MORADIAS E INFRA-ESTRUTURA EM NOSSAS
CIDADES
A Carta de Compromissos das Cidades,
elaborada em 2003 em encontro da Frente
Nacional de Prefeitos e do Frum Nacional de
Reforma Urbana, adota essa proposta e
observa que a as normas de acesso ao crdi-
to no fazem diferena entre municpios cujas
nanas j esto organizadas e aqueles que
no conseguiram esse equacionamento. Os
subscritores da carta insistem que as opera-
es de crditos para investimentos visando o
desenvolvimento social deveriam merecer um
tratamento contbil diferenciado.
preciso rever os acordos internacionais
para que os investimentos no desenvolvi-
mento urbano especialmente aqueles ne-
cessrios para o cumprimento das metas em
saneamento e moradia previstas nas Metas
do Milnio sejam excludos do conceito de
dvida para efeito dos clculos do supervit
primrio, sem o que o cumprimento das me-
tas est comprometido.
22
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Um pacto federativo
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
FOTO CUSTDIO COIMBRA
A Constituio Federal de 1988 talvez no
tenha similar internacional na sua distribuio
de competncias aos entes federados. A ca-
racterstica bsica de uma federao est em
cada um dos entes federados deter para si um
feixe de competncias e atribuies exclusivas
e que no podem ser invadidas ou usurpadas
pelos demais. No Brasil, as competncias e
atribuies exclusivas foram reduzidas, en-
quanto que se tornaram preceitos constitucio-
nais diversas competncias que so comuns
entre os rgos executivos da Unio, estados,
municpios e Distrito Federal e competncias
que so concorrentes entre os rgos legislati-
vos da Unio e dos estados.
Nessa estrutura complexa de competncias
e atribuies comuns, concorrentes e comple-
mentares entre entes federados, a cooperao
e a coordenao intergovernamentais ganha
uma importncia fundamental, especialmente
nas bacias hidrogrcas, nas microrregies
pouco dinmicas, nas aglomeraes urbanas
e nas regies metropolitanas, onde os gran-
des problemas urbanos dependem de gesto
compartilhada e faz-se necessrio a coopera-
o administrativa ou gesto compartilhada.
Do modelo fortemente concentrador ao
nvel federal, caracterstico do Regime Militar,
quando at mesmo a delimitao das regies
metropolitanas e seu organismo gestor eram
realizadas por lei federal, passamos a um de-
senho oposto, que concede aos municpios
autonomia indita sobre o desenvolvimento
urbano por meio da lei do Plano Diretor e da
regulao sobre a edicao e o uso e ocupa-
o do solo, desde que no envolva matria
de meio ambiente.
A necessidade de uma ao intergover-
namental cooperada e coordenada entre os
entes federados ca evidente, tanto na forma-
o de municpios em regies metropolitanas
quanto no demembramento e criao de
novos municpios.
Em relao s regies metropolitanas, sua
delimitao e forma de gesto foi remetida s
legislaes estaduais. No entanto, a ausncia
de uma conceituao em nvel nacional de
metrpole provoca uma incoerncia de crit-
rios entre estados brasileiros na denio das
regies metropolitanas. Assim, o Estado do
Rio de Janeiro tem apenas uma nica regio
metropolitana, enquanto Santa Catarina tem
cinco.
Em relao ao desmembramento para cria-
o de municpios, que passaram de 4.189 em
1988 para 5.561 em junho de 2000, a maior
parte dos novos municpios sobrevive apenas
devido ao Fundo de Participao dos Munic-
pios e possui baixa capacidade institucional,
com diculdades de ordem tcnica e geren-
cial alm de nanceira. A busca pela partilha
de recursos arrecadados orienta tambm des-
vios na denio por legislao municipal do
territrio municipal rural ou urbano. Esses as-
pectos, que podem ser observados tambm
em alguns novos estados, exigem um esforo
de coordenao federativa para bem imple-
mentar a Constituio Federal. Atualmente
(2004), a cooperao inter-governamental
administrativa se d por meio de convnios e
consrcios de natureza privada. Em que pese
o grande nmero de experincias em todo o
Brasil, so instrumentos insucientes.
A raiz latina da palavra federal signica
pacto. A Poltica Nacional de Desenvolvimen-
to Urbano, diante das condies descritas aci-
ma, no pode fugir busca de um equilbrio
25 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
A RAIZ LATINA DA PALAVRA FEDERAL SIGNIFICA
PACTO. A POLTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, DIANTE DAS CONDIES DESCRITAS ACIMA,
NO PODE FUGIR BUSCA DE UM EQUILBRIO
ENTRE AUTONOMIA E INTERDEPENDNCIA, ENTRE
LOCAL E NACIONAL, UNIDADE E DIVERSIDADE,
DESCENTRALIZAO E COOPERAO
entre autonomia e interdependncia, entre
local e nacional, unidade e diversidade, des-
centralizao e cooperao.
Diante desse problema, o Governo Federal
elaborou no mbito do Comit de Articulao
Federativa, e em conjunto com as entidades
representativas dos prefeitos municipais, o
Projeto de Lei dos Consrcios Pblicos (PL
3884/04). O Projeto de Lei dos Consrcios
Pblicos institui normas gerais para a cons-
tituio de consrcios pblicos, bem como
para os contratos para a prestao de servios
pblicos por meio de gesto associada. Ele
regulamenta o Artigo 241 da Constituio
Federal, que trata da coordenao da ao
administrativa, e trata-se, portanto, de uma
complementao prevista na Constituio,
com objetivo de instituir regras para consr-
cios permanentes baseadas no direito pblico.
O Consrcio Pblico fortalece a cooperao
federativa e d mais consistncia legal aos
poder local, alm de permitir novos formatos
institucionais s parcerias entre Municpio,
Estado, Distrito Federal e Unio para a gesto
associada de servios pblicos, recursos hidro-
grcos, destinao nal de resduos slidos,
tratamento de esgotos, etc.
Aps 16 anos de promulgada a Consti-
tuio Federal, h muito a fazer ainda em
matria de cooperao federativa para o de-
senvolvimento urbano. Devemos reconhecer
que a conscincia sobre o papel de cada ente
federativo em relao a esse tema est muito
longe de ser alcanada. Um bom exemplo
da falta de clareza sobre o papel dos entes
federados em relao ao desenvolvimento
urbano pode ser encontrado na tradio de
fragmentao das verbas do Oramento da
Unio destinadas s emendas parlamentares.
No incomum a destinao destes recursos
para pequenas obras pontuais localizadas em
qualquer bairro de qualquer cidade do pas,
sem relao com qualquer plano local.
Em sntese, o pacto federativo aqui men-
cionado implica em:
1. Complementar as normas constitucionais
sobre as competncias federativas, de
como exemplo o Projeto de Lei dos Con-
srcios Pblicos;
2. Ocupar o vazio institucional caracterizado
pela falta de regras claras e marcos regula-
trios, em especial no que se refere ao sa-
neamento, transporte urbano, habitao e
regularizao fundiria, de modo a dar mais
segurana aos investimentos e aes;
3. definir prioridades de aes coordena-
das e cooperativas, que no dependem
obrigatoriamente de legislao, mas de
acordos em torno de polticas setoriais ou
especficas, como, por exemplo, aes de
regularizao fundiria (especialmente
em terras da Unio), investimentos em
regies metropolitanas, campanhas pelo
Plano Diretor Participativo, capacitao
para a modernizao administrativa e
implementao de cadastros multifi-
nalitrios, campanhas de preveno de
acidentes no trnsito, implementao de
acessibilidade para pessoas com defici-
ncia e idosos, campanhas de educao
ambiental, e mais um grande nmero de
temas que esto referidos ao longo desse
documento.
Portanto, no apenas por meio de con-
dicionantes legais (competncias federati-
vas, legislao complementar) que o pacto
federativo pode render bons frutos. impor-
tante tambm reconhecer que pode atingir
um patamar avanado de desenvolvimento
institucional nas aes cooperadas de fo-
mento ou, de forma induzida, na definio
de condicionalidades para o financiamento
dos recursos federais quanto aos princpios
e diretrizes emanados da Conferncia das
Cidades.
26
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
A crise urbana
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
FOTO CUSTDIO COIMBRA
Dos mais diversos horizontes tericos e pol-
ticos recolhem-se diagnsticos que apontam
para a existncia de uma crise urbana. Escla-
recer de que crise se est falando est longe
de ser, hoje, uma questo puramente concei-
tual de interesse meramente acadmico e te-
rico. Na verdade, o diagnstico da crise que
legitima e autoriza as polticas, planos, progra-
mas e projetos a serem implementados.
Por mais que tenha suas razes ncadas
na estrutura e modo de funcionamento de
nossas cidades, a crise urbana atual no pode
ser adequadamente diagnosticada sem uma
perspectiva mais ampla que considere sua
insero no contexto nacional e internacional.
Certamente no desprezvel a inuncia
na gestao de nossa crise urbana das mu-
danas no contexto internacional. A derro-
cada do socialismo real, a nanceirizao da
economia, o crescimento explosivo da dvida
externa, a revoluo tecnolgica, a chamada
reestruturao produtiva e os novos modos
de gesto e regulao do trabalho, com sua
esteira de precarizao do emprego e amplia-
o das desigualdades, inclusive nos pases
centrais, so fatores decisivos na congurao
do ambiente no qual a crise urbana se instau-
ra e se espraia. Hoje, tanto as novas prticas
produtivas quanto a hegemonia do capital
nanceiro e a hegemonia cultural dos pases
centrais se apiam sobre uma revoluo das
tecnologias de informao e comunicao
que redenem a prpria noo de espao e
tempo. As cidades, e as brasileiras no consti-
tuem exceo, esto inseridas num mundo no
qual, no obstante a permanncia das lgicas
e dinmicas da acumulao capitalista, as rela-
es entre lugares e entre escalas esto sendo
permanentemente revolucionadas.
Os Estados Nacionais foram e continuam
sendo desaados por foras poderosas que
no so apenas externas, uma vez que esto
presentes e articulam-se internamente. Embo-
29 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
POR MAIS QUE TENHA SUAS RAZES FINCADAS
NA ESTRUTURA E MODO DE FUNCIONAMENTO DE
NOSSAS CIDADES, A CRISE URBANA ATUAL NO
PODE SER ADEQUADAMENTE DIAGNOSTICADA SEM
UMA PERSPECTIVA MAIS AMPLA QUE CONSIDERE
SUA INSERO NO CONTEXTO NACIONAL E
INTERNACIONAL.
ra condenados a desempenhar papel secun-
drio na etapa que se abre, o Estado Nacional
constitui arena e instrumento indispensvel
de qualquer projeto que pretenda preservar a
soberania poltica, a cultura prpria e a possi-
bilidade de construir uma nao que escolha
seus prprios caminhos.
Seguindo um fenmeno mundial, a po-
breza brasileira se urbanizou. Enquanto a taxa
de urbanizao dos pases desenvolvidos foi
de 0,9% nas ltimas duas dcadas do sculo
XX, nos pases no desenvolvidos ela foi em
mdia de 2,9%. Dos 2,85 bilhes de habitan-
tes urbanos do mundo, 80% deles vivem em
cidades de pases no desenvolvidos. Metade
da populao mundial ainda rural, mas
exatamente nos pases mais pobres que o
processo de urbanizao mais cresce.
Para o pensamento dominante nos anos
90, a crise tem como fundamento a excessiva
e inadequada interveno estatal, que inibiria
o pleno funcionamento das leis de mercado
e a alocao tima dos recursos urbanos,
provocando, como conseqncia, reduo da
produtividade e da competitividade urbanas.
Com baixa produtividade e competitividade, a
cidade perderia capacidade para atrair investi-
mentos, tenderia ao desinvestimento, passan-
do a enfrentar o empobrecimento crescente,
sobretudo dos mais pobres. A crise scal,
resultante tanto da irresponsabilidade scal
quanto da carncia de mecanismos de nan-
ciamento, completaria o quadro que nos es-
taria conduzindo ao crculo vicioso da cidade
pobre, que no atrai capitais porque pobre,
e da cidade sem capacidade de atrao de
capitais, que se empobrece porque no atrai
capitais. A privatizao da prestao de servi-
os pblicos viria simultaneamente aumentar
a ecincia da gesto destes servios e suprir
os investimentos que a crise scal tornou irrea-
lizveis pelo governo.
Aes compensatrias focalizadas deve-
riam amenizar os impactos fortemente regres-
sivos dessas polticas, reconhecidos, mesmo
por seus defensores, como uma espcie de
pedgio para o que seria a integrao compe-
titiva na globalizao. Neste contexto, a outra
face do que se chama polticas de desenvol-
vimento local, ou seja, polticas e programas
de assistncia pblica estariam fazendo as
vezes de polticas urbanas. Reduzindo ao
mnimo indispensvel sua ao diretora e
reguladora no uso do solo e na estruturao
da cidade, o Estado deveria concentrar-se em
apoiar as iniciativas privadas e dedicar-se, em
cooperao com organizao no-governa-
mentais, a polticas sociais compensatrias.
Todas essas tendncias transnacionais so
formadoras da nossa crise urbana em combi-
nao com a herana da desigualdade social
das cidades brasileiras. Sem pretender uma
anlise histrica abrangente da conformao
do sistema urbano brasileiro com as carac-
tersticas estruturais dominantes de nossas
cidades, caberia chamar a ateno para alguns
elementos centrais.
Concentrao e irregularidade na estrutura
fundiria Em primeiro lugar, cabe mencio-
nar a estrutura fundiria urbana, na qual se
combinam, em doses variadas conforme a
cidade, uma alta concentrao de proprieda-
de e uma imensa irregularidade na apropria-
o e uso da terra. Entre suas caractersticas
dominantes est a coexistncia de grilagem
comercial com ocupaes irregulares pelos
segmentos mais pobres da sociedade urbana.
A cidade, deste ponto de vista, est em per-
feita consonncia com o espao rural, onde o
latifndio subsistiu ao longo de um processo
de modernizao que nunca foi capaz de
desaar as estruturas econmicas e polticas
de elites locais e regionais. Assim, o padro de
desenvolvimento tpico do Brasil expressa-se
tambm na cidade, a mostrar que apenas em
parte ela o lugar por excelncia da moder-
nidade, e que tambm vige a modernizao
conservadora e todas as suas contradies.
Socializao dos custos e a privatizao
dos benefcios Em segundo lugar, a cidade
brasileira constitui um dos terrenos preferen-
ciais de exerccio do socialismo s avessas.
A concentrao da propriedade fundiria, a
prevalncia dos interesses privados e a fora
poltica dos interesses especulativos tm
resultado em processos nos quais os benef-
cios decorrentes de investimentos pblicos
resultam em valorizao privada. As polticas,
os planos, os projetos urbanos e a cidade, de
maneira geral, acabam se transformando em
mecanismos de transferncia de fundos pbli-
cos para processos privados de valorizao.
Estruturas de poder e clientelismo nas
cidades A concentrao da propriedade
e da riqueza tem tido, quase sempre, como
contrapartida a concentrao do poder nas
mos de coalizes locais que negociam seus
interesses em instncias estaduais e nacionais
e, simultaneamente, reproduzem sua domi-
nao local atravs de redes de clientelismo.
Este, longe de ser um mero vcio da vida po-
ltica, constitui elemento essencial de nossa
estrutura urbana, simultaneamente expresso
das relaes econmicas, sociais e polticas e
poderoso mecanismo de reproduo dessas
mesmas relaes.
30
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
A desigualdade
regional e as cidades
FOTO CUSTDIO COIMBRA
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
NOVAS DINMICAS REGIONAIS
E AS CIDADES
A rede urbana e as tendncias locacionais das
atividades econmicas
Como se pode observar no confronto dos
mapas 1 e 2, o crescimento populacional
brasileiro foi acompanhado de grandes mu-
danas em sua distribuio regional e de um
rpido processo de urbanizao. Entre 1950
e 2000, o grau de urbanizao (percentual
da populao vivendo em cidades) subiu do
patamar de 30% para 80%. De forma similar
distribuio regional, o processo de urbaniza-
o ocorreu com forte diferenciao entre os
estados e regies brasileiras, sendo que em
alguns estados o grau de urbanizao supera
os 95% (So Paulo e Rio de Janeiro), enquanto
em outros ainda est em torno de 50% (Mara-
nho e Par).
Mapas 1 e 2 Rede Urbana com mais de 50 mil pessoas em 1970 e 2000
33 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
34
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
ro, mas seguidas por vrias outras. Tal concen-
trao populacional, sem o correspondente
crescimento da oferta de infra-estrutura fsica
(moradias, saneamento, transporte pblico),
social (educao, sade, lazer), emprego e
renda, leva parte da populao a viver em
condies precrias, em favelas ou outras for-
mas de assentamento onde prolifera a misria,
a degradao humana e o crime organizado.
Por outro lado, o processo de urbanizao
ao mesmo tempo resultado e condicionante
das mudanas estruturais da economia, com
a reduo da importncia relativa da agrope-
curia e da indstria no emprego e na renda,
enquanto cresce o peso dos servios, localiza-
dos preferencialmente nas cidades.
O crescimento da populao e o rpido
processo de urbanizao implicaram no au-
mento da rede urbana, em geral, e das gran-
des cidades, em particular. Ao mesmo tempo
houve rpido crescimento do tamanho das
cidades, tendo o nmero de cidades com po-
pulao acima de 50 mil habitantes subido de
38 em 1950 para 124, em 1970; e 409 em 2000,
sendo 202 com populao superior a 100 mil
habitantes (mapas 1 e 2). Como muitas dessas
cidades tm suas reas urbanas contguas a
outras, amplia-se o tamanho das concentra-
es urbanas. Nesse sentido, existem hoje, no
Brasil, 16 aglomeraes urbanas com mais de
1 milho de habitantes cada, lideradas pelas
megametrpoles de So Paulo e Rio de Janei-
Mapa 3 microrregies com mais de 5 mil empregos industriais em 2002
Como se pode observar no mapa 3, a
rede urbana das regies Sudeste e Sul, onde
esto concentradas as maiores parcelas da
produo e da riqueza, os melhores sistemas
de transportes e comunicaes, fortalecem a
integrao econmica e reforam o padro
macroespacial de concentrao industrial e
dos servios. Em segundo lugar, observa-se o
crescimento das cidades mdias nas regies
de agropecuria extensiva dos cerrados e da
franja amaznica. No entanto, considerada
a dimenso territorial dessa ampla regio, o
nmero de cidades e o tamanho delas ainda
limitado. Igualmente, a rede de cidades de
porte mdio no Nordeste do Brasil ainda li-
mitada, prevalecendo a alta concentrao em
35 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
algumas capitais (Salvador, Recife, Fortaleza)
e, secundariamente, nas demais capitais. Alm
de no se formar uma rede urbano-industrial e
de servios integrada, a grande concentrao
da populao em poucas cidades agrava os
problemas sociais decorrentes da falta de in-
fra-estrutura fsica e social, emprego e renda.
Em anos mais recentes vrias tendncias
locacionais das atividades econmicas tm
inuenciado e so inuenciadas pela rede ur-
bana. Do ponto de vista industrial podem ser
identicados pelo menos quadro grandes mo-
vimentos. O primeiro, pela ampliao da rea
metropolitana de So Paulo e sua integrao
com uma rea dinmica e de comutao di-
ria de pessoas, incluindo as regies de Campi-
nas, So Jos dos Campos, Sorocaba e Santos.
Esta mesorregio contm uma populao es-
timada em 25 milhes de habitantes e detm
mais de um tero da produo industrial e do
PIB do Pas.
Um segundo movimento pode ser observa-
do pela aglomerao macroespacial da inds-
tria entre a regio central de Minas Gerais e o
nordeste do Rio Grande do Sul, o qual combi-
na a relativa desconcentrao da rea metro-
politana de So Paulo com a formao de uma
rede urbano-industrial de integrao, onde se
localizam as indstrias que exigem uma maior
integrao inter-industrial, reforando a rede
urbana regional. Um terceiro movimento ob-
servado pela retomada da indstria da regio
Nordeste do Brasil com o deslocamento ou
criao de novas unidades nos setores txtil,
confeces, calados e alimentos, baseadas
em incentivos scais e trabalho barato. Por
ltimo, o avano da produo agrcola na re-
gio dos cerrados e as exploraes minerais
na regio Norte do pas tm induzido a criao
de novas reas industriais nesta vasta regio,
como se observa no mapa 3.
Do ponto de vista agrcola se observa trs
grandes movimentos. O primeiro a intensi-
cao produtiva das regies mais desenvol-
vidas, especialmente no estado de So Paulo
e seu entorno, pela substituio da pecuria
e da agricultura de menor valor por rea por
uma agricultura intensiva e de alto valor por
rea, a exemplo da laranja, cana- de acar,
fruticultura, horticultura, oricultura etc. Um
segundo movimento a grande expanso
pecuria e agrcola na regio dos cerrados,
includos os estados da regio Centro-Oeste
do Pas e a parcela dos cerrados dos estados
nordestinos (Bahia, Piau e Maranho), onde
ocorre uma grande expanso da produo
pecuria, soja, milho e algodo. O ltimo, so
as reas irrigadas do Nordeste, onde o clima
seco e quente tem permitido o desenvolvi-
mento da fruticultura, atendendo demanda
nacional e s exportaes. Acrescentem-se as
exploraes de recursos naturais (orestais e
minerais) na Regio Norte, com destaque para
as atividades exportadoras.
Essa dinmica territorial recente das ativi-
dades econmicas no Brasil tem reorientado
parcela dos uxos migratrios e contribudo
para a criao e o crescimento da rede de
cidades, nitidamente visualizados na compa-
rao entre os mapas 1 e 2.
Repensar o desenvolvimento urbano e re-
gional brasileiro implica em elaborar um pro-
jeto de mdio e longo prazo que tenha como
meta a reduo das desigualdades regionais e
sociais, um melhor ordenamento do territrio
e uma viso de estratgia geopoltica que in-
clua nossa articulao com os pases vizinhos.
REPENSAR O DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL BRASILEIRO IMPLICA EM ELABORAR UM
PROJETO DE MDIO E LONGO PRAZO QUE TENHA
COMO META A REDUO DAS DESIGUALDADES
REGIONAIS E SOCIAIS, UM MELHOR ORDENAMENTO
DO TERRITRIO E UMA VISO DE ESTRATGIA
GEOPOLTICA QUE INCLUA NOSSA ARTICULAO COM
OS PASES VIZINHOS
36
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Consideradas as desigualdades regionais
na distribuio da populao, das atividades
econmicas e da rede de cidades e os fortes
desnveis sociais no Brasil, a busca de um
Projeto de Nao que combine crescimento
econmico com incluso social deveria estar
baseado em um processo de coeso econ-
mica e social para o qual a recongurao da
rede urbana fundamental.
UMA NOVA TIPOLOGIA DAS CIDADES
BRASILEIRAS
At os anos 90, as diretrizes de desenvol-
vimento urbano e de desenvolvimento
regional privilegiaram, inicialmente, a con-
centrao de investimentos e de esforos
de planejamento nas nove regies metro-
politanas institudas na dcada de 70, para
as quais foram criadas agncias tcnicas de
planejamento. Seguindo uma lgica centra-
lista, o Programa de Cidades de Porte M-
dio promoveu a difuso dos investimentos
urbansticos em pequenas capitais e plos
regionais sem guardar relao com os incen-
tivos fiscais para projetos industriais e agro-
pecurios que eram concedidos por superin-
tendncias regionais como a Sudene. Para a
grande maioria dos municpios, o acesso aos
recursos federais se dava, sobretudo, atra-
vs de relaes de tutela e clientelismo nos
diversos ministrios, ao custo de numerosas
intermediaes polticas e viagens a Braslia.
Com baixas taxas de crescimento econmi-
co e indefinio de canais de financiamento
para cidades e regies, os anos 90 generali-
zam a chamada poltica de balco, em que
projetos isolados de municpios e estados se
submetiam unicamente ao crivo de bancos
federais como Caixa Econmica e BNDES
ou internacionais como o BIRD e BID.
Era um ambiente competitivo. O marketing
urbano e as consultorias privadas aumenta-
vam as desigualdades entre municpios peri-
fricos e centros urbanos mais antigos, ainda
que boas prticas em municpios menores
pudessem atrair, aqui e acol, a ateno das
instituies financiadoras.
Este marco competitivo dominou as
polticas territoriais de Eixos de Desenvol-
vimento que se consubstanciaram nos dois
governos Fernando Henrique Cardoso. Neste
momento, as preocupaes com a desi-
gualdade macrorregional foram canceladas
em funo da promoo de investimentos
em vetores de articulao da economia
brasileira com a economia global, como o
agronegcio voltado para a exportao, a
explorao de recursos minerais e o turismo
internacional. O carter seletivo dessas pol-
ticas aprofundaram as desigualdades entre
regies receptoras de investimentos e outras
deixadas iniciativa local, algumas delas
prximas e mesmo vizinhas entre si.
Desigualdades dessa ordem so capazes
de condenar regies inteiras do pas es-
tagnao e ao esgaramento das redes de
cidades em que as alternativas econmicas
so o atraso agrcola e a emigrao fatal
para a dinmica produtiva regional em mais
de um aspecto. Para essas regies, no basta
que exista uma linha de financiamento nem
mesmo que exista infra-estrutura. preciso
a concorrncia de fatores que apenas o meio
urbano pode mobilizar para pr em marcha
a economia e que so atividades tercirias
interdependentes, como comrcio, transpor-
tes, armazenagem, reparaes mecnicas,
PARA A GRANDE MAIORIA DOS MUNICPIOS,
O ACESSO AOS RECURSOS FEDERAIS SE DAVA,
SOBRETUDO, ATRAVS DE RELAES DE TUTELA
E CLIENTELISMO NOS DIVERSOS MINISTRIOS,
AO CUSTO DE NUMEROSAS INTERMEDIAES
POLTICAS E VIAGENS A BRASLIA
37 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
habitao, sade, cultura, finanas, educa-
o geral e profissional.
Cabe poltica urbana revelar as cidades
para a ao governamental e destacar a sua
importncia para o desenvolvimento de
toda uma regio e do Pas como um todo.
Esta a funo da nova tipologia das cida-
des, em elaborao no mbito da Poltica
Nacional de Desenvolvimento Urbano.
A tipologia de cidades combina parme-
tros bsicos de redes e variveis urbanas
com a recm-criada tipologia de regies
que ser usada pelo Ministrio da Integrao
Nacional para reorientar o desenvolvimento
regional do Pas. Esta tipologia regional
baseada no reconhecimento de quatro Mi-
crorregies: Microrregio de tipo 1, de alta
renda; Microrregio de tipo 2, de mdia e
baixa rendas, mas de alto dinamismo recen-
te; Microrregio de tipo 3, de mdia renda,
mas de baixo dinamismo recente; Microrre-
gio de tipo 4, de baixa renda e baixo dina-
mismo recente.
85,9% dos municpios localizados em
Microrregies de Tipo 4, com baixa renda e
baixo dinamismo econmico, encontram-
se na Regio Nordeste e os 14,1% restantes
encontram-se na Regio Norte. Isto , no
existem municpios de renda baixa e baixo
dinamismo econmico nas regies Sudeste,
Sul e Centro Oeste. Est concentrada no Su-
deste e no Sul a expressiva maioria (90,4%0)
dos municpios localizados em Microrre-
gies de Tipo 1, de alta renda. Est no Norte
a maior parcela (25,2%) dos municpios que
apresentam as mais elevadas taxas de cres-
cimento da populao total, acima de 5%
anual, enquanto o Nordeste (32,1%) e o Sul
(28,5%) tm a maior frao de municpios
com crescimento populacional negativo,
abaixo de -2,5%.
Para revelar o peso do ambiente econ-
mico microrregional na caracterizao das
cidades, a tipologia por microrregies ser
combinada com parmetros territoriais da
Rede de Cidades e com um conjunto de va-
riveis urbanas.
Os parmetros da Rede de Cidades fo-
ram elaborados pelo IPEA, IBGE e o Ncleo
de Economia Social, Urbana e Regional da
Unicamp, resultando numa hierarquia em 5
nveis, na qual 111 municpios so identifica-
dos como ns de uma rede urbana nacional,
com 49 aglomeraes e 62 cidades no
aglomeradas. Esta rede agrega municpios
em unidades territoriais que no so ade-
quadas aos recortes adotados pela tipologia
de microrregies, o que torna obrigatria
a adoo do municpio como unidade de
anlise mnima para a nova tipologia urbana.
A aglomerao de Braslia, por exemplo,
composta de municpios que, do ponto de
vista microrregional, se distribuem em trs
tipos diferentes.
DESIGUALDADES DESSA ORDEM SO CAPAZES
DE CONDENAR REGIES INTEIRAS DO PAS
ESTAGNAO E AO ESGARAMENTO DAS REDES DE
CIDADES EM QUE AS ALTERNATIVAS ECONMICAS SO
O ATRASO AGRCOLA E A EMIGRAO FATAL PARA
A DINMICA PRODUTIVA REGIONAL EM MAIS DE UM
ASPECTO
DESIGUALDADES DESSA ORDEM SO
CAPAZES DE CONDENAR REGIES INTEIRAS
DO PAS ESTAGNAO E AO ESGARAMENTO
DAS REDES DE CIDADES EM QUE AS
ALTERNATIVAS ECONMICAS SO O ATRASO
AGRCOLA E A EMIGRAO FATAL PARA A
DINMICA PRODUTIVA REGIONAL EM MAIS
DE UM ASPECTO
38
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
O cruzamento destes parmetros regionais
com variveis urbanas referentes s dinmicas
populacionais, econmicas, sociais, topolgicas
e de organizao administrativa fornecer um
indito quadro tipolgico sobre a diversidade
das cidades nas regies brasileiras. Este quadro
ser uma importante referncia para a Poltica
Nacional de Desenvolvimento Urbano superar
em denitivo os padres histricos do planeja-
mento urbano e territorial brasileiro, que antes
mais reforaram do que combateram as pro-
fundas desigualdades regionais do pas.
Os estudos promovidos pelo Ministrio das
Cidades apontam para as seguintes hipteses
para a recongurao da rede urbana:
Criao de novas centralidades urbanas
Em contraste com a alta concentrao po-
pulacional nas metrpoles da faixa atlntica,
a criao de novas centralidades nas regies
de menor densidade populacional poderia
cumprir dois papis centrais. Em primeiro
lugar, serviriam de centros de produo in-
dustrial que, alm de seu prprio crescimento,
serviriam tambm como suporte ao desen-
volvimento econmico de seus entornos.
Em segundo lugar, serviriam para reorientar
os uxos migratrios e frear o crescimento
demogrco das grandes metrpoles, contri-
buindo para uma melhor distribuio produti-
va e populacional no Pas.
Essas novas centralidades seriam identi-
cadas pelo potencial da expanso produtiva
(agrcola, industrial, mineral, de servios), e
da intencionalidade poltica em termos de
ordenamento do territrio, reduo das desi-
gualdades regionais, preservao ambiental e
interesses de geopoltica e de soberania.
Um projeto de tal natureza passaria pela
integrao nacional vista em quatro grandes
dimenses, complementares e articuladas:
integrao fsico-territorial; integrao econ-
mica; integrao social e integrao poltica.
Do ponto de vista da Integrao fsico-ter-
ritorial, os elementos centrais para esse tipo
de integrao seriam o desenvolvimento da
infra-estrutura, especialmente transportes, e a
distribuio da rede urbana, o que implicaria
na criao de novas centralidades urbanas, a
exemplo dos papis cumpridos por Braslia,
Goinia e Palmas.
Para o fortalecimento das novas centralida-
des, dois elementos se destacam: os sistemas
de transportes inter-regional e intra-regional e
a concentrao de equipamentos urbanos.
Definio de polticas pblicas especficas
segundo a diversidade da rede urbana
Para as grandes metrpoles, a ao do Estado
deveria privilegiar a extrema concentrao de
populao e riqueza, o desequilbrio ambiental
e as disparidades sociais, um conjunto de coni-
tos e carncias que exigiriam ateno especial.
Para as cidades de regies estagnadas e
de baixa acumulao de riqueza, deveriam
ser dirigidos investimentos distintos daqueles
dirigidos a cidades onde as oportunidades de
desenvolvimento esto travadas pela falta de
urbanizao. Nas cidades menos dinmicas, o
problema urbano consiste em padres tcni-
cos e administrativos atrasados e relaes ru-
ral-urbano pobres, que se traduzem em baixa
capacidade de produo de riqueza e, portan-
to, baixa capacidade de alterao espontnea
do quadro de pobreza. Nestas cidades, a po-
ltica urbana deveria envolver esforos de ar-
ticulao com outros setores governamentais
de modo a fomentar relaes rural-urbano,
isto , dinamizar o processo de urbanizao
PARA AS GRANDES METRPOLES, A AO DO ESTADO
DEVERIA PRIVILEGIAR A EXTREMA CONCENTRAO
DE POPULAO E RIQUEZA, O DESEQUILBRIO
AMBIENTAL E AS DISPARIDADES SOCIAIS, UM
CONJUNTO DE CONFLITOS E CARNCIAS QUE
EXIGIRIAM ATENO ESPECIAL
39 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
necessrio dinamizao da agricultura, com
expanso de atividades complementares nas
reas de habitao, servios pblicos, comr-
cio para o consumo das famlias, etc.
Priorizao de investimentos e aes nas
regies metropolitanas.
Segundo esta hiptese, que ser desenvolvida
no prximo item, as metrpoles so as por-
tadoras dos principais dilemas da sociedade
brasileira. O desperdcio da fora produtiva
concentrada nas metrpoles e os constrangi-
mentos advindos da metropolizao da vida
social inviabilizariam qualquer projeto de de-
senvolvimento e coeso nacional.
Essas hipteses sero discutidas ao longo
do processo da 2 Conferncia Nacional das
Cidades.
REGIES METROPOLITANAS
Dimenses da questo metropolitana
Hoje o Brasil tem 27 regies metropolitanas o-
cialmente reconhecidas, que representam 453
municpios onde vivem cerca de 70 milhes
de habitantes. So dimenses que comportam
uma realidade muito diversicada. De um lado,
temos So Paulo e Rio de Janeiro com densida-
des demogrcas de 2.220 e 1.899 habitantes
por km
2
respectivamente e, de outro, Tubaro
e Carbonfera, em Santa Catarina, com 19,5 e
87,7 habitantes por km
2
. Nos ltimos dez anos,
a populao total das sete maiores regies
metropolitanas ociais cresceu 30%, enquanto
que a populao de seus municpios nucleares
no cresceu mais que 5% e, em algumas reas
centrais, chegou mesmo a diminuir.
O processo de metropolizao avana,
mas se diversica no territrio nacional. Como
mencionamos anteriormente, temos regies
metropolitanas com diferentes portes de po-
pulao, desde megacidades como So Paulo,
reunindo mais de 19 milhes de habitantes,
at pequenas aglomeraes urbanas institu-
cionalizadas como metropolitanas. Algumas
crescem a taxas anuais superiores a 3% ao ano
(como o caso de Goinia e Curitiba e tam-
bm da Regio Integrada de Desenvolvimento
Econmico de Braslia), com expanso expres-
siva at mesmo nos plos, enquanto outras
possuem crescimento elevado apenas nas suas
periferias. As regies tm distintos pesos no
que se refere participao na renda e na di-
nmica da economia, com destaque para So
Paulo, com 178 das 500 maiores empresas do
Brasil e uma massa de rendimento pessoal que
se aproxima de 1/3 da massa total do conjunto
das regies metropolitanas brasileiras.
Muitas de nossas metrpoles e aglomera-
es se articulam congurando novos arranjos
espaciais, com redobrada importncia no pla-
no econmico e social e tambm redobrada
complexibilidade quanto ao compartilhamen-
to de uma gesto voltada incluso social e
municipal. o caso de complexos urbanos
como o das regies de So Paulo, Campinas e
Baixada Santista, que articulam regies distin-
tas num processo nico.
Ao lado das evidncias do aumento da
importncia institucional, demogrca e eco-
nmica, as metrpoles brasileiras concentram
hoje a questo social, cujo lado mais evidente
AS METRPOLES BRASILEIRAS CONCENTRAM HOJE
A QUESTO SOCIAL, CUJO LADO MAIS EVIDENTE E
DRAMTICO A EXACERBAO DA VIOLNCIA. H
DEZ ANOS A VIOLNCIA NAS PERIFERIAS TINHA
OUTRA DIMENSO. NAS METRPOLES DO SUDESTE,
A TAXA DE BITOS POR HOMICDIO CHEGA A MAIS DE
100 MORTOS POR 100 MIL HABITANTES NA FAIXA DA
POPULAO COM IDADE ENTRE 15 E 24 ANOS, O QUE
MUITO PROVAVELMENTE OCASIONAR IMPACTOS NA
ESTRUTURA ETRIA NOS PRXIMOS ANOS
40
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
e dramtico a exacerbao da violncia. H
dez anos a violncia nas periferias tinha outra
dimenso. Nas metrpoles do Sudeste, a taxa
de bitos por homicdio chega a mais de 100
mortos por 100 mil habitantes na faixa da po-
pulao com idade entre 15 e 24 anos, o que
muito provavelmente ocasionar impactos na
estrutura etria nos prximos anos.
O aumento da violncia nas metrpoles
guarda fortes relaes com os processos de
segregao scio-territorial em curso, que
separam as classes e grupos sociais em espa-
os da abundncia e de integrao e em es-
paos de concentrao da populao vivendo
simultneos processos de excluso social. Ao
mesmo tempo, a violncia constitui-se hoje
em desvantagem locacional de algumas me-
trpoles, ao produzir condies econmicas e
institucionais que bloqueiam a sua capacida-
de produtiva, com impactos no emprego e na
renda. Estima-se, por exemplo, que a violncia
gere um custo anual de cerca de R$ 13,4 bi-
lhes nas cidades do Rio de Janeiro, So Paulo
e Belo Horizonte, o que representa aproxima-
damente 6% do PIB dos respectivos estados.
As metrpoles e os desafios das
desigualdades scio-espaciais
Ingressamos na nova fase do capitalismo com
grandes desaos manuteno da coeso
social nas nossas metrpoles. Pela ausncia
de planejamento, corremos o risco de repro-
duzirmos os processos de secesso e de frag-
mentao urbana j observados em algumas
metrpoles, especialmente nas chamadas
global cities.
Estas tendncias contribuem para produzir
no territrio da metrpole dois mecanismos
que aprofundam o carter desigual da socie-
dade brasileira. O primeiro e mais conhecido
a concentrao da riqueza e da renda atra-
vs da distribuio desigual dos investimentos
geradores de bem-estar social urbano e a to-
lerncia a prticas de especulao imobiliria.
Este mecanismo existe em todas as cidades,
mas na grande metrpole brasileira ele funda
a hegemonia da lgica mercantil sob a lgica
produtiva e restringe o mercado de moradia
no Brasil ao segmento de luxo.
Tomemos o Rio de Janeiro, certamente a
cidade onde se evidenciam de maneira mais
extremada os limites que as desigualdades
urbanas impem ao prprio desenvolvimento
da capacidade produtiva do setor da constru-
o civil: nos ltimos anos, 71% das unidades
residenciais lanadas no mercado imobilirio
estavam destinadas aos segmentos com
renda anual superior a R$ 150 mil, devido
escassez relativa do solo urbano, concen-
trao territorial dos bens e servios e baixa
acessibilidade.
O segundo mecanismo menos visvel
o que hoje se estabelece entre a segregao
residencial e a excluso do acesso s oportu-
nidades de trabalho, renda e escolaridade. A
partir dos anos 90 observamos nas principais
metrpoles brasileiras a combinao perversa
de barreiras para a mobilidade social entre
ocupaes qualicadas e no-qualicadas
exigncia de diplomas, experincia e idade,
excluindo amplos segmentos de trabalhadores
do acesso aos postos mais estveis, protegidos
e bem remunerados, e o seu isolamento, social
e cultural em territrios da vulnerabilizao e
da excluso. So bairros perifricos e favelas
que concentram uma populao submeti-
da a mltiplos processos de fragilizao de
suas ligaes com a sociedade mais ampla e
submetida a inmeras situaes de risco. As
enormes distncias que separam as reas cen-
trais das metrpoles dos longnquos bairros
perifricos, associadas decomposio dos
sistemas de transportes, geram tendncias ao
isolamento dos trabalhadores mais fragilizados
no mercado de trabalho, justamente aqueles
mais atingidos pela perda da renda.
41 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
HOJE SE ESTABELECE ENTRE A SEGREGAO
RESIDENCIAL E A EXCLUSO DO ACESSO S
OPORTUNIDADES DE TRABALHO, RENDA
E ESCOLARIDADE. A PARTIR DOS ANOS 90
OBSERVAMOS NAS PRINCIPAIS METRPOLES
BRASILEIRAS A COMBINAO PERVERSA DE
BARREIRAS PARA A MOBILIDADE SOCIAL ENTRE
OCUPAES QUALIFICADAS E NO-QUALIFICADAS
EXIGNCIA DE DIPLOMAS, EXPERINCIA E
IDADE, EXCLUINDO AMPLOS SEGMENTOS DE
TRABALHADORES DO ACESSO AOS POSTOS MAIS
ESTVEIS, PROTEGIDOS E BEM REMUNERADOS,
E O SEU ISOLAMENTO, SOCIAL E CULTURAL EM
TERRITRIOS DA VULNERABILIZAO E DA EXCLUSO
A organizao do territrio produz efeitos re-
gressivos na renda atravs da segregao social
e simblica representada nas favelas. No Rio de
Janeiro, So Paulo e Belo Horizonte, a renda dos
trabalhadores com at quatro anos de estudo
e que residem em favelas , respectivamente,
inferior em 14%, 19% e 21% quela obtida
pelos trabalhadores em igual condio social,
mas que residem fora de favelas. Esta situao
repete-se para todos os atributos incidentes na
determinao da renda e sugere que a popula-
o moradora das favelas objeto de prticas
discriminatrias no mercado de trabalho.
uma segregao residencial que se ex-
pressa nos espaos separados por distintos
regimes jurisdicionais da propriedade imobi-
liria: o da propriedade plena, cartorialmente
assegurada, de valor vinculado ao mercado
imobilirio; e o da posse precria, assegurada
apenas pelas convenes sociais locais, sem
capacidade de se comunicar com as institui-
es do mercado. Por exemplo, os assalaria-
dos com registro trabalhista que moram em
favelas (e eles no so poucos) no podem
usar os seus recursos compulsoriamente de-
positados no FGTS para comprar ou reformar
a sua prpria moradia.
Estudos mostram que nos territrios da
vulnerabilizao e da excluso, em especial
naqueles em que a violncia exacerbada, a
fragilizao da estrutura social e das famlias
acaba por produzir um efeito de segregao
sobre o potencial socializador e democratiza-
dor da instituio escolar. Nas metrpoles do
Rio de Janeiro, So Paulo e Belo Horizonte, por
exemplo, observou-se que crianas de 8 a 15
anos de idade apresentam signicativas dife-
renas de atraso escolar se moram em bairros
que concentram fortemente segmentos so-
ciais de baixa escolaridade e renda, quando
comparadas com o desempenho escolar de
crianas semelhantes, mas que vivem em bair-
ros com maior mistura social.
Uma poltica nacional para as
metrpoles
As metrpoles esto, portanto, no corao
dos dilemas da sociedade brasileira. So em
seu solo que esto dramatizados e concen-
trados os efeitos da disjuno entre nao,
economia e sociedade, inerentes a nossa
condio histrica de periferia da expanso
capitalista. Devemos ser capazes de dar uma
resposta s ameaas de falta de coeso social,
sem o que nenhuma mudana do rumo do
transatlntico da economia estabilizada e sol-
vvel ser possvel ou ter sentido. Ao mesmo
tempo, todos sabem que a estabilizao e a
solvabilizao da nossa economia frente aos
credores internacionais, embora sejam condi-
es fundamentais, no so sucientes para
garantir o nosso desenvolvimento, uma vez
que a capacidade produtiva est ameaada
por vrios processos de dilapidao. Todos
sabem disso, no h nenhum poltico, gover-
nante, jornalista ou intelectual que no perce-
ba os crescentes constrangimentos do nosso
desenvolvimento advindos da metropolizao
da questo social, da violncia urbana, da
degradao do meio-ambiente, da pobreza
urbana, da fragilizao da famlia etc. Mas
cabe ento uma pergunta: por que a questo
metropolitana tem sofrido de uma ameaado-
ra orfandade poltica durante tantos anos?
Os desaos metropolitanos conguram
uma situao de insensatez. A enorme fora
produtiva concentrada em um sistema urba-
no-metropolitano diversicado como o bra-
sileiro certamente s comparvel com a de
poucos pases do mundo no s deixada
inaproveitada como revertida numa acumu-
lao de desastres sociais e ambientais que
dicultam a coeso nacional.
A construo de uma poltica para as me-
trpoles, portanto, um ponto crucial da Pol-
tica Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Com o objetivo de privilegiar a questo
metropolitana no contexto das polticas pbli-
cas nacionais, foi elaborado no nal de 2003 o
Plano de Ao para Metrpoles em Risco, que
apontava prioridades de investimento nas regi-
es metropolitanas nos setores de saneamento
ambiental, habitao e regularizao fundiria.
O plano foi complementado em 2004 para
incluir os setores de mobilidade, transporte e
trnsito e tem orientado a realizao de aes
e a distribuio de recursos do Ministrio das
Cidades, alm de servir como referncia para
polticas conduzidas por outros ministrios.
Entre outros procedimentos adotados na
construo de um poltica metropolitana na-
cional, cabe destacar:
1. A parceria com universidades de todo o
pas reunidas no Observatrio da Metr-
poles para elaborao de um marco legal
nacional que oriente a delimitao das re-
gies metropolitanas pelos estados;
2. O levantamento das polticas, aes e
investimentos do Governo Federal nas
regies metropolitanas como fomento a
um planejamento integrado na Cmara de
Poltica de Integrao Nacional e Desen-
volvimento Regional, sob coordenao do
Ministrio das Cidades.
3. A realizao de estudos para a elaborao
de planos metropolitanos em parceria
do Ministrio das Cidades com estados e
municpios. Estes planos metropolitanos
visaro: A) orientar o uso e a ocupao do
solo na denio, por meio de um macro-
zoneamento, de reas destinadas a distritos
industriais metropolitanos, habitao social
e reas de proteo ambiental; B) orientar
as polticas de drenagem urbana, coleta de
lixo, abastecimento de gua e esgotamen-
to sanitrio; C) orientar a gesto, os inves-
timentos e a integrao dos transportes
coletivos; D) mapear as reas socialmente
vulnerveis e integrar as aes locais e esta-
duais com as aes dos diversos ministrios
do Governo Federal. fundamental lem-
brar que estes planos devem dialogar com
os planos diretores municipais e desejvel
que, a mdio prazo, eles orientem os inves-
timentos pblicos nas reas metropolitanas.
42 42
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
A desigualdade urbana
FOTO CUSTDIO COIMBRA
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
O diagnstico da desigualdade urbana
no Brasil poderia ser realizado por meio de
inmeras abordagens e pontos de vista. No
entanto, para a Poltica Nacional de Desen-
volvimento Urbano, importa enfatizar os pro-
blemas de maior impacto social na habitao,
saneamento, mobilidade e trnsito. So reas
em que o acmulo de informaes no espao
e no tempo permite uma leitura qualicada
da desigualdade no interior de nossas cidades.
DFICITS QUANTITATIVOS
E QUALITATIVOS NA POLTICA
HABITACIONAL
No Brasil, o dcit habitacional meramente
quantitativo da ordem de milhes de unida-
des habitacionais. O pas carece de moradia
para 7,2 milhes de famlias, 5,5 milhes delas
em reas urbanas e 1,7 milhes em reas ru-
rais. O dcit quantitativo nas faixas de renda
de at 2 salrios mnimos de 4,2 milhes de
moradias, concentrado principalmente nas re-
gies metropolitanas. Pelos dados censitrios,
este mesmo dcit sofreu retrao para as
faixas de renda acima de 5 salrios mnimos,
passando de 15,7% do total em 1991 para
11,8% em 2000.
Quanto ao dcit qualitativo, sua quanti-
cao mais preliminar diz respeito densida-
de habitacional e ao padro construtivo da
moradia, bem como sua conexo com redes
de infra-estrutura urbanas. Quase um tero do
total dos domiclios urbanos permanentes do
Pas, 10,2 milhes de moradias, carece de, pelo
menos, um dos servios pblicos abasteci-
mento de gua, esgotamento sanitrio, coleta
de lixo e energia eltrica , com 60,3% destas
moradias nas faixas de renda de at 3 salrios
mnimos. Na regio Nordeste existe mais de
4,4 milhes de moradias com este tipo de
decincia, o que representa cerca de 36,6%
do total do Brasil. Tambm compem o dcit
qualitativo 2,8 milhes de domiclios urbanos
que contabilizam mais de trs moradores por
cmodo da habitao e 837 mil moradias edi-
cadas h mais de 50 anos e carentes de re-
forma e readequao um problema urbano
recente e que dever se agravar nos prximos
anos , pois uma parte expressiva do estoque
de domiclios do Pas foi construda a partir da
dcada de 60.
As necessidades qualitativas se diferenciam
entre as regies do Pas. No Norte, Nordeste
e Centro Oeste, mais de 50% dos domiclios
urbanos permanentes tm algum tipo de ca-
rncia de infra-estrutura urbana e saneamento
ambiental, porcentagem que diminui para
15% no Sudeste, onde o adensamento exces-
sivo e a depreciao so expressivos.
Dois fenmenos associados qualidade
das habitaes tambm precisam ser con-
tabilizados, ainda que as estatsticas sejam
menos inequvocas: o peso dos aluguis para
populaes de baixa renda e a irregularidade
na propriedade da habitao.
O nus excessivo do aluguel, que compro-
mete 30% ou mais do rendimento das famlias
urbanas, um dos principais problemas da
locao para ns de moradia. Em 2000, havia
1,2 milho de famlias com rendimentos de
at trs salrios mnimos nesta situao.
A ausncia de informaes abrangentes e
sistematizadas, de mbito nacional, sobre as
QUASE UM TERO DO TOTAL DOS DOMICLIOS
URBANOS PERMANENTES DO PAS, 10,2 MILHES
DE MORADIAS, CARECE DE, PELO MENOS, UM DOS
SERVIOS PBLICOS ABASTECIMENTO DE GUA,
ESGOTAMENTO SANITRIO, COLETA DE LIXO E
ENERGIA ELTRICA , COM 60,3% DESTAS MORADIAS
NAS FAIXAS DE RENDA DE AT 3 SALRIOS MNIMOS.
NA REGIO NORDESTE EXISTE MAIS DE 4, 4 MILHES
DE MORADIAS COM ESTE TIPO DE DEFICINCIA, O QUE
REPRESENTA CERCA DE 36,6% DO TOTAL DO BRASIL
45 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
46
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
caractersticas dos domiclios e da populao
residente em cortios, que a habitao co-
letiva de aluguel, tem dicultado o conheci-
mento dessa realidade. O crescimento de alu-
guel de cmodos em favelas mais consolida-
das e em reas perifricas outro fenmeno
que tem se intensicado e que contribui para
o adensamento desses assentamentos. Apesar
do aluguel demonstrar alguma capacidade
de pagamento de uma parcela da populao
de baixa renda, por outro lado, ele expe uma
irracionalidade do mercado de locao em
equilibrar a oferta crescente de imveis vagos
nas cidades brasileiras com a demanda mais
necessitada.
Quanto irregularidade fundiria na posse
de terrenos e moradias, estima-se que ela
atinja cerca de 2,2 milhes dos domiclios
urbanos. importante ressaltar que a forma
de coleta desta informao no Censo Demo-
grco subestima a realidade deste universo.
As situaes de irregularidade fundiria esto
presentes em boa parte do Pas e envolvem
ocupaes de terrenos pblicos ou privados
e loteamentos que no passaram por uma ou
mais das diversas e confusas etapas de apro-
vao por parte dos rgos pblicos. Todas
as cidades com mais de 500 mil habitantes
possuem reas irregulares e, embora a proba-
bilidade da existncia dessas irregularidades
aumente com a escala das cidades, existem
assentamentos irregulares ou clandestinos em
pelo menos 39% das cidades com menos de
20 mil habitantes.
A conuncia de todos os dcits e irregu-
laridades fundirias da habitao acontece nas
favelas brasileiras, cujo descontrole se estende
at sua mera quanticao. A nica estatstica
com abrangncia nacional a desenvolvida
pelo IBGE para os chamados aglomerados
subnormais, na qual a metodologia de coleta
dos dados gera distores. Ainda assim, os
censos demogrcos mostram que, entre
1991 e 2000, enquanto a taxa de crescimento
domiciliar foi de 2,8%, a de domiclios em fa-
velas foi de 4,18% ao ano. Entre 1991 e 1996, a
quantidade de domiclios em favelas cresceu
16,6%. Entre 1991 e 2000, 22,5%, totalizando
1.644.266 domiclios em 3.905 favelas.
Frente a estes dcits quantitativos e quali-
tativos concentrados nas populaes de baixa
renda, o Brasil enfrenta um dcit de polticas
pblicas. A gesto do solo e a regulao urba-
nstica das grandes cidades brasileiras so his-
toricamente voltadas para o mercado das clas-
ses mdias e interesses dos mdios e grandes
empreendedores, o que contribui para a
segregao urbana e a excluso territorial
da populao de baixa renda. Instrumentos
urbanos como planos diretores locais, assim
como as leis de parcelamento do solo, no
foram capazes de aumentar a oferta de solo
urbanizado para os mercados de baixa renda
e impedir o crescimento dos assentamentos
precrios e loteamentos clandestinos. Mesmo
a regularizao fundiria de assentamentos
que preenchem as condies exigidas pela lei
DO TOTAL DE 4, 4 MILHES DE UNIDADES
EMPREENDIDAS, NO PERODO DE 1995 A 1999,
APENAS 700 MIL FORAM PROMOVIDAS PELA
INICIATIVA PBLICA OU PRIVADA NO BRASIL.
AS OUTRAS 3 MILHES E 700 MIL UNIDADES
FORAM CONSTRUDAS POR INICIATIVA DA
PRPRIA POPULAO, OU SEJA, CERCA DE 70% DA
PRODUO DE MORADIA NO PAS EST FORA DO
MERCADO FORMAL. A RAZO DESTA INOPERNCIA
DO MERCADO HABITACIONAL BRASILEIRO EST
NO DESENHO INSTITUCIONAL DAS POLTICAS
HABITACIONAIS, CUJA IMPLEMENTAO CONFUSA E
PULVERIZADA LIMITA A REALIZAO DE PROGRAMAS
HABITACIONAIS INICIATIVA DE ALGUNS AGENTES
PROMOTORES, QUE NO CONTAM COM O INCENTIVO
DE UMA POLTICA NACIONAL DE HABITAO
47 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
se caracteriza pela morosidade, e raramente
chegam ao registro de ttulos em cartrio e
inscrio em cadastros pblicos.
A ausncia de polticas pblicas claras e
abrangentes inviabiliza at mesmo a oferta de
moradia para os segmentos de renda mdia
por parte do mercado imobilirio brasileiro.
Do total de 4,4 milhes de unidades empreen-
didas, no perodo de 1995 a 1999, apenas 700
mil foram promovidas pela iniciativa pblica
ou privada no Brasil. As outras 3 milhes e 700
mil unidades foram construdas por iniciativa
da prpria populao, ou seja, cerca de 70%
da produo de moradia no Pas est fora do
mercado formal. A razo desta inoperncia do
mercado habitacional brasileiro est no dese-
nho institucional das polticas habitacionais,
cuja implementao confusa e pulverizada
limita a realizao de programas habitacionais
iniciativa de alguns agentes promotores, que
no contam com o incentivo de uma poltica
nacional de habitao.
As restries que seguem prevalecendo no
mbito dos nanciamentos ao setor pblico
inviabilizam programas de urbanizao e de
combate ao dcit qualitativo, em particular
os destinados complementao da infra-
estrutura. Inviabilizam, ainda, o atendimento
da populao de menor renda e as obras em
assentamentos precrios favelas, cortios,
palatas. A rigidez na concesso do crdito,
a utilizao de critrios conservadores na
anlise de risco, a ausncia de uma poltica de
subsdios para compatibilizar o custo do im-
vel capacidade de renda da populao mais
pobre conduz a aplicao em faixas de renda
mdia os principais fundos pblicos brasileiros
voltados habitao e infra-estrutura urbana.
A aplicao de 79% dos recursos do Fundo
de Garantia por Tempo de Servio no atendi-
mento populao com renda acima dos 5
salrios mnimos no determinada de acor-
do com o perl do dcit habitacional do Pas.
Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor, em virtude da sua caracterstica onerosa,
no contribuem para amenizar a diculdade
de atendimento do segmento populacional
de menor renda, que no acessa o crdito ha-
bitacional. Os nanciamentos habitacionais do
Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimo,
no perodo compreendido entre 1990 e 2002,
apresentaram um ritmo inferior metade do
patamar histrico de suas aplicaes. Esta
queda reete a pouca atratividade da Cader-
neta de Poupana e a exagerada exibilidade
assegurada aos agentes captadores no tocan-
te ao cumprimento das exigibilidades de apli-
cao. Esta reduo na oferta de crdito para
as famlias de classe mdia deixou uma parce-
la do mercado potencial sem atendimento e
criou uma presso sobre os recursos do FGTS.
O Sistema de Financiamento Imobilirio,
criado em 1997, no conseguiu proporcionar
aumento de investimentos no setor habitacio-
nal em virtude da falta de segurana jurdica
nos contratos e inexistncia de um mercado
secundrio que garantisse liquidez para os
ttulos lastreados em recebveis imobilirios.
O ambiente nanceiro instvel provocado
pelo endividamento externo do Pas, a ma-
nuteno de taxas de juros altas e a incerteza
quanto s taxas futuras agravaram o risco de
inadimplncia e inviabilizaram o lanamento
de papis de prazo longo, especialmente se
lastreados em recebveis residenciais.
INSUSTENTABILIDADE DA MOBILIDADE
URBANA TRNSITO E TRANSPORTE
As principais cidades e regies metropolitanas
do Brasil sofrem hoje uma crise sem prece-
dentes na histria da mobilidade urbana no
Brasil. Trata-se de uma crise de controle pbli-
co sobre a mobilidade e o trnsito, visvel na
clandestinidade crescente, na desvinculao
das polticas de uso do solo e transporte e na
48
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
diminuio de investimentos nos modos cole-
tivos e no motorizados frente ao automvel
particular. Na ordenao do trnsito, apesar
da vigncia do Cdigo Brasileiro de Trnsito
desde 1998, ainda no foram regulamentadas
as articulaes entre os rgos que compem
o Sistema Nacional de Trnsito nem aes
importantes como a inspeo tcnica veicular
e a aplicao dos recursos provenientes das
multas de trnsito em aes de engenharia,
operao, scalizao e educao.
O mais importante aspecto desta crise
a queda da ecincia do transporte coletivo
urbano brasileiro.
O transporte coletivo brasileiro, operado
por 1600 empresas (sendo 12 metro-ferro-
virias) e com faturamento anual de R$ 20
bilhes, possui nmeros que do dimenso
aos riscos econmicos e sociais de sua queda
de desempenho. Nas 223 cidades com mais
de 100 mil habitantes circulam cerca de 115
mil nibus e 2700 veculos sobre trilhos. Estes
veculos transportam 64 milhes de passagei-
ros por dia, sendo os sistemas metrovirios e
ferrovirios o modo principal para 5 milhes
deles. 80% de todas essas viagens concen-
trem-se nas regies metropolitanas e aglome-
raes Urbanas. Cerca de 95% das operaes
so realizadas por operadores privados.
O transporte pblico um importante
elemento de combate pobreza urbana. No
entanto, o percentual da renda mdia familiar
gasto com o transporte urbano aumenta con-
forme diminui a renda da famlia. Ou seja, alm
dos mais pobres serem mais dependentes dos
transportes coletivos, modo de deslocamento
no priorizado nas polticas urbanas da maioria
das cidades brasileiras, eles ainda devem pagar
relativamente mais caro para utiliz-los. Assim,
se o servio no for adequado s necessidades
da populao mais pobre, ele se torna um
empecilho ao acesso s oportunidades e ativi-
dades essenciais uma barreira social.
Esta hiptese da barreira social vem se
conrmando com a queda da demanda pelo
transporte pblico em todo o Brasil, queda
em termos relativos e, mais recentemente,
tambm em termos absolutos. Pesquisa da
Associao Nacional das Empresas de Trans-
porte de Passageiros, realizada em 2002 nas
oito maiores capitais brasileiras, mostra que
nelas o transporte pblico perdeu cerca de
25% da demanda entre 1994 e 2001, e a pro-
dutividade medida pela relao entre passa-
geiros transportados e distncia rodada caiu
de cerca de 2,2 para 1,5.
Durante a vigncia do Plano Real, entre
julho de 1994 e agosto de 2003, houve ina-
o acumulada de 155% e reposio de renda
nas famlias mais pobres de 131%. Ao mesmo
tempo, as tarifas de nibus, na mdia das dez
maiores regies metropolitanas, escalaram
242%. Essa mistura de diminuio de renda
real com aumento de tarifa de transporte pro-
duz a imobilidade da populao em territrios
da pobreza, impedidas de circular livremente
na metrpole procura da ocupao e da
renda, ainda que precria e de baixa remune-
O TRANSPORTE COLETIVO BRASILEIRO, OPERADO
POR 1600 EMPRESAS (SENDO 12 METRO-
FERROVIRIAS) E COM FATURAMENTO ANUAL
DE R$ 20 BILHES, POSSUI NMEROS QUE DO
DIMENSO AOS RISCOS ECONMICOS E SOCIAIS DE
SUA QUEDA DE DESEMPENHO. NAS 223 CIDADES
COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES CIRCULAM
CERCA DE 115 MIL NIBUS E 2700 VECULOS SOBRE
TRILHOS. ESTES VECULOS TRANSPORTAM 64
MILHES DE PASSAGEIROS POR DIA, SENDO OS
SISTEMAS METROVIRIOS E FERROVIRIOS O MODO
PRINCIPAL PARA 5 MILHES DELES. 80% DE TODAS
ESSAS VIAGENS CONCENTREM-SE NAS REGIES
METROPOLITANAS E AGLOMERAES URBANAS.
CERCA DE 95% DAS OPERAES SO REALIZADAS POR
OPERADORES PRIVADOS
49 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
rao. Nos ltimos nove anos, nessas mesmas
regies metropolitanas, nada menos de 26%
dos brasileiros com renda familiar abaixo de
R$ 500 trocaram o nibus pelos deslocamen-
tos a p. Outros 13%, pela bicicleta.
Trs aspectos da crise do transporte pbli-
co urbano cam evidenciados nesta queda
de demanda e de produtividade: a gesto
estagnada do sistema de transporte pblico, o
modelo remuneratrio insuciente e a derrota
frente prioridade do transporte individual
nas polticas pblicas de trnsito e transporte.
As aes de scalizao, administrao e
planejamento, que compem a gesto do
sistema, hoje se encontram paralisadas diante
do aumento da informalidade. Trata-se de
uma rede de concorrncia ilegal formada em
quase todas as grandes cidades brasileiras e
que migra de reas no cobertas por sistemas
pblicos de transporte para concorrer em
linhas com rentabilidade garantida, sem exer-
cer gratuidades ou isenes. Esta migrao s
possvel porque freqentemente o sistema
legal est assentado em contratos de servio
inadequados, incapazes de sustentar uma
regulao integrada do transporte urbano,
quando a desregulamentao o prprio
meio em que o transporte coletivo informal
prospera na disputa por passageiros.
Mesmo em situaes em que a gesto e a
operao conseguem conter a informalidade,
acontecem crises nanceiras cclicas do trans-
porte pblico que so causadas pelo modelo
remuneratrio do sistema, pois freqente
que ele incompatibilize custos com receitas,
tarifas e subsdios. Nos ltimos 15 anos, os
recursos oramentrios para transferncia
voluntria se tornaram escassos e os poucos
investimentos em corredores exclusivos e
terminais de integrao, a maior parte deles
provenientes do BNDES, estiveram dissocia-
dos de uma poltica nacional estruturada para
a mobilidade urbana.
Por m, o transporte coletivo brasileiro
enfrenta um permanente obstculo poltico e
ideolgico, que a prioridade dos oramen-
tos pblicos para o transporte individual. Os
investimentos no sistema virio, que bene-
ciam geralmente os usurios de automvel
particular, so defendidos como de interesse
pblico, ao passo que investimentos em gran-
des sistemas de transporte pblico passam a
depender do mercado nanceiro ou da dispo-
nibilidade dos poucos recursos governamen-
tais. uma barreira ideolgica que impede
que os custos impostos sociedade pelo uso
do automvel particular sejam contabilizados.
A face mais perversa da crise da mobilida-
de urbana a aceitao do transporte indivi-
dual como sua soluo. Ela implica em inves-
timentos constantes em expanso da malha
viria para suportar o crescimento de nossa
motorizao, que aumentou de 1 veculo para
cada 122 habitantes, em 1950, para 1 veculo
para cada 5 habitantes, em 2003. Atualmente,
os veculos particulares representam somente
19% dos deslocamentos nas cidades brasilei-
ras, mas consomem cerca de 70% de suas vias,
uma desproporo que gera impactos diretos
na velocidade dos meios coletivos e, portanto,
em seus custos de operao. Segundo esti-
mativa do IPEA, os congestionamentos au-
mentam em 10% os custos operacionais dos
nibus do Rio de Janeiro, e em 16% os de So
Paulo. Segundo estudo da Associao Nacio-
nal de Transportes Pblicos, no confronto de
NOS LTIMOS 15 ANOS, OS RECURSOS
ORAMENTRIOS PARA TRANSFERNCIA
VOLUNTRIA SE TORNARAM ESCASSOS E OS POUCOS
INVESTIMENTOS EM CORREDORES EXCLUSIVOS E
TERMINAIS DE INTEGRAO, A MAIOR PARTE DELES
PROVENIENTES DO BNDES, ESTIVERAM DISSOCIADOS
DE UMA POLTICA NACIONAL ESTRUTURADA PARA A
MOBILIDADE URBANA.
50
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
nmero de passageiros por quilmetro trans-
portado por nibus e por automvel particu-
lar, este ltimo gasta 12,7 vezes mais energia,
produz 17 vezes mais poluentes e consome
6,4 vezes mais espao em vias.
uma soluo socialmente insustentvel e
que faz os investimentos das grandes cidades
brasileiras em infra-estrutura de vias, tneis e
viadutos se consumirem nos custos cada vez
mais crescentes dos congestionamentos, dos
acidentes de trnsito e da poluio ambiental.
REGRESSIVIDADE DO INVESTIMENTO
EM SANEAMENTO AMBIENTAL
A mais bsica das avaliaes do saneamento
bsico, a evoluo da cobertura de prestao
de servio, mostra que cresceu a quantidade
de domiclios servidos por abastecimento de
gua e esgotamento sanitrios nos ltimos
anos do sculo passado. O Censo Demogr-
co de 2000 registra que 77,8% dos domiclios
particulares permanentes brasileiros tm
acesso rede geral de abastecimento de gua
e 62,5% esto ligados rede geral de esgota-
mento sanitrio e/ou pluvial ou dispem de
fossa sptica. Vinte anos antes, o Censo De-
mogrco de 1980 registrava respectivamente
porcentagens de 54,9% e 43,2%.
No entanto, a anlise desta expanso revela
que, alm de insuciente para universalizao
dos servios de saneamento bsico, ela ocor-
reu sem reduzir as desigualdades regionais e
de renda.
Um nmero signicativo de localidades
permanece numa situao de completa au-
sncia de saneamento ou dispe de servios
decitrios. Segundo a Pesquisa Nacional de
Saneamento Bsico do IBGE (PNSB 2000), ape-
sar do volume de gua distribuda per capita
ter crescido em quase todo o pas, o volume
global de gua distribuda sem tratamento
aumentou de 3,9% para 7,2% entre 1989 e
2000. Neste mesmo perodo, o nmero de
municpios que dispem de servios de abas-
tecimento de gua passou de 4245 (95,9%
dos municpios em 1989) para 5391 (97,9%
dos municpios em 2000). Esse crescimento,
no entanto, foi repartido de forma desigual
no Pas. Na Regio Norte e Nordeste, ao invs
do percentual de municpios sem servios de
abastecimento de gua diminuir, aumentou,
respectivamente, de 21,7% para 23,3% e de
50% para 56%. Na Regio Sudeste, 70,5% dos
domiclios esto servidos por abastecimento
pblico de gua, enquanto na Regio Norte
e Nordeste, essa proporo de respectiva-
mente 44,3% e 52,9%.
Segundo o Censo Demogrco de 2000, a
porcentagem de domiclios que destinam os
seus esgotos diretamente para vala, rio, lago
ou mar cresceu de 4,2% para 5,1% entre 1980
e 2000. Mesmo no caso do esgoto coletado
por rede pblica em rea urbana, cerca de
70% dele no recebe qualquer tipo de tra-
tamento quando da sua disposio nal em
corpos dgua naturais.
O diagnstico do manejo de resduos
slidos precisa levar em conta que, embora
o Censo Demogrco de 2000 informe que
quase 80% dos domiclios brasileiros sejam
atendidos com coleta de lixo pblica, apenas
8,2% dos municpios tm programa de coleta
seletiva e uma parcela ainda menor incorpora
os catadores como parceiros dos servios
SEGUNDO O CENSO DEMOGRFICO DE 2000, A
PORCENTAGEM DE DOMICLIOS QUE DESTINAM OS
SEUS ESGOTOS DIRETAMENTE PARA VALA, RIO, LAGO
OU MAR CRESCEU DE 4,2% PARA 5,1% ENTRE 1980 E
2000. MESMO NO CASO DO ESGOTO COLETADO POR
REDE PBLICA EM REA URBANA, CERCA DE 70%
DELE NO RECEBE QUALQUER TIPO DE TRATAMENTO
QUANDO DA SUA DISPOSIO FINAL EM CORPOS
DGUA NATURAIS
51 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
de triagem e reciclagem. A maioria dos mu-
nicpios no possui autarquias ou empresas
pblicas especcas para a limpeza urbana e
destina o lixo coletado para depsitos a cu
aberto.
No caso dos servios de drenagem, a
precariedade da organizao tambm mar-
cante. Pouqussimos servios so organizados
como autarquias, o que os torna dependentes
da administrao direta e sem vinculao
institucional precisa. Segundo a PNSB 2000,
apenas 256 municpios tm plano diretor de
drenagem, pouco mais de mil contam com in-
formaes pluviomtricas e meteorolgicas e
apenas 700 utilizam essas informaes. A pou-
ca troca de experincia entre os municpios
acerca dos modelos e experincias exitosas
limita o planejamento das intervenes aos
padres simplistas do controle de cheias.
A expanso da cobertura do saneamento
ambiental se deu de forma regressiva tanto
do ponto de vista social quanto regional, pois
concentrou os servios na populao e nas re-
gies de maior renda. No Censo Demogrco
de 2000, a faixa de renda abaixo de 2 salrios
mnimos apresenta um ndice de cobertura
dos servios de saneamento abaixo da mdia
nacional, enquanto que as faixas acima de 10
salrios mnimos apresentam uma cobertura
superior mdia nacional em cerca de 25%
nos servios de gua e em 40% nos servios
de esgotos. Considerando a distribuio desta
cobertura no pas, nos municpios de mais de
300 mil habitantes, 75% dos domiclios so
abastecidos de gua atravs de uma rede
geral pblica. Nos de menos de 20 mil habi-
tantes, so apenas 46% dos domiclios nesta
condio.
Esta distribuio socialmente regressiva foi
motivada tambm pela desorganizao insti-
tucional do setor aps a extino do Planasa e
seu modelo de planejamento que induziu os
municpios a conceder a gesto dos servios
de gua e esgoto para companhias estadu-
ais. Conitos e competio entre os entes
federativos, ausncia de uma poltica perma-
nente de investimentos federais, recusa dos
municpios em renovarem os acordos com
as operadoras estaduais rmados durante a
vigncia do Planasa e indenio de compe-
tncias, so os problemas que incidem sobre
o saneamento brasileiro pela ausncia de um
marco regulatrio coerente com os princpios
da Constituio de 1988.
Ao nal da dcada de 90, houve no setor
de saneamento uma retrao nos investimen-
tos necessrios universalizao dos servios,
que atingiu seu grau mximo nos anos de
2000 e 2002, quando os investimentos repre-
sentaram cerca de 0,07% do PIB. O pico de in-
vestimentos nos anos 90 foi de irrisrios 0,19%
do PIB, atingido em 1998. A limitao dos in-
vestimentos federais e a gesto ineciente das
empresas deixaram as operadoras estaduais
em situao nanceira precria. As resolues
do Conselho Monetrio Nacional, emitidas a
partir de 1998, limitaram signicativamente as
possibilidades das empresas pblicas de assu-
mirem emprstimos internos e externos.
Segundo dados do Sistema Nacional de
Informaes de Saneamento para o ano de
A EXPANSO DA COBERTURA DO SANEAMENTO
AMBIENTAL SE DEU DE FORMA REGRESSIVA TANTO
DO PONTO DE VISTA SOCIAL QUANTO REGIONAL, POIS
CONCENTROU OS SERVIOS NA POPULAO E NAS
REGIES DE MAIOR RENDA. NO CENSO DEMOGRFICO
DE 2000, A FAIXA DE RENDA ABAIXO DE 2 SALRIOS
MNIMOS APRESENTA UM NDICE DE COBERTURA
DOS SERVIOS DE SANEAMENTO ABAIXO DA MDIA
NACIONAL, ENQUANTO QUE AS FAIXAS ACIMA DE 10
SALRIOS MNIMOS APRESENTAM UMA COBERTURA
SUPERIOR MDIA NACIONAL EM CERCA DE 25%
NOS SERVIOS DE GUA E EM 40% NOS SERVIOS DE
ESGOTOS
2002, as 26 operadoras regionais que atuam
em mbito estadual contabilizaram um d-
cit total de cerca de R$ 2,2 bilhes, situao
que limita as possibilidades de ampliao dos
servios para a populao de baixa renda.
O sucateamento do setor na ltima dcada
tambm pode ser percebido atravs da razo
entre produo de servios e receitas geradas.
Em 2002, o setor de saneamento obteve uma
receita total de R$13,5 bilhes e uma despesa
total de R$14,1 bilhes. Por outro lado, a dife-
rena entre os servios faturados e disponibili-
zados indica que o ndice mdio de perdas de
faturamento foi da ordem de 40,5%.
52
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Propostas estruturantes
da PNDU
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Reconhecidas as especicidades de cada um
dos setores em que hoje se organiza o Minis-
trio das Cidades programas urbanos, habi-
tao, mobilidade, transporte e trnsito, sane-
amento e desenvolvimento institucional
fundamental no perder de vista uma realidade
urbana que una, vivenciada quotidianamente
pela imensa maioria da populao enquanto
unidade, e na qual so inseparveis as precrias
condies de habitao, saneamento, transpor-
te, educao, atendimento sade, lazer etc.
No reconhecimento de que polticas setoriais
so indispensveis e podem ser estruturantes
do desenvolvimento urbano fundamental en-
tender que elas tanto mais o sero, na direo
hoje pretendida, quanto mais estiverem inte-
gradas numa Poltica Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano, e que ela tambm se articule
com outras polticas governamentais hori-
zontalmente, no mbito federal, e verticalmen-
te, na direo de estados e municpios.
IMPLEMENTAO DOS INSTRUMENTOS
FUNDIRIOS DO ESTATUTO DA CIDADE
A aplicao dos instrumentos que visam
realizao da funo social da cidade e da
propriedade, previstos no Estatuto da Cidade,
signica o combate apropriao privada
dos investimentos pblicos na construo da
cidade e, como tal, um objetivo central na
Poltica de Desenvolvimento Urbano.
Como a aplicao desses instrumentos se
d por meio do Plano Diretor, o planejamento
urbano assume uma importncia mpar para
os anos de 2005 e 2006, quando o Estatuto
das Cidades obriga a elaborao ou reviso
de Plano Diretor Participativo nos municpios
com populao acima de 20 mil habitantes e
de Plano de Transportes nos municpios com
mais de 500 mil habitantes.
A reforma urbana, atravs de decidida apli-
cao do Estatuto da Cidade e de uma poltica
fundiria voltada para a incluso social, cons-
titui o ncleo da PNDU. O desenvolvimento
urbano, entendido como armao do direito
cidade para todos e como uma das molas mes-
tres de um novo modelo de desenvolvimento,
no ser vivel enquanto a propriedade fundi-
ria e imobiliria continuar capturando, via pre-
os de um mercado altamente especulativo, os
ganhos resultantes do investimento pblico e
do processo de urbanizao.
Embora o planejamento e a gesto territo-
rial e fundiria urbana sejam polticas a serem
desenvolvidas no mbito de cada um dos
municpios brasileiros, o apoio do Governo
Federal fundamental, no apenas porque
este concentra parcela signicativa dos meios
de nanciamento implementao destas
polticas, mas tambm em funo da conhe-
cida fragilidade tcnico-institucional de boa
parte das administraes municipais para
levar a cabo esta importante tarefa. O estabe-
lecimento de processos inovadores de plane-
jamento urbano e gesto fundiria nos muni-
cpios exige a atuao decidida do Governo
Federal no sentido de disponibilizar meios e
recursos, assim como mobilizar e sensibilizar o
Pas para a necessidade de implementao do
Estatuto da Cidade.
H mais de vinte anos, o governo federal
no tem atuado no campo do planejamento
territorial urbano. A nica e derradeira refe-
rncia a estratgias nacionais neste campo se
A DEMOCRATIZAO DO PAS VEIO ACOMPANHADA
DE AVANOS NO CAMPO DA GESTO URBANA,
ESPECIALMENTE NO RECONHECIMENTO DO DIREITO
MORADIA E CIDADE E NA INCORPORAO DOS
MAIS POBRES COMO OBJETO DE POLTICAS URBANAS.
ENTRETANTO, NO SE RETOMOU PAS, AT O
MOMENTO, A AGENDA DE UM NOVO ORDENAMENTO
TERRITORIAL COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL DE
UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
55 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
deram no perodo autoritrio, conectada ao
projeto de integrao nacional dos governos
militares e a prticas tecnocrticas e antide-
mocrticas. A democratizao do Pas veio
acompanhada de avanos no campo da gesto
urbana, especialmente no reconhecimento do
direito moradia e cidade e na incorporao
dos mais pobres como objeto de polticas ur-
banas. Entretanto, no se retomou Pas, at o
momento, a agenda de um novo ordenamento
territorial como componente fundamental de
um projeto de desenvolvimento.
Se a nvel nacional, a proposta de um orde-
namento territorial como suporte a um pro-
jeto de desenvolvimento para o Brasil ainda
estar por ser formulada, na escala dos munic-
pios o imediatismo e pragmatismo da gesto
tm hegemonizado as prticas dos governos
locais. Dessa forma, o modelo que ainda es-
trutura o crescimento de nossas cidades re-
produz a cultura urbanstica herdada do per-
odo autoritrio. um modelo excludente, que
desconsidera as necessidades da maioria dos
moradores, segrega e diferencia moradores
includos na urbanidade formal e moradores
dela excludos, com inequvocos impactos s-
cio-ambientais para a cidade como um todo.
Trata-se ainda de um modelo baseado na
expanso horizontal e no crescimento como
ampliao permanente das fronteiras, na sub-
utilizao das infra-estruturas e urbanidade j
instalada e no deslocamento por automvel.
Um projeto de desenvolvimento do Pas
pautado pela incluso social e ampliao da
cidadania no pode prescindir da tarefa de
questionar fortemente este modelo em todas
as escalas territoriais e, mais ainda, propor al-
ternativas. Estas alternativas passam evidente-
mente pela insero, no centro da agenda do
planejamento, a questo do lugar dos mais
pobres na cidade, o que, por sua vez, passa
necessariamente pela gesto fundiria urba-
na. Este , portanto, o eixo central da poltica
e conseqentemente, dos programas e aes
propostos: um projeto de incluso territorial
das maiorias, que garanta no apenas a me-
lhoria imediata das condies urbanas de vida
dos mais pobres como tambm a construo
de um modelo democrtico de cidade para
o futuro. Esta alternativa passa tambm pelo
aproveitamento mais intenso das infra-estru-
turas instaladas, pela reabilitao e democra-
tizao de reas consolidadas degradadas ou
sub-utilizadas.
So polticas e aes que contemplam dois
movimentos simultneos e complementares
para cumprir esta misso:
A) um movimento de incorporao e requali-
cao da cidade real, uma ao regenera-
tiva tanto pela regularizao dos assenta-
mentos de baixa renda consolidados como
de gerenciamento e remoo de risco nos
assentamentos precrios, reconhecendo
plenamente direitos moradia que j se
constituram nas cidades;
B) um movimento preventivo, no sentido de
evitar a formao de novos assentamentos
precrios no Pas, ocupaes e usos do
solo predatrios do patrimnio cultural e
ambiental e apropriaes indevidas dos
investimentos coletivos;
O pressuposto destas aes o respeito a
autonomia municipal, a construo de par-
UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO PAS PAUTADO
PELA INCLUSO SOCIAL E AMPLIAO DA CIDADANIA
NO PODE PRESCINDIR DA TAREFA DE QUESTIONAR
FORTEMENTE ESTE MODELO EM TODAS AS ESCALAS
TERRITORIAIS E, MAIS AINDA, PROPOR ALTERNATIVAS.
ESTAS ALTERNATIVAS PASSAM EVIDENTEMENTE
PELA INSERO, NO CENTRO DA AGENDA DO
PLANEJAMENTO, A QUESTO DO LUGAR DOS MAIS
POBRES NA CIDADE, O QUE, POR SUA VEZ, PASSA
NECESSARIAMENTE PELA GESTO FUNDIRIA URBANA
56
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
cerias locais e a participao da cidadania na
concepo, execuo e scalizao da ao. O
governo federal apia parceiros locais, na sua
maioria entidades e segmentos integrantes do
Conselho das Cidades, a construrem novas
prticas de planejamento e de gesto demo-
crtica do territrio municipal. Em primeiro
lugar, este apoio se d por uma ao indireta
de disseminao de cultura urbana democr-
tica, includente, redistributiva e sustentvel, o
que se traduz em aes de sensibilizao, mo-
bilizao e divulgao. Em segundo lugar, o
apoio do Governo Federal se d por meio de
uma ao direta, que se traduz em programas,
aes e transferncia de recursos nanceiros
como instrumentos nas seguintes polticas
pblicas:
Poltica de Apoio Elaborao e Reviso de
Planos Diretores tem como misso estimular
os municpios a novas prticas democrticas
e participativas de gesto e planejamento
territorial. A elaborao de Planos Diretores
Municipais pelos municpios que tomam re-
cursos subsidiados ou nanciados do Governo
Federal (Ministrio das Cidades, DI-HBB, MinC,
MMA, PNAFM, PMAT) receber, atravs desta
poltica, orientaes conceituais, program-
ticas e metodolgicas para a execuo dos
seguintes instrumentos de captura da valo-
rizao fundiria e promoo da Habitao
de Interesse Social previstos no Estatuto da
Cidade: A) vericao da funo social da pro-
priedade e garantia de terras e imveis para
os empreendimentos de interesse social; B)
elaborao de Plano de Reabilitao de reas
Centrais para o nanciamento da Habitao
de Interesse Social em regies dotadas de in-
fra-estrutura urbana; C) ampliao do controle
pblico sobre a ocupao do solo em reas
de proteo ambiental e de risco geotcnico;
D) impedimento para a construo de novas
moradias urbanas em reas afastadas do
tecido urbano consolidado; E) regularizao
e urbanizao de reas de assentamentos
precrios ou sua remoo para reas cont-
guas, em situaes dignas; F) elaborao de
planos setoriais de Habitao e Saneamento
Ambiental. A metodologia proposta se con-
trape prtica tradicional de planos direto-
res normativos, tecnocrticos e com restrita
legitimidade social, e prope o Plano Diretor
como resultado de um pacto construdo pela
sociedade para assegurar a sua implementa-
o e controle;
Poltica Nacional de Apoio Regularizao
Fundiria Sustentvel o enfrentamento
do tema da irregularidade urbana cada vez
mais presente nas nossas cidades, marcadas
por vastos territrios ilegais, informais e pre-
crios, condio essencial para qualquer
perspectiva de sustentabilidade urbana. Esta
poltica abriga a construo de um marco
jurdico para novas prticas cartorrias, a uti-
lizao do patrimnio imobilirio federal nas
cidades, envolvendo imveis da Unio (INSS,
RFFSA e terrenos de marinha), e o Programa
Papel Passado, criado em 2003, para apoiar
a regularizao fundiria de assentamentos
precrios em reas urbanas ocupadas por po-
pulao de baixa renda;
Poltica Nacional de Preveno de Risco em
Assentamentos Precrios poltica que opera
com um conceito inovador de preveno e
remoo do risco contra o nmero recorrente
de mortes por escorregamentos em encostas,
principalmente nas ocupadas por favelas e
assentamentos precrios nas maiores regies
metropolitanas. Um fenmeno que a princpio
pode ocorrer em todas as reas de elevada
declividade, na realidade ocorre quase predo-
minantemente em favelas, vilas e loteamentos
irregulares implantados em encostas serranas
e morros urbanos. Nestes locais, a natural vul-
57 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
58
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
nerabilidade do terreno alia-se carncia de
infra-estrutura urbana, padres de ocupao
inadequados, elevada densidade da ocupao
e fragilidade das edicaes, potencializando
tanto a freqncia das ocorrncias quanto
a magnitude das conseqncias. Em vrias
localidades, aes judiciais buscam obrigar as
prefeituras a remover milhares de habitantes
de favelas devido a problemas de risco geo-
tcnico. Em primeiro lugar, as remoes so
impraticveis. Mapeamento de risco realizado
pela Prefeitura do Municpio de So Paulo
em 2002 indica a existncia de cerca de 12
mil moradias em risco alto ou muito alto de
escorregamento, para um total de 291.983 do-
miclios implantados em favelas. Assim, para
o municpio de So Paulo uma poltica de
gerenciamento de risco deveria incrementar
a segurana de cerca de 4% dos domiclios
em favelas e no remover o total de 291.983
domiclios, numa situao que no difere
sensivelmente nas demais grandes cidades
brasileiras. Em segundo lugar, as remoes
so desnecessrias. necessrio contrapor
ao conceito de remoo de favelas em risco a
proposta de remoo do risco, como tem sido
implementada h mais de 10 anos, com avan-
os e recuos, em cidades como Belo Horizon-
te, Rio de Janeiro ou So Paulo. Isto tambm
signica implementar, nos municpios, um
programa especco de reduo de riscos que
seja complementar aos programas de urba-
nizao integral e regularizao fundiria dos
assentamentos precrios, ainda que a urgn-
cia da atuao na questo de risco no per-
mita que se espere todo o tempo necessrio
para se proceder urbanizao integral dos
assentamentos posto que vtimas podem
ocorrer j no prximo perodo de chuvas;
Poltica Nacional de Apoio Reabilitao
de Centros Urbanos preconiza um pro-
cesso de gesto integrada, pblica e privada,
de recuperao e reutilizao do acervo
edicado em reas j consolidadas da cidade,
compreendendo os espaos e edicaes
ociosas, vazias, abandonadas, subutilizadas e
insalubres, a melhoria dos espaos e servios
pblicos, da acessibilidade e dos equipamen-
tos comunitrios. Por meio do repovoamento
dos centros com atividades econmicas e mo-
radia popular, esta poltica, criada em parceria
com a Caixa Econmica Federal e o Ministrio
da Cultura, expressa um novo modelo de
planejamento e ao para as cidades, em con-
traposio ao modelo de desenvolvimento
urbano baseado na expanso permanente das
fronteiras, na periferizao dos mais pobres e
no abandono e subutilizao das reas conso-
lidadas e dotadas de infra-estrutura.
Alm dessas polticas, aes de carter
interministerial diretamente ligadas gesto
territorial urbana esto aperfeioando formas
de cooperao intermunicipal, atravs de con-
srcios pblicos, e formulando critrios para a
criao e fuso de municpios. O Ministrio das
Cidades tem colaborado junto com o Minist-
rio do Planejamento, Casa Civil, Ministrio da
Integrao Nacional e Ministrio do Desenvol-
vimento Agrrio na construo de espaos go-
vernamentais de planejamento territorial. Entre
estes espaos est o Grupo de Trabalho das
Regies Metropolitanas e Mesorregies Priori-
trias, que introduziu a agenda intra-urbana na
pauta do planejamento de governo e aumen-
tou a qualidade da interlocuo entre atores
locais e Governo Federal. Finalmente, todos os
programas, aes e polticas de regularizao
fundiria e planejamento territorial so debati-
NECESSRIO CONTRAPOR AO CONCEITO DE
REMOO DE FAVELAS EM RISCO A PROPOSTA DE
REMOO DO RISCO, COMO TEM SIDO IMPLEMENTADA
H MAIS DE 10 ANOS, COM AVANOS E RECUOS, EM
CIDADES COMO BELO HORIZONTE, RIO DE JANEIRO OU
SO PAULO
59 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
dos no Comit de Planejamento Territorial do
Conselho das Cidades, instrumento fundamen-
tal de construo democrtica e participativa
da Poltica Nacional de Desenvolvimento Urba-
no que desejamos para o Pas.
NOVO SISTEMA NACIONAL
DE HABITAO
Coerente com a Constituio Federal, que
considera a habitao um direito do cidado,
com o Estatuto da Cidade, que estabelece
a funo social da propriedade, e com as
diretrizes do atual governo, que preconiza
a incluso social com gesto participativa e
democrtica, o Sistema Nacional de Habitao
proposto no centro de uma nova Poltica Na-
cional de Habitao busca promover o acesso
moradia digna a todos os segmentos da po-
pulao, especialmente o de baixa renda.
Nessa perspectiva, a Poltica Nacional da
Habitao tem como componentes principais:
a Integrao Urbana de Assentamentos Prec-
rios, a Proviso da Habitao e a Integrao da
Poltica de Habitao Poltica de Desenvolvi-
mento Urbano, que denem as linhas mestras
de sua atuao. Sua elaborao obedece a
princpios e diretrizes que visam garantir
populao, especialmente a de baixa renda, o
acesso habitao digna, e considera funda-
mental para atingir seus objetivos a integra-
o entre a poltica habitacional e a Poltica
Nacional de Desenvolvimento Urbano.
A Poltica Nacional de Habitao conta
com um conjunto de instrumentos a serem
criados atravs dos quais se viabilizar a sua
implementao. So eles: o Sistema Nacional
de Habitao (SNH), o Desenvolvimento Insti-
tucional, o Sistema de Informao, Avaliao e
Monitoramento da Habitao e o Plano Nacio-
nal de Habitao.
O Sistema Nacional de Habitao visa pos-
sibilitar o alcance dos princpios, objetivos e
diretrizes da Poltica, suprir o vazio institucio-
nal e estabelecer as condies para se enfren-
tar o dcit habitacional, por meio de aes
integradas e articuladas nos trs nveis de
governo, com a participao dos Conselhos
das Cidades, Conselhos Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais.
O Sistema Nacional de Habitao consti-
tudo dos subsistemas de Habitao de Inte-
resse Social e de Habitao de Mercado.
Subsistema de Habitao
de Interesse Social
O Subsistema de Habitao de Interesse Social
tem como referncia o primeiro projeto de
iniciativa popular apresentado ao Congresso
Nacional em 1991, fruto da mobilizao nacio-
nal dos Movimentos Populares de Moradia de
diversas entidades e do Movimento Nacional
da Reforma Urbana. O projeto de Lei 2710/92,
que trata da criao do Fundo Nacional de
Habitao de Interesse Social, foi aprovado
na Cmara dos Deputados, por meio da sub-
emenda substitutiva global em 3/6/2004, e
encontra-se em tramitao no Senado.
O SHIS tem como objetivo principal garan-
tir aes que promovam o acesso moradia
digna para a populao de baixa renda, que
compe a quase totalidade do dcit habi-
tacional do Pas. Os planos, programas e pro-
jetos a serem executados devero perseguir
estratgias e solues de atendimento que
A POLTICA NACIONAL DE HABITAO CONTA
COM UM CONJUNTO DE INSTRUMENTOS A SEREM
CRIADOS ATRAVS DOS QUAIS SE VIABILIZAR A SUA
IMPLEMENTAO. SO ELES: O SISTEMA NACIONAL
DE HABITAO (SNH), O DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL, O SISTEMA DE INFORMAO,
AVALIAO E MONITORAMENTO DA HABITAO E O
PLANO NACIONAL DE HABITAO
60
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
consigam promover prioritariamente o acesso
das famlias de baixa renda, de acordo com as
especicidades regionais e perl da demanda.
O Ministrio das Cidades dever estabele-
cer linhas de nanciamento e programas que
sero detalhados e implementados a partir de
processos de planejamento locais, estaduais
e do Distrito Federal, inscritos e consolidados
em Planos Municipais, Estaduais e do Distri-
to Federal de Habitao de Interesse Social,
respeitando-se as peculiaridades dos entes
federativos de forma que a execuo da PNH
seja descentralizada, promovida pela coopera-
o entre Unio, estados, municpios e Distrito
Federal.
O controle das aes do poder pblico ser
exercido por meio de Conselhos, fruns e de-
mais instncias de participao nos processos
de planejamento e homologao das iniciati-
vas afetas a PNH.
O FNHIS, de natureza contbil, tem o obje-
tivo de centralizar e gerenciar recursos prove-
nientes do OGU, destinados ao subsdio, para
a realizao dos programas estruturados no
mbito do SNHIS, voltados para a populao
de menor renda. Alm de se responsabilizar
pela gesto e implementao da poltica de
subsdios, em articulao com as diretrizes e
denies da Poltica Nacional de Habitao,
o FNHIS ser o instrumento do governo fede-
ral para induzir os estados, Distrito Federal e
municpios a constiturem fundos com a mes-
ma destinao. Dessa maneira, o FNHIS ser
de suma importncia para a organizao do
Subsistema de Habitao de Interesse Social
e para convergir as aes nos trs nveis de
governo.
No modelo proposto para o SHIS, o sub-
sdio deve ser inversamente proporcional
capacidade aquisitiva de cada famlia, subli-
nhando a importncia do papel atribudo s
polticas pblicas voltadas para o resgate da
cidadania. A articulao entre a destinao de
recursos onerosos e no onerosos, dentro de
um subsistema de nanciamento operado por
intermdio de fundos pblicos interligados,
constitui a base da institucionalidade da Po-
ltica Nacional de Habitao.
O SHIS ser constitudo pelos recursos one-
rosos e no onerosos dos seguintes fundos:
1. Fundo Nacional de Habitao de Interesse
Social (FNHIS);
2. Fundo de Garantia do Tempo de Servio
(FGTS), nas condies estabelecidas pelo
seu Conselho Curador;
3. Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nas
condies estabelecidas pelo seu Conselho
deliberativo.
A lgica de um sistema de fundos, associa-
da evidentemente a uma poltica habitacional
capaz de produzir aes integradas dos diver-
sos agentes, est em otimizar aplicao dos
recursos, garantindo melhores resultados e
possibilitando, na associao de recursos one-
rosos e no onerosos, a construo de uma
poltica de subsdios.
Alm das entidades nacionais j men-
cionadas, como o Ministrio de Cidades, o
Conselho das Cidades e o Conselho Gestor do
FNHIS, que integram o Sistema Nacional de
Habitao, tambm fazem parte do Subsiste-
O MINISTRIO DAS CIDADES DEVER ESTABELECER
LINHAS DE FINANCIAMENTO E PROGRAMAS QUE
SERO DETALHADOS E IMPLEMENTADOS A PARTIR DE
PROCESSOS DE PLANEJAMENTO LOCAIS, ESTADUAIS E
DO DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS E CONSOLIDADOS
EM PLANOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E DO DISTRITO
FEDERALA DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL,
RESPEITANDO-SE AS PECULIARIDADES DOS ENTES
FEDERATIVOS DE FORMA QUE A EXECUO DA
PNH SEJA DESCENTRALIZADA, PROMOVIDA PELA
COOPERAO ENTRE UNIO, ESTADOS, MUNICPIOS E
DISTRITO FEDERAL
61 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
ma de Habitao de Interesse Social entidades
estaduais, municipais, do Distrito Federal e
agentes promotores, nanceiros e tcnicos
estatais, pblicos e privados.
O Subsistema de Habitao
de Mercado
A Poltica Nacional de Habitao parte do
pressuposto de que a contribuio dos inves-
timentos privados, capazes de assegurar o
atendimento da demanda solvvel em condi-
es de mercado, absolutamente essencial
para viabilizar o novo SNH, possibilitando que
os recursos pblicos, onerosos e no onero-
sos, venham a ser destinados a populao de
renda mais baixa.
Nesta perspectiva, o Subsistema de Habita-
o de Mercado objetiva a reorganizao do
mercado privado de habitao, ampliando as
formas de captao de recursos, estimulando
a incluso de novos agentes e facilitando a
promoo imobiliria, de modo que ele possa
contribuir para atender parcelas signicativas
da populao que hoje esto sendo atendida
por recursos pblicos.
A premissa bsica do novo modelo consiste
em viabilizar a complementariedade dos atu-
ais Sistema de Financiamento Imobilirio (SFI),
Sistema Financeiro da Habitao (SFH), em
particular o Sistema Brasileiro de Poupana
e Emprstimo (SBPE). A expanso do crdito
habitacional est subordinada implantao
de modalidades de captao de recursos mais
eciente que o atual sistema de poupana.
O Subsistema ter como principal captador
de recursos os Bancos Mltiplos, com destaque
para a caderneta de poupana atual e de novas
modalidades de poupana a serem criadas.
Como estratgia de implementao do
Sistema Nacional de Habitao para levantar
recursos junto ao mercado de capitais ne-
cessrio proporcionar a competitividade aos
Certicados de Recebveis Imobilirios (CRI)
diante das taxas oferecidas pelo mercado, em
especial aos investidores institucionais. O Sub-
sistema contar com um Fundo de Liquidez
desses CRI, destinado a assegurar a recompra
desses papis junto aos investidores privados.
Os bancos podero nanciar diretamente a
produo atravs de incorporadores e cons-
trutoras ou diretamente s pessoas fsicas.
Com o objetivo de gerar novos contratos
de nanciamento, os bancos podero ainda
realizar operaes de crdito com compa-
nhias hipotecrias e essas operaes devero
ser consideradas no cmputo dos investimen-
tos exigidos em habitao.
Os bancos e as companhias hipotecrias,
por sua vez, podero negociar seus crditos
com Companhias Securitizadoras, as quais,
com lastro nos crditos adquiridos, emitiro
CRI a serem adquiridos pelos bancos e por
investidores institucionais e privados.
Outra questo importante a reviso da
carga tributria incidente no mercado secun-
drio e na cadeia produtiva.
Alm disso, para ampliar o investimento
privado e reduzir o custo do nanciamento
de mercado, as medidas traduzidas na Lei
10.931/04 Lei do Patrimnio de Afetao
iro permitir o aperfeioamento do instituto
do patrimnio de afetao; a obrigatoriedade
do pagamento do incontroverso; a insero
no Cdigo Civil da modalidade de alienao
duciria como garantia de operaes no
mbito do SFI; e a acelerao na deduo do
Fundo de Compensao da Variao Salarial
(FCVS) no clculo do direcionamento de re-
cursos ao nanciamento habitacional pelas
entidades do SBPE.
Integram este subsistema, alm dos bancos
mltiplos e as companhias hipotecrias, as
seguintes entidades:
Companhias securitizadoras: a estas com-
panhias caber a aquisio de crditos habi-
62
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
tacionais, emisso de CRI a eles lastreados e
administrao dos contratos adquiridos e a
colocao dos certicados no mercado. Te-
ro papel estratgico no novo modelo, pois
representaro a capacidade de integrar o Sis-
tema Nacional de Habitao ao mercado de
capitais, ampliando, dessa forma, os recursos
disponveis para o nanciamento. O governo
dever patrocinar a desonerao de custos
scais e tributrios, como instrumento de
estmulo ao fomento do mercado secundrio.
As receitas tributrias originrias da produo
ampliada sero signicativamente maiores
que as hoje obtidas com a carga incidente
sobre os nveis (sabidamente limitados) de ati-
vidade do mercado imobilirio, fazendo com
que os acrscimos de dinamismo proporcio-
nados pelas novas modalidades de captao
de recursos para o nanciamento mais do que
compensem as desoneraes tributrias intro-
duzidas como estmulo.
Cooperativas de crdito habitacional: as
Cooperativas de Crdito Habitacional (CCH)
podero reunir cooperados, captar recursos
para a produo de empreendimentos e con-
ceder nanciamentos. Podero, ainda, dispor
da modalidade de nanciamento coletivo e,
com isso, entre outros empreendimentos que
seriam viabilizados por essa modalidade, esta-
riam os relacionados aquisio e reabilitao
de edicaes coletivas deterioradas e a ma-
nuteno de parques habitacionais.
Consrcios habitacionais: a formao de
Consrcios Habitacionais ser estimulada
como forma de elevar a poupana destinada
produo habitacional e no comercializa-
o de imveis novos ou usados existentes no
estoque imobilirio.
Agentes promotores: tm a nalidade de
organizar empreendimentos e reunir a de-
manda. Devero ser admitidas ao Subsistema
de Habitao de Mercado as guras de agen-
tes promotores pblicos e privados.
As entidades integrantes do Subsistema de
Habitao de Mercado tero como premissas
na sua atuao: possibilitar ao modelo eci-
ncia na captao de recursos; promover, na
gerao de crditos, a distribuio territorial
mais adequada demanda; fomentar a es-
truturao de empreendimentos compatveis
com o perl da demanda e das metas estabe-
lecidas; demonstrar agilidade na securitizao
dos crditos e na sua colocao junto a inves-
tidores.
Projees para a soluo do dficit
habitacional at 2023
Considerando que o dcit habitacional ur-
bano apurado em 2000 de 5,5 milhes de
domiclios e que, projetado para 2003, ser de
5,9 milhes e de 12,45 milhes de domiclios
em 2023, o equacionamento deste dcit
em 20 anos signica a necessidade de 622
mil atendimentos ao ano. Estimando-se um
custo mdio de R$ 20 mil por atendimento,
os investimentos anuais so da ordem de R$
12,44 bilhes. importante registrar que a
concentrao do dcit nas camadas de mais
baixa renda obriga que parte expressiva deste
investimento seja de carter no oneroso.
PROMOO DA MOBILIDADE URBANA
SUSTENTVEL E CIDADANIA NO
TRNSITO
Mais do que programas e aes isoladas, a crise
da mobilidade urbana brasileira exige uma mu-
dana de paradigma das polticas pblicas de
transporte e trnsito, de um modelo centrado
na mobilidade do veculo particular para um
modelo centrado na mobilidade das pessoas.
Os objetivos da Poltica Nacional de Mobili-
dade Urbana Sustentvel esto na interseco
de trs campos de ao: desenvolvimento
63 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
urbano, sustentabilidade ambiental e inclu-
so social. No campo do desenvolvimento
urbano, os objetivos da Poltica Nacional de
Mobilidade Urbana so a integrao entre
transporte e controle territorial, reduo das
deseconomias da circulao e a oferta de
transporte pblico eciente e de qualidade.
No campo da sustentabilidade ambiental, o
uso equnime do espao urbano, a melhoria
da qualidade de vida, a melhoria da qualidade
do ar e a sustentabilidade energtica. No da
incluso social, o acesso democrtico cidade
e ao transporte pblico e a valorizao da
acessibilidade universal e dos deslocamentos
de pedestres e ciclistas. As aes e programas
que a poltica prev se superpem nestes
campos de reexo sobre a produo do
espao urbano como lentes em busca de um
foco, que a sustentabilidade da mobilidade
urbana.
A mobilidade urbana sustentvel se dene
por quatro prticas: o planejamento integrado
de transporte e uso do solo urbano; a atualiza-
o da regulao e gesto do transporte co-
letivo urbano; a promoo da circulao no
motorizada e o uso racional do automvel.
Destes conceitos decorre que os projetos de
mobilidade urbana que recebero apoio pol-
tico, tcnico e nanceiro do Governo Federal
devero demonstrar as seguintes inverses de
prioridades:
4. do transporte coletivo sobre o individual;
5. da integrao das redes e modos sobre as
obras isoladas e unimodais;
6. da acessibilidade universal sobre a acessibi-
lidade restrita;
7. da consolidao de mltiplas centralidades
sobre o reforo de poucas centralidades;
8. do adensamento urbano sobre a expanso
da cidade.
Projetos com estas precedncias so apoia-
dos pelo Programa de Mobilidade Urbana
com verbas previstas no Plano Plurianual de
R$ 18,8 milhes em 2005, atingindo R$ 63,2
milhes em 2008, abrangendo de sistemas
integrados de transporte coletivo urbano
urbanizao de reas lindeiras a corredores
ferrovirios. So estas precedncias que se-
lecionaro os projetos de infra-estrutura de
governos ou empresas estaduais e municipais
a serem nanciados com os recursos do FGTS
alocados no Programa Pr-Transporte. Inicia-
tivas que visem requalicar a acessibilidade e
os deslocamentos no-motorizados recebem
apoio tcnico e nanceiro pelo Programa
Brasil Acessvel, cujos recursos exigem como
contrapartida municipal a elaborao de Pla-
no de Ao de Acessibilidade Universal com
rubrica oramentria especca, e o Programa
Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, de in-
tegrao da bicicleta aos demais modos de
transporte.
A mobilidade sustentvel o objetivo
maior dos seguintes programas e aes do
Ministrio das Cidades:
Lei de Diretrizes para os transportes urbanos:
Obedecendo ao inciso XX do Artigo 21 da
Constituio Federal, a Unio deve instituir
uma lei de diretrizes no apenas para os servi-
os pblicos de transporte coletivo, mas para
a mobilidade urbana, dentro dos limites das
competncias constitucionais de cada esfera
CONSIDERANDO QUE O DFICIT HABITACIONAL
URBANO APURADO EM 2000 DE 5,5 MILHES DE
DOMICLIOS E QUE, PROJETADO PARA 2003, SER DE
5,9 MILHES E DE 12, 45 MILHES DE DOMICLIOS
EM 2023, O EQUACIONAMENTO DESTE DFICIT
EM 20 ANOS SIGNIFICA A NECESSIDADE DE 622
MIL ATENDIMENTOS AO ANO. ESTIMANDO-SE UM
CUSTO MDIO DE R$ 20 MIL POR ATENDIMENTO, OS
INVESTIMENTOS ANUAIS SO DA ORDEM DE R$ 12, 44
BILHES
64
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
de governo e em consonncia com os instru-
mentos legais destinados a regulamentar as
concesses e contrataes pblicas, relaes
trabalhistas, cdigos de defesa do consumi-
dor, do uso e ocupao do solo. A proposio
de uma Lei de Diretrizes para os transportes
urbanos vai resgatar o papel da Unio na
integrao das polticas de transporte com o
desenvolvimento urbano e scio-econmico.
So temas necessrios desta legislao a con-
solidao do conceito de mobilidade susten-
tvel; a denio de obrigaes institucionais;
a modernizao regulatria dos servios de
transporte coletivo; a valorizao dos meios
de transportes no-motorizados; o estabeleci-
mento de fontes estveis de nanciamento; a
gesto dos sistemas de mobilidade no mbito
metropolitano; e a promoo da universali-
zao do acesso e da participao e controle
social dos servios pblicos de transportes.
Reforma regulatria no transporte pblico ur-
bano: atualmente, as relaes entre os agen-
tes pblicos e privados do transporte pblico
urbano se do num quadro de instabilidade
institucional, onde prevalece o risco poltico
e a falta de garantia para investimentos. A
maioria das prestaes de servios de trans-
porte est ancorada em bases contratuais
frgeis, rmados sem suporte legal e, muitas
vezes, em carter precrio. fundamental
que o governo federal lance um novo marco
regulatrio para o transporte pblico. A ado-
o de regras transparentes e que atribuam
responsabilidades entre os agentes pblicos
e privados indispensvel para a gesto dos
sistemas de transporte e est na base das
delegaes e das parcerias pblico-privadas.
A nova regulao deve aproveitar ao mximo
das combinaes organizacionais e regulat-
rias entre exibilidade operacional, presso
competitiva e coordenao das redes e incor-
porar nos mecanismos contratuais controle
de eccia e participao dos usurios na
avaliao dos servios.
Programa de desenvolvimento e moderniza-
o institucional: Intervenes de qualidade
na mobilidade urbana no so possveis com
instituies sem estrutura de gesto e capa-
cidade tcnica, presas a uma atuao reativa
voltada para a oferta de servios. O Programa
de Desenvolvimento Institucional para Mobili-
dade Urbana, a ser desenvolvido, visa reforar
recursos humanos, infra-estruturas de gesto
e sistemas de informao de municpios e
estados.
Financiamento da Infra-estrutura para a
mobilidade: A SEMOB vem consolidando um
novo de modelo de nanciamento da infra-
estrutura que considera os modos de trans-
porte de maneira integrada. Neste modelo o
Governo Federal deixa de ser mero repassador
de recursos e cuida para que os investimentos
que aporta aprimore as relaes contratuais
entre o poder concedente e as empresas ope-
radoras de transporte coletivo. Nesse contexto
a Parceria Pblico-Privada um instrumento
de atrao de investimentos privados de cur-
to prazo para projetos localizados, desde que
sejam garantidos o atendimento do interesse
pblico e a preservao das suas funes de
regulao e controle.
Redes integradas nas regies metropolitanas:
A mobilidade urbana ocupa um papel pre-
ponderante na transformao da excluso
social concentrada nas regies metropolita-
nas. 13 cidades com populao superior a 1
milho de habitantes e 18 cidades com popu-
lao entre 500 mil e 1 milho de habitantes
necessitam de corredores integrados de trans-
porte de mdia a alta capacidade. Entre os
objetivos principais da SEMOB est o fomento
execuo de um plano de transportes das
65 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
regies metropolitanas para integrar os siste-
mas municipais e os sistemas metropolitanos
e integrar os diversos modos de transportes
existentes, sempre priorizando os transportes
coletivos e os no-motorizados.
Grupo de Trabalho para barateamento de
tarifas de transporte pblico: ativo desde no-
vembro de 2003, o grupo rene Governo Fe-
deral e municpios e resultou na manuteno
de alquotas reduzidas da COFINS e do PIS,
adoo da alquota mnima de ISS e taxa de
administrao mxima de 3% por parte dos
municpios. Em 2005 e sob coordenao do
Ministrio das Cidades, vai revisar o modelo e
a metodologia do clculo tarifrio e do Vale-
transporte para reverter repasse integral dos
custos dos servios para os usurios.
Cidadania no trnsito
Para a Poltica Nacional de Desenvolvimento
Urbano, o trnsito uma ferramenta de ges-
to e construo de cidades mais inclusivas
e formadoras de cidadania. um campo de
atuao poltica em que as iniciativas legais e
institucionais impactam diretamente na quali-
dade de vida de todos os brasileiros.
O descolamento da curva de vtimas fatais
em acidentes de trnsito, em relao curva
sempre ascendente do nmero de veculos,
por exemplo, s comeou a acontecer depois
da entrada em vigor do Cdigo de Trnsito
Brasileiro, em janeiro de 1998.
A reconstruo institucional do trnsito
brasileiro em torno de valores de cidadania
apenas se iniciou com a elaborao do Cdi-
go Brasileiro de Trnsito. Diversas aes ainda
so necessrias e esto sendo implementadas
pelo Ministrio das Cidades, tanto no aperfei-
oamento democrtico do Sistema Nacional
de Trnsito quanto na implementao de seus
dispositivos e na elaborao de programas e
aes que cumpram suas diretrizes.
As decises sobre os rumos do Sistema
Nacional de Trnsito so tomadas segundo
um processo democrtico, com ampla partici-
pao da sociedade e dos rgos e entidades
que compem o sistema. A reestruturao de
seu perl institucional inclui a criao da C-
mara Interministerial de Trnsito e do Frum
Consultivo do Sistema Nacional de Trnsito,
alm da atribuio da coordenao do Sis-
tema Nacional de Trnsito ao Ministrio das
Cidades, com correspondente redenio da
composio do Conselho Nacional de Trn-
sito, agora presidido pelo dirigente do rgo
mximo executivo de trnsito da Unio.
A realizao de reunies sistemticas entre
o Departamento Nacional de Trnsito, os De-
partamentos Estaduais de Trnsito e os Conse-
lhos de Trnsito Estaduais, alm das secretarias
municipais, mostram que h um grande espa-
o de atuao tcnica e social para o Sistema
Nacional de Trnsito. O melhor exemplo disso
a retomada das atividades das Cmaras Te-
mticas, criadas pelo Artigo 13 do Cdigo de
Trnsito Brasileiro, que desde junho de 2003
passaram a se reunir mensalmente depois de
uma paralisao de quase dois anos.
A MAIORIA DAS PRESTAES DE SERVIOS
DE TRANSPORTE EST ANCORADA EM BASES
CONTRATUAIS FRGEIS, FIRMADOS SEM SUPORTE
LEGAL E, MUITAS VEZES, EM CARTER PRECRIO.
FUNDAMENTAL QUE O GOVERNO FEDERAL LANCE UM
NOVO MARCO REGULATRIO PARA O TRANSPORTE
PBLICO. A ADOO DE REGRAS TRANSPARENTES
E QUE ATRIBUAM RESPONSABILIDADES ENTRE OS
AGENTES PBLICOS E PRIVADOS INDISPENSVEL
PARA A GESTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE E
EST NA BASE DAS DELEGAES E DAS PARCERIAS
PBLICO-PRIVADAS.
66
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
NOVO MARCO LEGAL PARA
O SANEAMENTO AMBIENTAL
Diferentemente do setor eltrico e de telefo-
nia, em que a Constituio Federal estabelece
claramente que a titularidade dos servios
da Unio, no saneamento bsico a competn-
cia da esfera federal para legislar sobre estes
servios pblicos est restrita a dois aspectos:
1) instituir diretrizes denidoras da natureza e
dos padres mnimos da prestao dos servi-
os pblicos; 2) instituir uma Poltica Nacional
de Saneamento Ambiental a que estados e
municpios possam aderir em funo do pla-
nejamento integrado que o setor requer.
Esta dupla competncia da Unio orientou
a proposta do Projeto de Lei que fornece um
novo marco regulatrio para o saneamento
brasileiro, depois de anos de indenio legal
desde o m do Plano Nacional de Saneamen-
to e do Banco Nacional de Habitao.
O Projeto de Lei d diretrizes para o setor a
partir do conceito de salubridade ambiental,
concebido como direito coletivo, cujo atendi-
mento de responsabilidade compartilhada
entre Estado e operadores privados, e cria
uma concepo integrada que evita a ao
limitada aos servios de saneamento bsico,
ao incluir como servios pblicos de sanea-
mento ambiental o manejo de guas pluviais
urbanas e, principalmente, o manejo de res-
duos slidos.
Estas diretrizes fornecem parmetros para
os municpios e consrcio pblicos regula-
rem os servios do saneamento ambiental
quanto complementaridade de servios
entre companhias estaduais e municipais,
delegao de servios por meio de concesso
ou permisso, regulao e scalizao e
denio de tarifas e subsdios. Trata-se de
um ordenamento indito frente aos modelos
centralizadores do regime autoritrio, no qual
o reconhecimento da titularidade dos servios
de saneamento ambiental pelos municpios
no conita com o planejamento integrado
dos investimentos atravs de legislaes esta-
duais e nacionais.
O reordenamento institucional dos servios
de saneamento ambiental se dar pela insti-
tuio de um Sistema Nacional de Saneamen-
to Ambiental, no qual a participao dos en-
tes federados ocorrer por adeso voluntria
expressa, por meio de ato ou declarao de
vontade, ou tcita, mediante o recebimento
pelo titular ou prestador de servio pblico de
recursos ou fundos da Unio. Desta forma, e
sem infringir as competncias e titularidades
denidas constitucionalmente, a adeso ao
Sistema Nacional de Saneamento Ambiental
instituir em cada municpio ou consrcio
pblico o sistema de fundos de universaliza-
o de saneamento ambiental, que sero ins-
trumentos transparentes para operaes de
crdito e para a gesto de recursos provenien-
tes de dotaes oramentrias, subvenes,
contribuies legais pblicas ou privadas e
subsdios cruzados externos.
Para o sucesso da Poltica Nacional de
Saneamento Ambiental importante a viabi-
lizao da ao cooperativa dos municpios
de reas metropolitanas prevista pela Lei
Federal dos Consrcios Pblicos, atualmente
em discusso no Congresso Nacional. O con-
O PROJETO DE LEI D DIRETRIZES PARA O SETOR
A PARTIR DO CONCEITO DE SALUBRIDADE
AMBIENTAL, CONCEBIDO COMO DIREITO COLETIVO,
CUJO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA ENTRE ESTADO E OPERADORES
PRIVADOS, E CRIA UMA CONCEPO INTEGRADA
QUE EVITA A AO LIMITADA AOS SERVIOS DE
SANEAMENTO BSICO, AO INCLUIR COMO SERVIOS
PBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL O MANEJO
DE GUAS PLUVIAIS URBANAS E, PRINCIPALMENTE,
O MANEJO DE RESDUOS SLIDOS.
67 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
srcio pblico, formado pela associao de
municpios com interesses comuns, mais
adequado para o planejamento e a operao
dos servios de saneamento em reas metro-
politanas do que o modelo centralizado numa
nica concessionria para todo o estado, alm
de ser um arranjo institucional coerente com
o pacto federativo e a organizao do Estado
brasileiro.
Aps mais de uma dcada em que pre-
ponderaram padres de investimentos sem
coordenao adequada, o novo desenho ins-
titucional do saneamento ambiental eliminar
as funes concorrentes entre os entes fede-
rados e permitir que os investimentos esta-
duais e municipais possam se combinar com
investimentos privados sob a proteo de um
arcabouo jurdico-poltico organizado de
forma sistmica. O investimento direto federal,
por sua vez, ganha escala e produtividade no
interior deste novo marco regulatrio.
O investimento necessrio em expanso
e reposio das redes para universalizar at
2020 os servios de gua e esgoto em meio
urbano e rural foi estimado pela Secretaria Na-
cional de Saneamento Ambiental em R$ 178,4
bilhes, com a maior parte deste montante a
ser aplicado nas regies metropolitanas. Entre
janeiro de 2003 e julho de 2004, as contrata-
es de todos os rgos do Governo Federal
envolvidos com aes de saneamento am-
biental atingiram cerca de R$ 5,1 bilhes, com
perspectivas de ampliao da cobertura de
servios de saneamento para milhes de fa-
mlias. Trata-se de um volume contratado que
eleva a mdia anual de investimentos para
patamares bastante superiores ao do perodo
1995-2002. Para o perodo 2004-2007, o Plano
Plurianual projeta um dispndio da ordem de
R$ 18 bilhes.
Nos servios de coleta de resduos slidos,
so necessrios R$ 7,3 bilhes, sendo R$ 3,3
bilhes em aportes da Unio, para erradicar
at 2011 os depsitos a cu aberto em mu-
nicpios com populao inferior a 100 mil
habitantes e implantar aterros sanitrios em
municpios com populao at 1,5 milhes de
habitantes. Este investimento cobre tambm a
atualizao das frotas de coleta, a implantao
de sistemas de coleta seletiva de lixo e o de-
senvolvimento de atividades de catao e de
comercializao de reciclveis, com incluso
dos catadores de lixo nos programas federais
de transferncia de renda. Por iniciativa do
Ministrio do Meio Ambiente e do Conselho
Nacional do Meio Ambiente, uma nova regu-
lamentao especca para a rea de resduos
slidos est em elaborao de forma articu-
lada com a Poltica Nacional de Saneamento
Ambiental e com os objetivos do Programa
Nacional Lixo e Cidadania. Nesta regulao
sero incorporadas diretrizes de responsa-
bilizao do produtor/gerador de resduo
slido, de gesto participativa dos servios, de
priorizao dos catadores, de cobrana pelos
servios e indicao de fontes de recursos em
funo de metas para condies dignas de
trabalho e erradicao de lixes.
Na rea do manejo das guas pluviais ur-
banas, foram denidas diretrizes na Poltica
Nacional de Saneamento Ambiental que
provocaro uma completa reformulao nos
modelos tradicionais que nortearam as inter-
venes no setor, restritos a uma concepo
obreirista que apenas incrementava os pro-
blemas decorrentes das enchentes. Dentre
as principais diretrizes, esto o estmulo ao
gerenciamento planejado e integrado das
enchentes; a ampliao da cobertura de infra-
estrutura de manejo das guas pluviais; o es-
tmulo ao aproveitamento e preservao dos
corpos dgua urbanos atravs da minimiza-
o dos fatores de risco das reas ribeirinhas;
a inibio das prticas relativas ao uso do solo
que ampliam a rea de drenagem para os
crregos urbanos; e a promoo das aes
68
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
de educao sanitria e ambiental como ins-
trumento de conscientizao da populao
sobre a importncia da preservao das reas
permeveis e o correto manejo das guas
pluviais.
CAPACITAR E INFORMAR AS CIDADES
Programa Nacional de Capacitao
das Cidades
A capacitao de agentes pblicos e sociais
para as polticas pblicas urbanas integradas
constitui uma das tarefas mais importantes
para a promoo do direito cidade. No se
trata de desenvolver uma capacitao supos-
tamente destituda de contedo poltico, mas
de impulsionar a formao de sujeitos sociais
capazes de intervir no debate sobre a poltica
urbana e de lidar com aspectos crticos da
contemporaneidade, especialmente no que
diz respeito reduo das desigualdades
sociais e justa distribuio dos nus e bene-
fcios da urbanizao.
Seja em funo da conjuntura poltica
especca onde governos e atores sociais
contribuem para conformar ambientes espe-
ccos que limitam e condicionam a ao ,
seja em funo de uma estrutura administrati-
va frgil e da carncia de recursos humanos e
materiais, na maioria das vezes as administra-
es pblicas no do s questes locais res-
postas que promovam a eqidade e a justia
social, nem resolvem de forma eciente ques-
tes tcnicas que fazem parte de qualquer
programa, projeto ou ao de governo. Com
freqncia, fragilidades tcnico-institucionais
impedem as administraes locais de terem
acesso a programas e aes de outras esferas
de governo. Alm disso, os inmeros progra-
mas existentes, com suas mltiplas e com-
plexas exigncias, muitas vezes do origem a
superposies de aes e projetos ou tornam
obrigatria a contratao de consultorias es-
pecializadas.
Em um contexto geral onde predominam
programas de capacitao tcnica e de de-
senvolvimento institucional, cuja referncia
principal a ampliao da competitividade e
da sustentabilidade econmica das cidades, e
que, no raramente, so voltados para atender
exclusivamente a critrios de eccia na rea-
lizao de programas e projetos especcos,
importante que sejam reforadas outras
abordagens e prticas que se orientam para a
construo da gesto democrtica da cidade,
para a reduo das desigualdades sociais e
para a promoo da sustentabilidade ambien-
tal. Referimo-nos a abordagens e prticas que
incorporam aos programas de capacitao a
construo das condies institucionais que
permitam a ampliao da participao da
populao na denio da poltica urbana,
formando tcnicos da administrao pblica e
promovendo mudanas institucionais.
Tendo entre seus princpios e eixos de atu-
ao a construo da igualdade e a melhoria
da qualidade de vida das cidades brasileiras, o
Ministrio das Cidades, por meio do Programa
Nacional de Capacitao das Cidades PNCC,
promove, coordena e apia programas e
aes voltados para a capacitao de agentes
pblicos e sociais e para o apoio ao setor p-
blico municipal e estadual para o desenvolvi-
mento institucional.
Regidas por objetivos e diretrizes comuns,
as aes de capacitao do Ministrio das
Cidades vm sendo estruturadas em torno
O MINISTRIO DAS CIDADES, POR MEIO DO
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAO DAS CIDADES
PNCC, PROMOVE, COORDENA E APIA PROGRAMAS
E AES VOLTADOS PARA A CAPACITAO DE
AGENTES PBLICOS E SOCIAIS E PARA O APOIO AO
SETOR PBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA O
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
69 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
das orientaes gerais do PNCC, que prev-
em a realizao de atividades por meio de
instituies credenciadas por um processo de
seleo segundo a experincia e os currculos
dos seus prossionais; a valorizao das abor-
dagens holsticas e da reexo crtica sobre
as questes urbanas; e a interlocuo com
instituies federais e demais instituies de
ensino e capacitao.
O pblico prioritrio dos cursos e demais
atividades do PNCC compreende os tcnicos
das administraes pblicas municipais, os
atores sociais envolvidos com a implemen-
tao da poltica urbana e os tcnicos das
gerncias de lial de apoio ao desenvolvimen-
to urbano da Caixa Econmica Federal que,
presente em todas regies e estados do pas,
fundamental para a implementao da nova
poltica nacional de desenvolvimento urbano.
Com o objetivo de desenvolver aes conjun-
tas para a capacitao de agentes pblicos
e sociais, o Ministrio e a CEF rmaram, em
2003, Acordo de Cooperao Tcnica que tem
orientado inmeras atividades realizadas em
conjunto.
Os programas e aes includos no Progra-
ma Nacional de Capacitao das Cidades so
coordenados por diferentes setores do Minis-
trio das Cidades e abrangem a realizao de
ocinas de capacitao de lideranas sociais;
seminrios; teleconferncias para exposio e
discusso dos manuais dos programas e po-
lticas do Ministrio das Cidades; publicaes
de apoio s atividades de capacitao; cursos
para tcnicos de rgos pblicos; aes de
assistncia tcnica e atividades de apoio ao
desenvolvimento institucional de rgos
pblicos. Em 2003 e 2004, foram realizadas
atividades nas reas de saneamento ambien-
tal, mobilidade urbana, trnsito, planejamento
territorial urbano, regularizao fundiria,
habitao e implementao de cadastros ter-
ritoriais.
Alguns programas iniciados antes de 2003
e que contam com nanciamentos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento BID e
do Banco Internacional para a Reconstruo
e o Desenvolvimento BIRD (Banco Mundial)
tm como referncia orientaes que enfati-
zam a necessidade de recuperao dos custos
em aes voltadas para a baixa renda e os as-
pectos gerenciais que garantiriam a ecincia,
a eccia e a sustentabilidade das aes sem,
por outro lado, destacar exigncia de uma
alta dose de subsdio e, portanto, de uma
atuao decisiva do Estado para que sejam
cobertos os dcits em habitao e sanea-
mento ambiental no Brasil. H alteraes nes-
tes programas, entretanto, que vem se dando
de forma gradual e progressiva. Um exemplo
expressivo da mudana de enfoque na atual
administrao pode ser encontrado na mu-
dana estratgica do Programa de Moderniza-
o do Setor de Saneamento, que deixou de
estar voltado para a promoo da privatizao
do servios e passou a ser um programa de
fortalecimento dos prestadores pblicos de
servios de saneamento ambiental.
Entre as prioridades do Ministrio para
2005 e 2006 destacam-se: a capacitao de
tcnicos do setor pblico e agentes sociais
para a elaborao de planos diretores partici-
pativos; o apoio e capacitao dos municpios
para a implementao e gesto de cadastros
territoriais. Alm dessas duas prioridades ge-
rais, outras so denidas, segundo os setores
UM EXEMPLO EXPRESSIVO DA MUDANA DE ENFOQUE
NA ATUAL ADMINISTRAO PODE SER ENCONTRADO
NA MUDANA ESTRATGICA DO PROGRAMA DE
MODERNIZAO DO SETOR DE SANEAMENTO, QUE
DEIXOU DE ESTAR VOLTADO PARA A PROMOO DA
PRIVATIZAO DO SERVIOS E PASSOU A SER UM
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS PRESTADORES
PBLICOS DE SERVIOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
70
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
do Ministrio, consideradas as especicidades
das diferentes reas de atuao.
O apoio do Ministrio das Cidades para a
implementao, gesto e aperfeioamento de
cadastros territoriais e para a elaborao de
planos diretores participativos vem se somar
a outros esforos do Governo Federal como
o Programa Nacional de Apoio Moderniza-
o Administrativa e Fiscal PNAFM, gerido e
executado pelo Ministrio da Fazenda e pela
Caixa Econmica Federal; e o Programa de
Modernizao da Administrao Tributria e
Gesto dos Setores Sociais Bsicos PMAT,
cuja gesto cabe ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econmico e Social BNDES.
So os seguintes os principais programas e
aes do PNCC:
1. Apoio capacitao de municpios e agen-
tes sociais para o desenvolvimento urbano;
2. Programa de Capacitao para Elaborao
de Planos Diretores Participativos e Aes
de Regularizao Fundiria Sustentvel;
3. Capacitao de Equipes Municipais para
Preveno de Riscos em Assentamentos
Precrios;
4. Programa Habitar Brasil BID Subprograma
de Desenvolvimento Institucional de Muni-
cpios;
5. Programa de Modernizao do Setor de
Saneamento;
6. Programa Nacional de Combate ao Desper-
dcio de gua;
7. Projeto de Assistncia Tcnica ao Programa
de Saneamento Integrado para Populao
de Baixa Renda;
8. Programa de Treinamento e Capacitao
Distncia em Gesto Integrada de Resduos
Slidos;
9. Programa de Ao Social em Saneamento;
10. Programa de Capacitao da Secretaria
Nacional de Transporte e Mobilidade Ur-
bana;
11. Programa de Capacitao do Denatran;
12. Capacitao para construo de ndices
de qualidade de vida intra-urbanos
Sistema Nacional de Informaes
das Cidades
A garantia de acesso a informaes organiza-
das e conveis referentes s reas de atuao
do Ministrio das Cidades fundamental para
o planejamento, o monitoramento e a avalia-
o das polticas, programas e projetos reuni-
dos na Poltica Nacional de Desenvolvimento
Urbano.
Ao ser criado, o Ministrio das Cidades
herda diversos sistemas de informaes de-
sintegrados e de difcil acesso pelo pblico
externo, alm de voltados unicamente para o
acompanhamento de programas especcos.
Embora no exista um levantamento sistema-
tizado, o Ministrio das Cidades sabe tambm
que somente alguns estados e municpios de
maior porte contam com sistemas de informa-
o consistentes e atualizados.
Para reverter este quadro, foi criado, no
incio de 2004, um Comit Gestor de Informa-
es para estabelecer diretrizes de uma nova
Poltica de Informaes das Cidades para uso
do Governo Federal e da sociedade. Foram
adotadas as orientaes do Comit Execu-
tivo do Governo Eletrnico e seus Comits
Tcnicos, que cuidam, entre outras coisas, da
implantao do software livre e da interopera-
bilidade entre sistemas, e a diretriz de garantir
a transparncia das aes governamentais e o
controle social.
Posteriormente, foi aprovado junto Agn-
cia Brasileira de Cooperao do Ministrio das
Relaes Exteriores e ao Programa das Naes
Unidas para o Desenvolvimento o projeto do
Sistema Nacional de Informaes das Cidades,
com trs linhas de ao principais: obteno
e qualicao de informaes e indicadores;
sistematizao, organizao, armazenagem,
71 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
digitalizao e geo-referenciamento de in-
formaes e indicadores; disponibilizao e
utilizao das informaes.
Para atualizar e qualicar suas informaes,
o Sistema Nacional de Informaes das Cida-
des trabalhar em conjunto com o IBGE quan-
to aos dados sobre posse de imveis urbanos,
identicao de imveis vazios e o conceito
de assentamentos precrios, alm de ampliar
a Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico e
a Pesquisa de Informaes Bsicas Municipais.
Junto Fundao Joo Pinheiro, ser atualiza-
do o clculo do dcit habitacional brasileiro,
que hoje baseado no Censo Demogrco
de 2000.
Outras iniciativas de complementao e
qualicao de indicadores so:
1. ndice e indicadores interurbanos sobre
qualidade de vida urbana, a ser publicado
como um Atlas de Qualidade de Vida Ur-
bana das Cidades;
2. Identicao de reas socialmente vulner-
veis ou bolses de pobreza intra-urbanos,
com prioridade para as Regies metropoli-
tanas;
3. Tipologia das cidades segundo sua inser-
o regional, que ser instrumento bsico
para o combate da desigualdade interur-
bana;
4. Classicao e identicao de regies me-
tropolitanas, para orientao de polticas
de investimentos e gesto;
5. Articulao com gestores pblicos regio-
nais e locais, para elaborao de indicado-
res intra-urbanos e o aperfeioamento de
cadastros territoriais;
6. Sistema de informaes sobre transporte
e trnsito, elaborado em parceria com a
ANTP e o BNDES, para reunir informaes
sobre tarifas, regulamentao, demanda,
custos, receitas, frota, oferta e recursos
humanos, segundo os sistemas de nibus
municipais, sistemas de nibus metropoli-
tanos e sistemas metro-ferrovirios;
7. Organizao e qualicao de informaes
gerenciais do Ministrio das Cidades, hoje
reunidos em um sistema nico de dados
dos diversos operadores dos recursos -
nanceiros do Ministrio;
8. Organizao e qualicao de informaes
para a rea de habitao, elaborado em
parceria com o IPEA, para reunir dados so-
bre o mercado imobilirio e investimentos
da construo civil;
9. Indicadores de avaliao e monitoramento
da PNDU, com indicadores sociais e urba-
nsticos antes e depois da implementao
dos programas e aes previstos.
O Sistema Nacional de Informaes sobre
Cidades prev a busca de parcerias para a
consolidao de seu banco de dados. Neste
sentido, j foram iniciadas conversaes com
o Ministrio da Integrao, a Caixa Econmica
Federal, o Congresso Nacional, o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (Interlegis),
o Banco Mundial (Muninet) e institutos de
pesquisa e informao locais e regionais. Para
integrar e permitir uma leitura conjunta destes
sistemas de informaes ser desenvolvida
uma ferramenta de anlise espacial com bases
cartogrcas do IBGE.
O passo nal de construo deste sistema
de informaes sobre cidades o seu acesso
pblico por meio da Internet. Para tanto, um
novo stio do Ministrio das Cidades ser de-
senvolvido com tecnologias que atendam aos
princpios do software livre. Este stio conter
com mdulos para agregar o sistema de geo-
processamento de dados.
A construo
democrtica da PNDU
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Torna-se oportuno que tenhamos em mente
que as Conferncias das Cidades constituem
um primeiro passo e que ser necessrio an-
dar muito mais para proporcionar a todos os
cidados e a todas as cidads a oportunidade
de exercerem plenamente o direito s cidades
Ministro Olvio Dutra, Conferncias Regional,
Cascavel, Paran, 2003.
Ao nal dos acalorados debates da 1
a
Con-
ferncia Nacional das Cidades, os delegados
aprovaram as diretrizes para uma poltica de
desenvolvimento urbano democrtica e inte-
grada, com objetivo de garantir uma Cidade
para Todos, como propunha o texto base
apresentado pelo Ministrio das Cidades. No
entanto, no h frmulas mgicas numa reali-
dade caracterizada pela carncia de recursos
e por mazelas sociais, estruturais e histricas.
A construo democrtica da PNDU se d
passo a passo.
O Ministrio das Cidades foi criado pelo
Presidente Luis Incio Lula da Silva exata-
mente para proporcionar as condies para a
formulao e articulao das polticas urbanas
com participao da sociedade, objetivando
potencializar os recursos humanos e nan-
ceiros em funo da conquista de melhores
condies de vida dos habitantes das cidades
e de promoo do desenvolvimento urbano
sustentvel, includente e promotor da redu-
o das desigualdades sociais.
A base de uma poltica urbana com parti-
cipao popular est no reconhecimento de
que a participao nas polticas pblicas um
direito dos cidados e de que o caminho para
o enfrentamento da crise urbana est direta-
mente vinculado articulao e a integrao de
esforos e recursos nos trs nveis de governo
federal, estadual e municipal, com participa-
o dos diferentes segmentos da sociedade.
A poltica de desenvolvimento urbano no
uma responsabilidade exclusiva do Governo
Federal. Os entes federados tm atribuies
comuns e concorrentes, devendo buscar uma
compatibilizao segundo os interesses p-
blicos, se articularem e cooperarem entre si,
integrando suas polticas e aes com vistas
realizao dos objetivos fundamentais da Re-
pblica e promoo e defesa da dignidade
da pessoa humana.
na dimenso democrtica que ocorre a
sntese das demais dimenses da nova Poltica
Nacional de Desenvolvimento Urbano que
est sendo construda e desta com as demais
polticas que apontam um Brasil de Todos. Essas
convices inspiraram o processo de realizao
das Conferncias das Cidades e de formao do
Conselho das Cidades ConCidades, a quem
cabe uma contribuio efetiva na construo
de um pacto reunindo os diferentes entes fe-
derados e representantes da sociedade para a
formulao e a implementao da PNDU.
O processo da primeira Conferncia Nacio-
nal das Cidades, realizado em 2003, mobilizou
cerca de 320 mil representantes da sociedade
e do poder pblico em 3457 municpios bra-
sileiros, que elegeram 2510 delegados de 26
estados da Federao e do Distrito Federal,
deliberando resolues que deniram os
princpios e diretrizes da PNDU e a criao do
Conselho das Cidades.
A BASE DE UMA POLTICA URBANA COM
PARTICIPAO POPULAR EST NO RECONHECIMENTO
DE QUE A PARTICIPAO NAS POLTICAS PBLICAS
UM DIREITO DOS CIDADOS E DE QUE O CAMINHO
PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE URBANA EST
DIRETAMENTE VINCULADO ARTICULAO E A
INTEGRAO DE ESFOROS E RECURSOS NOS TRS
NVEIS DE GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL, COM PARTICIPAO DOS DIFERENTES
SEGMENTOS DA SOCIEDADE.
75 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
76
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
A parceria estabelecida entre o Ministrio
das Cidades, as representaes dos demais
entes federados e as entidades da sociedade
civil que se fazem presentes no Conselho das
Cidades decisiva para a superao dos ml-
tiplos e graves desaos urbanos que desde
muito tempo penalizam, sobretudo, as po-
pulaes pobres. A atuao do Conselho, em
poucos meses de existncia, j demonstra um
potencial efetivo na construo de um espao
de pactuao entre os diferentes interesses
defendidos pelos segmentos envolvidos no
debate.
Pode-se destacar a contribuio efetiva
dos diferentes atores na formulao das po-
lticas setoriais de planejamento territorial,
habitao, saneamento ambiental, mobilidade
urbana e trnsito, principalmente atravs dos
Comits Tcnicos do ConCidades.
A resoluo de nmero 13 do ConCidades
tambm merece destaque. Os conselheiros
recomendam aos atores sociais e governos
dos estados, municpios e Distrito Federal a
criao de Conselhos Estaduais e Municipais
das Cidades ou equivalentes, referenciados
nas diretrizes e princpios aprovados na Con-
ferncia Nacional das Cidades, com objetivo
de debater e aprovar a poltica de desenvolvi-
mento urbano em cada esfera da Federao.
O processo da segunda Conferncia Nacio-
nal das Cidades, que se realizar em 2005, en-
frentar novos desaos, tendo como temtica
principal a Poltica Nacional de Desenvolvi-
mento urbano. Ser instalado, novamente, em
mbito federal, o mais amplo e democrtico
processo j empreendido no Brasil para o de-
bate do presente e, sobretudo, do futuro das
cidades.
O Ministrio das Cidades, ao desejar a cons-
truo de cidades mais justas e sustentveis,
espera que a sociedade continue fortale-
cendo a construo democrtica da Poltica
Nacional de Desenvolvimento Urbano, a partir
da denio de uma agenda prioritria que
considere as principais questes apresentadas
neste documento.
77 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
ANEXOS
PRINCPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS
DA PNDU DEFINIDOS NA 1
CONFERNCIA DAS CIDADES
PRINCPIOS
Direito cidade Todos os brasileiros tm
direito cidade, entendido como o direito
moradia digna, a terra urbanizada, ao sanea-
mento ambiental, ao trnsito seguro, mobili-
dade urbana, infra-estrutura e aos servios e
equipamentos urbanos de qualidade, alm de
meios de gerao de renda e acesso educa-
o, sade, informao, cultura, esporte, lazer,
segurana pblica, trabalho e participao.
Moradia digna A moradia um direito
fundamental da pessoa humana, cabendo a
Unio, o Distrito Federal, os estados e munic-
pios promover, democraticamente, o acesso
para todos, priorizando a populao de baixa
ou nenhuma renda, nanciando e scali-
zando os recursos destinados habitao. A
promoo do acesso moradia digna deve
contemplar, ainda, o direito arquitetura, a
assistncia aos assentamentos pelo poder
pblico e a exigncia do cumprimento da Lei
Federal n 10.098/02, que estabelece um per-
centual mnimo das habitaes construdas
em programas habitacionais adaptadas para
as pessoas portadoras de decincias. Enten-
de-se por moradia digna aquela que atende
s necessidades bsicas de qualidade de vida,
de acordo com a realidade local, contando
com urbanizao completa, servios e equi-
pamentos urbanos, diminuindo o nus com
sade e violncia e resgatando a auto-estima
do cidado.
Saneamento ambiental pblico Os
servios de saneamento ambiental so, por
denio, pblicos e prestados sob regime de
monoplios, essenciais e vitais para o funcio-
namento das cidades, para a determinao
das condies de vida da populao urbana e
rural, para a preservao do meio ambiente e
para o desenvolvimento da economia.
Transporte pblico O transporte pblico
um direito. Todos tm a prerrogativa de ter
acesso aos seus servios, cabendo aos trs
nveis de governo universalizar a sua oferta.
A mobilidade est vinculada qualidade dos
locais onde as pessoas moram e para onde
se deslocam, devendo estar articulada com
o plano de desenvolvimento da cidade e
com a democratizao dos espaos pblicos,
conferindo prioridade s pessoas e no aos
veculos.
Funo social da cidade e da proprieda-
de A propriedade urbana e a cidade devem
cumprir sua funo social, entendida como a
prevalncia do interesse comum sobre o direi-
to individual de propriedade, contemplando
aspectos sociais, ambientais, econmicos (de
incluso social) e a implantao combinada
com os instrumentos do Estatuto da Cidade.
Gesto democrtica e controle social
Devem ser garantidos mecanismos de gesto
descentralizada e democrtica, bem como
o acesso informao, participao e ao
controle social nos processos de formulao,
tomada de deciso, implementao e avalia-
o da poltica urbana. A gesto democrtica
deve reconhecer a autonomia dos movimen-
tos sociais, sem discriminao, e estar sempre
comprometida com o direito universal edu-
cao, sade, moradia, trabalho, previdncia
social, transporte, meio ambiente saudvel,
cultura e lazer.
78
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
Incluso social e reduo das desigual-
dades A poltica urbana deve atender a
populao de baixa renda, a m de reduzir as
desigualdades scio-espaciais e tnico-raciais,
promovendo incluso social e melhoria de
qualidade de vida.
Sustentabilidade nanceira e scio-am-
biental da poltica urbana Devem ser
denidas e institudas fontes e mecanismos
estveis e permanentes de recursos para o
nanciamento dos investimentos, sem au-
mento ou criao de impostos, integrando
recursos dos trs nveis de governo e combi-
nando recursos onerosos, no onerosos e sub-
sdios, alm de investimentos e participao
do setor privado, a m de possibilitar atender
a demanda das famlias que no tm capaci-
dade para pagar o custo dos investimentos.
A aplicao dos recursos dever considerar
critrios ambientais, sociais, regionais e de ca-
pacidade institucional. Devem ser estimuladas
a elevao da produtividade, da ecincia, da
eccia e da efetividade, e a minimizao do
desperdcio na produo da moradia, na urba-
nizao e na implantao, operao e custeio
dos servios pblicos urbanos, metropolitanos
e de carter regional, estabelecendo linhas de
apoio e nanciamento para a busca de novas
tecnologias e para a formulao de planos e
projetos de desenvolvimento urbano.
Combate discriminao de grupos so-
ciais e tnico-raciais Deve ser garantida a
igualdade de oportunidades para mulheres,
negros, povos indgenas, crianas, adoles-
centes, jovens, idosos, pessoas portadoras
de decincias, pessoas com necessidades
especiais, comunidades faxinalenses (Sistema
Faxinal) e outros grupos marginalizados ou
em desvantagem social, sem distino de
orientao poltica, sexual, racial ou religiosa,
com aplicao do Estatuto do Idoso. Adotar
polticas de discriminao positiva visando
igualdade de oportunidades aos grupos his-
toricamente marginalizados, como mulheres,
afro-brasileiros, ndios, portadores de deci-
ncia, portadores de HIV/Aids, garantindo a
interface do Ministrio das Cidades com os
outros rgos federais, a m de incluir nas
polticas urbanas diretrizes e critrios que
propiciem aes armativas reparatrias. A
igualdade deve ser promovida atravs de
polticas especcas para os diferentes setores
da sociedade, respeitando-se as multiculturali-
dades, como forma de garantir a incluso dos
afro-descendentes nas cidades, considerando
a histrica excluso destas populaes. A De-
fensoria Pblica dever ser encarregada, como
instituio, de prestar assistncia jurdica inte-
gral e gratuita aos grupos e segmentos sociais
mencionados, garantindo e efetivando, assim,
o seu acesso justia na defesa de seus direi-
tos e interesses individuais e coletivos.
Combate segregao urbana Devem
ser garantidas a reduo e a eliminao das
desigualdades scio-espaciais inter e intra-
urbanas e regionais, bem como a integrao
dos sub-espaos das cidades, combatendo
todas as formas de espoliao e segregao
urbana. Garantir a acessibilidade de todos os
cidados aos espaos pblicos, aos transpor-
tes, aos bens e servios pblicos, comuni-
cao e ao patrimnio cultural e natural, para
a sua utilizao com segurana e autonomia,
independente das diferenas.
Diversidade scio-espacial Devem ser
consideradas as potencialidades locais, es-
pecicidades ambientais, territoriais, econ-
micas, histricas, culturais, de porte e outras
particularidades dos assentamentos humanos,
resguardando-os da especulao imobiliria
e garantindo a sustentabilidade das polticas
urbanas.
79 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
DIRETRIZES
Polticas nacionais Formular, implementar
e avaliar a Poltica Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano e as Polticas Fundiria, de Ha-
bitao, de Saneamento Ambiental, de Trnsi-
to, de Transporte e Mobilidade Urbana de for-
ma integrada, respeitando o pacto federativo,
com participao da sociedade, em parceria
com estados, municpios e Distrito Federal e
articulada com todos os rgos do Governo
Federal. As polticas pblicas devem ter como
eixo norteador os princpios da universalida-
de, eqidade, sustentabilidade, integralidade e
gesto pblica.
Poltica urbana, social e de desenvolvi-
mento Articular a poltica urbana s polticas
de educao, assistncia social, sade, lazer,
segurana, preservao ambiental, emprego,
trabalho e renda e desenvolvimento econ-
mico do pas, como forma de promover o
direito cidade e moradia, a incluso social, o
combate violncia e a reduo das desigual-
dades sociais, tnicas e regionais, garantindo
desconcentrao de renda e crescimento
sustentvel. Promover polticas de desenvolvi-
mento urbano que garantam sustentabilidade
social, cultural, econmica, poltica e ambiental
baseada na garantia da qualidade de vida para
geraes futuras, levando em conta a priori-
dade s cidades com menores IDH ou outros
indicadores sociais. Efetivar os planos diretores
em consonncia com os zoneamentos ecol-
gico-econmicos e ambientais. Implementar
polticas pblicas integradas entre o rural e o
urbano com atendimento integral ao habitante
do espao municipal.
Estrutura institucional Implementar a
estrutura institucional pblica necessria para
efetivao da poltica urbana, promovendo a
participao e a descentralizao das decises.
Participao social Promover a organiza-
o de um sistema de conferncias, conselhos
em parcerias com usurios; setor produtivo;
organizaes sociais (movimentos sociais e
ONGs); entidades prossionais, acadmicas e
de pesquisa; entidades sindicais; operadores e
concessionrios de servios pblicos; e rgos
governamentais, para viabilizar a participao
social na denio, execuo, acompanha-
mento e avaliao da poltica urbana de forma
continuada, respeitando a autonomia e as
especicidades dos movimentos e das entida-
des, e combinando democracia representativa
com democracia participativa.
Polticas de desenvolvimento e capaci-
tao tcnico-institucional Desenvolver,
aprimorar, apoiar e implementar programas
e aes de aperfeioamento tecnolgico,
capacitao prossional, adequao e moder-
nizao do aparato institucional e normativo,
a m de garantir a regulao, a regularizao,
a melhoria na gesto, a ampliao da partici-
pao, a reduo de custos, a qualidade e a
ecincia da poltica urbana, possibilitando a
participao das universidades.
Diversidade urbana, regional e cultural
Promover programas e aes adequados s
caractersticas locais e regionais, respeitando-
se as condies ambientais do territrio, as
caractersticas culturais, vocacionais, o porte,
as especicidades e potencialidades dos
aglomerados urbanos, considerando os as-
pectos econmicos, metropolitanos e outras
particularidades e promovendo a reduo de
desigualdades regionais, inclusive pela pres-
tao regionalizada de servios e pela prtica
de mecanismos de solidariedade social, com a
preservao e valorizao de uma identidade
brasileira transcultural. O Ministrio das Cida-
des deve criar vnculos profundos com o Mi-
nistrio da Educao, trabalhando conjunta-
80
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
mente na formao acadmica voltada para a
cidadania e defesa de uma cidade para todos;
criar parcerias entre o Ministrio das Cidades
e entidades estudantis que se comprometam
com a garantia do direito cidade e com a
melhoria das condies de vida da populao
de baixa renda, para que a juventude estudan-
til possa colaborar na troca de conhecimento e
estar preparada, no futuro, para exercer a jus-
tia e a responsabilidade social. Garantir que a
juventude esteja envolvida nas questes que
foram debatidas na Conferncia das Cidades,
como meio de assegurar a continuidade des-
ses trabalhos, desses princpios e, sobretudo,
do direito cidade para as futuras geraes.
Polticas abrangentes e massivas As po-
lticas do Ministrio das Cidades devero ser
abrangentes e massivas para enfrentar todo o
dcit habitacional (qualitativo e quantitativo);
garantir o acesso terra urbanizada, regu-
larizao fundiria, qualidade do meio am-
biente, assistncia tcnica e jurdica gratuita;
promover a utilizao de prdios pblicos e a
desapropriao de prdios particulares, que
no tenham ns sociais, para ns de moradia;
promover a universalizao dos servios de sa-
neamento ambiental, energia eltrica, ilumina-
o pblica e equipamentos urbanos nas reas
urbanas e rurais; promover o aumento e a
qualicao da acessibilidade e da mobilidade,
a qualidade do trnsito e a segurana de todos
os cidados, possibilitando a incluso social.
A poltica de desenvolvimento urbano deve
atuar para corrigir as desigualdades atualmen-
te existentes, contemplando a regularizao
fundiria, a urbanizao dos assentamentos
precrios, a erradicao de riscos, a mobilidade
urbana, o saneamento ambiental, o abasteci-
mento de gua, o esgotamento sanitrio e a
gesto de resduos slidos e drenagem.
Redes de cidades mais equilibradas
Apoiar a estruturao de uma rede de cida-
des mais equilibrada do ponto de vista do de-
senvolvimento scio-econmico e da reduo
das desigualdades regionais, respeitando as
caractersticas locais e regionais, estimulando
a formao de consrcios regionais, e articu-
lando as polticas urbana, social e ambiental,
a m de promover a desconcentrao e a
descentralizao do desenvolvimento urbano,
evitando problemas como a emancipao de
cidades sem condies de assumir tal respon-
sabilidade e a ao de lobistas para a obten-
o de recursos pblicos. Promover polticas
de formao, informao e educao relativas
aos instrumentos de implementao do di-
reito cidade aos mais diversos segmentos
sociais, garantindo a participao cidad na
gesto pblica. Promover a elaborao de pla-
nos e projetos municipais acompanhados pela
Unio e pelos estados, de forma a garantir o
atendimento s exigncias tcnicas e legais; e
incentivar o desenvolvimento regional end-
geno naquelas regies onde j existe oferta
de infra-estrutura instalada, possibilitando a
gerao de emprego e renda atravs de arran-
jos produtivos locais e regionais.
OBJETIVOS
Reduo do dcit habitacional Reduzir
o dcit habitacional qualitativo e quantitativo
em reas urbanas e rurais, promovendo inte-
grao e parcerias nos trs nveis de governo,
por meio de polticas que atendam s necessi-
dades da populao com particular ateno
para as camadas sem renda ou com renda
de at trs salrios mnimos e de aes que
promovam o acesso moradia digna. Investir
em tecnologia adequada, incorporando requi-
sitos de conforto ambiental, ecincia ener-
gtica e acessibilidade, priorizando locais j
urbanizados, de forma integrada com polticas
81 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
de gerao de emprego e renda, sade, edu-
cao, lazer, transporte, mobilidade urbana e
saneamento ambiental.
Acesso universal ao saneamento ambien-
tal Promover o acesso universal ao sanea-
mento ambiental, priorizando o atendimento
s famlias de baixa renda localizadas em
assentamentos urbanos precrios e insalubres,
em reas de proteo ambiental, municpios
de pequeno porte e regies rurais. Entende-se
por saneamento ambiental o abastecimento
de gua em condies adequadas; a coleta, o
tratamento e a disposio adequada dos es-
gotos, resduos slidos e emisses gasosas; a
preveno e o controle do excesso de rudos;
a drenagem de guas pluviais e o controle
de vetores com seus reservatrios de doen-
as. Defender a essencialidade e a natureza
pblica que caracterizam a funo social das
aes e servios de saneamento ambiental,
garantindo a gesto pblica nos servios e a
prestao por rgos pblicos. Os servios de
saneamento ambiental so de interesse local
e o municpio o seu titular, responsvel pela
sua organizao e prestao, podendo faz-lo
diretamente ou sob regime de concesso ou
permisso, associado com outros municpios
ou no, mantendo o sistema de subsdios cru-
zados, respeitando a autonomia e soberania
dos municpios.
Gestao integrada e sustentvel da po-
ltica de saneamento Garantir a qualidade
e a quantidade da gua para o abastecimento
pblico, com especial ateno s regies de
proteo aos mananciais. Elevar a qualidade
dos servios de gua e esgoto, apoiando, pro-
movendo e nanciando o desenvolvimento
institucional e a capacitao das empresas
pblicas de saneamento; reduzir as perdas no
abastecimento e promover a conservao da
gua; reorientar as concepes vigentes na
drenagem urbana, privilegiando o enfoque
integrado e sustentvel, a m de prevenir de
modo ecaz as enchentes urbanas e ribei-
rinhas. Aumentar a ecincia dos servios
de limpeza pblica (coleta, disposio nal
e tratamento); promover a modernizao e
a organizao sustentvel dos servios de
limpeza pblica e a insero social dos cata-
dores; estimular a reduo, a reciclagem e a
coleta seletiva de resduos slidos; promover
a recuperao de reas contaminadas, pro-
pondo o desenvolvimento e aplicao de
tecnologias adequadas s diversas realidades
do pas; e incentivar as intervenes integra-
das, articulando os diversos componentes do
saneamento. Implementar polticas pblicas
para a gesto sustentvel de resduos slidos,
promovendo a ecincia dos servios por
meio de investimentos em sistemas de rea-
proveitamento de resduos (coleta seletiva de
orgnicos, inorgnicos e inertes e destinao
para reciclagem dos catadores); educao
scio-ambiental voltada para a reduo, reuti-
lizao e reciclagem de resduos; mobilizao,
sensibilizao e comunicao destinadas
populao dos municpios brasileiros para es-
timular novas prticas em relao aos resduos
que tragam benefcios para o meio ambiente
e que convirjam para sistemas de coleta se-
letiva solidria (que envolve tambm coleta,
triagem, pr-beneciamento, industrializao
e comercializao de resduos); controle social,
scalizao e monitoramento das polticas
desenvolvidas no setor de resduos slidos;
desenvolvimento de tecnologias sociais e am-
bientalmente sustentveis; denio de metas
e mtodos para erradicao dos lixes, que
garantam a erradicao do trabalho de crian-
as e adolescentes e sua incluso escolar, bem
como a capacitao e integrao dos adultos
em sistemas pblicos de reaproveitamento de
resduos slidos urbanos; implantao da co-
leta seletiva com incluso social em todos os
82
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
municpios do Brasil; criao de mini centrais
de reciclagem.
Mobilidade urbana com segurana Am-
pliar a mobilidade urbana com segurana,
priorizando o transporte coletivo e os no-
motorizados; desestimulando o uso de auto-
mvel; priorizando o pedestre e privilegiando
a circulao de pessoas com mobilidade re-
duzida; melhorando as condies do trnsito;
prevenindo a ocorrncia e reduzindo a violn-
cia e a morbi-mortalidade decorrente de aci-
dentes; e integrando e fortalecendo entidades
e rgos gestores de trnsito, transporte e
planejamento urbano.
Qualidade ambiental urbana Promover
a melhoria da qualidade ambiental urbana,
priorizando as reas de maior vulnerabilida-
de e precariedade, especialmente quando
ocupadas por populao de baixa renda, e
estimulando o equilbrio entre reas verdes e
reas construdas.
Planejamento e gesto territorial Pro-
mover a melhoria do planejamento e da
gesto territorial de forma integrada, levando
em conta o ordenamento da cidade e seus
nveis de crescimento, em uma viso de longo
prazo, articulando as administraes locais e
regionais. Elaborar diretrizes nacionais transi-
trias de um pacto de gesto urbana cidad,
destinadas utilizao pelos municpios, antes
e durante o perodo em que estiver ocorrendo
reviso e/ou elaborao de seus planos dire-
tores, para apoiar e nortear os poderes execu-
tivos e legislativos municipais na conteno
de alteraes pontuais de zoneamento, usos e
ocupaes do solo urbano e/ou para garantir,
at a aprovao do plano diretor, a implemen-
tao somente de operaes consensuadas
na municipalidade e que estejam de acordo
com os instrumentos de controle social, da
funo social da propriedade e de anlise dos
impactos ambiental e de vizinhana.
Diversicao de agentes promotores
e nanceiros Incentivar a participao de
agentes promotores e nanceiros e apoiar
a atuao e a formao de cooperativas e
associaes comunitrias de autogesto na
implementao de polticas, programas e pro-
jetos de desenvolvimento urbano, habitao e
gesto ambiental.
Estatuto da cidade Promover a regula-
mentao e a aplicao do Estatuto da Cida-
de, de outros instrumentos de poltica urbana
e dos princpios da Agenda 21, garantindo a
ampla participao da sociedade e a melhoria
da gesto e controle do uso do solo, na pers-
pectiva do cumprimento da funo social e
ambiental da cidade e da propriedade e da
promoo do bem-estar da populao.
Democratizao do acesso informao
Criar sistema de informaes, acessvel a
qualquer cidado, que permita a obteno de
dados sobre atos do poder pblico, aplicao
de recursos dos programas e projetos em
execuo, valor dos investimentos, custos dos
servios e arrecadao.
Gerao de emprego, trabalho e renda
Visando incluso social e considerando as
potencialidades regionais, integrar as aes
de poltica urbana com as aes de gerao
de emprego, trabalho e renda, com destaque
para a universalizao da assistncia tcnica e
jurdica; promoo da qualicao prossio-
nal; incentivo s empresas para gerao do
primeiro emprego; incentivo descentraliza-
o industrial; incentivo ao emprego de ido-
sos; concesso de linhas de crdito; estmulo
diversicao da produo; apoio a coopera-
tivas ou empreendimentos autogestionrios;
83 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
promoo de polticas de desenvolvimento
produtivo nas regies no contempladas pela
poltica regional de investimentos na produ-
o; reformulao da poltica de incentivo a
instalao de indstrias, fortalecendo o co-
mrcio, a agricultura e os servios; e apoio e
nanciamento de parcerias para a realizao
de servios pblicos que promovam a coeso
e incluso social ao gerarem trabalho e renda.
POPULAO URBANA BRASILEIRA
MAPAS DO IBGE
Por qualquer critrio que se adote podemos
dizer que o pas se urbanizou e o modo de
vida urbano extrapola at mesmo os limites
das cidades. No entanto h controvrsias,
evidenciadas em bibliograa recente, sobre
o montante da populao urbana medida
pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatstica.
Os nmeros do Censo 2000 mostram que
81% da populao brasileira reside em reas
urbanas e que o processo de urbanizao da
sociedade brasileira irreversvel, registrando-
se o aumento de cinco pontos percentuais em
relao ao Censo de 1991, que apresentava
uma populao urbana de 110.990.990 habi-
tantes cerca de 76% do total.
Entre os questionamentos acerca da valida-
de desses dados,destacam-se as crticas aos
critrios utilizados pelo IBGE para denio
de reas urbanas: o Instituto se baseia nas
denies municipais de permetros urba-
nos. Aponta-se que h motivaes de ordem
nanceira aumento de arrecadao em es-
pecial pela cobrana de IPTU das prefeituras
municipais para as delimitaes dos perme-
tros urbanos e que, portanto, a medio se
baseia em um critrio que no seria cientco.
Outras linhas de argumentao lembram a
ausncia de parmetros de densidade de ocu-
pao do solo para denio desses limites
ou ento caractersticas do modo de vida, das
relaes de produo, do acesso equipa-
mentos e servios ou de outros critrios que
permitissem uma clivagem mais rigorosa en-
tre urbano e rural.
A denio sobre o conceito de cidade
ou o conceito de urbano envolve aspectos
demogrcos, antropolgicos, culturais, -
loscos, geogrcos, sociais, econmicos,
entre outros. , sem dvida, um debate muito
importante, cuja clareza dever orientar a
elaborao de um novo marco legal que subs-
titua o decreto lei 311 de 1938. Anal, pelo
atual critrio legal, podemos chamar de cida-
de tanto o Municpio de So Paulo, que tem
10,7 milhes de habitantes e parte de uma
metrpole de 17 milhes, quanto pequenos
ajuntamentos que no tem mais do que 500
moradores. Fenmenos diferentes so nome-
ados pelo mesmo conceito.
No entanto, enquanto essa discusso, cuja
concluso promete se alongar, est em desen-
volvimento, o Ministrio das Cidades buscou
ajuda do IBGE para dar mais rigor ao nmero
da populao urbana que alvo de sua ao.
O IBGE usa, em seus levantamentos, critrios
que nos permitem uma classicao mais acu-
rada do que aquela baseada na lei municipal.
Alm dos dados divulgados de acordo
com as referncias municipais, o IBGE faz uma
anlise mais na por setor censitrio segundo
sua localizao em rea de carter urbano ou
rural. Essa caracterizao da rea considera
aspectos urbansticos, densidade, insero na
dinmica urbana, atividades econmicas reali-
zadas pelos moradores, existncia de servios
e equipamentos, entre outros aspectos. Cada
rea classicada pelo municpio como rural ou
urbana recebe outras 8 subclassicaes (5 no
rural e 3 no urbano). Dessa forma possvel
apontar uma ocupao predominantemente
rural em rea denida legalmente como urba-
na e vice versa.
84
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
A apurao dos resultados dessa nova
classicao no altera de forma signicativa
os dados largamente conhecidos e que foram
mencionados acima sobre a urbanizao da
sociedade brasileira. Segundo dados do Censo
2000, 79,9% da populao brasileira reside em
rea urbanizada de vila ou cidade cuja deni-
o refere-se a setor urbano situado em reas
legalmente denidas como urbanas, caracteri-
zadas por construes, arruamentos e intensa
ocupao humana; reas afetadas por trans-
formaes decorrentes do desenvolvimento
urbano e aquelas reservadas expanso urba-
na. De acordo com o Censo de 1991, 74,6% da
populao residia neste tipo de setor.
Se considerarmos apenas 3 dos 8 itens
(rea urbanizada de vila ou cidade situa-
o 1; rea urbanizada isolada situao 3;
e rural-extenso urbana situao 4), nos
quais a ocupao urbana melhor caracte-
rizada j atingiramos o mesmo patamar de
81% dos nmeros divulgados pelo IBGE para
2000 e de 76% para 1991.
Mesmo considerando que sempre
possvel mais de uma interpretao para
as definies utilizadas o que so exata-
mente reas afetadas por transformaes
decorrentes do desenvolvimento urbano e
reas reservadas expanso urbana? as
consideraes acima nos levam a apontar
que, segundo critrios prprios do IBGE e
no apenas a definio legal dos municpios,
os novos nmeros da populao urbana
seria da mesma ordem de grandeza que
os nmeros mais amplamente divulgados.
Essa constatao nos permite confirmar
que o pas maciamente urbano e sufi-
cientemente adequada para continuarmos,
por enquanto, a utilizar os nmeros que se
referem populao urbana brasileira para
dar prosseguimento elaborao da Poltica
Nacional de Desenvolvimento Urbano.
85 Pol t i ca naci onal de desenvol vi ment o ur bano
C
A
D
E
R
N
O
S
M
C
I
D
A
D
E
S
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
U
R
B
A
N
O
O mapa a seguir apresenta a distribuio
da populao urbana em situao 1, 3 e 4,
referentes anlise mais fina do IBGE aqui
considerada.
Coordenao Geral dos Cadernos MCidades
ERMNIA MARICATO
Ministra Adjunta e Secretria Executiva
KELSON VIEIRA SENRA
Diretor de Desenvolvimento Institucional
FABRCIO LEAL DE OLIVEIRA
Gerente de Capacitao
ROBERTO SAMPAIO PEDREIRA
Assessor Tcnico
Coordenao, elaborao e reviso de textos
ERMNIA MARICATO
Ministra Adjunta e Secretria Executiva
KELSON VIEIRA SENRA
Diretor de Desenvolvimento Institucional
FABRCIO LEAL DE OLIVEIRA
Gerente de Capacitao
JOS EDUARDO BAVARELLI
Assessor Tcnico
JORGE HEREDA
Secretrio Nacional de Habitao
RAQUEL ROLNIK
Secretria Nacional de Programas Urbanos
ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO
Secretrio Nacional de Saneamento Ambiental
JOS CARLOS XAVIER
Secretrio de Transporte e Mobilidade Urbana
AILTON BRASILIENSE PIRES
Diretor do Departamento Nacional de Trnsito
(Denatran)
JOO LUIZ DA SILVA DIAS
Diretor-presidente da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU )
MARCO ARILDO PRATES DA CUNHA
Diretor-presidente da Empresa de Trens Urbanos de
Porto Alegre S.A. (Trensurb)
Colaboradores MCidades*
BENNY SCHASBERG
CARLOS ANTNIO MORALES
CELSO SANTOS CARVALHO
CLOVIS FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
EVANIZA RODRIGUES
GRAZIA DE GRAZIA
HELENO FRANCO MESQUITA
HUMBERTO KASPER
INS DA SILVA MAGALHES
IRIA CHARO RODRIGUES
JAQUELINE FILGUEIRAS
JOO CARLOS MACHADO
JNIA MARIA BARROSOS SANTA ROSA
LAILA NAZEM MOURAD
LCIA MALNATI
LCIA MARIA MENDONA SANTOS
LUIZ CARLOS BERTOTTO
MRCIA MACDO
OTILIE PINHEIRO
RAUL DE BONIS
RENATO BALBIM
RENATO BOARETO
ROBERTO MOREIRA
ROBERTO SAMPAIO PEDREIRA
SERGIO ANTONIO GONALVES
TITO LIVIO PEREIRA QUEIROZ E SILVA
VALDEMAR ARAJO FILHO
* Nota: Assinala-se, tambm, a contribuio dos
quadros tcnicos do MCidades e de colaboradores,
apresentados nas Fichas Tcnicas dos demais Ca-
dernos MCidades desta Srie.
Colaboradores convidados
ADALTO CARDOSO
AMIR KHAI
ANA CRISTINA FERNANDES
ANDR LUIZ DE SOUZA
ARLETE MOYSS RODRIGUES
CARLOS BERNARDO VAINER
CLLIO CAMPOLINA DINIZ
EDSIO FERNANDES
EDUARDO ALCNTARA VASCONCELOS
GLAUCO BIENENSTEIN
HELENA MENA BARRETO
JAN BITTOUN
JEROEN KLINK
JUPIRA GOMES DE MENDONA
LUIZ CSAR QUEIRZ RIBEIRO
MARIA INS NAHAS
MARIA LUIZA CASTELLO BRANCO
MAURCIO BORGES
NABIL BONDUKI
ORLANDO ALVES DOS SANTOS JNIOR
PAULO JOS VILLELA LOMAR
PEDRO PAULO MARTONI BRANCO
ROBERTO MONTE-MR
ROBERTO MORETTI
ROSA MOURA
ROSANI CUNHA
SADALLA DOMINGOS
TNIA BACELAR
Ministro de Estado
OLVIO DUTRA
cidades@cidades.gov.br
Chefe de Gabinete
DIRCEU SILVA LOPES
cidades@cidades.gov.br
Consultora Jurdica
EULLIA MARIA DE CARVALHO GUIMARES
conjur@cidades.gov.br
Assessor de Comunicao
NIO TANIGUTI
enio.taniguti@cidades.gov.br
Assessora Especial de Relaes com a Comunidade
IRIA CHARO RODRIGUES
iriaacr@cidades.gov.br
Assessor Parlamentar
SLVIO ARTUR PEREIRA
aspar@cidades.gov.br
Conselho Nacional de Trnsito
Presidente
AILTON BRASILIENSE PIRES
denatran@mj.gov.br
Conselho das Cidades
Coordenadora da Secretaria Executiva do ConCidades
IRIA CHARO RODRIGUES
conselho@cidades.gov.br
Ministra Adjunta e Secretria-Executiva
ERMNIA MARICATO
erminiatmm@cidades.gov.br
Subsecretrio de Planejamento, Oramento
e Administrao
LAERTE DORNELES MELIGA
laerte.meliga@cidades.gov.br
Diretor de Desenvolvimento Institucional
KELSON VIEIRA SENRA
kelson.senra@cidades.gov.br
Diretor de Integrao, Ampliao e Controle Tcnico
HELENO FRANCO MESQUITA
helenofm@cidades.gov.br
Ministrio
das Cidades
Assessora de Relaes Internacionais
ANA BENEVIDES
abenevides@cidades.gov.br
Departamento Nacional de Trnsito (Denatran)
Diretor
AILTON BRASILIENSE PIRES
denatran@mj.gov.br
Secretrio Nacional de Habitao
JORGE HEREDA
snh@cidades.gov.br
Departamento de Desenvolvimento Institucional
e Cooperao Tcnica
Diretora
LAILA NAZEM MOURAD
laila.mourad@cidades.gov.br
Departamento de Produo Habitacional
Diretora
EMILIA CORREIA LIMA
emilia.lima@cidades.gov.br
Departamento de Urbanizao e Assentamentos
Precrios
Diretora
INS DA SILVA MAGALHES
imagalhaes@cidades.gov.br
Secretria Nacional de Programas Urbanos
RAQUEL ROLNIK
programasurbanos@cidades.gov.br
Departamento de Planejamento Urbano
Diretor
BENNY SCHASBERG
planodiretor@cidades.gov.br
Departamento de Apoio Gesto Municipal Territorial
Diretora
OTILIE PINHEIRO
olitiemp@cidades.gov.br
Departamento de Assuntos Fundirios Urbanos
Diretor
SRGIO ANDRA
regularizacao@cidades.gov.br
Secretrio Nacional de Saneamento Ambiental
ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO
sanearbrasil@cidades.gov.br
Departamento de gua e Esgotos
Diretor
CLOVIS FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
clovisfn@cidades.gov.br
Departamento de Desenvolvimento e Cooperao
Tcnica
Diretor
MARCOS MONTENEGRO
marcos.montenegro@cidades.gov.br
Departamento de Articulao Institucional
Diretor
SERGIO ANTONIO GONALVES
sergioag@cidades.gov.br
Secretrio Nacional de Transporte e da Mobilidade
Urbana
JOS CARLOS XAVIER
josecx@cidades.gov.br
Departamento de Cidadania e Incluso Social
Diretor
LUIZ CARLOS BERTOTTO
luiz.bertotto@cidades.gov.br
Departamento de Mobilidade Urbana
Diretor
RENATO BOARETO
renato.boareto@cidades.gov.br
Departamento de Regulao e Gesto
Diretor
ALEXANDRE DE AVILA GOMIDE
alexandre.gomide@cidades.gov.br
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU )
Diretor-presidente
JOO LUIZ DA SILVA DIAS
dir.p@cbtu.gov.br
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
(Trensurb)
Diretor-presidente
MARCO ARILDO PRATES DA CUNHA
trensurb@trensurb.com.br
EDIO E PRODUO
Espalhafato Comunicao
PROJETO GRFICO
Anita Slade
Sonia Goulart
FOTOS
Arquivo MCidades
DIAGRAMAO E ARTE FINAL
Sonia Goulart
REVISO
Rosane de Souza
Você também pode gostar
- Cidade Da Parahyba - Modernização Sem DesenvolvimentoDocumento13 páginasCidade Da Parahyba - Modernização Sem DesenvolvimentoWilma LucenaAinda não há avaliações
- Direito Tributario - Andrea Veloso - CEAPDocumento431 páginasDireito Tributario - Andrea Veloso - CEAPRicardo GuimarãesAinda não há avaliações
- Luiz César Ribeiro - Dos Cortiços Aos Condominios FechadosDocumento16 páginasLuiz César Ribeiro - Dos Cortiços Aos Condominios FechadosWilma LucenaAinda não há avaliações
- Plano de Trabalho - Antropologia CulturalDocumento2 páginasPlano de Trabalho - Antropologia CulturalWilma LucenaAinda não há avaliações
- A Produção Do Espaço Urbano Da Cidade de Patos - PB: Do BNH Ao Programa Minha Casa Minha VidaDocumento231 páginasA Produção Do Espaço Urbano Da Cidade de Patos - PB: Do BNH Ao Programa Minha Casa Minha VidaWilma LucenaAinda não há avaliações
- DD073 CP CO Por - v0r0Documento16 páginasDD073 CP CO Por - v0r0Bento DavidAinda não há avaliações
- Mozambique 2013 Execution External Year-End Report Ministry of Finance Sadc Portuguese 4Documento825 páginasMozambique 2013 Execution External Year-End Report Ministry of Finance Sadc Portuguese 4Todwe Na NathandhóAinda não há avaliações
- Orçamento Base Zero ConceitosDocumento23 páginasOrçamento Base Zero ConceitosRaul Menezes FilhoAinda não há avaliações
- Legislação Sobre HabitaçãoDocumento20 páginasLegislação Sobre HabitaçãoJosé SilvaAinda não há avaliações
- Contabilidade Publica Felizarda PDFDocumento13 páginasContabilidade Publica Felizarda PDFvirgilio100% (1)
- POCALDocumento84 páginasPOCALsalomaosoaresAinda não há avaliações
- Dom 3211 17.07.2013 Cad 1Documento52 páginasDom 3211 17.07.2013 Cad 1Tami GomesAinda não há avaliações
- Dom Amunes 2022-08-03 CompletoDocumento157 páginasDom Amunes 2022-08-03 Completofabricio casotiAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Eduardo Oliveira Campos - Resenha Do Livro Terapia Financeira PDFDocumento4 páginasAtividade 1 - Eduardo Oliveira Campos - Resenha Do Livro Terapia Financeira PDFEduardoLiveiraCamposAinda não há avaliações
- Diáriooficial 09032012Documento12 páginasDiáriooficial 09032012valmirnmouraAinda não há avaliações
- Como Se Organizar FinanceiramenteDocumento24 páginasComo Se Organizar FinanceiramenteIngrid LinsAinda não há avaliações
- Sistema Fiscal em MocambiqueDocumento15 páginasSistema Fiscal em MocambiqueSergio Alfredo Macore100% (5)
- Aula 6 CASH FLOWDocumento12 páginasAula 6 CASH FLOWAdélcia AndréAinda não há avaliações
- O Homem Mais Rico Da Babilônia (Notas Importantes) - George S ClasonDocumento4 páginasO Homem Mais Rico Da Babilônia (Notas Importantes) - George S ClasonJuan DiasAinda não há avaliações
- 04 - Balanço OrçamentárioDocumento86 páginas04 - Balanço OrçamentárioSergio Inacio da CostaAinda não há avaliações
- Noções de AfoDocumento7 páginasNoções de AfogurgeldesouzaAinda não há avaliações
- Termo de Abertura Do Projeto v5W2HDocumento4 páginasTermo de Abertura Do Projeto v5W2HValmi P. JuniorAinda não há avaliações
- Curriculo Ciências Econômicas 20191 PDFDocumento10 páginasCurriculo Ciências Econômicas 20191 PDFIuri NunesAinda não há avaliações
- Tabela 2019 FENADDocumento4 páginasTabela 2019 FENADWeberty LimaAinda não há avaliações
- Avaliação Orçamento I UnidDocumento7 páginasAvaliação Orçamento I UnidLauana da Conceição CabralAinda não há avaliações
- Prova Contabilidade PúblicaDocumento9 páginasProva Contabilidade PúblicaIngrid LasmarAinda não há avaliações
- Ementa - Tópicos Especiais em Administração IIIDocumento2 páginasEmenta - Tópicos Especiais em Administração IIIBenjamin PintoAinda não há avaliações
- 2 - Exemplo - Apresentação - Plano de Negócios - Latidus - 2012-1Documento18 páginas2 - Exemplo - Apresentação - Plano de Negócios - Latidus - 2012-1Paulo Henrique Staudt100% (1)
- AD1 Contabilidade PúblicaDocumento2 páginasAD1 Contabilidade PúblicaGraziela BonfortAinda não há avaliações
- Orcamento de EstadoDocumento26 páginasOrcamento de EstadoFenias JustinoAinda não há avaliações
- Fixação de ExercícioDocumento5 páginasFixação de ExercícioAllanKleyson100% (1)
- Controlador InternoDocumento19 páginasControlador InternoLenitaSerafimAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Contabilidade PublicaDocumento3 páginasEstudo Dirigido - Contabilidade Publicajnetof6Ainda não há avaliações
- Manual-Passo-A-Passo S2GPR PDFDocumento11 páginasManual-Passo-A-Passo S2GPR PDFbrunamontenegrooAinda não há avaliações