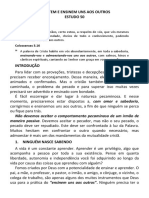Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Literatura Infantil
Literatura Infantil
Enviado por
Ellianne Oliver0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações6 páginasTítulo original
LITERATURA INFANTIL.doc
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações6 páginasLiteratura Infantil
Literatura Infantil
Enviado por
Ellianne OliverDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
Colgio Estadual Professor Gabriel Rosa Ensino Fundamental Mdio Normal.
Curso de Formao de Docentes da educao infantil e dos anos iniciais do ensino
Fundamental.
Aluno: Aline, Eliane, Geovani, Marilda, Maycon Czar, Lucinia
LTERATURA NFANTL
Curiva
2012
Colgio Estadual Professor Gabriel Rosa Ensino Fundamental Mdio Normal.
Curso de Formao de Docentes da educao infantil e dos anos iniciais do ensino
Fundamental.
Aluno: Aline, Eliane, Geovani, Marilda, Maycom Czar, Lucinia
Trabalho realizado na disciplina
de Litratura nfantil 3 ano do
Curso de Formao de
Docentes e orientado pela
professora Alessandra.
Curiva
2012
CONTEXTO HSTRCO DA LTERATURA NFANTL
Durante a Segunda metade do sculo XX, a sociedade brasileira passou por
mudanas fundamentais nos campos polticos, sociais e conseqentemente na forma de
ver e entender a nova realidade que estavam vivendo.
Foi nesse perodo que se mudou a forma de governo, foi feita a Constituio, se
iniciou a substituio do trabalho escravo pelo trabalho assalariado e as fazendas de caf
e outras lavouras brasileiras modernizaram-se. As cidades cresceram e nelas as primeiras
indstrias se instalaram.
Para se ter idia dessas mudanas sabemos que entre 1850 e 1860 ocorreu o que
podemos chamar de surto industrial no Brasil, pois foram inauguradas no Brasil 70
fbricas que produziam chapus, sabo, tecidos de algodo e cerveja, artigos que at
ento vinham do exterior. Alm disso, foram fundados 14 bancos, trs caixas econmicas,
20 companhias de navegao a vapor, 23 companhias de seguro, oito estradas de ferro.
Criaram-se, ainda, empresas de minerao, transporte urbano, gs, etc.
Este processo de industrializao proporcionou, atravs dos anos, que provncias
como So Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se tornassem plos de atrao para que
os colonos que, espremidos pelo latifndio, se deslocassem para a cidade procura de
uma vida melhor, mais confortvel financeiramente. sto quer dizer que para os grandes
fazendeiros, a vinda para a cidade significava que seus filhos poderiam freqentar escolas
e faculdades, tomar contato com os jornais e revistas em circulao.
Surgiram, neste perodo, as primeiras grandes greves, pois o Operariado, cujas
condies de trabalho eram bastante precrias, tenta desenvolver uma ao poltica
independente de oposio atravs das greves. A jornada de trabalho podia chegar a 16
horas e a mo-de-obra infantil e feminina era usada de maneira indiscriminada, no
havendo nenhuma regulamentao salarial.
claro que essas transformaes ocorrem de forma lenta e no atingiram nem
todas as regies do pas e nem todas das partes das provncias. Regies do Nordeste,
por exemplo, poderiam ser descritas como imensas terras cercadas com trabalhadores
escravos, somente pequenos ncleos urbanos, nos quais os nicos edifcios de destaque
eram a igreja e a cmara municipal. Lugares marcados pelo poder dos proprietrios de
terras.
O Rio de Janeiro por exemplo, era uma cidade heterognea, com manses e
palacetes ao lado de bairros miserveis. Na rua do Ouvidor podiam-se encontrar as
ltimas novidades de Paris, mas a febre amarela e a varola periodicamente dizimavam a
populao pobre. Uma aristocracia culta e exigente povoava os sales e os espetculos
de pera, enquanto o desemprego empurrava milhares de pessoas para uma vida incerta
de pequenos trabalhos avulsos, quando no para o baixo meretrcio e a malandragem.
Nos palacetes de Laranjeiras falava-se francs nas noites de gala, enquanto no longe
dali, nos cortios, a fome e a misria faziam estragos na populao.
CONTEXTO HSTRCA DA EDUCAO NFANTL
As primeiras creches foram criadas no Brasil no final do sculo XX e incio do sculo XX,
e tinham como finalidade retirar as crianas abandonadas da rua, diminuir a mortalidade
infantil, formar hbitos higinicos e morais nas famlias, alicerado em um carter
extremamente assistencialista. Considerando que, nessa poca, no se tinha um conceito
bem definido sobre as especificidades da criana, a mesma era "[...] concebida como um
objeto descartvel, sem valor intrnseco de ser humano" (RZZO, 2003, p. 37).
Com o avano da industrializao e o aumento do nmero de mulheres da classe mdia
no mercado de trabalho, aumentou a demanda pelo servio das instituies de
atendimento infncia. Fatores como o alto ndice de mortalidade infantil, a desnutrio
generalizada e o nmero significativo de acidentes domsticos, fizeram com que alguns
setores da sociedade, dentre eles os religiosos, os empresrios e educadores,
comeassem a pensar num espao de cuidados da criana fora do mbito familiar. Foi
com essa preocupao, ou com esse "[...] problema, que a criana comeou a ser vista
pela sociedade e com um sentimento filantrpico, caritativo, assistencial que comeou a
ser atendida fora da famlia" (DDONET, 2001, p. 13). Ainda segundo o autor:
Enquanto para as famlias mais abastadas pagavam uma bab, as pobres se viam na
contingncia de deixar os filhos sozinhos ou coloc-los numa instituio que deles
cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha que ser de tempo
integral; para os filhos de operrias de baixa renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito
pouco; ou para cuidar da criana enquanto a me estava trabalhando fora de casa, tinha
que zelar pela sade, ensinar hbitos de higiene e alimentar a criana. A educao
permanecia assunto de famlia. Essa origem determinou a associao creche, criana
pobre e o carter assistencial da creche. (DDONET, 2001, p. 13)
Nesse sentido, vale ressaltar que uma das instituies brasileiras mais duradouras de
atendimento infncia, que teve seu incio antes da criao das creches, foi a "roda dos
expostos" ou "roda dos excludos", local onde se colocavam os bebs abandonados. Era
composto por uma forma cilndrica, dividida ao meio por uma divisria e fixado na janela
da instituio ou das casas de amparo. Assim, a criana era entregue a esta instituio,
sendo preservada a sua identidade.
Por mais de um sculo a roda de expostos foi a nica instituio de assistncia criana
abandonada no Brasil e, apesar dos movimentos contrrios a essa instituio por parte de
segmento da sociedade, foi somente no sculo XX, j em meados de 1950, que o Brasil
efetivamente extinguiu-a, sendo o ltimo pas a acabar com o sistema da "roda dos
excludos".
Mesmo com o trabalho desenvolvido nas casas de amparo, por meio da roda dos
expostos, um nmero significativo de creches foram criadas, no pelo poder pblico, mas
exclusivamente por organizaes filantrpicas. Destaca-se que, se por um lado, os
programas de baixo custo, voltados para o atendimento s crianas pobres, surgiam no
sentido de atender s mes trabalhadoras que no tinham onde deixar seus filhos, a
criao dos jardins de infncia foi defendida por alguns setores da sociedade, por
acreditarem que os mesmos trariam vantagens para o desenvolvimento infantil; porm, ao
mesmo tempo foi criticado por identific-los com instituies europias.
Desde modo, as tendncias que acompanharam a implantao de creches e jardins de
infncia, no final do sculo XX e durante as primeiras dcadas do sculo XX no Brasil,
foram: a jurdico-policial, que defendia a infncia moralmente abandonada, a mdico-
higienista e a religiosa, ambas tinham a inteno de combater o alto ndice de mortalidade
infantil, tanto no interior da famlia como nas instituies de atendimento infncia. Cada
instituio, segundo KUHLMANN Jr., (1998), "[...] apresentava as suas justificativas para a
implantao de creches, asilos e jardins de infncia onde seus agentes promoveram a
constituio de associaes assistenciais privadas"( KUHLMANN Jr., 1998, p. 88),
KRAMER (1995) aponta que as crianas das diferentes classes sociais eram submetidas
a contextos de desenvolvimento diferentes, j que, enquanto as crianas das classes
menos favorecidas eram atendidas com propostas de trabalho que partiam de uma idia
de carncia e deficincia, as crianas das classes sociais mais abastadas recebiam uma
educao que privilegiava a criatividade e a sociabilidade infantil. Enquanto que as
instituies pblicas atendiam s crianas das camadas mais populares, as propostas das
particulares, de cunho pedaggico, funcionavam em meio turno, dando nfase
socializao e preparao para o ensino regular.
Os jardins de infncia, diferentemente das creches, cuja idia europia chegou ao Brasil
no final do sculo XX, tinham, desde sua origem, finalidades essencialmente
pedaggicas voltadas ao atendimento das camadas mais abastadas da populao. Os
primeiros jardins de infncia foram fundados em 1875, no Rio de Janeiro/RJ, e em 1877,
em So Paulo/SP, mantidos por entidades privadas. Mesmo os primeiros jardins-de-
infncia pblicos, inspirados nas propostas de Froebel, criados em 1908, em Belo
Horizonte e em 1909, no Rio de Janeiro, tambm atendiam a crianas de segmentos mais
privilegiados economicamente.
A partir dos jardins, foram tambm criadas, durante os anos 20 e 30, salas pr-primrias
que funcionavam junto s escolas primrias. Tambm, nesse perodo, sob a influncia do
iderio da Escola Nova, surgiu o atendimento em praas pblicas, denominados de
"Parques nfantis", para as crianas da classe operria (OLVERA, 2002). Nestes
estabelecimentos, a profissional era definida como professora e sua ao exigia formao
pedaggica em Cursos Normais, em nvel mdio.
Apesar dessas iniciativas, a expanso da educao pblica de crianas menores de seis
anos, tanto em creches como em jardins-de-infncia, foi se dando lentamente. Somente
no final dos anos 70, se observa uma expanso das creches e pr-escolas no Brasil, em
funo de diversos fatores como a crise do regime militar, o crescimento urbano, a
participao crescente das mulheres no mercado de trabalho, a reconfigurao do perfil
familiar, a intensificao dos movimentos sociais organizados, em especial de grupos de
mulheres, e a influncia de polticas sociais de rgos internacionais para pases de
terceiro mundo.
A partir da necessidade de novas estratgias governamentais para atender crescente
demanda por atendimento s crianas menores de 7 anos, foram desencadeadas
polticas de cunho compensatrio e emergencial que articulavam ampliao quantitativa
do atendimento e baixo investimento pblico.
Durante os anos 80, como resultado das reivindicaes de diversos setores da sociedade,
efetuam-se conquistas histricas no plano legal relativas criana e sua educao. Nesse
sentido, a Constituio Federal de 1988 e o Estatuto da Criana e do Adolescente (1990),
reconhecem a educao como direito da criana de 0 a 6 anos e como dever do Estado,
sob a responsabilidade dos municpios, em regime de colaborao, a cumprir-se mediante
o "atendimento em creches, (0 a 3 anos) e pr-escolas (4 a 6 anos)", definindo ambas
como instituies educacionais.
A educao foi marcada por mutaes compreendidas entre a cultura de uma
comunidade,envolvendo seus costumes e o estabelecimento de padres a fim de manter
a ordem social, as relaes interpessoais originadas pelas necessidades de sobrevivncia
entre os povos, seu modo de produzir, enfim, tudo aquilo que caracterizaria e que
caracteriza a educao como um todo. "Para saber, para fazer, para ser ou para conviver,
todos os dias misturamos a vida com a educao" (Brando, 1981, p.7).
Constata-se que a educao existiu em mundos diversos e se constituiu de maneiras
diferentes: em situaes de observao e imitao das relaes indistintas de convivncia
em pequenas sociedades tribais; por meio da preocupao em registrar os valores
sagrados e tradicionais das civilizaes orientais; formar guerreiros indispensveis para a
defesa de sua ptria; como necessidade do homem se reconhecer como indivduo
racional e pensante no submetido mais ao destino e, desde ento, a educao passou a
ser entendida como fator primordial de ordem social na construo de toda e qualquer
sociedade. Porm, conforme enunciamos nos captulos anteriores, a educao no era
destinada a todos, somente a uma pequena minoria.
Compreendeu-se tambm, que o contexto da histria da educao, seus avanos e
retrocessos, refletiram, de certa maneira, na construo de nossa educao. Criada e
imposta pelas classes dominantes de cada poca, os indivduos nela pertencentes, de
modo geral, receberam-na sem resistncias.
A condio de indivduo passivo e inerte aos acontecimentos scio-educacionais
substituda pela confiana do homem em si prprio e na sua capacidade de investigao
racional durante a dade Moderna. O conhecimento torna-se o grande instrumento da
sociedade a fim de que o homem no seja facilmente dominvel. Assim "a modernidade
se caracteriza por uma ruptura com a tradio que leva busca, no sujeito pensante, de
um novo ponto de partida alternativo para a construo e a justificao do conhecimento.
O indivduo ser, portanto, a base deste novo sistema de pensamento" (MARCONDES,
1997, p.20).
Mais tarde, introduz-se o modo de produo capitalista e toda a sociedade entrega-se de
corpo e alma nova ordem social. A educao, antes destinada para a minoria, deixa de
ser vista como um privilgio e passa a ser considerada como um dos principais
instrumentos de interveno na realidade social com vistas a garantir o progresso scio-
econmico (Brando, 1981). niciativas polticas por parte do governo asseguram os
direitos do cidado por meio das Leis, porm, na prtica isso no acontece.
A cincia, a tecnologia e o mundo das informaes aproximam os povos, e o homem
contemporneo obrigado a torna-se flexvel, polivalente e com grande capacidade de
atividade intelectual. A universalizao das informaes, o avano das conquistas
tecnolgicas e a expanso da internet, ampliam os horizontes desencadeando a
globalizao, porm, em contra partida, o grande volume de informaes "pode
negativamente, homogeneizar e descaracterizar culturas tradicionais, bem como alienar e
massificar, quando predomina o consumo passivo da informao sem crtica" (ARANHA,
1996, p.235).
REFERNCAS
BRASL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil,
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponvel <www.planalto.gov.br/legislao/leis>
Você também pode gostar
- Inteligência Positiva PT'Documento8 páginasInteligência Positiva PT'Vagner BotelhoAinda não há avaliações
- Ficha de Apoio À Aprendizagem de Matemática 7 ClasseDocumento115 páginasFicha de Apoio À Aprendizagem de Matemática 7 ClasseMauricio Marane67% (3)
- Do Corpo Produtivo Ao Corpo BrincanteDocumento237 páginasDo Corpo Produtivo Ao Corpo BrincanteMário JorgeAinda não há avaliações
- Efeito e Recepção de Itania Maria Mota GomesDocumento259 páginasEfeito e Recepção de Itania Maria Mota GomesPauloRezendeAinda não há avaliações
- 2019 - Alberto, Alice IsabelDocumento85 páginas2019 - Alberto, Alice IsabelGerson ManjateAinda não há avaliações
- Planejamento Ensino Religioso-4º Ano - 1º 2º 3º e 4º B - 2020Documento6 páginasPlanejamento Ensino Religioso-4º Ano - 1º 2º 3º e 4º B - 2020Gisele Hernandes100% (1)
- TCC ContacaoHistoriasDocumento39 páginasTCC ContacaoHistoriasPriscila MachadoAinda não há avaliações
- Resultado Processo Seletivo Final 20.10.19Documento13 páginasResultado Processo Seletivo Final 20.10.19Wenes Pereira X Amanda EstevaoAinda não há avaliações
- Leitura e Produção Textual-UCA EADDocumento99 páginasLeitura e Produção Textual-UCA EADFernando Melo100% (1)
- Ensaio para CheveningDocumento4 páginasEnsaio para CheveningScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Avaliação Recuperação de MatemáticaDocumento4 páginasAvaliação Recuperação de MatemáticaMariza DomingosAinda não há avaliações
- Demandas Da Secretaria - Junho - 2023Documento2 páginasDemandas Da Secretaria - Junho - 2023José Anchieta MeloAinda não há avaliações
- 16 Triangulos e QuadrilaterosDocumento4 páginas16 Triangulos e QuadrilaterosMeninaDuMarAinda não há avaliações
- Apostila Estatistica Aplicada A MTQ - Ifes VV - 2015Documento72 páginasApostila Estatistica Aplicada A MTQ - Ifes VV - 2015Nathaly BrandãoAinda não há avaliações
- Plano de Ensino ViolãoDocumento2 páginasPlano de Ensino ViolãoDiego Ribeiro CardosoAinda não há avaliações
- Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos Do Serviço Social - IIDocumento10 páginasFundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos Do Serviço Social - IIAnonymous Y1AXJ5Ainda não há avaliações
- Africanidade e AfrodescendenciaDocumento10 páginasAfricanidade e AfrodescendenciaLuiz LourençoAinda não há avaliações
- TCC Estudo de Viabilidade Minha Casa Minha Vida Faixa 1 - Thomas Edson Sakai CavalcanteDocumento49 páginasTCC Estudo de Viabilidade Minha Casa Minha Vida Faixa 1 - Thomas Edson Sakai CavalcanteThomas Edson Sakai CavalcanteAinda não há avaliações
- Simulado 1 10.05Documento4 páginasSimulado 1 10.05Flaviana CostaAinda não há avaliações
- Whatsapp: 073 9 9900 0037: ContatosDocumento1 páginaWhatsapp: 073 9 9900 0037: ContatosAlex NascimentoAinda não há avaliações
- Estudo 50 - Exortem e Ensinem Uns Aos OutrosDocumento7 páginasEstudo 50 - Exortem e Ensinem Uns Aos Outrosprmarceloasilva100% (1)
- Stransky LivroDocumento110 páginasStransky LivroRogerio SatilAinda não há avaliações
- Dez Coisas A Se Fazer - Mídia Sem MáscaraDocumento3 páginasDez Coisas A Se Fazer - Mídia Sem MáscaraalessandroAinda não há avaliações
- Você É Psicólogo e Necessita Realizar Buscas em Bases de Dados Sobre o Seu Tema de Interesse de PesquisaDocumento2 páginasVocê É Psicólogo e Necessita Realizar Buscas em Bases de Dados Sobre o Seu Tema de Interesse de PesquisaLiah PortesAinda não há avaliações
- Rogério Seixas Tese - A Questão Do GovernoDocumento186 páginasRogério Seixas Tese - A Questão Do GovernoKácia Natalia TedescoAinda não há avaliações
- Sete Respostas Sobre o Software GeogebraDocumento2 páginasSete Respostas Sobre o Software GeogebraMaria BorgesAinda não há avaliações
- Farmacia Clinica No BrasilDocumento28 páginasFarmacia Clinica No BrasilÍris terezinhaAinda não há avaliações
- A Família Do MaçomDocumento61 páginasA Família Do MaçomWagner Da CruzAinda não há avaliações
- Apostila de Química Relatório e Normas AbntDocumento10 páginasApostila de Química Relatório e Normas AbntJéssica LorraneAinda não há avaliações