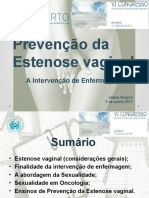Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Avaliação Pós-Ocupação em Conjuntos Habitacionais de Interesses Social O Caso Da Vila Da Barca Belém Pará
Avaliação Pós-Ocupação em Conjuntos Habitacionais de Interesses Social O Caso Da Vila Da Barca Belém Pará
Enviado por
Irineu Barreto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações206 páginasvila da barca
Título original
Avaliação Pós-Ocupação Em Conjuntos Habitacionais de Interesses Social; O Caso Da Vila Da Barca Belém Pará
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentovila da barca
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações206 páginasAvaliação Pós-Ocupação em Conjuntos Habitacionais de Interesses Social O Caso Da Vila Da Barca Belém Pará
Avaliação Pós-Ocupação em Conjuntos Habitacionais de Interesses Social O Caso Da Vila Da Barca Belém Pará
Enviado por
Irineu Barretovila da barca
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 206
UNIVERSIDADE DA AMAZNIA
PR-REITORIA DE PESQUISA, PS-GRADUAO E EXTENSO
NCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM QUALIDADE DE VIDA E MEIO
AMBIENTE
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE URBANO
AVALIAO PS-OCUPAO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS
DE INTERESSE SOCIAL: o caso da vila da barca (Belm-Pa).
Belm - Par
2009
MARIANO DE JESUS FARIAS CONCEIO
AVALIAO PS-OCUPAO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE
INTERESSE SOCIAL: O CASO DA VILA DA BARCA (Belm-Pa).
Dissertao apresentada ao programa de Mestrado em
Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano da
Universidade da Amaznia como requisito para a
obteno do Ttulo de Mestre em Desenvolvimento e
Meio Ambiente Urbano, sob a orientao do prof. Dr.
Marco Aurlio Arbage Lobo.
Belm - Par
2009
Conceio, Mariano de J esus Farias.
Avaliao Ps-ocupao em conjuntos habitacionais de Interesse
Social: o caso da Vila da Barca (Belm-Pa). Orientador Prof. Dr. Marco
Aurlio Arbage Lobo - Belm, 2009.
Dissertao (Mestrado). Universidade da Amaznia. Programa de Ps-
Graduao. Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano.
Orientador: Prof. Dr. Marco Aurlio Arbage Lobo.
1.Poltica Habitacional. 2. Habitao Saudvel. 3. Habitao de
Interesse Social. l. Ttulo.
MARIANO DE JESUS FARIAS CONCEIO
AVALIAO PS-OCUPAO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE
INTERESSE SOCIAL: o caso da vila da barca (Belm-Pa)
Defesa: Belm (Pa), 05 de novembro de 2009
BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr. Marco Aurelio Arbage Lobo
Orientador, Universidade da Amaznia.
Prof. Dr. Miguel Agostinho de Lalor Imbiriba
Examinador, Universidade Federal do Par.
Prof. Dr. Benedito Coutinho Neto
Examinador, Universidade da Amaznia.
Prof. Dr. Carlos J orge Paixo
Examinador, Universidade da Amaznia.
Aprender a nica coisa de que a mente
nunca se cansa, nunca tem medo e nunca
se arrepende
Leonardo da Vinci
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus pela oportunidade da
vida, e, pela proteo e inspirao, nos
momentos em que o meu esprito pareceu
fraquejar;
Aos meus saudosos pais, Clodoaldo e
Anunciao, o meu imorredouro
reconhecimento, diante de tantas lutas
encetadas, em prol de uma vida de
vitrias;
Em especial Izabel, companheira
fidelssima, e, em particular Darlah e ao
Paulo, pelos desafios do cotidiano. Se
necessrio comearia tudo outra vez;
Ao Prof. Dr. Marco Aurlio Arbage Lobo,
pela contribuio e pelo denodo com que
conduziu-me nas veredas do
conhecimento cientfico;
Ao acadmico de Arquitetura e Urbanismo
Alex Bandeira, pela aplicao dos
questionrios e pela pacincia nas visitas
realizadas na rea de pesquisa;
Aos moradores do Conjunto Vila da
Barca, pela disposio em responderem
s indagaes da pesquisa, e, em
especial, s lideranas comunitrias;
Aos funcionrios da UNAMA que
colaboraram direta ou indiretamente para
que eu pudesse concluir mais uma etapa
da minha vida.
A todos, indistintamente, o meu eterno
agradecimento na presena do Deus
Altssimo;
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma avaliao ps-ocupao (APO)
no conjunto residencial Vila da Barca, situado na cidade de Belm (PA), verificando
a adequao das condies de moradia no local ao conceito de habitao saudvel.
De acordo com a metodologia da APO, foram realizados dois tipos de avaliao: a
tcnica e a do morador. A avaliao tcnica baseou-se numa inspeo visual in loco,
denominada de walkthrough, quando foi avaliado o desempenho do sistema
construtivo e dos materiais de construo, alm de outros aspectos. A avaliao dos
moradores foi realizada em todas as 136 unidades habitacionais do conjunto,
mediante a aplicao de um questionrio ao responsvel pelo domiclio ou a outro
morador adulto, contemplando os seguintes assuntos: informaes
socioeconmicas, dimenses dos ambientes, conforto ambiental, aspectos
construtivos e servios urbanos. A avaliao tcnica concluiu que o conjunto
apresenta, em geral, bom desempenho construtivo, havendo, contudo, problemas
localizados, como trincas e infiltraes. A avaliao dos moradores concluiu que, a
despeito da insatisfao em relao a alguns pontos, especialmente a ventilao
das unidades e os servios urbanos, existe um elevado grau de satisfao em
relao s suas moradias. A concluso do trabalho que o conjunto Vila da Barca,
de maneira geral, est adequado ao conceito de habitao saudvel.
Palavras-chave: Habitao de interesse social. Avaliao ps-ocupao. Conjunto
habitacional.
ABSTRACT
This work aims to conduct a post-occupancy evaluation (POE) in the residential Vila
da Barca, located in the city of Belm (PA, Brazil), verifying the adequacy of housing
conditions in the local to the concept of healthy housing. According to the
methodology of the POE, were performed two types of assessment: technical and
the residents. The technical evaluation was based on visual inspection on the spot,
called walkthrough, when it was evaluated the performance of the constructive
system, the building materials and other aspects. The evaluation of the residents was
conducted in all 136 housing units, using a questionnaire for the owner or other adult
dweller, including the following matters: socioeconomic information, size of the
rooms, environmental comfort, constructive aspects and urban services. The
technical assessment concluded that, in general, the residential has good
constructive performance, having, however, localized problems such as cracks and
infiltrations. The assessment of the residents concludes that, despite the
dissatisfaction on some points, especially the ventilation of the units and the urban
services, there is a high degree of satisfaction from with their houses. The conclusion
of this work is that the residential Vila da Barca, in general, is adequate to the
concept of healthy housing.
keywords: Social housing. Post-occupation evaluation. Housing.
LISTA DE ILUSTRAES
Grfico 1: Renda dos moradores 96
Grfico 2: Idade dos moradores 96
Grfico 3: Quantidade de moradores 97
Grfico 4: Tempo de moradia. 97
Grfico 5 Tamanho da moradia 98
Grfico 6 Tamanho da moradia por nmero de pessoas 98
Grfico 7 Iluminao natural da moradia 99
Grfico 8 Iluminao artificial nas reas comuns 99
Grfico 9 Iluminao artificial nas vias pblicas do conjunto 100
Grfico 10 Iluminao artificial nas vias pblicas 100
Grfico 11 Temperatura na moradia nos perodos de menor
intensidade de chuvas
101
Grfico 12 Temperatura na moradia nos perodos de maior
intensidade de chuvas
101
Grfico 13 Ventilao na cozinha das moradias 102
Grfico 14 Ventilao nos quartos 102
Grfico 15 Ventilao em outros ambientes 103
Grfico 16 De onde vem o barulho que lhe perturba 103
Grfico 17 Soluo de escadas externas de acesso s moradias 104
Grfico 18 Soluo de escadas para acesso a quartos e
banheiros
104
Grfico 19 Localizao dos sanitrios na moradia 105
Grfico 20 Quantidade de sanitrios por nmero de pessoas na
moradia
105
Grfico 21 Quantidade de dormitrios por nmero de pessoas na
moradia
106
Grfico 22 Segurana da moradia contra terceiros 106
Grfico 23 Segurana dos blocos contra incndio 107
Grfico 24 Segurana das moradias contra acidentes 107
Grfico 25 Adaptao da moradia ao uso do deficiente fsico 108
Grfico 26 Aparncia externa dos blocos 108
Grfico 27 Dimenses da sala de visita das moradias 109
Grfico 28 Dimenses dos dormitrios 109
Grfico 29 Dimenses da cozinha 110
Grfico 30 Dimenses do banheiro 110
Grfico 31 Abastecimento de gua potvel 111
Grfico 32 Sistema de energia eltrica do conjunto 111
Grfico 33 Sistema de esgotamento sanitrio e drenagem do
conjunto
112
Grfico 34 Coleta de lixo do conjunto 112
Grfico 35 A nova moradia comparada com a antiga 113
Grfico 36 Os ambientes atendem as necessidades dos
moradores
113
Grfico 37 Tipo de parede 114
Figura 1 Estivas na Vila da Barca 25
Figura 2 Criao de animais em assentamentos precrios 25
Figura 3 Blocos Habitacionais Vila da Barca 29
Figura 4 Detalhe de apartamento 29
Figura 5 Vila da Barca sobre pontes 29
Figura 6 Acesso s moradias 29
Figura 7 Pessoas em domiclios particulares permanentes 34
Figura 8 Detalhe de palafitas 41
Figura 9 Palafitas na Vila da Barca 41
Figura 10 Espao pblico no conj. Vila da Barca. 82
Figura 11 Planta baixa de uma moradia 83
Figura 12 Escadaria externa 83
Figura 13 Escadas de acesso aos apartamentos 84
Figura 14 Apartamento do conj. Vila da Barca. 84
Figura 15 Infiltraes em apartamentos no conj. Vila da Barca. 84
Figura 16 Elementos em balano sujeitos flexo 85
Figura 17 Planta de localizao do projeto Vila da Barca 85
Figura 18 Quadra 05 do conjunto Vila da Barca 85
Figura 19 Paredes em balano 86
Figura 20 Detalhe de infiltraes 87
Figura 21 Paredes com fungo devido infiltrao 87
Figura 22 Quadra 04 do conj. Vila da Barca. 87
Figura 23 Projeto virio do conj. Vila da Barca. 88
Figura 24 Aspecto de uma palafita 88
Figura 25 Conjunto Vila da Barca 88
Figura 26 Aspecto das paredes do conj. Vila da Barca. 89
Figura 27 Diferena de nvel nas habitaes trreas 91
Figura 28 Parede revestida com reboco, emassada e pintada. 91
Figura 29 Quarto com ventilao mecnica 92
Figura 30 Play-ground e o parque de diverses 92
Figura 31 Construo de edcula. 113
Figura 32 Ocupao de canteiro pblico. 113
Figura 33 Construo de cercado 113
Figura 34 Automveis na via pblica 114
Figura 35 Estacionamento improvisado. 114
Figura 36 Alternativa para rea de servio 115
LISTA DE TABELAS SUPLEMENTARES
Tabela 1 Renda mdia mensal familiar 156
Tabela 2 Perfil etrio dos responsveis pelos domiclios 157
Tabela 3 Freqncia dos gneros dos responsveis por domiclios 157
Tabela 4 Domiclios por nmero de moradores 158
Tabela 5 Opinio dos moradores, quanto ao tamanho da moradia. 158
Tabela 6 Opinio dos moradores, quanto iluminao natural da
moradia.
159
Tabela 7 Opinio dos moradores, quanto iluminao artificial das reas
comuns dos blocos.
160
Tabela 8 Opinio dos moradores, quanto iluminao artificial nas vias
pblicas.
160
Tabela 9 Opinio dos moradores, quanto iluminao nas vias pblicas
do bairro.
160
Tabela 10 Opinio dos moradores, quanto temperatura dos ambientes
em perodos menor intensidade de chuvas.
161
Tabela 11 Opinio dos moradores, quanto temperatura das moradias
em perodos de maior intensidade de chuvas.
161
Tabela 12 Opinio dos moradores, quanto presena de focos de
umidade nas moradias.
161
Tabela 13 Opinio dos moradores, sobre o perodo de aparecimento de
umidade.
162
Tabela 14 Opinio dos moradores, quanto ventilao na cozinha das
moradias.
162
Tabela 15 Opinio dos moradores, quanto ventilao nos quartos. 163
Tabela 16 Opinio dos moradores, quanto ventilao em outros
ambientes.
163
Tabela 17 Opinio dos moradores, quanto ao rudo externo que
interferem nas habitaes.
164
Tabela 18 Opinio dos moradores, quanto ao nvel de rudo nas
moradias.
164
Tabela 19 Opinio dos moradores, quanto origem dos rudos. 165
Tabela 20 Opinio dos moradores, quanto s escadas externas das
moradias.
165
Tabela 21 Opinio dos moradores, quanto s escadas internas das
moradias.
166
Tabela 22 Opinio dos moradores, quanto localizao dos sanitrios
nas moradias.
166
Tabela 23 Opinio dos moradores, quanto ao nmero de sanitrios na
moradia.
167
Tabela 24 Opinio dos moradores, quanto ao nmero de dormitrios nas
moradias.
167
Tabela 25 Opinio dos moradores, quanto segurana das moradias
contra terceiros.
168
Tabela 26 Opinio dos moradores, quanto segurana contra incndio. 168
Tabela 27 Opinio dos moradores, quanto segurana das moradias
contra acidentes.
169
Tabela 28 Opinio dos moradores, quanto adaptao das moradias ao
uso do deficiente fsico.
169
Tabela 29 Opinio dos moradores, quanto aparncia externa dos
blocos.
169
Tabela 30 Opinio dos moradores, quanto s dimenses da sala de visita
das moradias.
169
Tabela 31 Opinio dos moradores, quanto s dimenses dos dormitrios. 170
Tabela 32 Opinio dos moradores, quanto s dimenses das cozinhas
das moradias.
170
Tabela 33 Opinio dos moradores, quanto s dimenses dos banheiros
das moradias.
171
Tabela 34 Opinio dos moradores, quanto ao abastecimento de gua
potvel nas moradias.
171
Tabela 35 Opinio dos moradores, quanto ao sistema de energia eltrica. 172
Tabela 36 Opinio dos moradores, quanto ao sistema de esgotamento
sanitrio e drenagem.
172
Tabela 37 Opinio dos moradores, quanto coleta de lixo. 173
Tabela 38 Opinio dos moradores, quanto nova moradia comparada
com a antiga.
173
Tabela 39 Opinio dos moradores, quanto ao grau de satisfao com as
novas moradias.
175
Tabela 40 Opinio dos moradores, quanto ao interesse em reformar a
moradia.
176
Tabela 41 Aspectos favorveis apontados pelos moradores. 176
Tabela 42 Aspectos desfavorveis apontados pelos moradores. 177
LISTA DE SIGLAS
APO
BNH
COHAB
FAR
FAS
FAT
FCP
FDS
FGTS
FICAM
FJP
FNHIS
HIS
IAGUA
IAPs
IAPB
IAPC
IAPE
IAPETEC
IAPI
IAPM
IBGE
IDESP
Avaliao Ps-Ocupao
Banco Nacional de Habitao
Companhia de Habitao
Fundo de Arrendamento Residencial
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
Fundo de Amparo ao Trabalhador
Fundao da Casa Popular
Fundo de Desenvolvimento Social
Fundo de Garantia por Tempo de Servio
Programa de Financiamento da Construo, Concluso, Ampliao ou
Melhoria de Habitaes de Interesse Social
Fundao J oo Pinheiro
Fundo Nacional de Habitao de Interesse Social
Habitao de Interesse Social
Instituto Amaznico de Planejamento, Gesto Urbana e Ambiental.
Instituto de Aposentadorias e Penses.
Instituto de Aposentadoria e Penso dos Bancrios
Instituto de Aposentadoria e Penso dos Comercirios
Instituto de Aposentadoria e Penso dos Estivadores
Instituto de Aposentadoria e Penso dos Condutores de Veculos e
Empregados de Empresas de Petrleo
Instituto de Aposentadoria e Penso dos Industririos
Instituto de Aposentadoria e Penso dos Martimos
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
Instituto de Desenvolvimento Econmico e Social do Par
IPEA
MBE
OGU
OMS
PAC
PAIH
PAR
PEH
PLANASA
PLANHAP
PROFILURB
PROMORAR
RBHS
RMB
SBPE
SEGEP
SEHAB
SEPURB
SERFHAU
SFH
SIFHAP
SFS
SNHIS
SUDAM
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
Ministrio do Bem Estar Social
Oramento Geral da Unio
Organizao Mundial de Sade
Programa de Acelerao do Crescimento
Plano de Ao Imediata para Habitao
Programa de Arrendamento Residencial
Plano Estadual de Habitao
Plano Nacional de Saneamento
Plano Nacional de Habitao Popular
Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados
Programa de Erradicao de Subhabitao
Rede Brasileira de Habitao Saudvel
Regio Metropolitana de Belm
Servio Brasileiro de Poupana e Emprstimo
Secretaria Municipal de Planejamento e Gesto
Secretaria Municipal de Habitao Prefeitura de Belm
Secretaria de Poltica Urbana
Servio Federal de Habitao e Urbanismo
Sistema Financeiro de Habitao
Sistema Financeiro de Habitao Popular
Sistema Financeiro de Saneamento
Sistema Nacional de Habitao de Interesse Social
Superintendncia de Desenvolvimento da Amaznia
SUMRIO
1 INTRODUO 12
2 CONCEITOS BSICOS SOBRE HABITAO 17
2.1 HABITAO, FAMLIA E INDIVIDUO. 17
2.2 ASSENTAMENTOS PRECRIOS COMO PROBLEMA SOCIAL 24
2.3 DFICIT HABITACIONAL 28
2.4 HABITAO SAUDVEL 31
3 HABITAO SOCIAL E POLTICA HABITACIONAL 36
3.1 CONDIES HABITACIONAIS NO INCIO DA REPBLICA 36
3.2 O CORTIO CARIOCA 37
3.3 O CORTIO PAULISTA 40
3.4 PRODUO RENTISTA 41
4 INTERVENES GOVERNAMENTAIS NA QUESTO HABITACIONAL 43
5.1 VILAS OPERRIAS 43
5.2 O GOVERNO DE VARGAS 45
5.3 REGIME MILITAR (1964 1984) 53
5.4 REDEMOCRATIZAO GOVERNO SARNEY 65
5.5 GOVERNO FERNANDO COLLOR DE MELLO 67
5.6 GOVERNO ITAMAR FRANCO 71
5.7 GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 71
5.8 GOVERNO LUIZ INCIO LULA DA SILVA 78
5 METODOLOGIA 84
6.1 AVALIAO PS-OCUPAO 84
6 PROCESSO DE EVOLUO URBANA NA REGIO METROPOLITANA DE BELM 87
7 ANLISE DOS RESULTADOS 91
7.1 O PROJETO VILA DA BARCA 91
7.2 AVALIAO TCNICA (ANALISE WALTKTROUGH) 94
7.3 AVALIAO DO USURIO: pesquisa de opinio 109
8 A TICA DA HABITAO SAUDVEL 132
9 CONSIDERAES FINAIS 134
10 REFERNCIAS 136
11 APNDICE
12 ANEXO
12
1 INTRODUO
Com a crescente urbanizao em todo o mundo, problemas das mais
variadas espcies tm afetado a populao, principalmente aqueles que, pela
necessidade de moradia e trabalho, ocupam espaos urbanos desprovidos de infra
estrutura, trazendo dificuldades de toda ordem no s para os usurios, como
tambm para os gestores da cidade. Os efeitos destes fatos tm desdobramentos
prejudiciais para a vida das cidades, que via de regra se v s voltas com desafios
como: transporte urbano condizente, segurana, sade pblica, educao,
saneamento bsico e habitao, dentre outros.
Os governos, ao longo do tempo, tm oferecido programas que visam a
aperfeioar a qualidade de vida das populaes. Todavia, as manifestaes, na
prtica, ainda carecem de mais efetividade, uma vez que tais programas so
insuficientes e efmeros e sofrem, por conseguinte, de descontinuidades que, ao
final, trazem prejuzos populao carente.
O compromisso em atender os ditames constitucionais da moradia
adequada para todos, passou a ser assunto de alta relevncia e objetivo maior da
Agenda Habitat, e, no Brasil adquire consistncia assegurada como direito social.
Na atualidade, um dos programas do governo federal tem o objetivo de minimizar o
dficit habitacional no Brasil o programa Palafita Zero, que faz parte do Plano de
Acelerao do Crescimento e tem o propsito de melhorar as condies
habitacionais das populaes que ocupam os assentamentos precrios.
A Vila da Barca um desses exemplos de assentamento. Localizada no
bairro do Telgrafo, caracteriza-se por ser uma rea de ocupao, inserida na
Regio Metropolitana de Belm (RMB) e, cujas cotas topogrficas esto abaixo do
nvel quatro, portanto sujeitas as inundaes e enchentes, principalmente por
localizarem-se s margens da Baa de Guajar, suas terras esto sujeitas aos
regimes de mars e, cuja ocupao data de mais de cinqenta anos, sendo que
potencialmente a dcada de 1970 foi determinante para a ocupao da rea por
parte da populao carente. Originalmente, a Vila da Barca formada por um
conjunto de habitaes do tipo palaftica, desprovidas de servios de infra-estrutura
urbana e consequentemente apresentando um quadro de carncias e de
precariedade das condies de qualidade de vida dos moradores, que ocupam
13
moradias insalubres, onde o sistema de circulao desenvolvido atravs de estivas
de madeira de traado irregular (figuras 1e 2).
Foi neste contexto, que a Vila da Barca foi includa primeiramente no
Programa Morar Melhor e, depois, foi beneficiada pelo programa de urbanizao
Palafita Zero e, atualmente, recebe recursos do Programa de Acelerao do
Crescimento (PAC).
Figura 1: Estiva na Vila da Barca Figura 2: Criao de animais na Vila da Barca
Fonte: Mariano de Farias (2008) Fonte: Mariano de Farias (2008)
A Prefeitura de Belm com recursos oriundos do Governo Federal realiza
um dos maiores projetos habitacional do Brasil e Amrica Latina e que o objeto de
estudo desta pesquisa. A primeira fase do projeto j foi concluda com a entrega de
136 unidades habitacionais. H uma previso que, at 2010, sejam entregues mais
498 unidades habitacionais, perfazendo um total de 634 habitaes dotadas de infra-
estrutura urbana (Figuras 3 e 4).
Figura 3: Blocos Habitacionais do Conjunto Vila da Barca Figura 4: Detalhe de apartamento.
Fonte: Mariano de Farias (2008) Fonte: Mariano de Farias (2008)
14
Na primeira etapa do projeto, a Secretaria Municipal de Habitao
(SEHAB), com os recursos da Unio e contrapartida financeira da Prefeitura
Municipal de Belm, executou a construo de 136 unidades habitacionais,
distribudas em 25 blocos, com quatro tipologias de habitaes e um custo de
contrato na ordem de R$ 10.515.862,70, sendo que R$ 8.530.695,00 foram
provenientes do Oramento Geral da Unio (OGU) e R$ 1.985.167,70 como
contrapartida da Prefeitura Municipal de Belm. As novas moradias esto sendo
ocupadas pelas famlias que foram retiradas das antigas habitaes (palafitas), que
ficavam na orla do rio e que no possuam servios de infra-estrutura e,
conseqentemente, no estavam de acordo com os conceitos de habitao
saudvel (SEHAB, 2007).
No entendimento de que a habitao um dos direitos fundamentais do
homem e que, o objetivo geral para o desenvolvimento dos assentamentos humanos
melhorar a qualidade social, econmica e ambiental dos assentamentos humanos
e as condies de vida e de trabalho de todas as pessoas, em especial dos pobres
de reas urbanas e rurais, os propsitos da pesquisa caminharam no sentido de
avaliar as condies de qualidade de vida da populao do conjunto Vila da Barca.
Diante do contexto, preciso ressaltar que grande parte da populao,
principalmente a de baixa renda, ainda no tem a acesso a habitaes saudveis,
apesar dos esforos dos governos, na tentativa de diminuir as carncias localizadas
nas camadas com menos recursos financeiros, conforme expressam as figuras 5 e
6.
Figura 5: Vila da Barca sobre pontes Figura 6: Acesso s moradias
Fonte: Mariano de Farias ( 2007) Fonte: Mariano de Farias (2007)
15
Neste ponto, a poltica habitacional brasileira tem se mostrado
insuficiente, para fazer frente ao direito da habitao adequada para populaes
localizadas em reas de rpido crescimento e principalmente para os contingentes
da populao carente. Torna-se, ento, imprescindvel a necessidade da produo
em larga escala de habitaes para pessoas de baixa renda, como maneira de
diminuir o dficit e as carncias por moradias de qualidade no que se cognominou
de habitao de interesse social.
Como habitao adequada, entende-se como sendo aquela que busca
oferecer moradia segura e saudvel, como maneira essencial para o bem-estar
fsico, psicolgico, social e econmico das pessoas.
O propsito da pesquisa verificar, junto aos usurios das novas
habitaes, o nvel de satisfao das famlias, com relao s condies de conforto
ambiental, segurana dos moradores e aspecto construtivo das moradias. Ou seja,
trata-se de investigar se o projeto implantado no conjunto Vila da Barca, como parte
de uma poltica habitacional mais ampla, atende aos requisitos do conceito de
moradia saudvel.
A pesquisa tambm se justifica pela necessidade do acompanhamento
das questes que envolvem o uso de empreendimentos habitacionais de interesse
social, ao tempo de estudar os casos relacionados s condies adequadas de
ocupao do imvel. Tambm preciso entender a satisfao de cada morador a
partir da resposta relativa a estmulos como motivaes, humores, necessidades,
conhecimentos prvios, valores, julgamentos e expectativas, como tambm avaliar
as questes de natureza tcnica que permeiam a pesquisa, tais como, ocorrncias
de infiltraes, recalques, vazamentos, trincas, goteiras, umidade, bolor, etc. A
pesquisa busca tambm a anlise do projeto arquitetnico da Vila da Barca, no
aspecto do conjunto em geral e no entendimento das tipologias habitacionais.
A investigao teve a sua sustentao a partir da construo de quadros
tericos que posteriormente evoluram para captulos, que serviram de base para o
entendimento dos propsitos do estudo sobre habitao de interesse social. A
pesquisa bibliogrfica teve o propsito de entender a problemtica da moradia para
pessoas de baixa renda, bem como as intervenes governamentais voltadas para a
soluo da questo do dficit habitacional brasileiro.
A pesquisa busca responder a duas questes consideradas fundamentais
para o bom termo do estudo: at que ponto os novos conjuntos habitacionais de
16
interesse social esto adequados aos requisitos do conceito de habitao saudvel?
E, qual o nvel de satisfao dos usurios com as moradias ofertadas em novos
conjuntos habitacionais de interesse social?
O objetivo geral deste trabalho avaliar a adequao de conjuntos
habitacionais de interesse social ao conceito de habitao saudvel e o grau de
satisfao dos moradores em relao a aspectos relevantes das condies
habitacionais. Especificamente, o estudo busca identificar as caractersticas scio-
econmicas bsicas dos moradores do conjunto Vila da Barca; avaliar se as
caractersticas construtivas, de dimensionamento, funcionais, segurana pblica e
de conforto ambiental das habitaes do conjunto Vila da Barca, esto de acordo
com o conceito de habitao saudvel; e por fim, avaliar o grau de satisfao dos
usurios do conjunto Vila da Barca, no tocante aos aspectos mencionados no
objetivo anterior.
A presente pesquisa est estruturada em oito captulos, estruturados em
itens, que buscam entender as origens da questo habitacional no Brasil e, para
tanto repagina os conceitos bsicos sobre habitao e, faz um liame ao processo de
evoluo urbana na Regio Metropolitana de Belm (RMB), no momento em que
revisa a questo do adensamento populacional e a conseqente explicao para as
invases e ocupaes que geraram habitaes precrias nas reas perifricas da
cidade. O estudo aborda tambm a discusso da habitao social e da poltica
habitacional brasileira e, as diversas intervenes governamentais voltadas para a
questo habitacional. Os demais captulos dizem respeito metodologia adotada e
as anlises resultantes, a partir da avaliao do usurio e da avaliao tcnica, que
ao final deram sustentao ao trabalho de pesquisa.
17
2 CONCEITOS BSICOS SOBRE HABITAO
2.1 HABITAO, FAMLIA, INDIVDUO E RENDA
O propsito deste captulo definir os principais conceitos bsicos que
envolvem a habitao e suas diversas variveis, desde a questo da adequao
at aos avanos da poltica habitacional no Brasil, no sem antes rever o
problema do dficit habitacional brasileiro e as tentativas de superao encetadas
pelos governos.
O termo habitao tem o significado de abrigo, na medida em que
protege as pessoas contra as intempries e outras ameaas integridade
humana. Com o avano da civilizao, os materiais de construo habitacional
foram se aprimorando e, conseqentemente, as habitaes foram assumindo
novas formas e funes. O espao construdo da habitao assume nas cidades,
valor de importncia scia econmica, onde se desenrolam as relaes ligadas
ao convvio social.
Conceitualmente, uma habitao tem a funo de oferecer abrigo
contra a precipitao, vento calor e frio, alm de proteo contra ataques de
animais ou de outros seres humanos (ABIKO, 1995).
Tambm preciso compreender que habitao o termo empregado
por especialistas para se referir genericamente ao ato de morar e s suas vrias
possibilidades e configuraes, enquanto casa deve ser entendida como o
objeto da moradia. Por outro lado, comum utilizao do termo lar, e neste
ponto, podemos dizer que ainda que possa ser considerado um sinnimo de casa,
carrega consigo uma conotao afetiva e pessoal. a casa vista pelo lado
pessoal de cada indivduo, que garante a sua privacidade e onde parte de sua
vida pessoal se desenrola e que ao final serve de referncia de identidade para o
indivduo, garantindo o seu direito cidado e a concretizao da viso tradicional
da idia de famlia, em respeito s tradies da estrutura de uma sociedade.
Neste ponto, a casa corresponderia unidade fundamental de uma cidade.
18
De conformidade com Abiko (1995), a funcionalidade da habitao
deve valorizar no s o aspecto espacial e de conforto ambiental, mas tambm a
preocupao com o ambiente que a circunda. Em se tratando de habitaes
inseridas em espaos urbanos, torna-se necessrio e imprescindvel a
preocupao com:
a) Servios urbanos, que atendam s necessidades da populao:
abastecimento de gua, rede de esgotamento sanitrio, energia
eltrica, transporte de passageiros, entre outros;
b) Infra-estruturas urbanas, entendidas como rede de distribuio de
gua, redes de drenagem urbana, coleta de esgotos, distribuio de
energia eltrica, rede de sistema virio, etc;
c) Equipamentos para atividades sociais, incluindo nesse item edifcios
para aes de educao, sade, lazer e outras que possam facilitar
a integrao social dos habitantes;
Quando se trata de habitao, vale salientar que a Declarao
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, j preconizava a habitao como
direito do cidado, cujo teor do artigo 25, determina que todos tenham o direito a
um padro de vida adequado sade e bem-estar da famlia.
As reunies acontecidas em Istambul, quando por ocasio do Habitat
II, definiram critrios para o entendimento de uma habitao adequada:
a) Estrutura Fsica: uma habitao adequada deve oferecer proteo
contra os elementos da natureza, no deve ser mida ou inabitvel e
culturalmente aceitvel;
b) Situao do Terreno: uma habitao adequada deve garantir a
segurana fsica dos seus ocupantes e deve ser um lugar seguro
para viver sem prejuzo sade;
c) Infra-estrutura e servios: a habitao adequada deve contar com
servios essenciais voltados sade e a promoo da vida humana;
d) Acessibilidade: a habitao adequada deve ser de fcil acesso para
todos, garantindo a cidadania dos usurios;
19
c) Localizao: a habitao deve localizar-se em um espao da cidade,
de tal forma que facilite o acesso ao emprego, escola, servios de
sade e outros locais onde o usurio possa desenvolver as suas
atividades sociais;
d) Segurana legal: a habitao adequada deve garantir a segurana
de posse, aplicvel ao direito de propriedade e direito de posse
quando se tratar de pessoas que alugam espaos para morar.
O entendimento da questo habitacional requer uma abordagem que
v alm do aspecto individual ou familiar, visto que a proximidade de um conjunto
de domiclios, como o caso das reas urbanas, faz emergir um conjunto de
fatores que interferem, de forma significativa, na qualidade das moradias
individuais. Ou seja, torna-se necessria uma abordagem social da questo da
moradia (ABIKO, 1995).
Por outro lado, o conceito de habitao adequada significa tambm:
privacidade adequada; espao adequado; acessibilidade fsica; segurana
adequada; segurana de posse; estabilidade estrutural e durabilidade; iluminao,
aquecimento e ventilao adequados; infra-estrutura bsica adequada, como
equipamentos de gua, esgoto e coleta de lixo; qualidade ambiental e fatores
ligados sade; localizao adequada e possibilidade de acessibilidade ao
trabalho e equipamentos bsicos. O desafio da habitao adequada, precisa ser
discutida, e, determinada em parceria com os usurios envolvidos no processo,
visando o pleno desenvolvimento desta parcela da sociedade (ABIKO, 1995).
A questo habitacional envolve preocupaes que se referem s
distncias entre a moradia e aos locais de trabalho e compras, e neste ponto, a
possibilidade de acessibilidade a estes locais garante satisfao e bem estar
populao.
Para que uma habitao cumpra suas funes, necessrio que, alm
de um espao confortvel, seguro e salubre, estejam necessriamente integrada
ao entorno, ao ambiente que a circunda, no se restringindo apenas habitao
em si (ABIKO, 1995).
20
A poltica habitacional, implementada por governos em todo o mundo,
constitui a principal tentativa de ofertar habitaes adequadas em larga escala
para a populao de baixa renda. De acordo com o entendimento de Arretche
(1990), poltica habitacional seria a identificao das caractersticas estruturais de
distintas modalidades de interferncia estatal no mercado habitacional, isto , nos
processos de produo, distribuio e consumo de unidades residenciais. De
outra forma, a poltica habitacional poderia tambm ser entendida, como o
conjunto sistemtico de aes do Poder Pblico com vistas a viabilizar a oferta
em larga escala de moradias ou melhorar as j existentes. Sistemtica, por estar
orientada por diretrizes que expressam a filosofia dos gestores da administrao
pblica, bem como de interesses econmicos e polticos dos atores envolvidos.
A habitao uma necessidade fundamental ao ser humano, e, item
fundamental para a reproduo da fora de trabalho, remete ao entendimento de
que a habitao um bem de alto custo; por isso, necessrio facilitar o acesso
das camadas de rendas mdias e baixas.
Em muitas cidades, a rpida expanso do nmero de seus habitantes
leva escassez de moradias a nvel crtico, o que exacerba a valorizao das
poucas reas bem servidas. A populao mais pobre fica relegada s zonas pior
servidas e mais baratas (SINGER, 1978).
Entretanto, a produo de habitaes voltadas para as camadas mais
carentes, alm de propiciar a reduo das tenses sociais, fomenta a
dinamizao da economia, pois a construo civil promove o aumento da
demanda por um grande nmero de produtos, no que se refere o material de
construo e alavanca, como conseqncia, a gerao de empregos na atividade.
Ao entender que o estudo est voltado para a habitao de interesse
social, ento, moradia diz respeito quelas destinadas a pessoas de baixa renda,
as quais se desejam uma dotao mnima de qualidade habitacional.
Por oportuno, importante refletir que seria impossvel negar que a
casa prpria representa, de fato, segurana para o trabalhador em um sistema
que se caracteriza pela baixa remunerao do trabalho e pelo desgaste intensivo
da mo-de-obra, em que o preo dos alugueis atinge nveis muito altos. A casa
21
prpria representa segurana de ter um teto nos perodos de crise, quando a
renda familiar sofre fortes redues (VALLADARES, 1981).
O conceito de habitao no se restringe apenas unidade
habitacional, mas, necessariamente, deve ser considerado de forma mais
abrangente, envolvendo tambm o seu entorno, os servios urbanos, infra-
estrutura urbana e equipamentos sociais.
A funo primordial da habitao a de abrigo. Mesmo com toda a evoluo
tecnolgica, essa funo tem permanecido a mesma, ou seja, proteger o ser
humano das intempries e de intrusos (ABIKO, 1995).
A casa prpria, juntamente com a alimentao e o vesturio, o
principal investimento para a constituio de um patrimnio, alm de se ligar
subjetivamente, ao sucesso econmico e a uma posio social mais elevada
(BOLAFFI, 1977).
Realmente a moradia, a alimentao e o vesturio, so necessrios
existncia de todos os elementos de uma sociedade. Mas, considerando-se a
sociedade dividida em classes, em funo das relaes de produo que nela se
estabelecem, veremos que a soluo do problema de moradia assume dimenses
diferentes dependendo da classe considerada (TASCHNER; MAUTNER, 1982).
Como obra arquitetnica, a funo de abrigar no a nica, nem a
principal funo da habitao. A variedade observada nas formas de construo,
num mesmo local ou sociedade, denota uma importante caracterstica humana:
transmitir significados e traduzir as aspiraes de diferenciao e territorialidade
dos habitantes em relao a vizinhos e pessoas de fora do seu grupo (BOLAFFI,
1977).
A habitao um bem de consumo de caractersticas nicas, sendo
um produto potencialmente muito durvel onde muito freqentemente so
observados tempos de vida til superior a 50 anos (ORNSTEIN, 1992).
E por ser um produto caro, as classes de renda baixa e naturalmente
menos privilegiadas constituem a maior demanda imediata por habitao, no
Brasil (Fundao Joo Pinheiro, 2001).
Martucci (1990) analisa os diferentes conceitos que se tem para casa,
moradia e habitao conforme as seguintes definies:
22
a) Casa a casca protetora, o invlucro que divide, tanto espaos
internos como espaos externos e o ente fsico;
b) Moradia Possui uma ligao muito forte, aos elementos que fazem
a Casa funcionar, ou seja, a Moradia leva em considerao os
Hbitos de Uso da Casa. Uma Casa por si s, no se caracteriza
como Moradia, ela necessita para tal, se identificar com o Modo de
Vida dos usurios, nos seus aspectos mais amplos. O mesmo
invlucro, o mesmo ente fsico, se transforma em Moradias
diferentes, com caractersticas diferentes, cujos Hbitos de Uso dos
moradores ou usurios so a tnica da mudana;
c) Habitao entendida como sendo a Casa e a Moradia integradas
ao Espao Urbano, com todos os elementos que este espao urbano
possa oferecer.
Este estudo est considerando habitao popular, como sendo
habitao urbana para a classe trabalhadora, que vive na cidade e possui renda
familiar baixa.
O termo Habitao de Interesse Social (HIS) define uma srie de
solues de moradia voltada para a populao de baixa renda. O termo tem
prevalecido nos estudos sobre gesto habitacional e vem sendo utilizado por
vrias instituies e agncias, juntamente com outros termos equivalentes
(ABIKO, 1995).
Sobre o assunto, outros conceitos de habitao merecem ser citados:
a) Habitao de Baixo Custo: termo utilizado para designar habitao
barata sem que isto signifique necessariamente habitao para
populao de baixa renda;
b) Habitao para Populao de Baixa Renda: um termo mais
adequado que habitao de baixo custo, tendo a mesma conotao
que habitao de interesse social; estes termos trazem, no entanto a
necessidade de se definir a renda mxima das famlias e indivduos
situados nesta faixa de atendimento;
23
c) Habitao Popular: termo genrico envolvendo todas as solues
destinadas ao atendimento de necessidades habitacionais.
Bonduki (2003) diferencia a habitao de interesse social da
habitao de mercado popular, por entender que, nesta ltima, h produo e
consumo de habitaes populares (pequenas construes, autoconstruo, em
iniciativas prprias ou contratadas diretamente pelos usurios da habitao),
porm estas no esto sujeitas aos mesmos critrios de planejamento e
implementao que os programas produzidos pelo poder pblico.
Alm dos conceitos anteriormente definidos, acrescentam-se ainda
espao e ambiente como forma de complementar as definies que formam a
fundamentao temtica desse trabalho de pesquisa. E para tanto, ser adotado
as definies conforme Corona; Lemos, 1972):
a) Por espao: Em arquitetura, expressa antes, de tudo, sua condio
tri-dimensional, ou seja, a possibilidade do homem participar de seu
interior. De modo especial, no se considera suficiente o projeto
atravs de plantas, cortes, perspectivas, etc., para compreenso
exata das trs dimenses da arquitetura. preciso considerar o
homem se movimentando em seu interior;
b) Por ambiente: designa-se, em arquitetura, o espao interior ou
exterior que compreende uma determinada funo do programa de
necessidades.
Sobre o assunto, o Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa d outro
entendimento para a definio de ambiente. (FERREIRA, 1975): (...) Arquit.
AMBINCIA O espao arquitetonicamente organizado e animado, que constitui
um meio fsico e, ao mesmo tempo, meio esttico, ou psicolgico, especialmente
preparado para o exerccio de atividades humanas.
A casa prpria representa segurana para o trabalhador principalmente
em um sistema que se caracteriza pelos baixos salrios do trabalho e pelo
24
excessivo desgaste da mo-de-obra, agregado ao fato de que os alugueis
atingem nveis altssimos.
O termo habitao social pode ser entendido no apenas como
habitao produzida e financiada por rgos estatais e destinadas populao de
baixa renda, mas num sentido mais amplo, que inclui a regulamentao estatal da
locao habitacional para fazer frente a um problema do Estado, que no dota os
assentamentos de infra-estrutura urbana adequada, em detrimento aos
loteamentos privados aos qual o governo dispensa mais ateno.
2.2 ASSENTAMENTOS PRECRIOS COMO PROBLEMA SOCIAL
Quando um conjunto de domiclios no possui os requisitos
necessrios que garantam uma moradia com um mnimo de qualidade, tem-se um
problema social relacionado moradia. Esse o caso dos chamados
assentamentos precrios ou subnormais, conjuntos constitudos por um mnimo
de 51 domiclios, ocupando ou tendo ocupado, at perodo recente, terreno de
propriedade alheia (pblica ou particular), dispostos, em geral, de forma
desordenada e densa, e carente, em sua maioria, de servios pblicos essenciais
(IBGE, 2003).
Para o estudo dos assentamentos precrios, consideram-se dois tipos
de moradias: aqueles que moram em domiclio particular permanente e aqueles
que moram em domiclios particulares improvisados.
Domicilio particular permanente aquele em que o relacionamento
entre seus ocupantes ditado por laos de parentesco, de dependncia
domstica ou por normas de convivncia e quando construdo para servir
exclusivamente habitao e, na data de referncia, tinha a finalidade de servir
de moradia a uma ou mais pessoas.
Domiclios particulares improvisados so aqueles localizados em
unidade no residencial (loja, fbrica, etc.) que no tinha dependncias
destinadas exclusivamente moradia, mas que, na data de referncia, estava
ocupado por morador. Os prdios em construo, vages de trem, carroas,
25
tendas, barracas, grutas, etc. que estavam servindo de moradia na data de
referncia tambm foram considerados como domiclios particulares improvisados
(IBGE, 2003).
Segundo dados do IPEA (2007), na Regio Metropolitana de Belm
(RMB), 16,6% da populao (346 mil pessoas) esto vivendo em domiclios
urbanos com superlotao domiciliar (mais de trs pessoas por dormitrio). No
Brasil, o estudo aponta para um quadro de 12,3 milhes de pessoas (7,80%)
vivendo nessas condies. Nas reas metropolitanas, o problema assume
caractersticas preocupantes, onde a proporo da populao adensada chega a
9,30% da populao brasileira. A Regio Metropolitana de Belm tambm est
num patamar bem acima da mdia nacional no que tange questo do
adensamento domiciliar.
Conceitualmente, coabitao familiar seria o ato de dividir com outra
famlia a mesma habitao (ABIKO, 1995). Como a coabitao familiar um dado
que permite qualificar o dficit habitacional, imperativo afirmar que a Regio
Metropolitana de Belm est inclusa como uma das primeiras cidades brasileiras
com altssimo dficit de habitaes, ou seja, mais de 145 mil habitaes (IPEA,
2007).
E o principal motivo da coabitao familiar a falta de recursos
financeiros. Segundo a pesquisa, em todo o Brasil, a questo financeira mais
observada nas reas urbanas (57,30%), enquanto nas reas rurais a coabitao
familiar (39,80%) est motivada por vontade prpria.
O problema dos adensamentos familiares prioritariamente est
localizado dentre as famlias que esto na faixa de renda de at trs salrios
mnimos e que, no caso de Belm, esto localizadas em assentamentos precrios
e em reas de ocupao localizadas em terrenos de cotas abaixo de 4,00 metros,
e que, por isso mesmo, esto inseridas no quadro deficitrio de habitaes
adequadas.
Outro dado que a pesquisa revela que 1,9% da populao da Regio
Norte comprometem mais de 30% de sua renda mensal com aluguel de
habitao, conforme indica a figura 7.
26
Figura 7: pessoas emdomiclios particulares permanentes urbanos comproblemas de nus excessivo de aluguel, segundo regio
geogrfica, Brasil, 1992/2007.
Fonte: IPEA , combase nos microdados da PNAD/IBGE, 1992 e 2007
A invaso uma das formas que a populao de baixa renda dispe
para fazer o enfrentamento pela falta de opo por uma moradia digna. A invaso
caracteriza-se pela ilegalidade da posse da terra, no necessariamente pela
localizao perifrica do assentamento, pela precariedade das moradias ou ainda
pela falta de acesso aos servios pblico. considerado um problema social
grave, mas, no pode deixar de ser visto como uma soluo para esta parte da
populao, uma vez que soluciona questes como: proximidade dos locais de
trabalho, despesas com transportes, no pagamento de aluguel e de alguns
tributos (MARICATO, 1987).
Guardando as devidas propores, os cortios so piores que as
favelas e invases, uma vez que os ocupantes so obrigados a conviverem em
cmodos pequenos, insalubres, superlotados e com altos preos de aluguis a
partir da intermediao de pessoas inescrupulosas. observado que as
autoridades pouco tm investido na melhoria da habitabilidade dos cortios
(MARICATO, 1987).
Ao ser expulsa dos cortios, esta populao vai aumentar o coeficiente
humano em loteamentos irregulares nas periferias das grandes cidades, que em
alguns casos manifestam-se como vetores do direcionamento do crescimento
urbano (MARICATO, 1987).
Assim como as favelas, os loteamentos irregulares apresentam uma
caracterstica de autoconstruo, importantes formas para equacionar o problema
27
da moradia para as classes de baixa renda. As normas de parcelamento do uso
do solo so deixadas de lado, e, constroem-se bairros inteiros em reas
desprovidas de infra-estrutura, mais baratos, onde a capacidade de pagamento
da classe trabalhadora encontra consonncia para comprar terreno ou custear um
aluguel. Considerando tambm, que os assentamentos clandestinos deixam de
cumprir as exigncias de implantao de determinado nvel de infra-estrutura, de
manuteno de reas verdes e de licenciamento junto aos rgos pblicos, o que
facilita e tornam mais acessveis os preos dos lotes (LORENZETTI, 2001).
A Regio Metropolitana de Belm (RMB) destaca-se como a capital
brasileira onde o adensamento excessivo atinge patamares preocupantes.
Segundo estudos recentes, realizados pelo Instituto Amaznico de Planejamento,
Gesto Urbana e Ambiental - IAGUA, em Belm mais de 165 mil moradias
existentes so consideradas habitaes precrias. Este nmero corresponde a
50% dos 330 mil imveis cadastrados pela Prefeitura de Belm. O estudo
comeou a ser realizado em 2007 e consta do relatrio preliminar sobre o
diagnstico habitacional do municpio, apresentado Secretaria Municipal de
Planejamento e Gesto (SEGEP).
No relatrio, consta que habitao precria definida como moradia
ocupada por famlia de baixa renda, com muitos integrantes, construo de
madeira ou alvenaria inacabada, e localizada em rea de nenhuma ou pouca
infra-estrutura urbana, isto , sem esgoto sanitrio, coleta de lixo regular e
abastecimento de gua potvel, alm de estar sujeita a alagamentos.
O estudo mostra que as habitaes precrias esto espalhadas por
todo o territrio da cidade. Existem bairros quase que inteiros dominados por esse
tipo de moradia, como se pode dizer em relao aos bairros da Terra Firme,
Guam, Bengu, Jurunas, Telgrafo, Condor e Canudos. Concretamente, a
maioria dos assentamentos precrios em Belm consolidvel, sem necessidade
de remanejamento, somente 10% no se enquadram nessa condio.
O estudo mostra que 82% das habitaes precrias em Belm
surgiram espontaneamente. A origem foi provocada pelos fatores
macroeconmicos, como falta de opo de rea, padro de distribuio de renda,
28
taxa de crescimento da economia, ausncia de financiamento para classes de
renda baixa, limitao de oferta de terreno, entre outras.
Ainda, segundo o diagnstico, 8% das reas localizadas em bairros
como Terra Firme, Guam, Jurunas, Bengu e Telgrafo j esto sofrendo
intervenes na rea de infra-estrutura urbana visando melhoria da qualidade
de vida dos habitantes. Faz-se referncia a realidades como a da Vila da Barca,
no bairro do Telgrafo, onde a caracterstica das moradias at ento formada na
sua maioria por palafitas.
No Brasil, 5,4 milhes de pessoas que moram em reas urbanas
(3,40%) sofrem problemas com o pagamento excessivo de aluguis, sendo que
estes dados mostram um ligeiro aumento em relao aos valores pesquisados em
2006, que era de 3,20%, mostrando, por conseguinte que a moradia ficou
relativamente menos acessvel financeiramente para a populao no ano de
2007. Ou seja, 50% dos domiclios da rea metropolitana de Belm esto
localizados em regies subnormais e precrias. A Regio Norte e particularmente
a Regio Metropolitana de Belm, encabea a lista das cidades brasileiras com
maiores percentuais de setores, domiclios e pessoas vivendo em assentamentos
subnormais e precrios (IBGE, 2003).
De acordo com o relatrio da agncia da Organizao das Naes
Unidas para Assentamentos Humanos-UN-Habitat, quase 1 bilho de pessoas
moram em assentamentos urbanos precrios no mundo. Na Amrica Latina e no
Caribe, so 134 milhes. O Brasil contribui com 39% desse total, ou 52 milhes
de pessoas. As estimativas do Habitat apontam que, mantida a situao atual, at
2020 sero acrescidos a esse passivo brasileiro, 2,7 milhes de pessoas. O
relatrio tambm enfatiza que h forte correlao entre a precariedade das
condies de moradia e baixos indicadores de desenvolvimento humano,
mostrando que o lugar da moradia importa (IPEA,2007).
2.3 DFICIT HABITACIONAL
Conceitualmente, dficit habitacional seria a necessidade de
construo de novas habitaes, de tal forma que possa fazer frente aos
29
problemas sociais especficos da moradia. Por outro lado, as necessidades
habitacionais, metodologicamente, podem ser trabalhadas por dois segmentos
distintos: o dficit habitacional e a inadequao de moradias (FJP, 2006).
A mesma fonte entende o dficit habitacional tomando por base dois
parmetros: dficit por reposio de estoque e dficit por incremento de estoque.
O dficit por reposio de estoque est ligado aos domiclios rsticos,
acrescidos de uma parcela devida depreciao dos domiclios existentes. Ou
seja, representa o quantitativo de domiclios existentes que, por precariedade,
construtiva ou decorrente do envelhecimento, so inadequados para moradia e
devem ser substitudos.
Por outro lado sabido que, o dficit habitacional no medido apenas
pela carncia de imveis nas reas urbanas, mas sim pela considerao das
habitaes precrias, que correspondem aos domiclios improvisados e rsticos,
como tambm a coabitao familiar, entendido como o imvel cujos cmodos so
divididos para abrigar vrios membros de uma mesma famlia.
Domiclios rsticos so aqueles que no possuem paredes de alvenaria
ou madeira aparelhada, o que causa mal estar para os moradores e risco de
contaminao por doenas, da a necessidade de serem repostos. Enquanto o
Dficit por incremento de estoque, diz respeito aos domiclios improvisados e com
coabitao familiar. Por domiclios improvisados entende-se, como todos os locais
destinados a fins no-residenciais que sirvam de moradia.
Inadequao de moradias so habitaes que no proporcionam aos
seus usurios condies desejveis de habitabilidade, o que necessariamente
no obriga construo de novas moradias.
Contudo, a conceituao mais utilizada tem carter qualitativo: seriam
consideradas no dficit as famlias que vivem em habitaes inadequadas, sem
considerar-se a questo das moradias serem prprias ou no. Tais condies
habitacionais inadequadas caracterizam-se, de acordo com os critrios do IBGE
(2002) pela ausncia de um dos seguintes fatores: a) Instalao sanitria ligada
rede geral ou fossa sptica; b) Abastecimento de gua com canalizao interna
ligada rede geral; c) Lixo coletado; d) Ligao rede de energia eltrica.
30
O estudo da Fundao Joo Pinheiro que aborda a questo do dficit
habitacional, menciona uma cifra em torno de 8,8 milhes de habitaes
consideradas inadequadas, pela carncia ou insuficincia de infra-estrutura
bsica, que constituem o dficit qualitativo. Avanando na delimitao do conceito
de inadequao, a FJP considera outras variveis alm da mera ausncia de
canalizao interna de gua e de rede de esgoto, tomando por base uma suposta
diferenciao que o conceito assumiria em funo do segmento social focalizado.
Sendo assim, foram considerados totalmente inadequados ou carentes
de infra-estrutura bsica os domiclios durveis (excluem-se os domiclios rsticos
e improvisados e aqueles situados em reas rurais) que no possuem:
a) Energia eltrica;
b) Abastecimento de gua latu senso, ou seja, pelo menos gua de poo
ou nascente;
c) Esgotamento sanitrio por meio de ligao rede geral, fossa sptica
ou rudimentar;
d) Coleta de lixo direta, no caso de domiclios localizados em rea
metropolitana.
O dficit qualitativo tambm se concentra nas camadas de renda mais
baixas da populao. Cerca de 80% dos domiclios considerados inadequados
por carncia de infra-estrutura bsica e 54% dos inadequados por insuficincia
so habitados por famlias com renda mensal de at cinco salrios mnimos.
Sendo que as regies nordeste e sudeste, respondem juntas pela maioria do
dficit encontrado (aproximadamente 80% dos casos de carncia e 52% dos
casos de insuficincia) (FJP, 2006).
Os nmeros apresentados pela Fundao Joo Pinheiro (2006) para o
dficit habitacional, so oficiais, mas precisam de uma atualizao, mostram que
a carncia de moradias no Brasil basicamente um problema da populao de
baixa renda.
Enquanto as reas mais ricas das oito principais regies metropolitanas
brasileiras cresceram 5% nos ltimos dez anos, as periferias dessas mesmas
regies cresceram 30%. Verificando a situao das 49 maiores aglomeraes
31
urbanas do Pas, tem-se que a periferia correspondia, h vinte e oito anos atrs, a
um tero da populao, enquanto hoje equivale metade. (FJP, 2006).
O dficit habitacional no Brasil, entre 2000/2001, era de 7.222.645,
sendo 5.469.851 na rea urbana e 1.752.794 na rea rural segundo dados da
Fundao Joo Pinheiro (2006). No Par os dados apontaram para um dficit de
489.506 moradias, sendo 273.386 na zona urbana e 216.120 na zona rural. (FJP,
2006).
Estes conceitos ajudaro no entendimento das questes habitacionais,
que envolvem a populao de baixa renda, que ocupam reas sem infra-estrutura
urbana. Especificamente embasar o estudo de pesquisa sobre as condies das
moradias da Vila da Barca, principalmente com relao questo do dficit
habitacional e tambm dos assentamentos precrios, o que facilitar a explicao
a respeito das ocupaes em reas situadas em Belm, caracterizadas como
terrenos de cotas baixas e insalubres. Assim como facilitar, sobremaneira o
entendimento das tipologias arquitetnicas, adotadas em regies alagadas e
sujeitas proliferao de problemas de natureza sanitria.
2.4 HABITAO SAUDVEL
Habitao saudvel o espao que promove a sade de seus
moradores. Este espao considera: a casa (o refgio fsico onde reside o
indivduo), o lugar (o grupo de indivduos que vivem em baixo do mesmo teto), o
entorno (o ambiente fsico e psico-social imediatamente exterior a casa) e a
comunidade (o grupo de indivduos identificados como vizinhos pelos residentes)
(OPS/OMS, 2007).
Segundo o estudo, a habitao tem funes: fsica, tcnico-sanitria,
scio-cultural e psquica:
a) Funo fsica seria a funo da habitao em proteger as pessoas
das intempries;
b) Funo tcnica seria o atendimento s normas contra incndios,
envenenamento por gases, choques eltricos e desabamentos;
32
c) Funo sanitria da habitao tem a ver com os cuidados relativos
aos servios de infra-estrutura urbana: abastecimento de gua potvel
dentro da casa, sistema de coleta de esgotamento sanitrio, sistema
de coleta de lixo domiciliar, sistema de drenagem pluvial,
pavimentao, etc;
d) Funo scio-cultural: alm de ser a realizao de um sonho, a
habitao tem que ser um espao agradvel para a realizao das
atividades do dia a dia da famlia;
e) Funo psquica entendida como respeito individualidade,
privacidade e sociabilidade.
Os principais requisitos, fundamentais para que qualquer projeto
habitacional tenha como meta principal condio de habitao saudvel, e, os
cuidados com a proteo sade so:
a) Equilibrada relao de vizinhana o limite de cada morador acaba
onde comea o de seu vizinho;
b) Funcionalidade cada espao deve ser pensado em relao
atividade a ser executada que demanda necessidade de mobilirio,
pessoal e espao de circulao;
c) Flexibilidade cada espao deve ser pensado no como uma
camisa-de-fora, vendo a possibilidade de ampliao e de
transformao para atendimento a outras demandas futuras;
d) Infra-estrutura de servios tais como a implantao de redes de
abastecimento de gua; redes de esgotamento sanitrio; redes de
drenagem de guas pluviais; vias de acesso e sua pavimentao;
coleta regular de lixo; reflorestamento de reas degradadas;
canalizao de recursos hdricos; tratamento dos efluentes; servios
de iluminao; normatizao da ocupao dos espaos;
e) Racionalidade das solues do espao a relao entre a rea
bruta da construo e a rea til, ou seja, o qu, quantitativamente,
ir ser aproveitado do espao;
33
f) Qualidade das construes entendida como obedincia as normas
tcnicas proporcionando segurana, habitabilidade e durabilidade
dos utenslios domsticos;
g) Segurana, como fator fsico, social e sanitrio. A segurana fsica
como a qualificao da habitao, dada pelo processo construtivo
escolhido, cujos materiais tenham uma vida til de no mnimo
cinqenta anos e pelo local escolhido para sua construo. A
segurana social entendida como um atributo que deve obedecer
ao espao, de tal maneira que quem nele se situar, se sinta
protegido e respeitado, no tocante ao direito ao espao, privacidade,
viabilidade do lar. Por segurana sanitria o entendimento pela
proteo existente no ambiente intra e peri-domiciliar dada por redes
de abastecimento de gua, rede coletora de esgotos sanitrios,
redes de drenagem de guas pluviais e um sistema regular de coleta
de lixo. A condio sanitria para ser efetivada dever chegar ou
sair de dentro de casa;
h) Habitabilidade so as condies que promovem o conforto fsico,
trmico, acstico e visual, livre de umidade e de intensa poluio
atmosfrica entre outras;
i) Durabilidade de uma construo entendida pela qualidade dos
materiais, elementos e componentes que possibilita maior vida til a
uma edificao;
j) Configurao final de uma habitao tem a ver pela forma espacial
de cada cmodo;
k) Funo entendida como uma atribuio do espao e complementada
pelo mobilirio e rea de circulao;
l) A composio do espao seja interna ou externa dever estar em
equilbrio e harmonia com o conjunto todo, chamado de unidade. A
unidade entendida como parte integrante e articulada com o todo
segundo a obedincia funo e composio do espao;
34
m) Cada cmodo dever seguir uma regra de justa proporo em
relao aos demais, segundo seu centro de interesse (maior
privacidade, acessibilidade);
n) Acessibilidade do espao a possibilidade de um lugar que tenha
melhores condies de penetrao, circulao e comunicao com
os demais cmodos (RBHS, 2002).
Habitao Saudvel pode tambm ser entendida como um espao
onde a funo principal ter a qualidade de ser habitvel faz com que uma
anlise incorpore a viso das mltiplas dimenses que compem a habitao:
cultural, econmica, ecolgica e de sade humana. A concepo integradora da
habitao considera usos que fazem da mesma os habitantes, incluindo os estilos
de vida e condutas de risco; , portanto, uma concepo sociolgica, devendo o
conceito habitao saudvel incluir o seu entorno, como ambiente, e agenda da
sade de seus moradores (OPAS, 2000).
O conceito de habitao saudvel se aplica desde o ato da elaborao
do seu desenho, micro-localizao e construo, estendendo-se at seu uso e
manuteno. Est relacionado com o territrio geogrfico e social onde a
habitao se assenta os materiais usados para sua construo, a segurana e
qualidade dos elementos combinados, o processo construtivo, a concepo
espacial, a qualidade dos acabamentos, o contexto global do entorno
(comunicaes, energia, vizinhana) e a educao em sade ambiental de seus
moradores sobre estilos e condies de vida saudvel (COHEN, 2003).
O padro de habitabilidade entende como a adoo de tipologias em
correspondncia aos requisitos mnimos que garantam o morar com desfrute de
sade e bem-estar e propiciem a dignidade humana. Nesse sentido, promove o
pleno exerccio do ato de morar, ampliando e melhorando, respectivamente, a
qualidade do espao e da vida. Padres que propiciem o convvio harmnico
atravs da reflexo e do aprimoramento do lugar/objeto/habitao (OPAS, 2000).
Outro conceito que julgamos importante para o entendimento da
Habitao Saudvel o da ateno primria ambiental, considerada uma
estratgia de ao ambiental preventiva e participativa, que reconhece o direito
35
das pessoas a viverem em um meio ambiente saudvel e de serem informadas
sobre os riscos ambientais em relao a sua sade e bem-estar (TEIXEIRA,
1997).
No campo da sade e da habitao, o conceito de vigilncia ambiental
em sade torna-se importante por se configurar como um conjunto de aes que
proporcionem o conhecimento e a deteco de qualquer mudana nos fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na sade
humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de preveno e
controle dos fatores de riscos e das doenas ou agravos relacionados varivel
ambiental.
A vigilncia ambiental em sade se aplica no mbito da habitao
saudvel, a partir do monitoramento ambiental e estabelecimento de valores-limite
de exposio para estressores ambientais e conduzem a uma proposta de
medidas de interveno e controle para otimizao sanitria do ambiente.
Por outro lado a Carta de Ottawa define a promoo da sade como o
processo de capacitao da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade
de vida e sade, incluindo uma maior participao no controle deste processo. A
habitao o espao principal da promoo da sade na comunidade (BUSS,
2000).
No estudo dos indicadores de qualidade de vida, moradia entendida
como: habitar um lugar saudvel, de clima ameno, limpo, dotado de gua, luz,
saneamento e energia, que seja ligado ao mundo por todos os meios de
tecnologia da comunicao e com plos locais de convvio, de educao, cultura
e esportes e espaos de lazer (IBGE, 1993).
Por outro lado, podemos tambm avaliar as condies de qualidade de
vida na habitao pela potabilidade da gua, coliformes e partculas de
substncias nocivas em suspenso, pela emisso area de poluentes, pela
quantidade de domiclios conectados s redes de abastecimento de gua e de
esgotamento sanitrio, pela dimenso per capita de reas verdes e espaos
abertos urbanos disponveis para amenizar a paisagem cinza do concreto e
asfalto urbano (TEIXEIRA,1997).
36
3 HABITAO SOCIAL E POLTICA HABITACIONAL
3.1 CONDIES HABITACIONAIS NO INICIO DA REPBLICA
Ao estudar a poltica habitacional no Brasil, torna-se necessrio realizar
uma anlise histrica ao entendimento das principais questes que contriburam
para formarem o arcabouo dos problemas e solues encontradas pelos
gestores da poca, que envolveram decises governamentais e alteraram o
modus vivendi da populao carente de moradias. Estes aspectos daro a
dimenso exata dos problemas que envolvem as polticas habitacionais no Brasil,
desde o surto da questo habitacional, que ocorreu no Brasil durante o perodo da
economia manufatureiro-industrial nos finais do sculo XIX; neste nterim, o
problema da habitao para trabalhadores teve outro contributo decisivo, a
decadncia da economia cafeeira no Vale do Paraba.
A questo habitacional envolve o entendimento da moradia, como
espao saudvel para o pleno desenvolvimento das funes sociais, materiais e
espirituais da famlia ou de entes familiares. Para a consecuo destes objetivos a
moradia deve acima de tudo cumprir o sentimento de cidadania dos moradores
propiciando condies de inter-relacionamentos com o meio social em que vivem
(DAMATTA, 1991).
A casa e a rua so categorias sociolgicas para os brasileiros, estas
palavras no designam simplesmente espaos geogrficos ou coisas fsicas
comensurveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ao social,
provncias ticas dotadas de possibilidades, domnios culturais institucionalizados
e, por causa disso, capazes de despertar emoes, reaes, leis, oraes,
msicas e imagens esteticamente emolduradas e inspiradas (DAMATTA, 1991).
Os lotes, aos quais se inserem as habitaes, devem estar em
condies plenas de poderem conter uma moradia adequada. E dentre estas
condies, vale ressaltar que o terreno tenha razovel capacidade de drenagem,
no possua nichos com possibilidades de proliferao de doenas e nem sirva de
espao para esconderijo de animais e demais vetores que causem malefcios
37
sade e bem estar dos usurios. O local da moradia deve estar revestido de
condies ambientais adequadas, principalmente no que se refere questo do
saneamento.
Outra questo que remete reflexo das condies de habitabilidade
diz respeito necessidade de disponibilidade de equipamentos comunitrios para
atenderem a populao local, evitando que os usurios fiquem privados dos
atendimentos necessrios ao seu bem estar. Os equipamentos referidos devem
ser localizados de tal forma que facilitem o acesso das pessoas e usurios em
geral sem empecilhos nos deslocamentos.
No Brasil, a partir da segunda metade do sculo XIX, o acelerado
crescimento de algumas cidades, com a implantao de indstrias, propiciou
grande fluxo de imigrantes para estes locais, propiciando a deteriorao das
condies de vida urbana em algumas capitais brasileiras.
O inchamento das cidades acelerou o problema crnico da falta de
moradias e de equipamentos urbanos adequados. O fato gerou epidemias de toda
ordem, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e So Paulo, tidas na poca
como plos do desenvolvimento manufatureiro-industrial. Caracterizados por uma
economia e poder centrado nas oligarquias agro exportador regional.
Na cidade do Rio de Janeiro, entre as dcadas de 1870 e 1890, as
condies sanitrias da cidade, tornaram-se insuportveis. A crise sanitria
refletia as pssimas condies da qualidade de vida das famlias pobres. A
populao continuava aumentando pela chegada de novas levas de estrangeiros,
migrantes vinda de todas as partes do pas e, principalmente, de escravos, que
recentemente tinham sido libertados. Tal fato era conseqncia do
desenvolvimento do capitalismo no Brasil e a crescente acumulao e
concentrao de capital e da fora de trabalho no espao urbano carioca.
3.2 CORTIO CARIOCA
Os cortios, formas de moradias precrias, eram apontados como a
origem de todos os males que acometiam a populao. Campanhas foram
38
encetadas contra este tipo de habitao popular, considerada como um paraso
de vermes, em referencia ao seu aspecto insalubre e degradao que
supostamente causava aos seus moradores. O cortio, em suma, era descrito na
poca como santurio de crimes e promiscuidade (AZEVEDO, 1998).
Vale ressaltar, que no s os escravos contriburam para o aumento do
nmero de cortios na cidade. J na dcada entre 1860 e 1870, a populao de
pessoas encortiadas tinha aumentado em uma taxa superior ao da populao da
cidade. Alguns brasileiros que voltaram da Guerra do Paraguai (1865-1870)
mudaram-se para a cidade e depara-se com a falta de moradias e com os altos
preos de aluguis de imveis, e, sem alternativas elegeram os cortios como
opo de moradia (HAHNER, 1993).
Os estrangeiros tambm predominavam neste tipo de moradia. Este
quadro populacional contribua para a degradao das condies higinicas e
habitacionais, uma vez que influenciava no aumento do nmero de cortios e
tambm no nmero de moradores por quarto ou casa. Diante deste quadro, as
condies sanitrias se tornaram extremamente crticas, as epidemias se
alastraram e contriburam para a morte de milhares de pessoas (BENCHIMOL,
1992).
Conceitualmente, em sua maioria, os cortios so ligeiras construes
de madeira, geralmente edificadas nos fundos dos prdios e tendo em algumas
situaes, um segundo pavimento colado ao primeiro e ao qual se tem acesso
atravs de escadas ngremes, sendo circundados por varandas que servem para
estender roupas ou outras atividades dos moradores, o que deixa transparecer os
hbitos e costumes dos seus moradores (BENCHIMOL, 1992).
A ganncia, o rpido crescimento demogrfico da cidade, o carter
liberal da poca, que mantinha um sistema social e econmico discriminatrio e
preconceituoso, contriburam para piorar a situao, aumentando o poder de
barganha dos donos de cortios, deteriorando a qualidade de vida da populao
pobre e aumentando a germinao de cortios na cidade. A proximidade do
trabalho e o custo do aluguel eram motivos para a permanncia da populao
pobre no centro da cidade, ocupando moradias de insalubridade proporcional ao
nmero de habitantes, cujos espaos se caracterizavam como lugares midos,
39
lodosos, quentes e, propcios ao aparecimento de enfermidades (BENCHIMOL,
1992).
Os higienistas foram os primeiros a se manifestarem e formularem
propostas sobre as condies de vida no Rio de Janeiro, propondo intervenes
para restaurar a qualidade de vida no organismo urbano, e para tanto
condenaram as habitaes coletivas, incluindo seus habitantes e tambm os
proprietrios gananciosos. E como justificativa para a interveno dos cortios, os
higienistas citavam: as guas paradas, em referncia ao uso da gua pelas
lavadeiras, o uso das latrinas em comum, crianas evacuando a cu aberto e
junto s hortas, o enterro de corpos em igrejas, animais mortos atirados rua,
lixos e valas a cu aberto, matadouros, aougues e mercados livres, que alm de
perigosos para a integridade dos alimentos, poluam o prprio ar. As
preocupaes das principais lideranas polticas no estavam nas condies de
vida dos moradores e nem na condio de habitabilidade dos cortios, mas sim
no perigo de contaminao das comunidades prximas (SANTOS, 2006).
A partir de 1890, com a deciso de eliminar os cortios, os
administradores criaram legislao proibindo terminantemente a construo de
novos cortios no Rio de Janeiro. Com a ajuda e apoio irrestrito da Polcia,
Academia de Medicina e da Inspetoria de Higiene Pblica foram demolidos
diversos cortios e habitaes coletivas, inclusive o famoso Cabea de Porco,
que chegou a abrigar 2000 pessoas, e que foi destrudo em 1893, com a devida
permisso do ento prefeito Barata Ribeiro.
Finalmente, entre os anos de 1902 e 1906, Pereira Passos novo
administrador do Rio de Janeiro, comea a realizar o sonho de transformar a
capital da Repblica na Paris Tropical, ele que era defensor do Plano
Haussmann, que alterou o traado de Paris, com a implementao da grande
reforma urbana da cidade, cujo propsito era sanear e civilizar a cidade acabando
com as habitaes anti-sanitrias (CHALHOUB, 1999).
40
3.3 CORTIO PAULISTA
Em So Paulo, no fim do sculo XIX, a questo da moradia popular foi
muito complicada, uma vez que a cidade no estava preparada para receber um
contingente elevado de pessoas que chegavam atradas que foram pela
emergente atividade industrial e prosperidade do setor comercial.
Entre 1886 e 1900, So Paulo explode (ROLNIK, 1981) e expandiu-se
em todas as direes com o loteamento de chcaras e a abertura de novos
bairros. A pequena cidade de 1870 podia ser toda percorrida a p, porm ao
receber milhares de novos moradores, as condies de vida urbana ficaram
bastante prejudicadas. A construo de estalagens e cortios, quase todas elas
de execuo apressada e precria com o af de abrigar as classes operrias que
chegavam cidade (BONDUKI, 2004).
As estalagens eram sempre localizadas em terrenos muito baratos e
construdas s escondidas e, de preferncia, nas proximidades de linhas frreas.
Ocupavam geralmente reas ociosas nos miolos de quarteires. E por serem
construdas em terrenos de cota baixa, tornavam-se insalubres e causavam os
mais variados tipos de molstias que afetavam a sade dos moradores. Morar
nesses promscuos e insalubres cortios no era nada agradvel ou saudvel. As
latrinas estavam assentadas, sobre rasos e mal cheirosos poos negros,
enquanto os tanques despejavam a cu aberto suas guas servidas, provenientes
das lavagens de roupas e excrementos dos animais e de pessoas que viviam nos
cortios (LEMOS, 1989).
Com as condies de vida piorando, So Paulo experimenta a partir de
1893, uma interveno estatal. As pssimas condies de vida urbana fato
suficiente para intervir corrigindo as ms condies das habitaes comuns,
principalmente das estalagens, cortios e casas de dormida (BONDUKI, 2004).
Com a promulgao da Lei de Terras, em 1850, foi possvel a vinda da
fora de trabalho estrangeira, para trabalhar nas lavouras o que propiciou o
trmino quase total da mo de obra escrava; desta forma foram incorporados
milhares de trabalhadores no mercado. Neste perodo, o porto de Santos j era o
41
principal terminal para a exportao do caf, e, naturalmente, milhares de
pessoas se deslocaram para Santos, atrados que foram pelas obras e servios
de infra-estrutura que aconteciam na cidade. Estes contingentes formados
essencialmente por imigrantes do sul da Europa ocidental, migrantes do nordeste
e ex-escravos ocuparam paulatinamente a cidade. E a habitao tpica dos
trabalhadores santistas eram os cortios, que proliferavam em todo o territrio da
cidade, onde hoje, est localizada a rea central da cidade de Santos (LANNA,
1996).
Os cortios em Santos se caracterizavam por barracos construdos nos
quintais dos casares ou subdivises em seus pores, que passaram a serem
alternativas como habitaes para a populao de baixa renda, assim, como
constituiu um novo modelo de segmento de economia, fundamentado no mercado
imobilirio rentista (LANNA, 1996).
3.4 PRODUO RENTISTA
Em 1892, foi instituda a Comisso Sanitria de Santos, com plenos
poderes para exterminar os cortios, o que foi marcado por um processo
extremamente violento e que marcou a histria do municpio. Para que as
habitaes insalubres no proliferassem, e, como primeira ao de poltica
habitacional, os gestores da cidade e o governo passam a estimular, atravs de
leis e concesses, que as indstrias construam vilas operrias sob condies
mnimas de higiene, ainda segundo a viso rentista. Neste perodo a produo
rentista propiciou o surgimento de vrias modalidades de moradia para aluguel
(BONDUKI, 2004).
Com a queda do preo do caf no mercado internacional, os
fazendeiros e cafeicultores voltaram-se para o investimento em construes de
imveis urbanos, por ser uma atividade economicamente mais segura segundo os
preceitos da poca, o que alimentou consideravelmente as aes da lgica
rentista (ROLNIK, 1997).
42
Desde 1886, quando o surto de desenvolvimento da cidade de Santos
se acelerou, a produo de moradias de aluguel tambm se desenvolveu, para
atender demanda pela falta de moradias para setores de baixa renda e cuja
base era o aluguel. Naquela poca no se concebia a idia de que operrios e
trabalhadores pudessem ser proprietrios de habitaes. Este fato garantia um
timo negcio para os agentes econmicos que dispunham de recursos
financeiros para investirem em construes para moradias de aluguel (BONDUKI,
2004).
O negcio de moradias de aluguel prosperava e, as construes
estavam diretamente condicionadas aos salrios recebidos pelos trabalhadores.
Neste ponto, existiam diversos padres de moradias para aluguel: para o
trabalhador mal remunerado, est o cortio o nome genrico dado habitao
coletiva que inclua uma srie de cmodos ao longo de um corredor ou em volta
de um ptio, nos fundos de um armazm ou nos pores das casas de cmodos;
para os trabalhadores mais qualificados, oferecia-se para aluguel conjuntos de
pequenas casas unifamiliares e geminadas. Todas as solues eram
horizontalizadas, pois a rentabilidade do empreendimento exigia economia de
material, o mximo de aproveitamento do terreno, uso de paredes comuns,
preocupao em evitar o aparecimento de reas livres e adoo de solues
tcnicas simples (BONDUKI, 2004).
43
4 INTERVENES GOVERNAMENTAIS NA QUESTO HABITACIONAL
4.1 VILAS OPERRIAS
Com a reduo dos cortios, os governos incentivam as indstrias no
Brasil pr-industrial a construrem habitaes para os seus operrios. Na verdade,
as vilas operrias conviveram durante anos com os cortios e traziam a resposta
do capitalismo questo da habitao popular.
A inteno alternativa procurada pelos gestores dos municpios era a
construo de Vilas Operrias, para instalar os trabalhadores; todavia, a idia
esbarrava nos altos custos do empreendimento (LANNA, 1996).
A histria das vilas operrias no Brasil desenvolveu-se a partir da
chegada das estradas de ferro e com a instalao das primeiras indstrias no
pas. As vilas comearam a ser construdas no final do sculo XIX e comeo do
sculo XX. Eram implantadas e controladas pelos industriais, que eram seus
proprietrios e mantinham sob custdia os seus empregados. Este tipo de
habitao difundiu-se no Brasil e se caracterizou por criao de vilas operrias em
cidades e vilas operrias em localidades rurais.
A construo de habitao operria por indstrias esteve sempre
relacionada com a necessidade de construo de fbricas em localidades
urbanas e rurais, junto s fontes de energia e de matria prima e tambm sempre
esteve inserida na estratgia de disciplinar a mo de obra, fundamentada na
sedenterizao, na moralizao dos costumes e na difuso de novas noes de
higiene (CORREIA, 1997).
A vila operria, como modelo de Habitao de Interesse Social HIS
uma iniciativa das indstrias, no sentido de garantir a fixao de seus operrios
nas proximidades do trabalho e tambm como forma de control-los. A vila
operria considerada um modelo desejvel de moradia popular.
Existem duas modalidades de vilas: a primeira, denominada de Vila
Operria de Empresa, que um assentamento habitacional voltado
exclusivamente para os funcionrios das empresas; e a segunda, chamada de
Vila Operria Particular, promovida por investidores privados e voltada para o
44
mercado de locao, para gerar renda aos seus associados por meio de cobrana
de aluguis dentro da lgica atuarial (BONDUKI, 2004).
Baseadas nos princpios socialistas, muitas vilas operrias foram
construdas em diversas partes do mundo, todavia no surtiram o efeito desejado,
ora porque foram construdas em nmero insuficiente ou porque, apesar do
esmero no uso do material e no primor do traado arquitetnico e urbanstico,
foram usadas como meio de exercer um controle sobre os trabalhadores,
colocando os operrios sob rgida disciplina de conformidade com os padres de
puritanismo dos patres. No Brasil, no foi diferente; a situao era semelhante
ao que acontecia na Europa, pelo controle que exerciam sobre a vida comunitria
e privada dos usurios, as vilas se pareciam mais com penitencirias do que com
conjuntos habitacionais modernos (VILLAA, 1979).
A vila operria funciona como um verdadeiro laboratrio de uma
sociedade disciplinar, combinando um saber higienista com um poder que, ao
mesmo tempo probe, pune, reprime e educa. A vida do operrio obedecia ao
ritmo imposto pela sirene da fbrica (ROLNIK, 1981).
A escassez de mo de obra era a justificativa para a criao das vilas
operrias, como forma de atrair e fixar trabalhadores. As vilas operrias foram
produzidas para serem cedidas ou alugadas para os operrios, mas, na prtica,
mostraram o contrrio, quando a imposio patronal determinou que somente os
operrios qualificados tivessem direito de morar nas vilas, os demais estavam
fadados a morarem nos cortios. Da a explicao para o sucesso do mercado
formal de casas de aluguel que, ao final, atendiam a uma demanda considervel e
caracterizavam o esprito capitalista da poca (BONDUKI, 2004).
Neste perodo, a habitao dos operrios e artesos era de inicio, a
casa coletiva, junto fbrica, para abrigar operrios, escravos e imigrantes em
regime de verdadeira servido temporria. Todavia outras opes de moradias
eram oferecidas aos trabalhadores: Hotel-cortio, para solteiros; cortio
improvisado, geralmente localizado nos fundos de um estabelecimento comercial;
casas de cmodos, inseridas nos antigos sobrados, abandonados pela burguesia;
cortio-ptio, geralmente casas enfileiradas em ptios, comuns aos usurios;
casinha, pequena habitao geminada, voltada para a rua (LOBO, 1989).
45
No final da dcada de 20, tinha fracassado a poltica estatal direta e
indireta de vilas e casas operrias. Os incentivos e a legislao oferecida pelo
Governo s indstrias para a produo de moradias operrias no encontraram a
esperada aceitao, e, ento, a produo de vilas operrias se tornou
inexpressiva, aliado ao fato de que as vilas construdas e administradas pelas
fbricas que implicavam a submisso do trabalhador a um regime disciplinar
rgido, diante do fato muitos operrios preferiram a migrao para os subrbios,
engrossando a leva de favelados (LOBO, 1989).
4.2 GOVERNO DE VARGAS
4.2.1 Primeiro Perodo (1930-1945)
No entendimento de que a industrializao vem acompanhada da
urbanizao, o governo de Getulio Vargas promove o rpido crescimento das
cidades brasileiras, fomentando a grande industrializao do pas, baseada no
modelo de substituio de importaes.
Atravs da industrializao, o pas comea a passar por profundas
transformaes. A urbanizao acelerada proporciona o crescimento ainda maior
das grandes cidades e, no aspecto ambiental, comea a ser observada a
degradao do meio ambiente urbano, proveniente da expanso das cidades, em
virtude do crescimento demogrfico e da carncia de infra-estrutura urbana.
Na Repblica Velha, o mercado rentista sempre obteve privilgios dos
gestores governamentais, dificultando qualquer ao que pudesse prejudicar o
mercado de locao de imveis. Apesar dos discursos higienistas, os governantes
no se imiscuam nas questes que envolviam o capital privado; no mximo,
limitava-se a editar medidas de carter legislativo que, ao final, redundavam em
represso, por parte dos agentes sanitrios quando atuavam em situaes de
natureza calamitosa (BONDUKI, 2004).
No incio do sculo XX, e, sob a gide da passagem do modelo agrrio-
exportador para o modelo urbano-industrial de desenvolvimento, o espao urbano
46
comea a adquirir uma maior importncia na formao scio-econmica
brasileira. E, como resultado imediato, o aburguesamento da paisagem das
capitais brasileiras um pretexto, para a remodelao do espao central das
cidades. Para tanto, a inspirao nos modelos urbansticos europeus vigentes,
era uma forma para atrair o investidor estrangeiro (COSTA, 1982).
No Rio de Janeiro, a demolio de casares, transformados em
cortios e hospedarias de pssima qualidade, provocou uma verdadeira crise
habitacional na ento Capital Federal e, como conseqncia, elevou
consideravelmente o valor dos aluguis, empurrando as classes menos
favorecidas, para os morros e subrbios cariocas (SEVCENCO, 1983).
No governo Vargas, modificou-se profundamente a estrutura das
cidades brasileiras, com um modelo econmico baseado na industrializao. A
questo da moradia popular passa a ser tratada de forma diferente. No
entendimento de que a iniciativa privada era incapaz de enfrentar o problema da
habitao de interesse social, o governo assume a responsabilidade de gerir
alternativas para dotar o trabalhador de uma moradia que atenda aos seus
anseios. Neste ponto, torna-se inevitvel a interveno do Estado na questo da
moradia popular. Por entender que a produo e a locao de moradias possuam
caractersticas especiais que a diferenciavam de outros bens, tornava-se
imperativo a interveno estatal (BONDUKI, 2004).
Sob a gide do populismo de Vargas, o problema da habitao popular
comea a ser tratado sob nova viso e passa a apresentar resultados
promissores, fruto de uma poltica de interveno estatal no setor habitao.
Escudado na criao dos institutos de previdncia e caixas econmicas, o
governo deslancha um programa que busca fazer frente questo habitacional do
pas (BONDUKI, 2004).
O clima poltico, econmico e cultural que permeou o governo de
Vargas, ressaltou o tema da habitao social com uma fora jamais observada
em tempos anteriores. A questo sanitria, embora importante, agora ocupava um
lugar de segundo plano nos debates nacionais de habitao de interesse social.
Com o projeto nacional-desenvolvimentista em voga, a habitao era vista como
condio bsica de reproduo da fora de trabalho, condio necessria na
47
estratgia econmica de industrializao do pas. A habitao social passa a ser a
principal base de sustentao poltica do governo, que privilegia o operrio-
padro, como elemento principal da formao ideolgica, poltica e moral, fatores
importantes que serviam de sustentculo poltico para o regime, numa clara
influncia da Escola Sociolgica de Chicago, que preconizava a relao
comportamento e meio residencial, argumentando que todas as patologias sociais
eram oriundas do convvio na habitao coletiva (BONDUKI, 2004).
4.2.2 Institutos de Aposentadorias e Penses (IAPs)
Neste clima poltico, e, com o discurso de Estado Empreendedor, o
governo pautou suas iniciativas, na viabilizao de acesso casa prpria, e,
como ponto de partida efetuou aes no sentido de abolir as formas de morar de
maneira coletiva e insalubre. Para tanto, o governo realizou intervenes no
mercado de habitao, e a partir de 1937, graas criao das Carteiras Prediais
dos Institutos de Aposentadorias e Penses (IAPs), o Estado agiu com eficcia,0
na implementao da poltica da casa prpria. Desta forma, os Institutos e Caixas
podiam aplicar legalmente parte de sua receita na produo de casas para os
seus associados (BONDUKI, 2004).
Com uma combinao entre populismo e reformismo conservador, o
governo de Vargas, estabelece pacto poltico entre as oligarquias e atores
urbanos, estes baseados no corporativismo existente nos sindicatos de
trabalhadores, como forma de sustentao poltica para as intervenes
governamentais que se faziam necessrias, principalmente na oferta de moradias,
o que fomentou a criao de uma poltica habitacional voltada para a habitao de
interesse social.
A promulgao da Lei do Inquilinato, em 1942, decreta o congelamento
dos aluguis, como forma de minimizar a forte especulao imobiliria que
acontecia na poca e a partir de uma preocupao de proteger os inquilinos
contra os altos custos de aluguis. A medida era um duro golpe contra os
proprietrios de casas de aluguel, mas o governo justificava que a medida era
48
para facilitar a situao de emergncia que o pas vivia, devido Segunda Guerra
Mundial, alm do que, esta fora uma medida adotada por diversos pases
europeus e latino-americanos, desde a Primeira Guerra. De certa forma, era uma
maneira que o governo conseguiu, para evitar as reaes contrrias. O
congelamento de alugueis provocou uma crise no setor habitacional do pas,
desestimulando a construo de novos imveis para locao e provocando uma
quantidade enorme de despejos (BONDUKI, 2004).
Em momento de crise do governo Vargas, no ano de 1945, os IAPs so
unificados. E neste momento, rompe-se a barreira entre o pblico e o privado, e,
cria-se a idia de que no se habita apenas a casa, mas sim um conjunto provido
de equipamentos e servios, neste item, os arquitetos concordam que arquitetura
e urbanismo so peas indissociveis. Ento as propostas modernistas comeam
a ser inseridas em boa parte dos conjuntos habitacionais patrocinadas pelos IAPs.
Chegam at ns, os modelos de formas laminares de clara influncia alem, das
escolas de Walter Gropius e Mies Van der Rohe, todos ostentando os claros
princpios da arquitetura moderna difundida em Berlim e Stuttgard.
Para a consecuo de seus objetivos, a respeito da poltica
habitacional, o governo de Vargas, incentivou e patrocinou diversos debates e
estudos sobre a moradia popular, como o realizado no incio de 1931, o I
Congresso de Habitao, que debateu sobre a habitao para o mnimo nvel de
vida, assunto de discusso em Congresso realizado em 1929, na cidade de
Frankfurt, o qual abordou a questo, sobre a necessidade de reduzir os custos da
moradia em prol do acesso habitao, para um maior nmero de trabalhadores.
Segundo o que foi discutido, era importante considerar como secundria a forma
externa e a fachada, sendo valorizada a construo dos aposentos, conforme o
ponto de vista do moderno conceito de viver (BONDUKI, 2004).
Os debates sobre habitao social, no governo Vargas envolveram
arquitetos e engenheiros, e, discutiram temas como: racionalizao e
simplificao dos sistemas construtivos, reduo do padro dos acabamentos e
dos ps direitos, mudana do cdigo de obras, estandardizao das unidades,
normatizao dos materiais, combate especulao imobiliria e viabilizao do
acesso periferia.
49
Contudo o modelo de expanso perifrica, como forma de acesso
casa prpria, sofreu duras crticas dos que percebiam o seu significado como uma
forma de deseconomia urbana. As preocupaes com custo de urbanizao,
transportes e infra-estrutura, acabariam prejudicando os cofres do governo e
dificultando o barateamento da moradia. Dizia-se na poca, que uma cidade de
crescimento ilimitado um mal. Portanto, quanto maior a cidade, mais cara a
sua administrao per capita (BONDUKI, 2004).
A construo de habitaes de interesse social na periferia teve a
promissora influncia do modelo da cidade-jardim de Howard, todavia a
concepo de bairros-jardins, para habitaes populares, esbarrava na
necessidade de outro tipo de urbanizao, acesso propriedade e modo de vida
e ensejava a disponibilidade de custos mais altos, tornando-se apenas possvel
para as classes de renda mdia e alta. Em meio s crticas da cidade
congestionada e de crescimento ilimitado, a proposta de cidades-jardim, acabou
influenciando alguns conjuntos habitacionais dos IAPs em Porto Alegre e So
Paulo, alm de vrios projetos habitacionais executados como cidades-jardins dos
comercirios (BONDUKI, 2004).
No perodo de 1933 a 1938, foram criados seis IAPs: IAPM (martimos),
IAPB (bancrios), IAPC (comercirios), IAPI (industririos), IAPETEC (condutores
de veculos e empregados de empresa de petrleo) e IAPE (estivadores). Todavia
estas instituies foram regulamentadas por dispositivos legais especficos, o que
posteriormente originaria diferenas na qualidade, volume dos benefcios e
servios prestados por cada instituio. Outro fato interessante, que precisa ser
realado, e, que influenciaram decisivamente no desempenho social dos IAPs, foi
que dos trs segmentos da sociedade responsveis pela contribuio para a
previdncia, apenas os trabalhadores cumpriram o contrato, e por conta disso,
fomentaram o desenvolvimento econmico do pas, atravs de importantes
projetos do governo e projetos de natureza privada, enquanto o Estado e parte
dos empregadores estavam sempre inadimplentes com a previdncia, credita-se
o fato, ao desconto compulsrio que atingia os trabalhadores na folha de
pagamento (BONDUKI, 2004).
50
Com a adoo do regime de capitalizao, pelos quais os recursos
arrecadados deviam ser aplicados em investimentos que garantissem o aumento
do fundo, as finalidades precpuas do sistema, que era o desenvolvimento das
condies de moradia dos trabalhadores ficaram em segundo plano, levando
consigo outro importante objetivo, que era a assistncia mdica. Estabelece-se o
conflito entre as lgicas atuarial e social, onde a preocupao de destinar
recursos de Previdncia para segmento de renda mais elevada, objetivando uma
rentabilidade maior em relao aos ttulos da dvida pblica. Diante das
facilidades, que se estabeleceram para os empreendedores que atendiam as
classes altas, a influncia poltica determinava a escolha dos beneficiados com os
financiamentos.
4.2.3 Fundao da Casa Popular (FCP)
Em 1946, aps a deposio de Vargas, Eurico Gaspar Dutra anuncia a
criao da Fundao da Casa Popular (FCP), como instituio especfica para
tratar dos problemas relacionados ao setor habitacional. O modelo adotado pela
FCP lanaria os pressupostos do futuro Banco Nacional de Habitao. Em
sntese, a proposio da Fundao, era proporcionar a brasileiros ou
estrangeiros, com mais de dez anos de residncia no pas ou com filhos
brasileiros, a aquisio ou construo de moradia prpria em zona urbana ou rural
(BONDUKI, 2004).
Para o governo, o importante era intervir na questo da moradia, por
ser politicamente importante, pois em plena crise, o tratamento dispensado
habitao e ao emprego passaria ater grande visibilidade poltica e atenderia as
demandas populares e empresariais, principalmente aquelas ligadas s indstrias
de materiais e construo civil, alm do que atenderia, tambm, aos discursos
conservadores dos polticos e de alguns setores da Igreja catlica, que defendiam
a posse do imvel como condio estabilidade social. Seria ento, uma forma
de compensar o esprito conservador do seu governo, e, para minimizar as
medidas repressivas contra as foras progressistas, com intervenes em
sindicato, a colocao de partidos da esquerda na ilegalidade e a dissoluo de
51
comits polticos. Ento, a melhor maneira para melhorar a imagem do governo,
seria o investimento na questo habitacional, demonstrando sensibilidade com o
problema e tornando-se simptico no seu relacionamento com a Igreja Catlica
(BONDUKI, 2004).
Nas propostas de gesto da FCP, como elementos fundamentais para
uma reforma de atuao do Estado, no setor habitacional, constavam:
centralizao da gesto, exigncias de fontes permanentes de recursos e a
capacidade de articular a produo da moradia ao desenvolvimento urbano. No
obstante a relevncia do tema, na nova proposta, existia dois pontos que foram
duramente criticados por diversos setores da sociedade: o que previa a
centralizao da poltica habitacional na FCP, e, o que criava uma espcie de
emprstimo compulsrio, por trinta anos, o que garantiria recursos baratos e
contnuos para viabilizar a administrao da Fundao da Casa Popular
(VILLAA, 1979).
Os propsitos da FCP sofreram grandes oposies, principalmente da
indstria da construo civil, que no acreditava na proposta da FCP, cuja
inteno era construir 100 mil casas em todo o Brasil, pois temia que o programa
dificultasse a obteno de materiais de construo para os empreendimentos
privados, negcio lucrativo para as incorporadoras e construtoras.
Por sua vez, a opinio pblica e alguns setores do governo, no
aceitavam as formas de financiamento, que eram feitos para as incorporadoras,
com recursos provenientes dos institutos. A deciso de sustar os financiamentos
motivou protestos por parte do setor imobilirio. De certa forma, os reclamos do
setor de construo civil faziam sentidos, pois sempre que possvel lanavam
mo nos recursos pblicos, para investirem em projetos imobilirios privados, por
outro lado, outra parte da sociedade defendia o destino dos recursos, para fins de
habitao social.
Ao passar do tempo, combatida que foi, pelo estigma de ser apenas
uma instituio preocupada com a construo de casas, deixando de lado o
desenvolvimento urbano, a Fundao da Casa Popular perdeu foras e
incentivos, por no dispor de recursos no oramentrios para implementar seus
programas (BONDUKI, 2004).
52
4.2.4 Segundo perodo do governo Vargas
No segundo governo de Vargas, como forma de subsidiar as aes da
Fundao da Casa Popular, foi criado o Banco Hipotecrio de Investimento e
Financiamento da Habitao Popular, com o firme propsito de captar recursos, e
que seriam repassados a FCP, para garantir-lhe maior autonomia e melhor
capacidade de empreendimento. Apesar das tentativas de fortalecer a FCP, a
omisso do governo impediu qualquer possibilidade de mudana do quadro que
se estabeleceu naquela oportunidade.
Contrariamente ao que determinava o Decreto-lei 9.777/1946, que
regulamentou a FCP, com o objetivo de atuar como verdadeiro rgo de poltica
urbana, na prtica, e, contrariamente s suas propostas, a fundao ficou limitada
construo de casas. Envolvida com fragilidades financeiras e institucionais, a
FCP limitou-se a aes consideradas inexpressivas, como construo de
conjuntos habitacionais em terrenos doados por prefeituras, as quais se
encarregavam de providenciar infra-estrutura. Criada para resolver os problemas
de natureza habitacional no Brasil, a FCP acabou se envolvendo em prticas
ilcitas e no atendimento de interesses polticos. Com a alcunha de smbolo da
ineficincia governamental e do predomnio do fisiologismo, em detrimento da
racionalidade e do interesse pblico, a FCP sobreviveu impotente at 1964
(BONDUKI, 2004).
A capacidade de enfrentamento do problema da habitao popular, fica
claro, nos exemplos de conjuntos habitacionais construdos com recursos dos
IAPs, ressaltando-se o trabalho executado pelo Departamento de Habitao
Popular da Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a direo da engenheira Carmem
Portinho e uma das responsveis pela construo dos conjuntos residenciais de
Pedregulho e da Gvea, no Rio de Janeiro, projetados pelo arquiteto Affonso
Eduardo Reidy, com o objetivo de abrigar funcionrios municipais.
Em So Paulo, ressalte-se o projeto Cumbica, de princpios da arquitetura
moderna construdo pela Cecap, e de autoria do arquiteto Villanova Artigas.
O conjunto residencial de Pedregulho reala o avano da arquitetura
moderna no Brasil, ao tempo, em que insere o conjunto, como smbolo de uma
53
proposta de ao reeducadora no habitar. Pedregulho dispunha de servios que
lhe permitia certa autonomia, sendo a escola o centro mais importante do
conjunto.
Segundo Carmem Portinho, responsvel pela construo do conjunto
residencial do Pedregulho, na nova habitao, a tarefa mais importante era das
assistentes sociais, encarregadas de ensinar aos mais pobres, novos hbitos de
higiene, sade, e, como usar as moradias modernas (BONDUKI, 2004).
4.3 REGIME MILITAR (1964-1984)
Em maro de 1964, foi implantado no Brasil o regime militar e, em maio
do mesmo ano, foi criado o Banco Nacional de Habitao (BNH), como uma das
primeiras medidas do regime de exceo para fazer frente ao agravamento da
questo habitacional, fruto da urbanizao acelerada que acometia o pas, desde
os governos anteriores. Permeada por uma crise econmica que assolava o Brasil
e atingia as metrpoles brasileiras, e, como forma de mascarar o carter do
regime, o novo governo necessitava de legitimao. E, seguindo este princpio,
passou a ofertar habitaes em massa, como um importante componente do
processo de legitimao. Para tanto, buscou a soluo de construir milhares de
unidades habitacionais no pas, voltadas para a populao de baixa renda, e
segundo Comas (1986), utilizando-se de uma soluo arquitetnica padronizada e
desqualificada.
O BNH foi institudo para fazer frente a um dficit habitacional
expressivo, enquanto o Servio Federal de Habitao e Urbanismo (SERFHAU)
passou a ser o rgo responsvel pela concretizao da poltica habitacional do
governo, principalmente no que diz respeito elaborao e gerenciamento de
projetos voltados para o desenvolvimento urbano. Como instituio coordenadora
do sistema, o BNH caracterizou-se por ser um rgo centralizador de decises na
esfera federal, implantando um tecnocratismo exacerbado, aliado ao fato, de que
o pas vivia a era da despolitizao, onde a participao pblica tornava-se
limitada.
54
Representado por um nmero substancial de habitaes de baixo
padro, deficincia de infra-estrutura urbana, situao econmica precria, com o
pas saindo de uma grave crise poltica e social, surto inflacionrio crescente, e, a
Lei do Inquilinato que desencorajava as aplicaes imobilirias. O BNH tinha,
ento, o desafio de enfrentar a situao que estava posta e, ainda, com a
responsabilidade de ser o rgo central normativo e orientador do Sistema
Financeiro de Habitao (SFH) (SANTOS, 1999).
Antes de 1964, o sistema de concesso de emprstimos a valores
nominais fixos distorcia o mercado em trs aspectos:
a) Premiava os muturios, os quais pagavam suas amortizaes em
cruzeiros desvalorizados;
b) Afastava a poupana voluntria desse mercado, por utilizar taxas de
juros negativas;
c) Minguava a capacidade de aplicao das reduzidas instituies
financeiras existentes.
Como resposta a esses problemas, o recm implantado governo militar
instituiu o Sistema Financeiro de Habitao (SFH), como um mecanismo de
captao de poupana de longo prazo para investimentos na habitao e cuja
proposta maior era a aplicao de correo monetria sobre os saldos devedores,
as prestaes dos financiamentos habitacionais viabilizaria os investimentos
habitacionais, mesmo considerando uma economia altamente inflacionada
(SANTOS, 1999).
A grande expanso do SFH deu-se no perodo entre 1967 e 1974, que,
para normatizar a sua forma de atuao, instituiu a diviso da clientela usuria do
sistema. Os clientes localizados na faixa de at trs salrios mnimos,
considerados de padro popular, eram atendidos pelas Companhias de Habitao
Estaduais, que serviam de executoras do Plano Nacional de Habitao, sob o
controle do Banco Nacional de Habitao. Os usurios localizados na faixa de
trs a seis salrios mnimos, denominados de classe econmica, por delegao
do BNH eram atendidos por associaes de carter privado. Os clientes da classe
55
mdia, com mais de seis salrios mnimos ficavam ligados ao Sistema Brasileiro
de Poupana e Emprstimo (SBPE).
O rgo central do SFH era o Banco Nacional de Habitao,
responsvel pelo gerenciamento do FGTS. O SFH funcionava de duas maneiras
de conformidade com suas principais fontes de recursos: o Sistema Brasileiro de
Poupana e Emprstimo (SBPE) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servio
(FGTS).
No caso da SBPE, os recursos das cadernetas de poupana e dos
demais ttulos imobilirios eram captados pelas associaes de poupana e
emprstimo (agentes financeiros do SFH) e eram aplicados para financiar
investimentos habitacionais propostos por empreendedores ou construtores, que
aps receberem o financiamento responsabilizavam-se pela venda das unidades
habitacionais construdas basicamente para a classe mdia e alta, e estes se
responsabilizavam pelo pagamento do emprstimo s instituies financeiras.
J com relao ao FGTS, a arrecadao era gerida pelo BNH e
destinava-se construo de casas de interesse social (conjuntos populares e
cooperativas). Os principais responsveis por estas unidades habitacionais eram
as Companhias de Habitao (COHABs), que obtinham financiamentos do BNH
mediante apresentao de projetos compatveis com a poltica do BNH voltados
para a construo de moradias para as camadas mais pobres da populao
(AZEVEDO, 1995).
Nestes tempos, ficou bem definida a diferena entre as habitaes
produzidas e orientadas por profissionais da rea e as moradias padronizadas.
Assim ficou bastante claro que: quem podia pagar, contratava um profissional
para planejar a sua moradia, do tamanho do seu sonho. Enquanto aquele que
estava enquadrado como de baixa renda, sem alternativas para pagar um projeto
de arquitetura, se sujeitava a receber uma casa financiada, executada sem a
participao do cliente e sem contato com profissionais.
Com o BNH, cria-se toda uma expectativa acerca dos novos rumos da
histria da habitao no Brasil. Para tanto, estabelecem-se perspectivas, com a
criao de novas fontes de recursos permanente, vinculada aos salrios para a
56
produo de moradias (FGTS) e a entronizao da correo monetria nos
financiamentos habitacionais.
Apesar do BNH ter estruturado pela primeira vez no pas, uma
verdadeira poltica habitacional, Bonduki (2004) diz que em muitos aspectos ele
significou um retrocesso em relao ao que foi realizado pelos IAPs, como na
qualidade dos projetos dos conjuntos residenciais.
A expresso conjunto habitacional tipo BNH, evoca, hoje, bem mais
que o seu significado estrito de conjuntos de habitaes. Empreendimentos
imobilirios de porte considervel (conjunto de quinhentas unidades habitacionais
para 2000 a 2500 pessoas so mais regras do que exceo). Localizao em
periferia ou antigo vazio urbano de dimenses avantajadas. Duas concepes de
projetos: usados isoladamente como casas uni familiares, e, outra, como conjunto
de blocos repetitivos de apartamentos, normalmente sem elevador, no
ultrapassando quatro pavimentos (BONDUKI, 2004).
O fato de que, durante dcadas, os programas de remoo de
favelados patrocinados pelo poder pblico em seus diversos nveis no tenham
produzido resultados satisfatrios no deve ser considerados como um sinal da
preferncia da populao pela favela. Ao serem levados para os conjuntos
habitacionais de periferia, totalmente precrios em termos de servios pblicos,
para ocupar moradias muitas vezes menores e de qualidade inferior, os
moradores perdem as vantagens comparativas da favela, mormente no que diz
respeito a pagamentos de taxas de iluminao pblica e abastecimento de gua
potvel que na antiga moradia no existiam, por serem utilizadas de forma
clandestina, alm de se verem na contingncia de arcar com custos inadmissveis
para o seu padro econmico.
Em decorrncia de tais fatos, os moradores acabaram abandonando os
conjuntos habitacionais ou transferindo seus financiamentos para pessoas com
melhores condies financeiras, numa distoro que realimenta o processo de
favelizao. Nos primeiros dez anos, a atividade do BNH dirige-se s camadas
mais carentes da populao, com prioridade para os programas de remoo de
favelados para apartamentos ou casas-embrio de conjuntos habitacionais. Com
o declarado intuito de minimizar os custos dos empreendimentos, os projetos so
57
deslocados para reas perifricas, onde os terrenos so mais baratos, alm da
reduo progressiva da rea construda e a qualidade das edificaes.
Normalmente os locais escolhidos so distantes e sem infra-estrutura
ou equipamento urbano, gerando srios problemas para o usurio e tambm para
o poder pblico municipal, que se obriga, a estender a oferta de servios bsicos
at estes locais. A distncia dos locais de trabalho e a precariedade dos servios
disponveis provocam incapacidade da populao em ocupar os conjuntos
habitacionais construdos.
Apesar da poltica do BNH na constante criao de novos programas,
no se consegue dar conta ao desafio de prover acesso moradia para as
populaes de mais baixa renda. A princpio o fracasso deriva do fato de ter-se
mantido intacta a viso da casa como uma mercadoria a ser vendida para uma
clientela que se mostra extremamente frgil enquanto mercado. Sem contar que
as aes dos diversos programas foram duramente atingidas pela crise financeira
dos anos 80 que afetou seriamente o Sistema Financeiro de Habitao.
O autoempreendimento das moradias populares, desenvolvido nas
periferias, possibilitou a transferncia para o trabalhador do encargo de produzir
as suas prprias habitaes, uma vez que a poltica habitacional do BNH no
atendia grande parcela da populao situada nos padres de baixa renda. A
grande quantidade de terra disponvel para assentamentos populares na periferia
das cidades, enfatizou a criao de Programas Habitacionais, voltados para
famlias de renda mais baixa. Com a instituio do PLANHAP em 1973, cujos
programas se voltavam para camadas de renda familiar diferenciadas,
compreendida na faixa de at cinco salrios mnimos. Estes programas,
gerenciados pelo PLANHAP so as Companhias Habitacionais (COHABs) que
financiavam a produo e a comercializao de casas; o Programa de
Erradicao de Subhabitao (PROMORAR), que tinha o objetivo de atender as
famlias moradoras em espaos de favelas; o Programa de Financiamento de
Lotes Urbanizados (PROFILURB) e o Programa de Financiamento da
Construo, Concluso, Ampliao ou Melhoria de Habitaes de Interesse Social
(FICAM) (BONDUKI, 2004).
58
A recesso econmica, que marcou os ltimos dez anos do regime
militar, ocasionou a diminuio gradativa dos financiamentos, no mesmo
momento em que a poltica de conteno salarial reduziu drasticamente a
capacidade de pagamento dos muturios, resultando desta forma a inadimplncia
ou a questionvel concesso, por parte do poder pblico, de subsdios
indiscriminados.
Com a situao posta, ficou determinado um processo de transferncia
de recursos oriundos do FGTS para fazer frente a empreendimentos voltados
para as camadas de renda mais alta, complicando o fluxo de retorno dos
financiamentos e reduziu a capacidade de reaplicao dos recursos em projetos
habitacionais voltados para as classes de renda baixa (MARICATO, 1987).
O fato se comprova quando, do total, de cerca de 4,4 milhes de
financiamentos concedidos pelo BNH, apenas 1,1 milho de unidades destinou-se
populao de renda familiar at cinco salrios mnimos, o equivalente a 25%.
Mesmo sabendo que recursos envolvidos em financiamentos contratados com
clientes de maior renda alcanaram o triplo do valor mdio dos financiamentos
oferecidos s classes de renda ditas de interesse social (SANTOS, 1999).
O ano de 1975 marca o incio da crise econmica brasileira, e, com ela
persiste a deteriorao do salrio mnimo, com o menor crescimento dos salrios,
a classe mais pobre tem dificuldades em acessar os financiamentos habitacionais.
Com o BNH caracterizado como banco de 2 linha, as classes de menor renda
tiveram dificultado as suas aes, diante desta tica financeira do governo. Os
financiamentos tornaram-se elitizados e as COHABs mudaram a sua conduta de
ao. A partir de ento, passaram a atender clientes concentrados na faixa de
trs a cinco salrios mnimos. Neste perodo, comea o crescimento dos
movimentos sociais pela moradia, impelindo o governo no sentido de propor
programas habitacionais alternativos, que atendessem a classe mais pobre do
pas (SANTOS, 1999).
Com os recursos do FGTS e das cadernetas de poupana sendo
encaminhados principalmente para o financiamento de habitaes de mdio e alto
luxo e tambm para o financiamento de obras de infra-estrutura e planos
urbansticos comea a deteriorizao paulatinamente dos recursos do Sistema
59
Financeiro de Habitao que aliado ao fato de que as prestaes da casa prpria
comeam a apresentar ndices de elevada inadimplncia, ento, o reinvestimento
em projetos habitacionais de interesse social ficou seriamente prejudicado,
mormente pela viabilizao do aparecimento da indstria da construo civil e
fomentou o nascimento de intermedirios financeiros, que se locupletavam com
parte significativa dos juros e dos recursos das prestaes, para
aproximadamente um ano depois prestar contas junto ao Banco Nacional de
Habitao (BOLAFFI, 1979).
O SFH, dentro do seu propsito, no perodo em questo, apresentou
desempenho bastante significativo ao longo do regime militar, em que financiou
cerca de 400 mil unidades habitacionais anuais, no auge do perodo entre 1976 e
1982. Todavia, o SFH foi incapaz de atender s populaes de baixa renda. Para
que se tenha idia da lacuna deixada, apenas 33,5% das unidades financiadas
pelo SFH foram destinadas habitao de interesse social.
Pela necessidade de dotar os conjuntos habitacionais de infra-
estrutura, no inicio da dcada de 70 institudo o Sistema Financeiro de
Saneamento (SFS), controlado pelo Banco Nacional de Habitao, que autoriza a
aplicao de recursos do FGTS em obras de saneamento. E para dinamizar o
setor de obras pblicas, o governo cria o Plano Nacional de Saneamento
(PLANASA), o que muda o foco da natureza financeira do BNH, que passa a ser
considerado como banco de segundo linha, atuando na transferncia de recursos
e tambm de responsabilidades para os seus agentes financeiros (LORENZETTI,
2001).
Na segunda metade da dcada de 70 diante dos episdios que
referenciavam o BNH, como um rgo voltado ao atendimento das classes mdia
e alta desprestigiando a populao de baixa renda, que necessitava de
patrocnios governamentais para a obteno da casa prpria, levou ao
fortalecimento de movimentos sociais urbanos, que por iniciativas de sucessivas
reivindicaes junto ao poder central acabaram sensibilizando os gestores do
BNH a reconsiderar as suas prioridades, a partir do momento em que foram
institudos, um conjunto de programas, chamados alternativos os quais tinham o
propsito de atender as famlias de menor renda, principalmente na atuao em
60
reas de favelas e, diante das mudanas, marcam uma nova postura no
tratamento da habitao de interesse social no Brasil, dentre estes programas,
vale salientar o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (PROFILURB),
programa voltado para a erradicao da sub-habitao, o Programa de
Financiamento Autoconstruo (PROMORAR) e o Programa de Financiamento
da Construo, Concluso, Ampliao ou Melhoria de Habitaes de Interesse
Social (FICAM). Todavia, apesar das intenes de cada programa, as aes
tiveram os seus objetivos malogrados, pois as ofertas do PLANHAP foram
irrelevantes ao longo do perodo, uma vez que as demandas por novas moradias
superavam as produes de habitaes geradas pelos programas do BNH
(BOLAFFI, 1979).
Em 1973, o governo reconhece as dificuldades por que passa o
Sistema Financeiro de Habitao em atender as necessidades de moradia da
populao de baixa renda e cria o Plano Nacional de Habitao Popular
(PLANHAP) respaldado pelo Sistema Financeiro de Habitao Popular (SIFHAP)
tendo apoio atravs das Companhias de Habitao (COHABs).
Nos primeiros anos de gesto, o BNH preocupou-se com as camadas
mais necessitadas da populao e priorizou os programas voltados para a
remoo de favelados para apartamentos ou para casas-embrio de conjuntos
habitacionais, contudo, no consegue o intento de prover moradias para uma
populao de renda baixa. Para Lorenzetti (2001), o motivo do fracasso est
ligado ao fato de que o BNH nunca tenha se desligado da viso da casa como
mercadoria a ser vendida para uma clientela desprovida de recursos e que
paralelamente tambm foi atingida pela mesma crise financeira que prejudicou o
desenvolvimento dos programas ligados ao SFH.
No mbito do Estado do Par, foi criada uma delegacia do BNH em
Belm, responsvel pelas operaes do SFH no Par e no Amap. O ingresso
aos recursos financeiros passou a ser realizado atravs das Letras Imobilirias
(LIS) emitidas no s pelo BNH, mas tambm pelas Sociedades de Crdito
Imobilirio, entre elas a Vivenda e a Socilar (IDESP, 1990).
Em 13 de abril de 1965 foi criado pela Lei n. 3.282, a Companhia de
Habitao do Estado do Par (COHAB-Pa), para se tornar agente do SFH
61
responsvel pela execuo dos programas voltados ao mercado popular e
tambm com o objetivo de coordenar e executar o plano de habitao do Estado.
Trs meses aps a sua criao, a COHAB-PA iniciou as obras do
primeiro conjunto habitacional no Estado, o Nova Marambaia I, localizado em
Belm e constitudo de 834 unidades residenciais.
At 1969, a COHAB-PA construiu e comercializou 834 unidades
habitacionais em Belm e 52 em Castanhal (conjunto Castanhal II).
A precria atuao da COHAB-PA. Neste perodo atribuda a
dificuldades decorrentes de sua estrutura financeira e administrativa. A
concentrao dos investimentos em Belm, a despeito das iniciativas de
interiorizao, explicada pelo fato da rea urbana da capital abrigar grande
parte da populao urbana estadual e pela natureza dos problemas apresentados
por essa cidade (IDESP, 1990).
No perodo de 1970 a 1972, foram construdas 546 unidades
habitacionais pela COHAB-PA, sendo 52 em Soure, 118 em Ananindeua e 376
em Belm.
No perodo de 1973 a 74 no h registro de incio de construo de
habitaes populares por parte da COHAB-PA, face aos reflexos que esta
companhia passou a sofrer pelo direcionamento dos recursos do SFH para
financiamentos de obras destinadas a populao de alta renda.
Em 1975, mediante ajustes de financiamento de habitaes populares
a COHAB-Pa comercializou as unidades habitacionais do Conjunto Icoaraci I e
iniciou as obras do conjunto Nova Marambaia II.
De 1975 a 1979, o governo estadual, preocupado com a organizao
do espao fsico do seu territrio, institui o Plano Estadual de Habitao (PEH) a
partir do dficit quantitativo de habitaes no Estado do Par.
No perodo de 1980 a 82, sob o efeito da melhoria na oferta de
financiamento para habitaes populares pelo BNH, a COHAB-PA:
a) Comercializou 2.005 unidades residenciais no Conjunto Cidade
Nova IV (Ananindeua);
62
b) Concluiu e comercializou 3.173 moradias no Conjunto Cidade Nova
V (Ananindeua); 644 unidades do FICAM I (Belm e Ananindeua);
1.230 unidades (IDESP, 1990).
4.3.1 Reflexo sobre as caractersticas dos projetos do BNH
Segundo Bonduki (2004), os apartamentos geralmente so pequenos,
com reas de servio diminutas e construo em alvenaria, geralmente de baixa
qualidade. A outra opo so casas uni familiares, dispostas isoladamente, com
repetio indiferenciada, plotadas em lotes de 8 x 20 metros a 12 x 12 metros em
construes de alvenaria de tijolos cermicos ou de concreto.
Apesar do grande nmero de habitaes produzidas, as construes
foram insuficientes para reduzir o dficit habitacional brasileiro. A qualidade das
habitaes produzidas, muitas vezes deixou a desejar, ora pela tipologia adotada,
ora pelo acabamento. As solues propostas, no enfrentaram o problema dos
vazios urbanos, preferindo adquirir grandes terrenos na periferia, contribuindo
desta maneira, para a expanso da malha urbana.
De acordo com Lorenzetti (2001), o abandono dos moradores ocorrido
em alguns conjuntos habitacionais patrocinados pelo BNH explicado pelo fato
de que, programas de urbanizao, que se propem a respeitar as ocupaes,
mantendo a populao no local em que se encontra, resultam na prtica em
expulso, uma vez que as reas, valorizadas pela regularizao e melhorias,
atraem a populao de renda mais alta.
Neste perodo so observados alguns aspectos corriqueiros e
insatisfatrios do conjunto de casas construdas pelo BNH, principalmente no que
diz respeito deseconomia pela grande extenso da infra-estrutura da cidade,
monotonia da configurao espacial. Comas (1986) critica os blocos de
apartamentos produzidos pelo BNH, classificando-o como modernismo
empobrecido, outros aspectos acompanham as produes habitacionais do
ento regime: As possibilidades limitadas ou nulas de uso efetivo de espaos
abertos percebidos como Terra de ningum residual entre edificaes.
63
A ausncia de privacidade dos apartamentos trreos que defrontam os
espaos residuais, as dificuldades de orientao, parciais ou globais, que podem
se creditar, em primeira instncia, a repetio de blocos iguais em grande escala
e ausncia de diferenciao clara e consistente de suas entradas, legveis
desde ruas e caminhos do conjunto, os espaos abertos entre edificaes no
ocupados por ruas ou estacionamentos descobertos so sempre coletivos e
nunca compartimentados, permitindo o livre acesso dos moradores e dos demais
vizinhos do conjunto. Normalmente, no recebem tratamento que os diferencie
em lugares distintos, muito embora em algumas oportunidades apaream
solues de play-ground ou de quadra esportiva em seu interior (COMAS, 1986).
Para Bonduki (2004), a criao do Banco Nacional de Habitao em
1964 estabelece um novo marco para o desenvolvimento da histria da habitao
no Brasil, contudo existe uma similitude com a experincia de gesto habitacional
dos Institutos de Aposentadoria e Penses e tambm da Fundao da Casa
Popular, esta linha comum est exatamente na fonte de recursos que vincula os
salrios na produo de moradias. Neste ponto, o Fundo de Garantia por Tempo
de Servio, secundado pela correo monetria dos financiamentos da casa
prpria, presta-se para alavancar os projetos habitacionais gerenciados pelo
governo federal.
O autoempreendimento da casa prpria nas periferias uma das aes
do governo de Vargas, que continuaram a ser desenvolvidas no perodo do BNH,
utilizando-se de subsdios produo e financiamento da moradia, difundindo
solues de baixo custo e autoempreendidas pelo trabalhador.
O BNH concretiza o que o governo de Vargas desejava para a
Fundao da Casa Popular em 1945, implantar uma poltica habitacional voltada
para as preocupaes de diminuir o dficit habitacional brasileiro, suprimindo o
avano da especulao e dos altos preos de alugueis. Todavia para Bonduki
(2004) a qualidade dos projetos dos conjuntos habitacionais do BNH, significou
retrocesso em relao s propostas habitacionais executadas pela Fundao da
Casa Popular e pelos IAPs, isto em virtude do rompimento entre a arquitetura e
moradia popular, o que refletiu negativamente na qualidade do espao urbano.
64
Existem diferenas entre o espao arquitetnico projetado pelos IAPs,
que valorizavam o aspecto urbanstico e ambiental, em detrimento aos espaos
montonos, uniformes e desvinculados do meio fsico e da cidade, desvalorizando
sobremaneira os projetos gerenciados pelo BNH. A inteno de prover a
populao de um Estado de Bem Estar Social, levou os IAPs a proverem os
conjuntos habitacionais de equipamentos de consumo coletivo, dentro do esprito
de habitao como servio pblico e sempre buscando a valorizao do espao
coletivo.
Com a extino dos IAPs, aps o golpe de 1964, os espaos coletivos
foram eliminados, os espaos de pilotis foram fechados para a instalao de
garagens individuais, os equipamentos que serviam a comunidade e os espaos
de recreao foram desmontados, alterando completamente as caractersticas
mais relevantes da arquitetura moderna brasileira que marcou o perodo dos
IAPs, fazendo com que os conjuntos ficassem semelhantes aos blocos do perodo
BNH (BONDUKI, 2004).
O modelo de poltica habitacional desenvolvida pelo BNH, baseada no
financiamento ao produtor, caracteriza-se pela gesto centralizada, ausncia da
participao comunitria e, dando prioridade produo de casas prontas por
empreiteiras, que desenvolvem projetos que no atendem aos anseios dos
muturios e que so invariavelmente localizadas na periferia das cidades, em
espaos desprovidos de infra-estrutura urbana. Bonduki (2004) entende que o
autoritarismo na concepo das polticas e nas intervenes, que a centralizao
da gesto baseada na excluso de participao dos usurios e da sociedade,
aliado ao desrespeito a preservao do meio ambiente e ao patrimnio cultural,
marcaram negativamente as aes do BNH, numa lgica caracterizada pelas
grandes obras, direcionando recursos para empreiteiras e facilitando
financiamentos habitacionais para moradias da classe mdia.
Contrariamente aos IAPs, o BNH quando vislumbrou a oportunidade de
baixar os custos da moradia fez opo por diminuir a qualidade dos materiais de
construo e o tamanho das moradias, financiando habitaes menores, mais
distantes e com infra-estrutura precria, todavia a classe de baixa renda
continuava sem acesso as moradias patrocinadas pelo governo. Ento, o caminho
65
buscado por estas camadas da populao era o autoempreendedorismo das
habitaes, geralmente localizadas em invases ou em loteamentos precrios
(BONDUKI, 2004).
4.4 REDEMOCRATIZAO GOVERNO SARNEY
Aps o regime militar, o governo de Jos Sarney (1985/1990)
continuou a utilizar o SFH como modelo bsico de sua poltica habitacional.
Todavia, a redemocratizao esbarrou em um contexto de crise econmica
marcada por alguns breves momentos de crescimento, aliado crise fiscal do
Estado brasileiro, com a reduo da autonomia das polticas macroeconmicas
nacionais, em virtude da globalizao. Contudo, a Constituio de 1988, marca
novo ordenamento poltico-institucional para o Brasil (SANTOS, 1999).
Neste perodo, foi observada a inadequao da grande mquina
tecnocrtica centralizadora implantada nos governos militares, frente nova
realidade do pas. O ocaso do modelo central-desenvolvimentista, iniciado com o
primeiro governo de Vargas, numa perspectiva corporativista, prosseguiu nos
governos militares numa perspectiva universalista (BONDUKI, 2004).
A nfase na descentralizao administrativa e democratizao das
decises contriburam para a municipalizao de diversas polticas. Mas, a alta
inadimplncia dos muturios pblicos e privados do SFH ensejou uma
reestruturao do sistema, determinando o fim do BNH, em 1986. Passando a
Caixa Econmica Federal, a assumir as funes do antigo rgo. Em suma, os
problemas que j tinham se manifestado no final do governo militar, se agravaram
a ponto de inviabilizar qualquer tentativa de retomada da poltica habitacional
conforme modelos anteriores, principalmente, agora com a elitizao dos
financiamentos do Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimo (SBPE).
A inteno de uma poltica habitacional baseada num sistema capaz de
se autofinanciar (liberando os recursos pblicos para outros fins) foi altamente
equivocado e incapaz de se sustentar. Alie-se a estes fatos a desorganizao das
polticas pblicas bem como da poltica habitacional em particular, em face da
situao macroeconmica catica vivenciada no pas, o que contribuiu
66
decisivamente para a falncia do SFH e tambm da derrocada das aes
governamentais no setor habitacional.
A concesso de um elevado subsdio para os usurios do sistema em
1985, em resposta ao dos movimentos de muturios e do aumento da
inadimplncia do sistema, foi uma das medidas do governo Sarney que
prejudicaram sensivelmente o desempenho da rea habitacional.
O subsdio concedido contribuiu para diminuir as elevadas taxas de
inadimplncia, e, conseqentemente, aumentar a liquidez de curto prazo do
sistema. Contudo, aumentou consideravelmente o descasamento entre a
evoluo do passivo (junto aos poupadores do SBPE e ao FGTS) e o ativo (as
prestaes dos muturios) do SFH, contribuindo desta maneira para a formao
de um rombo no FCVS, o fundo responsvel pela equalizao entre as operaes
ativas e passivas do sistema (SANTOS, 1999).
Alm dos subsdios priorizarem basicamente famlias de renda mdia e
alta, o lanamento do Plano Cruzado (1986) impactou o equilbrio do sistema e,
de acordo com as novas medidas, as prestaes dos muturios deveriam ser
reajustadas pela mdia dos reajustes dos doze meses imediatamente anteriores e
deveriam permanecer congeladas pelos doze meses seguintes. Neste nterim, a
correo monetria continuou a reajustar o passivo do sistema (as contas de
poupana e o FGTS), o Plano Cruzado contribuiu decisivamente para o
significativo rombo do sistema.
Dentre esses programas, cite-se com destaque o Programa Nacional
de Mutires Comunitrios, assim como os seus antecessores PROFILURB, PR-
MORAR e JOO DE BARRO, todos voltados para o atendimento de famlias de
renda inferior a trs salrios mnimos. Com grande aporte de recursos
oramentrios, a proposta do programa era financiar cerca de 550 mil unidades
habitacionais.
O dinamismo dos programas alternativos da poca, voltados para o
atendimento das classes mais baixas antagnico ao desmanche ocorrido na
rea social do SFH. As COHABs, responsveis pelo atendimento das demandas
sociais do sistema, tiveram seus financiamentos restringidos pelo governo central,
67
com o pretexto de diminuir o endividamento de estados e municpios com a Unio
(LORENZETTI, 2001).
No obstante, as aes governamentais empreendidas pelo governo
federal esbarraram numa falta de articulao adequada entre o rgo gestor e
uma poltica habitacional consistente e coerente com os objetivos exarados nos
planos do governo que, priori buscava atender uma faixa da populao
localizada na classe baixa renda (IPEA, 1989).
4.5 GOVERNO COLLOR DE MELLO
Durante o governo de Fernando Collor de Mello (1990/1992), a crise
habitacional se tornou mais grave, e, foi caracterizada por mudanas apenas
superficiais no Sistema Financeiro de Habitao, como a facilitao da quitao
dos imveis e a mudana no mecanismo de correo das prestaes. Neste
perodo, as propostas para a consolidao de um novo paradigma de atuao
para as faixas de baixa renda, com operaes concentradas em programas de
autoconstruo, mutiro, utilizao de materiais no convencionais e intervenes
em reas subnormais deixavam entrever uma expectativa de melhoria na
produo de habitaes populares. Alie-se a estes fatos, a aceitao dos
princpios da Agenda Habitat, que contribuiu para a concordncia das promessas
de um avano significativo no setor de habitao de interesse social.
A poltica proposta no perodo desvinculou os programas habitacionais
dos de saneamento e desenvolvimento urbano e tambm se caracterizou pela
falta de controle de qualidade das habitaes construdas e a m administrao
das fontes de recursos que subsidiavam os programas do Plano de Ao Imediata
para Habitao (PAIH), principalmente o FGTS. Boa parte das habitaes
construdas no perodo visou claramente atender a motivos eleitoreiros e polticos
e muitas delas apresentaram problemas de comercializao (SANTOS, 1999).
Vale ressaltar a reforma administrativa determinada pelo Governo Collor de Mello
(1990-1992), que proporcionou uma verdadeira descoordenao institucional no
setor habitacional, cujas atribuies da poltica de habitao ficaram pulverizadas
entre um grande nmero de rgos, com atuaes s vezes conflitantes. As
68
diversas tentativas de estabelecer programas voltados para a habitao se
mostraram inadequados e incapazes de atender a camada populacional mais
atingida pelo dficit (SANTOS, 1999).
4.5.1 Poltica Habitacional do Governo Luiza Erundina (SP)
Neste perodo, frente da Prefeitura Municipal de So Paulo
(1989/1992), a prefeita Luiza Erundina desenvolveu uma poltica habitacional com
caracterstica popular e dando nfase na incorporao da participao popular
como modelo de gesto da poltica participativa.
O pioneirismo de Luiza Erundina em montar programas habitacionais,
baseados no sistema de mutiro autogerido, conhecido como Fundo de
Atendimento Populao Moradora em Habitao Subnormal (FUNAPS),
fundamentado no financiamento a associaes comunitrias, o que tornava
possvel a construo de moradias sob a forma de mutiro, administrado pelos
prprios moradores previamente selecionados.
Os Mutires Autogestionrios que foram iniciados na gesto da
prefeita Luiza Erundina (1989/1992), construiu at 1995 aproximadamente 12.000
unidades habitacionais. O programa se caracterizou pela construo de conjuntos
habitacionais atravs do sistema de parceria entre a Prefeitura e os futuros
moradores, onde se utilizou mo de obra total ou parcial dos mesmos em
processo amplo de autogesto do empreendimento. O programa previa a
participao integral dos beneficirios em todas as etapas do processo, desde a
forma de acesso a terra (a aquisio dos terrenos era feita atravs de
desapropriaes promovidas pela HABI, incorporao de reas da COHAB ou do
Estado (CDHU), ou ainda atravs de doao e compra pelo prprio movimento de
moradia) (COELHO, 2002).
Especificamente no caso de So Paulo, Luiza Erundina tratou o
problema da habitao popular, utilizando-se de normas de atuao para dar
conta dos inmeros problemas relacionados com a moradia:
a) Desburocratizao e simplificao das normas de construir;
69
b) Organizao da populao, com a escolha de movimentos populares
como interlocutores privilegiados;
c) Intensa participao do usurio no projeto e na construo;
d) Construo de moradias por mutires autogestionrios. (prefeitura e
moradores);
e) Reduzido nmero de unidades produzidas, dando maior nfase na
qualidade;
f) Urbanizao de favelas, com prioridade para as de risco ambiental.
g) Interveno e recuperao dos cortios;
h) Continuao da parceria com o setor privado (operaes
interligadas).
Apesar das aes empreendidas no governo de Erundina, houve
numerosas crticas s polticas desenvolvidas pela prefeitura de S. Paulo: a
morosidade do processo de mutiro; a transformao de movimentos populares
em mquinas polticas, gerando um novo clientelismo; a continuidade de
formao de novas favelas e adensamento das existentes; o aumento da
especulao nas favelas urbanizadas (LORENZETTI, 2001).
As moradias executadas nos processos de mutiro, gerenciados pela
Superintendncia de Habitao Popular (HABI), tinham como caracterstica na
maioria dos projetos, a criao de espaos habitacionais onde se permitisse a
articulao entre sala e cozinha num nico espao (cozinha americana) e, de
certa forma buscando agregar espaos de maior importncia da casa.
4.5.2 Prefeitura de So Paulo Gestes Maluf/Pitta
Em seguida, nas gestes Maluf/Pita (1993/2000) na Prefeitura de So
Paulo, ficou caracterizada pela reviso total da poltica habitacional do governo
anterior, onde os programas paulatinamente foram sendo deixados em segundo
plano, salvo aquelas obras que ficaram inconclusas e, cujas habitaes,
precisavam ser entregues comunidade. De certa forma, a nova gesto entendia
que as operaes do governo anterior eram realizadas em empreendimentos
70
clandestinos, havendo problemas de ordem fundiria, de projeto, de implantao,
com lotes no cadastrados, prestaes de contas erradas e no aceitas pelo
Tribunal (LORENZETTI, 2001).
A primeira fase da gesto de Paulo Maluf (1993/1994) foi dedicada
elaborao da nova poltica habitacional, o que foi oficialmente definido em 1994
com o documento Poltica Setorial do Governo Municipal para a Habitao.
A poltica expressada neste documento recomenda a Verticalizao
das Favelas, trabalhando com favelas consolidadas. A Prefeitura agora era um
agente indutor do mercado imobilirio, e a nova proposta era expressamente
contra os subsdios e determinava que no se devesse trabalhar com produo
de habitao a fundo perdido (LORENZETTI, 2001).
Os programas voltados para o atendimento da demanda habitacional
do municpio de So Paulo, foram delimitados pelos programas de governo:
a) Concluso dos Mutires Autogestionrios em andamento no incio
da gesto Maluf;
b) PROVER Programa de Verticalizao e Urbanizao de Favelas,
que ficou conhecido como Projeto Cingapura. Verifica-se nesta fase
o retorno da nfase quantitativa de produo habitacional.
Contudo, os programas habitacionais elaborados nos governos Maluf-
Pitta, pecaram por no resolverem questo do dficit habitacional vigente, e, por
outro lado instituram uma forma de favelizao verticalizada, gerando problemas
de acessibilidade e mobilidade urbana.
Via de regra as moradias se caracterizavam por blocos de
apartamentos na maioria com dois quartos. Contudo, a qualidade ficou
prejudicada, pela falta de cuidado com o uso dos materiais construtivos, fruto da
inteno populista do programa habitacional proposto (COELHO, 2002).
71
4.6 GOVERNO ITAMAR FRANCO
Com o afastamento de Collor, Itamar Franco (1992/1994) assume o
governo federal e promove mudanas radicais na rea das polticas pblicas,
principalmente na questo da habitao. O Ministrio do Bem-Estar Social sofreu
reformulaes e passou a exigir a presena de conselhos com participao
comunitria dos governos estaduais e municipais. Tambm instituiu a criao da
contrapartida financeira dos estados e municpios, quando utilizarem recursos
financeiros provenientes da Unio (SANTOS, 1999).
As mudanas empreendidas no perodo aumentaram significativamente
o controle social e, principalmente, a transparncia da gesto dos programas de
habitao popular. O programa Habitar Brasil lanado em maro de 1993, pelo
Ministrio da Habitao e do Bem-Estar Social (MBES), rgo responsvel pela
gesto da poltica habitacional do Governo Federal (gesto do presidente Itamar
Franco) foi mantido, mas sofreu reformulaes e aperfeioamentos no novo
governo. A proposta do programa era atender a carncia de moradias para
famlias de baixa renda das cidades com populao maior do que cinquenta mil
habitantes.
Com o apoio dos governos estaduais, municipais, Conselhos de Bem
Estar Social e comunidades locais, o programa atuou na construo de novas
moradias, obras de infra-estrutura e construo de equipamentos sociais
(creches, escolas e centros multifuncionais), urbanizao de favelas, urbanizao
de lotes e melhorias habitacionais, no que concerne a construo de banheiros,
fossas spticas e reparos em unidades habitacionais. As obras inconclusas
contratadas na gesto anterior foram terminadas com recursos disponibilizados
pelo FGTS.
4.7 GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995/2001) extinguiu o
Ministrio do Bem-Estar Social e, logo em seguida, instituiu a Secretaria de
Poltica Urbana (SEPURB), no mbito do Ministrio de Planejamento e
72
Oramento, como tentativa de reorganizar da poltica habitacional, como tambm,
ser o rgo formulador e operador da nova gesto habitacional.
Basicamente, a linha de viso da SEPURB consistia, em tese, na
descentralizao da execuo de programas voltados para a rea da habitao,
saneamento e infra-estrutura para os estados e municpios, ficando a Unio com
as funes de normatizao e regulao, que podiam ser editadas ou pelo poder
legislativo, ou por meio de medidas provisrias, portarias ou ainda por instrues
normativas da SEPURB (IPEA, 1999).
O governo de Fernando Henrique Cardoso institui um novo modelo de
gesto, a partir de quatro premissas bsicas:
a) A viso das polticas pblicas voltadas para a rea habitacional no
atendimento das camadas da populao de baixa renda, onde
ficam concentradas 85% do dficit habitacional brasileiro;
b) A necessidade de descentralizar e aumentar o controle social sobre
a gesto dos programas federais de habitao;
c) O governo reconhece a sua incapacidade de resolver sozinho, a
questo habitacional no Brasil e da necessidade de melhorar o
funcionamento do mercado de moradias no pas; e
d) Reconhecer tambm que as polticas pblicas no devem
desconhecer a grande parcela da populao de baixa renda, que
trabalha no setor informal da economia e tambm habita moradias
informais (IPEA, 1999).
Foi atravs dos programas Pr-Moradia e Habitar-Brasil, que o governo
investiu cerca de dois bilhes de dlares no perodo de 1995/1998 (SEPURB,
1998).
Os dois programas tm objetivos e traados semelhantes, pois para
ambos, cabe aos municpios e estados a apresentao de projetos s instncias
federais, que ento deliberam sobre a aceitao ou no da solicitao de
financiamento, levando em considerao a disponibilidade de recursos, qualidade
tcnica dos projetos, relao custo-benefcio dos projetos e sua adequao aos
objetivos do programa.
73
Os programas acima tm declaradamente, carter assistencialista, cujo
pblico-alvo, reas habitacionais degradadas, aliadas extrema pobreza dos
seus habitantes e que por isso mesmo necessitam de aes emergenciais do
poder pblico.
verdade tambm que os programas acima referidos no visavam
necessariamente a construo de novas unidades habitacionais (ainda que em
alguns casos esta possibilidade existisse), mas sim na melhoria das unidades
existentes visando desta forma, a reduo do dficit habitacional qualitativo, em
detrimento ao quantitativo, onde fica concentrado a populao de at cinco
salrios-mnimos (SANTOS, 1999).
O Programa Pr-Moradia, financiado com recursos do FGTS e
contrapartidas estaduais e municipais, prev a concesso de financiamentos para
estados e municpios, para famlias com renda de at trs salrios mnimos, que
vivam em moradias inadequadas, por condies de falta de segurana ou de
salubridade.
O Habitar Brasil utiliza como fonte de recursos o Oramento Geral da
Unio (OGU) e contrapartidas dos estados e municpios, alm da possibilidade de
canalizao de recursos externos. O programa objetiva a melhoria das condies
de moradia e da qualidade de vida das famlias que vivem em reas degradadas,
de riscos, insalubres ou sem condies para moradia.
O programa Carta de Crdito, voltado para a populao com renda
familiar de at 12 salrios mnimos, prev o crdito direto ao cidado para
aquisio de habitao nova ou usada, ampliao e melhoria de habitao
existente, construo de moradia ou aquisio de lote urbanizado para
construo, bem como compra de material de construo, com recursos do
FGTS.
Na forma associativa, o programa Carta de Crdito, volta-se tambm
para a concesso de financiamento para pessoas fsicas agrupadas em
condomnios ou organizadas por associaes, sindicatos, cooperativas ou
empresas construtoras do setor habitacional, empreendimentos promovidos por
companhias de habitao ou outros rgos assemelhados.
74
O programa Carta de Crdito FGTS est coerente com o diagnstico
oficial de que o principal responsvel pelo equacionamento do problema
habitacional a prpria sociedade, e no o governo (a quem caberia apenas o
papel de indutor/facilitador do processo). A concesso do financiamento direto ao
consumidor vista como uma forma de o governo auxiliar a sociedade (sem
discriminao daqueles cidados que trabalham em atividades informais e/ou
habitam em moradias informais) resolver seus problemas habitacionais, sem,
contudo, tomar para si essa tarefa (SANTOS, 1999).
Em 1999, foi institudo o Programa de Arrendamento Residencial
(PAR), que prioriza o atendimento s famlias com renda mensal de at seis
salrios mnimos, sob a forma de arrendamento com opo de compra no final do
contrato.
As vantagens do programa esto na possibilidade de ocupao de
reas com infra-estrutura j implantada e de recuperao e legalizao de
cortios. A Caixa Econmica Federal tem a propriedade fiduciria das unidades
habitacionais, que so adquiridas por um fundo financeiro exclusivo para o
programa.
O governo de FHC investiu tambm no desenvolvimento institucional e
na modernizao da legislao que incide sobre o setor habitacional,
principalmente as legislaes ambientais e sobre o uso do solo urbano.
Dentre as aes que tiveram maior reflexo no setor habitacional vale
ressaltar a iniciativa do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
Habitacional (PBQP-H), o qual partindo da premissa de que, um dos fatores que
mais contriburam para prejudicar os ndices de produtividade na construo de
habitao no Brasil era o alto custo mdio e a falta de padronizao dos materiais
de construo utilizados e, para fazer frente a este problema, o governo instituiu o
Sistema Nacional de Certificao, com o propsito de aumentar o grau de
padronizao dos materiais de construo brasileiros. O programa visava tambm
iniciativas na rea de treinamento de pessoal e apoio autoconstruo.
Neste ponto, como maneira de diminuir os custos habitacionais e
atenuar os problemas de falta de espaos para moradias, o governo prope
estudos para flexibilizar a legislao.
75
Entretanto, a par das tentativas para soerguer o mercado habitacional
brasileiro, o momento macroeconmico marcado por altas taxas de juros
encarece sobremaneira os financiamentos do SFH (corrigidos pela TR), o que
conseqentemente diminuiu a procura por novos financiamentos e aumentou o
saldo devedor dos financiamentos j concedidos, o que no passado causaram o
rombo no FCVS, agora tero de ser pagos pelos prprios muturios.
A focalizao dos investimentos na rea habitacional voltado para as
clientelas de baixa e mdio-baixa renda, e, principalmente a efetiva realizao das
aes, garantiram o sucesso das propostas de governo. Com a desburocratizao
dos procedimentos o Programa Carta de Crdito garantiu o efetivo crescimento
nos financiamentos.
Os programas Habitar Brasil e Pr-Moradia tiveram avanos
significativos, apesar das suas limitaes, por no se preocuparem com a
recuperao de custos e por serem dependentes da capacidade fiscal da Unio e
dos governos locais.
Com as reconhecidas limitaes de recursos a que foi submetido o
setor pblico brasileiro, os dois programas, juntos, no contriburam para a
diminuio do dficit habitacional brasileiro, tanto do ponto de vista quantitativo
(da ordem de quatro milhes de novas unidades) como qualitativo (da ordem de
cinco milhes de domiclios com infra-estrutura inadequada) (SANTOS, 1999).
No Estado do Par foram executados alguns programas habitacionais
no perodo entre 1996 e 2001, sendo que a nvel estadual, a COHAB foi a
responsvel pela poltica habitacional, enquanto que na Regio Metropolitana de
Belm, a Secretaria Municipal de Habitao (Sehab) foi a responsvel pelos
empreendimentos voltados para a habitao, conforme os quadros abaixo:
76
77
Neste perodo, em contraposio aos projetos do BNH que
introduziram na tipologia da arquitetura para moradias de baixa renda, um
repertrio desprovido de contedo e de qualidade duvidosa, a idia agora de
retomar o conjunto habitacional com uma concepo de uso coletivo do terreno e
criao de unidades habitacionais diferenciadas de conformidade com o esprito
de integrao das novas moradias com espaos comunitrios que evitem a
segregao. A inteno agora a criao de grandes reas internas sem
circulao de veculos, nas quais possa haver reas de lazer e equipamentos
urbanos. Sobre o assunto, Bonduki (2004) destaca a importncia do esprito de
coletividade dos usurios dos conjuntos habitacionais, baseado numa convivncia
contnua.
78
4.8 GOVERNO DE LUIZ INCIO LULA DA SILVA
No governo Lula a partir de 2002, um dos avanos mais significativos
no trato da poltica habitacional no Brasil, foi a formulao de um novo paradigma
para estruturar a Poltica Nacional de Habitao com a ajuda do Conselho das
Cidades e do Conselho Curador do FGTS, culminando com a criao do Sistema
Nacional de Habitao de Interesse Social em 2005.
O modelo inspirador foi proveniente da idia desenvolvida no Projeto
Moradia, elaborado no ano 2000, no Instituto Cidadania, que previa entre outras
coisas, a criao do Ministrio das Cidades e a elaborao de uma Poltica
Urbana com propostas setoriais de saneamento, transporte/trnsito e
planejamento territorial alm da habitao. A idia a princpio simples, bvia e
original: ampliar o mercado privado (restrito ao segmento de luxo) para que este
atenda a classe mdia e concentrar os recursos financeiros que esto sob gesto
federal nas faixas de renda abaixo de cinco salrios mnimos, onde se concentra
92% do dficit habitacional e a grande parte da populao brasileira (MARICATO,
2005).
Concretamente, o governo providencia a ampliao de recursos e
subsdios para as faixas da Habitao de Interesse Social, em 2005 o governo
federal dispe de mais de R$ 10 bilhes para financiamento habitacional e as
fontes so provenientes do Oramento Geral da Unio (OGU), Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAZ),
Tesouro Nacional e em especial por meio do FGTS (MARICATO, 2005).
A Poltica Nacional de Habitao objetiva atender a populao de baixa
renda, principalmente no que diz respeito ao item moradia digna como direito e
vetor de incluso social garantindo padro mnimo de qualidade, infra-estrutura
bsica, transporte coletivo e servios sociais. Difundir a funo social da
propriedade urbana buscando fortalecer os instrumentos de reforma urbana, para
combater a especulao e garantir acesso a terra urbanizada. Defender a questo
habitacional como poltica de Estado, esclarecendo que o poder pblico agente
indispensvel na regulao urbana e do mercado imobilirio, na proviso da
79
moradia e na regularizao de assentamentos precrios no sem antes informar
da necessidade de articulaes das aes de habitao poltica urbana.
Segundo Maricato (2005), o governo federal estabelece a Poltica
Nacional de Habitao, com objetivos de:
a) Universalizar o acesso moradia digna num prazo definido no Plano
Nacional de Habitao;
b) De fomentar uma poltica de planejamento de cidades destinado em
seus planos diretores, imveis desocupados e reas infra-
estruturadas, adequadas para proviso de programas habitacionais
de interesse social;
c) De enfrentar o problema habitacional de forma articulada com as
polticas fundiria, de saneamento e de transporte e em consonncia
com as diretrizes de poltica urbana;
d) De fortalecer o papel do Estado na gesto da Poltica e na regulao
dos agentes pblicos e privados;
e) Concentrar esforos canalizar de forma articulada recursos no
onerosos dos 3 mbitos de governo no enfrentamento dos
problemas habitacionais.
f) Promover o atendimento populao de baixa renda aproximando-o
ao perfil do dficit qualitativo e quantitativo;
g) Estimular o mercado para atender as faixas de renda mdia;
h) Buscar a expanso do crdito habitacional ampliando fontes de
recursos existentes e criando ambiente de mercado estvel;
i) Democratizar o acesso a terra urbanizada;
j) Gerar empregos e renda dinamizando a economia.
Por outro lado o Sistema Nacional de Habitao compe-se de dois
subsistemas distintos, considerando-se naturalmente as diferenas regionais e o
perfil da demanda:
a) Subsistema de Habitao de Interesse Social SHIS: atende
famlias de at trs salrios mnimos (SM) e de trs at cinco SM,
com recursos do FGTS e do FNHIS e, ainda, os provenientes de
80
outros fundos como o FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e
o FAS (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social);
b) Subsistema de Habitao de Mercado SHM: atende as faixas de
renda de cinco at dez SM e acima de 10 SM. As fontes de recursos
para o Subsistema de Mercado esto baseadas na captao via
cadernetas de poupana e demais instrumentos de atrao de
investidores institucionais e pessoas fsicas, tais como os
relacionados ao fortalecimento e ampliao da presena no mercado
de capitais dos ttulos securitizados lastreados em recebveis
imobilirios, e outras modalidades.
O SHIS centraliza todos os planos e programas e projetos destinados
Habitao de Interesse Social coordenados pela Secretaria Nacional de
Habitao e tem como objetivo, principal garantir o acesso moradia digna para a
populao de baixa renda, de acordo com as especificidades regionais e perfil da
demanda.
O SHIS trabalha com duas linhas de financiamento: uma para proviso
e reabilitao de imveis usados e outra para urbanizao de assentamentos
precrios (urbanizao; melhorias habitacionais; regularizao fundiria e
produo de unidades para relocao de domiclios de famlias beneficiadas).
O Subsistema de Habitao de Mercado, objetiva reorganizar o
mercado privado de habitao, tanto ampliando as formas de captao de
recursos, como estimulando a incluso de novos agentes e facilitando a
promoo imobiliria, de modo que ele possa contribuir para atender parcelas
importantes da populao que est sendo atendida por recursos pblicos.
Outro avano a ser realado trata-se do Projeto de lei 6.981/06, do
deputado Zezu Ribeiro, aprovado no Congresso Nacional e que recebeu, em
dezembro/2008, a sano presidencial. O projeto prope estratgias para
obteno de recursos para assistncia tcnica em habitao. Na Lei n 11.124, de
16 de junho de 2005, que dispe sobre o Sistema Nacional de Habitao de
Interesse Social, seria incorporado ao Artigo 11 um inciso 3 assegurando na
forma definida pelo Conselho Gestor que os programas de interesse social
81
beneficiados com recursos do Fundo Nacional de Habitao de Interesse Social,
envolvam a assistncia tcnica gratuita nas reas de arquitetura, urbanismo e
engenharia.
Por outro lado, a Cmara Brasileira da Indstria da Construo, a guisa
de proposta para a Poltica Nacional de Habitao como contribuio para
combater o dficit habitacional tanto qualitativo como quantitativo, sugere a
expanso da oferta de moradias dignas para as classes de menor poder
aquisitivo, onde entende que alm da construo de novas unidades
habitacionais, existem muitos casares nos centros histricos das cidades
brasileiras que, preservados em suas fachadas e volumetria, podem ser retro
fitados e transformados em prdios habitacionais ou mistos permitiro ampliar a
oferta, a partir da cesso sem nus desses imveis como um importante elemento
de regulao de preo, especialmente se considerarmos a extenso das reas
existentes.
A discusso da habitao social no Brasil, aliada s diversas polticas
habitacionais voltadas para a classe pobre, d a dimenso exata para o
entendimento dos programas habitacionais projetados pelo governo brasileiro,
desde a poca do imprio at aos nossos dias. Principalmente, no que concerne,
a metodologia adotada para a criao de programas e projetos habitacionais de
interesse social voltados para a populao de baixa renda, numa tentativa de
diminuir o dficit habitacional brasileiro, localizado justamente neste segmento
social.
O Sistema Nacional de Habitao de Interesse Social faz alguns
avanos na poltica de habitao e institui a gesto colegiada, cria o Fundo
Nacional de Habitao de Interesse Social, para viabilizar o uso de subsdios, ao
acesso dos mais pobres, no sentido da obteno da moradia.
A adoo de uma poltica descentralizada, valorizando a ao dos
municpios, propicia diversas formas de atuao: aquisio, construo,
concluso, melhoria, reforma, locao social e arrendamento de moradias e
produo de lotes urbanizados (MARICATO, 2005).
Ressalte-se dentro deste panorama, a realizao do Projeto
Habitacional Vila da Barca executado com recursos do governo federal, para fazer
82
frente ao assentamento original da Vila da Barca, composto de habitaes
precrias e insalubres. Em 2003, a Secretaria de Habitao de Belm (SEHAB),
com apoio de entidades federais e municipais desenvolveu um amplo projeto
socioambiental para proporcionar a incluso social da comunidade.
A organizao e os arranjos das quadras e das edificaes rompem
com os preceitos da habitao de interesse social preconizada no perodo do
BNH. Sem fugir dos elementos caractersticos da arquitetura urbana e, sendo
respeitada as peculiaridades da rea de implantao, o projeto atende aos
paradigmas contemporneos no trato das edificaes e dos espaos abertos do
conjunto, utilizando-se de um gabarito de baixa altura, e que permite a
manuteno da conexo com o solo e tambm com os demais usurios (MOURA,
2008).
Com um traado voltado para situaes de alta densidade, que busca
privilegiar a mobilidade no interior do conjunto e um deslocamento facilitado aos
bairros do entorno. As unidades habitacionais so caracterizadas por figuras
polidricas regulares combinadas atravs da decomposio do cubo, que num
jogo de adio e subtrao geram moradias cada uma com 65 metros quadrados,
compostas de dois quartos, sala, banheiro e rea de servio. As moradias
possuem dois pavimentos, com trs alternativas de habitao, onde se
sobressaem as solues de superposio, sobreposio e geminao das
unidades, criando blocos de dois e trs pavimentos.
O desalinhamento das fachadas explicado como sendo para
minimizar o traado geomtrico das ruas do entorno dos blocos que compem o
conjunto. Agregue-se a isto, a preocupao projetual de ressaltar a diversidade
morfolgica do conjunto, atravs do uso de lajes inclinadas na cobertura, como
forma de alternar a inclinao dos planos de telhados que compem o conjunto
habitacional (MOURA, 2008).
As preocupaes formais com os limites verticais dos blocos levam
Mahfuz (2002), a citar o arquiteto Robert Venturi, o qual entende que as fachadas
so elementos que sintetizam as foras internas e externas que agem no projeto
de arquitetura. Contudo, as fachadas no podem se transformar em meros
83
elementos para atender o apelo visual a servio de uma sociedade vida por
espetculos (MAHFUZ, 2009).
Na primeira etapa, inaugurada no final de 2007 foram entregues 18
blocos com 136 unidades habitacionais sendo que a praa possui tratamento
paisagstico agregado ao play-ground e, o conjunto dispe ainda, de estao de
tratamento de esgoto e infra-estrutura urbana.
84
5 METODOLOGIA
5.1 AVALIAO PS-OCUPAO (APO)
A Avaliao Ps-Ocupao tem sido utilizada com diversas finalidades
na indstria da construo civil, mas est sempre associada, investigao do
comportamento, em uso de um determinado produto ou sistema, seja o produto
edifcio em todas as suas caractersticas de projeto, especificaes, execuo e
uso, ou ainda um determinado componente ou sistema construtivo especfico.
O fundamento da APO o entendimento do conceito de
desempenho, desenvolvido nos anos 60 em alguns pases na Europa e Amrica
do Norte, o qual est baseado em exigncias de desempenho que so traduzidas
em requisitos a serem atendidos pelos edifcios e suas partes, em funo das
condies de exposio a que estar sujeito, incluindo-se a as aes dos
usurios.
A APO compreende duas partes distintas: a identificao e
caracterizao do grau de satisfao dos clientes e a avaliao do desempenho
propriamente dito, tendo em vista os aspectos subjetivos envolvidos na percepo
dos clientes (SILVA; JOBIM, 2002).
Apesar de relativamente nova no Brasil, a Avaliao Ps-Ocupao
uma ferramenta importante para avaliar se o projeto atinge os seus objetivos e,
por ser um processo sistematizado na avaliao de edifcios construdos aps
certo tempo e, neste caso, um tipo de avaliao retrospectiva, a qual busca
atravs de questionrios, entrevistas e observaes, a medio da satisfao dos
usurios em relao ao projeto ocupado ao tempo em que serve de parmetro
retroalimentador para novos projetos a serem construdos. As melhorias que se
esperam a partir de uma APO dizem respeito a solues de curto prazo, mdio
prazo e longo prazo.
A APO assim chamada por se tratar de um procedimento aplicado
em um ambiente ou edificao, aps suas etapas de projeto e de produo ou
85
construo. A avaliao realizada atravs de dados tcnicos, funcionais,
estticos e comportamentais, atendendo as opinies de tcnicos, projetistas e
clientes, bem como, dos usurios, que ao final vai apontar os aspectos positivos e
negativos do espao avaliado, fazendo inclusive recomendaes para os
aspectos em no conformidade, ou seja, em desacordo com as normas tcnicas
atuais.
desejvel que os edifcios e espaos abertos em uso estejam em
constante avaliao, independente de suas funes, tanto pelo prisma tcnico,
construtivo e espacial, quanto pelos seus usurios (ORNSTEIN ; ROMERO,
1992).
A avaliao tambm buscou entendimento sob o ponto de vista da
qualidade de vida, a partir da idia de que as formas urbanas planejadas e
projetadas apresentam nveis de desempenho melhores em relao aos espaos
no planejados e espontneos (CORRA, 2001).
Por outro lado Corra (2001) ressalta que, na avaliao do ndice de
qualidade de vida, os aspectos objetivos e subjetivos devem ser levados em
considerao, no momento da determinao e dimensionamento dos ndices de
qualidade de vida de um aglomerado urbano, pois, por mais que as condies
objetivas serem consideradas boas, nem sempre o resultado esperado possa
indicar satisfao e bem estar do usurio.
A APO tem sido muito usada no Brasil para avaliar o desempenho de
edificaes de diversas naturezas, inclusive conjuntos habitacionais populares,
como o caso do Programa Viver Melhor no Candeal Pequeno em Salvador-Bahia,
onde os objetivos da avaliao era identificar o grau de satisfao dos moradores
em relao aos aspectos funcionais da nova moradia e aos servios urbanos
implantados, bem como, detectar a adequao dos espaos habitacionais para
atender ao comportamento e s necessidades dos moradores, analisando as
interferncias produzidas por eles no ambiente construdo e, por fim, analisar
como os moradores do Candeal Pequeno apreendem e se identificam com o seu
lugar de moradia. Outra experincia diz respeito avaliao ps-ocupao do
edifcio de servios do BNDES/RJ, cujo objetivo era compreender as
caractersticas de desempenho e a qualidade dos servios prestados pelo
86
condomnio. Na avaliao ps-ocupao do Residencial Independncia no
municpio de Limeira/SP, regio de Campinas, buscou entender aspectos ligados
a exigncias, necessidades e aspiraes dos futuros moradores, sua realidade
scio-cultural, variveis climticas do local e aos aspectos construtivos e de
detalhamento, na inteno objetiva de indicar alternativas viveis para futuros
empreendimentos.
87
6 PROCESSO DE EVOLUO URBANA DA REGIO METROPOLITANA DE
BELM
No caso de Belm, a ocupao dos espaos urbanos deveu-se a vrios
fatores e causas, como resultado da rpida urbanizao da cidade. As frentes de
penetrao determinaram novas oportunidades para o destino da cidade e o
panorama na segunda metade do sculo XVIII mostrava que o crescimento da
populao impe um movimento de interiorizao, que impulsiona a cidade no
sentido da ocupao dos terrenos de cotas abaixo de quatro metros e fora do
espigo formado pela antiga Estrada de Nazar e pela seqncia da ento
Estrada de Ferro Belm-Bragana (PENTEADO, 1968).
Vrias causas ou fatores atuaram, no decorrer dos tempos, no sentido
de dinamizar o deslocamento dessa frente de penetrao, abrindo novas
perspectivas para os destinos da cidade. Discriminadamente, as causas ou
fatores apontados so os seguintes, de acordo com ordem cronolgica de sua
atuao (SUDAM, 1976):
a) Crescimento da populao impondo novas derivaes para a
presso interna;
b) Vantagens das terras centrais sobre as ribeirinhas no s para fins
agrcolas como por serem mais saudveis;
c) Economia baseada em processos extensivos visando como tal
conquista de reas e no o seu aproveitamento racional;
d) Abertura da Estrada de Ferro de Bragana e tambm da Estrada de
Rodagem Bernardo Sayo (Belm-Braslia).
Quando a cidade comeou a receber os primeiros equipamentos
urbanos, verificou-se um rpido deslocamento interior da populao, todavia os
obstculos representados pelos acidentes hdricos levaram os pioneiros a darem
preferncia pelos terrenos de cotas mais altas para concretizarem a ocupao do
stio. E sempre que um acidente impedia a passagem, tornava-se necessrio
contorn-lo sem a preocupao de sane-lo ou obstru-lo. Gerando desta forma
88
uma malha urbana de perfil irregular, com grandes espaos e terrenos de cotas
baixas, caracterizados como terras alagadas.
Conceitualmente, terras alagadas ou alagveis ou ainda baixadas so
todas aquelas reas constitudas por terras, cujas curvas de nvel no
ultrapassem a cota quatro (SUDAM, 1976).
Com o aumento da populao e com a utilizao dos miolos de
quarteiro com a construo de vilas, alamedas e passagens, a densidade
populacional das terras altas foi aumentada, inclusive gerando o desaparecimento
das reas verdes de Belm.
Neste ponto, a populao de baixa renda passou a ocupar os terrenos
alagadios, caracterizando um tipo de habitao suspensa sobre estacas
(palafitas), implantadas em terrenos para onde se drena parte dos esgotos das
reas de cotas mais altas, conforme figuras 8 e 9.
Numa regio cujo ndice pluviomtrico anual supera a mdia de 2.300
mm, os terrenos ficam constitudos de verdadeiros alagados, ora por
encontrarem-se saturados, ora por no haver desnvel para a drenagem das
guas, ento os caminhamentos so feitos atravs de estivas de madeira, o que
gera algumas dificuldades aos transeuntes, uma vez que o material utilizado
normalmente de baixa qualidade, o que leva a uma rpida deteriorizao destas
estivas ou pontes (SUDAM, 1976).
A dificuldade de acesso terra urbana e habitao pelos meios
regulares induz a populao a se abrigar onde h possibilidade concreta para isto:
em reas pblicas ou particulares abandonados, em reas alagadias, nas
encostas, embaixo de pontes e viadutos.
Embora esta realidade seja marcada pela ilegalidade, a irregularidade
e a clandestinidade, contam com certa conivncia do poder pblico, diante da sua
incapacidade de prover moradias adequadas para esta parcela da populao.
Os cortios so formas de ocupao irregular nas metrpoles
brasileira. So muito comuns nas reas centrais das cidades, problemas que se
arrastam desde o sculo passado.
Em Belm, os cortios que se tem notcia, instalaram-se nas
proximidades do cais do porto da cidade, ocupando antigos sobrados localizados
89
nas reas do centro comercial. Os sobrados ocupados eram habitaes
remanescentes do perodo ureo da borracha, que aps o declnio do comrcio
desta matria prima, as outrora habitaes foram abandonadas e posteriormente
ocupadas como exemplo de moradias precrias.
Os programas voltados para a renovao urbana das reas centrais
funcionam de modo a expulsar os moradores de cortios, em vez de investir na
oferta de moradias nas reas centrais para a populao de baixa renda, com o
propsito de garantir uma habitao mais prxima dos empregos dos referidos
usurios de cortios.
Figura 8: Palafitas na Vila da Barca Figura 9: Detalhe de Palafitas
Fonte: Mariano de Farias (2007) Fonte: Mariano de Farias (2007)
Em Belm, o ciclo da borracha responsvel pelas mudanas
urbansticas ocorridas na malha urbana, acrescida da criao de uma elite da
borracha com hbitos ligados cultura europia, em especial a francesa no
sentido de absorver os conceitos da Haussmanizao e transpor o modelo de
renovao urbana e aplic-lo no contexto amaznico (PENTEADO, 1968).
As intervenes realizadas em Belm neste perodo foram destaques
nacionais, e contriburam para a ocupao da cidade por uma leva de pessoas de
outras localidades em busca de novas oportunidades e principalmente pela
procura de empregos no promissor mercado da construo civil, fomentado pelo
promissor perodo da borracha, onde Belm se salientava por ser o ponto de
sada da borracha brasileira (DUARTE, 2007).
90
Com a criao da rodovia Belm-Braslia, atravs da implementao do
Plano de Desenvolvimento Nacional e da Operao Amaznia no governo do
ento Presidente da Repblica, Juscelino Kubitchek de Oliveira, estimulou-se a
intensificao da ocupao urbana de Belm, por pessoas oriundas do nordeste e
sul do Brasil (SUDAM, 1976).
Para amenizar o grande contingente populacional, motivado pelo
processo migratrio, foram construdos na cidade, diversos conjuntos
habitacionais para fazerem frente s necessidades de moradia da populao
presente nas diversas reas invadidas. Em 1994, a Comisso de Bairros de
Belm, j estimava em 200 mil unidades o dficit habitacional de Belm.
Outro fator que contribuiu para o intenso processo de urbanizao e
desenvolvimento e acarretando o inchao da cidade, foi o aumento da atividade
informal, fruto da recesso econmica nacional no final da dcada de 1980
(MEDEIROS, 2007).
A construo do Conjunto da Vila da Barca, alm de buscar a
minimizao do dficit habitacional, tanto no aspecto qualitativo como quantitativo,
buscou o combate tambm inadequao das moradias, dotando as habitaes
de um sistema de infra-estrutura adequado e que possibilite uma melhor condio
de vida aos usurios.
91
7 ANLISE DOS RESULTADOS
7.1 O PROJETO VILA DA BARCA
Uma das caractersticas do projeto, de autoria do Arquiteto Luiz
Fernando de Almeida Freitas com assessoria do Arquiteto Jos Maria Bassalo, foi
o trabalho de organizao e arranjo das quadras e das edificaes, que introduziu
conceitos ligados arquitetura urbana, sem se descuidar das caractersticas da
rea de implantao das moradias. O projeto preocupou-se com a ligao e o
acesso entre os blocos habitacionais prevendo largos que privilegiam a
mobilidade dos usurios nos diversos espaos do conjunto, alm da incorporao
de praas agregadas entre os blocos do conjunto, buscando atravs do espao
pblico, o exerccio da convivncia e do lazer (figura 10).
Figura 10: Espao pblico do cj. Vila da Barca
Fonte: Mariano de Farias (2009)
As moradias representadas pelos apartamentos possuem dois
pavimentos, sendo que cada moradia possue aproximadamente 65 metros
quadrados, composta de dois quartos, sala, banheiro e rea de servio, conforme
mostra a figura 11.
92
Figura 11: Planta baixa de uma moradia.
Fonte: SEHAB (2009)
Sendo que o conjunto dotado de estao de tratamento de esgoto
sanitrio e infra-estrutura urbana e tratamento paisagstico das vias, praa e
largos.
As unidades habitacionais foram concebidas a partir da gerao de
poliedros regulares, trabalhados na composio dos blocos levado em
considerao as possibilidades de superposio, sobreposio e geminao das
unidades que ao final possibilitaram blocos de dois e trs pavimentos. Segundo
Moura (2008), o exerccio de arranjos formais, atravs da adio e subtrao das
formas polidricas gerou configuraes espaciais distintas, contribuindo para o
avano e recuo das fachadas, o que, ao final contribuiu para minimizar o aspecto
cartesiano das vias do conjunto. O projeto deixa entrever uma inteno de
propiciar ao conjunto, um tecido urbano rico e heterogneo agregado a uma
diversidade morfolgica.
Para Martinez (2000), cada edifcio o resultado de uma concepo
projetual. Da o entendimento de que, em situaes de alta densidade, como no
caso da Vila da Barca, onde os espaos disponveis para a execuo do projeto
so restritos, ento pode haver o entendimento que a soluo de projeto caminhe
na idia de construir um maior nmero de habitaes, como maneira de suprir a
demanda de moradias para populaes de baixa renda. Neste caso o
93
encaminhamento sugere a verticalizao das habitaes. Especificamente, no
caso do projeto da Vila da Barca, h evidncias de harmonizao entre os
espaos pblicos e privados e suas correlaes com as reas coletivas do
conjunto criando, consequentemente, um intenso relacionamento do usurio com
as reas de entorno do projeto, proporcionando oportunidades de integrao com
a vizinhana, atravs das reas pblicas, semi-publicas e privadas.
O projeto inicial da primeira etapa do Conjunto Vila da Barca previa
fundaes do tipo radier, com esta proposta o projeto foi licitado, contudo aps a
homologao dos resultados e aps consultoria contratada pela SEHAB, foi
orientado pelo consultor, que a proposta original de fundao caso fosse
executada, poderia ocasionar num curto espao de tempo, recalques nos blocos
de at 0,30 m. O que fatalmente ocasionaria a perda do pavimento trreo dos
blocos. Diante do fato novo, o projeto de fundao foi refeito e definido que a
fundao deveria ser por radier estaqueado, o que causou praticamente a
duplicao do valor total do oramento previsto para a construo dos 136
apartamentos que constituem a primeira etapa da Vila da Barca.
O sistema adotado para a montagem dos blocos de apartamentos
interessante pela tipologia adotada e causa boa impresso no aspecto do
conjunto.
Para entendimento, a primeira etapa do Conjunto Residencial Vila da
Barca composto por 136 apartamentos, distribudos entre 25 Blocos, sendo que
dezoito blocos possuem seis apartamentos e os outros sete blocos possuem
quatro apartamentos. A primeira etapa do projeto consta de quatro tipos de
apartamentos: 2PAB2BB, 2P4BB, AB+AB II e AB+AB III.
As paredes do conjunto Vila da Barca possuem dupla funo: so ao
mesmo tempo, septo divisor de ambientes e tambm possuem funo estrutural,
no momento em que recebem cargas dos pavimentos superiores. O que no final
exigiu em algumas oportunidades, por questes de concepo projetual, o
aparecimento de ambientes superiores balanceados exigindo desta forma,
sobrecarga nas estruturas de paredes.
Os partidos adotados, que se caracterizam por blocos de dois e trs
nveis de estruturas exigem a adoo de escadas de acesso, o que a princpio
94
torna-se um obstculo acessibilidade de pessoas com dificuldades de
locomoo e em ltima instncia torna-se um empreendimento que exige custos
mais altos em comparao com as solues de habitaes trreas (figuras 12 e
13).
Figura 12: Escadaria externa Figura 13: Escadas de acesso aos apartamentos
Fonte: Mariano de Farias (2009) Fonte: Mariano de Farias (2009)
7.2 AVALIAO TCNICA (ANLISE WALKTROUGH)
No caso da Vila da Barca, a avaliao buscou estudar a implantao
dos blocos, dos acessos, dimensionamento dos ambientes, reas comuns,
funcionalidade, rea por habitante, dormitrios, banheiros, reas livres, salas e
mobilidade dos usurios, conforme a viso do usurio e consoante avaliao
tcnica das construes (vide figura 14).
95
Figura 14: Apartamento do Cj. Vila da Barca.
Fonte: Mariano de Farias (2007)
A sistemtica de estudo, consistiu no reconhecimento do ambiente e na
identificao descritiva de problemas e aspectos positivos do mesmo (trincas,
fissuras, goteiras, infiltraes, vazamentos, recalques, umidade, bolor, etc), de
acordo com as figuras 15 e 16.
Figura 15: Infiltraes em apartamento do Cj. Vila da Barca.
Fonte: Mariano de Farias (2009)
96
Figura 16: Elementos em balano.
Fonte: Mariano de Farias (2009)
As tcnicas que foram utilizadas para registro de dados so:
fotografias, desenhos e plantas.
Para esta avaliao, foram observados e considerados somente os
blocos pertencentes s quadras 04 e 05 do conjunto Vila da Barca (figuras 17 e
18).
Figura 17: Planta de Localizao do Projeto Vila da Barca.
Fonte: SEHAB (2007)
97
Figura 18: Quadra 05 do conj. Vila da Barca.
Fonte: SEHAB (2007)
As diversas tipologias de habitao adotadas na montagem dos blocos
geram desalinhamento de paredes e exigem esforos diferenciados nas
estruturas autoportantes dos blocos, causando alteraes nos paramentos de
diviso dos ambientes (figura 19).
98
Figura 19: Paredes em Balano
Fonte: Mariano de Farias (2009)
Estes esforos causaram o aparecimento no final da obra, de algumas
trincas que foram prontamente revistas pela empresa construtora. A ausncia de
beirais em algumas fachadas dos blocos ocasiona nos perodos chuvosos, o
encharcamento das paredes voltadas para o quadrante nordeste e que por
conseqncia causam a infiltrao das paredes, o que oportunamente pode gerar
o apodrecimento dos tijolos e colocar em risco a estabilidade dos blocos,
principalmente das paredes dos apartamentos trreos (figuras 20 e 21).
A pesquisa restringiu-se s quadras quatro e cinco do conjunto Vila da
Barca, constantes da primeira etapa do projeto (figuras 22 e 23)
99
Figura 20: Detalhe de infiltraes
Fonte: Mariano de Farias (2009)
Figura 21: Paredes com fungo devido infiltrao
Fonte: Mariano de Farias (2009)
100
Figura 22: Quadra 04 do conj. Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
Figura 23: Projeto Virio do conj. Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
101
Uma das proposies da pesquisa foi avaliar as condies de
habitabilidade das novas moradias do Conjunto Vila da Barca. E para tanto, o
estudo partiu do pressuposto, de que as casas ou apartamentos deveriam
oferecer condies de moradia adequada e saudvel aos usurios oriundos de
habitaes precrias os quais foram remanejados para o novo conjunto (figuras
24 e 25).
Figura 24: Aspecto de palafita
Fonte: Mariano de Farias (2007)
Figura 25: Conjunto Vila da Barca
Fonte: Mariano de Farias (2007)
102
O estudo procurou entender se os moradores, diante da nova realidade
habitacional, contribuam com mudanas, partindo para hbitos mais saudveis
de vida em comunidade. Todavia a avaliao in loco, constatou que os hbitos
ligados questo ambiental no se alteraram, uma vez que a populao usuria
do novo conjunto continua entulhando os esgotos e caixas de esgotos, com
detritos e restos domiciliares, tornando precria a drenagem do conjunto, no s
das guas pluviais, como tambm das guas servidas das moradias. O problema
que acontece nas moradias uma contradio, pois sabido que o conjunto
dotado de uma Estao de Tratamento de Esgoto (ETE), sistema de galeria de
esgoto sanitrio e coleta regular de lixo. Sobre o assunto, as lideranas
comunitrias, quando instadas, alegam que muitos moradores ainda trazem os
hbitos de quando ainda moravam nas palafitas, da o problema tende a se
agravar, se no forem tomadas medidas que alertem os habitantes do conjunto
sobre os perigos da m educao ambiental.
Observa-se tambm que muitas habitaes do novo conjunto,
principalmente os apartamentos trreos, ostentam em suas fachadas, grades de
ferro, como alternativa para vedar os vos de portas, janelas e reas abertas so
providncias tomadas pelos moradores para fazerem frente insegurana pblica
com que convivem, em decorrncia de furtos e roubos que acontecem na rea.
As paredes das habitaes que ficam voltadas para os quadrantes
nordeste e norte sofrem, por conseguinte a influncia das pancadas de chuvas e
ventos, que ocasionam infiltraes constantes nos ambiente de moradia, uma vez
que no so rebocadas, as paredes no possuem nenhum revestimento de
proteo, uma vez que segundo o projeto, foram entregues em alvenaria
aparente. Tal fato gera a proliferao de fungos e bactrias no interior das
habitaes, criando problemas de sade para os moradores que sofrem de
alergias diversas. visvel em algumas janelas e portas, cujas esquadrias so
feitas de ferro galvanizado, o aparecimento de oxidaes que futuramente iro
prejudicar o funcionamento dos vos de portas, janelas e balancins (figura 26).
103
Figura 26: Aspecto das paredes do cj. Vila da Barca
Fonte: Mariano de Farias (2009)
Outro fato que chama ateno, diz respeito aos apartamentos
localizados na parte trrea do conjunto, onde os pisos da sala e quartos foram
entregues com nveis abaixo, em relao aos nveis das circulaes externas dos
blocos, gerando acmulo de gua nestes ambientes, quando da ocorrncia de
chuvas, a gua escorre pelas paredes e entra nos ambientes atravs da soleira
das portas e peitoril das janelas, alagando os espaos da casa e dificultando o
escoamento. Os usurios sentem dificuldades em nivelar os pisos de salas e
quartos, tal deciso exigiria o uso de materiais de revestimento, o que acarretaria
custos extras que comprometeriam sensivelmente o oramento familiar. Alm do
que, precisariam alterar a altura das portas, as quais, sendo metlicas precisariam
ser trocadas por outra (figura 27).
Figura 27: Diferena de nvel nas habitaes trreas.
Fonte: Mariano de Farias (2009)
104
O problema das infiltraes fica bastante claro quando as reas livres
denominadas jiraus so utilizadas como espao de lavanderias e de servios
diversos, estas reas ficam localizadas sobre as salas e quando acontecem s
lavagens nos jiraus, a gua infiltra no piso e fica pingando no forro das salas,
causando transtornos aos moradores destes apartamentos.
Alguns moradores esto resolvendo o problema, revestindo
internamento os ambientes de suas moradias com acabamento cermico ou
reboco liso pintado. A alternativa adotada pode ocasionar a descaracterizao do
conjunto, quando as intervenes passarem para a parte externa dos imveis.
Neste caso, seria necessrio que o rgo gestor do empreendimento, juntamente
com a liderana comunitria local, estabelecesse procedimentos que pudessem
sanar os problemas ocasionados pelas infiltraes sem prejudicar a paisagem
arquitetnica do conjunto (figura 28).
Figura 28: Parede revestida com rebco, emassada e pintada.
Fonte: Mariano de Farias (2009)
Grande nmero de moradores reclama do calor nos diversos
ambientes de suas casas, principalmente a partir do meio dia. Nos apartamentos
localizados no pavimento trreo do conjunto, os moradores dizem que o problema
do calor fica mais acentuado, uma vez que as janelas e portas, por questes de
segurana ficam fechadas constantemente, prejudicando a sada do ar quente
das moradias e dificultando a entrada de ventilao nos ambientes de maior
permanncia (quartos e salas). Nestas moradias, o calor se justifica pela ausncia
105
de solues projetuais que minimizassem as altas temperaturas quando os vos
(portas, janelas e balancins) estivessem fechados.
Os usurios esto resolvendo o problema, ainda que de forma precria,
utilizando ventilao mecnica, principalmente nos quartos, como forma de
minimizar o desconforto trmico. visvel em algumas habitaes a utilizao de
aparelhos de ar condicionado (figura 29)
Figura 29: Quarto com ventilao mecnica.
Fonte: Mariano de Farias (2009)
Estas solues, em parte tm afetado a renda familiar, uma vez que
com a utilizao ininterrupta de aparelhos eltricos para fazer frente ao calor dos
ambientes, os custos com gastos de energia eltrica tem aumentado
significativamente.
Ainda com relao energia eltrica, alguns moradores entendem que
existem pontos de luz em demasia nos apartamentos, induzindo os usurios a um
consumo maior de energia eltrica. Como conseqncia, aproximadamente 55%
dos moradores da Nova Vila da Barca, est inadimplente com a companhia
fornecedora de energia eltrica e para obterem energia em suas casas utilizam
instalaes clandestinas.
Observa-se tambm, que menos da metade dos usurios do novo
conjunto habitacional, esto adimplentes com os pagamentos de taxas de gua e
iluminao eltrica. Outro aspecto a ser ressaltado o reclamo dos moradores no
que diz respeito ao nmero de banheiros nas moradias. Como se sabe, todos os
106
apartamentos independentes do nmero de quartos possuem apenas um
banheiro. A questo se complica, quando se sabe da existncia de apartamentos
que comportam at trs famlias convivendo e dividindo o espao das moradias, o
que representa um nmero de aproximadamente dez pessoas utilizando apenas
um banheiro.
Por outro lado, a questo assume outro aspecto, quando os
apartamentos so ocupados por famlias numerosas e nmero de quartos
insuficientes, levando os usurios a ocuparem outros ambientes da residncia,
para os momentos de descanso da famlia. Alguns usurios das novas moradias
relatam que em alguns casos, os ambientes dos apartamentos atuais, possuem
dimenses menores em relao s habitaes anteriores, das quais foram
remanejados, complicando a acomodao de mveis e pessoas nos ambientes
residenciais.
As escadas externas, que proporcionam acesso aos apartamentos
superiores, sofrem a ao das intempries e como conseqncia, esto tomados
por limo e fungos, dificultando o acesso de pessoas com dificuldades
locomotoras. Sobre o assunto, tomamos conhecimento que quando por ocasio
do remanejamento dos moradores para as novas moradias, o setor social da
Secretaria de Habitao da Prefeitura Municipal de Belm teve o cuidado de
alocar nos apartamentos trreos, famlias que possussem entre os seus
membros pessoas com problemas de locomoo. No obstante o inconveniente
das escadas como opo de acesso s moradias, no foram observadas
nenhumas reclamaes a respeito do assunto. No aspecto externo, a praa do
conjunto que deveria servir exclusivamente de espao de lazer da comunidade,
est sendo utilizada privativamente por companhias parques de diverso, que
cobram pela utilizao dos brinquedos pelas crianas (figura 30).
107
Figura 30: Play-ground e o parque de diverses.
Fonte: Mariano de Farias (2009)
Os outros espaos da praa esto sendo paulatinamente
descaracterizados, principalmente nas caixas de areia que serviriam de play-
ground para a diverso de crianas, agora servem para quadras improvisadas de
voleibol e futebol utilizadas por adultos e adolescentes, alguns destes, estranhos
comunidade da Vila da Barca. Tal prtica est ocasionando o aparecimento de
crateras em algumas partes da praa.
Apesar das discusses recomendarem a obteno da casa prpria com
forma de garantia da cidadania, muitos usurios do novo conjunto tm
apresentado alternativas contrrias para o discurso em voga. Para alguns a casa
prpria no prioridade, muito menos a qualidade de vida de seus familiares, por
conta disso, vem acontecendo paulatinamente entre os moradores da Vila da
Barca, apesar de ser um assunto ainda sigiloso, algumas habitaes recm
entregues, esto sendo vendidas a terceiros segundo contratos de gaveta. A
princpio, o motivo alegado diz respeito aos custos com pagamentos de taxas de
iluminao eltrica e abastecimento de gua, que muitos destes moradores no
podem pagar, por estarem desempregados, da a alternativa de vender os
imveis e se transferir para outra rea de ocupao onde no precisam pagar os
tributos.
Outro aspecto observado, diz respeito s alteraes que esto
acontecendo em alguns blocos do conjunto, principalmente nos apartamentos
trreos. As ampliaes do espao habitvel ficam caracterizadas pela construo
de edculas e puxadinhos que ao final comeam a alterar a fisionomia do
108
conjunto e como conseqncia acabam ferindo a proposta da tipologia
arquitetnica preconizada pelos projetistas, conforme mostra a figura 31.
Figura 31: construo de edcula.
Fonte: Mariano de Farias (2009)
A ocupao e privatizao dos canteiros do entorno dos blocos, denota
a apropriao do espao pblico, atravs de cercados e grades. Construes de
espaos comerciais, agregados aos apartamentos, denotam as alteraes
patrocinadas pelos moradores do conjunto, de acordo com as figuras 32 e 33.
Figura 32: ocupao do canteiro pblico
Fonte: Mariano de Farias (2009)
109
Figura 33: construo de cercado
Fonte: Mariano de Farias (2009)
Outro aspecto observado no conjunto Vila da Barca, diz respeito aos
usurios que adquiriram veculos automotores aps ocuparem as novas
moradias, e, esto encontrando dificuldades para guardar os referidos
automveis, uma vez que as habitaes no possuem garagens, conforme figuras
34 e 35.
Figura 34: automveis na via pblica. Figura 35: estacionamento improvisado.
Fonte: Mariano de Farias (2009) Fonte: Mariano de Farias (2009)
As crticas que foram observadas quando por ocasio da pesquisa de
campo, no que concerne s novas moradias, tm justificativas no
necessariamente ao projeto, mas principalmente ao processo construtivo, que em
algumas oportunidades se descurou da fiscalizao e acompanhamento da
execuo da obra.
7.3 AVALIAO DO USURIO: pesquisa de opinio
Na avaliao dos usurios realizada no perodo de 2007/2008, no
obstante a indicao de a pesquisa caminhar no sentido de uma consulta por
110
amostragem, o estudo trabalhou com 136 moradias constantes do universo a ser
pesquisado, como forma de garantir a fidelidade dos resultados.
Na aplicao dos questionrios foi trabalhado o modelo de
Amostragem de Conglomerados entendendo, que os 25 blocos que compem a
primeira etapa do conjunto Vila da Barca possuam conformao uniforme,
alterando internamente por causa das geminaes entre as diversas tipologias de
apartamentos.
Para Barbetta (2003), conglomerados um grupamento de elementos
da populao. E este tipo de amostragem consiste, num primeiro estgio, em
selecionar conglomerados de elementos. Lembra ainda que a seleo neste
estgio deva ser aleatria.
Considerando tambm que o conjunto residencial Vila da Barca na sua
primeira etapa de construo, consta de 25 blocos de apartamentos, distribudos
em duas quadras (4 e 5). Existem 18 blocos com seis apartamentos cada, sete
blocos com quatro apartamentos cada, perfazendo um total de 136 apartamentos
ocupados.
Quanto tipologia, existem quatro tipos de apartamentos (2PAB2BB /
2P4BB / AB+AB II e AB+AB III), distribudos entre os 25 blocos da primeira etapa
do conjunto.
Sendo assim, na avaliao do usurio, para aplicao de questionrios,
adotamos os mesmos critrios adotados pelo Setor Social da Secretaria de
Habitao da PMB quando do cadastramento dos moradores da Vila da Barca, ou
seja, sero pesquisados o Chefe de Famlia ou Proprietrio Titular do
apartamento. Ressalte-se, que das 136 habitaes, apenas 133 possuam
moradores, as demais se encontravam no momento da pesquisa sem ocupantes.
A tabulao e sistematizao dos dados foram realizadas atravs da
utilizao do programa EPI info 3.51, enquanto a gerao e acabamento dos
grficos foram utilizados o programa Excel.
Os questionrios estruturados so freqentemente mais utilizados em
APOs, porque objetivam verificar como as pessoas usurias do ambiente
construdo, o percebem, o utilizam, como a ele se referem e qual o ponto de vista
em relao a ele (ORNSTEIN; ROMERO, 1992).
111
A pesquisa voltou-se tambm para a indagao sobre a qualidade de
vida nas habitaes recm construdas, principalmente no que diz respeito ao
conforto termo-acstico dos ambientes, acessibilidade, dimenses dos
compartimentos e materiais de acabamento das moradias, visando uma avaliao
dos apartamentos, segundo os conceitos de habitao saudvel.
Em oposio s antigas moradias, muitos moradores do atual conjunto
alegam que no possuem espao disponvel para algumas atividades que
realizavam anteriormente, rea para estender roupas e espaos para jardins e
criao de animais. Este um dado que precisa ser observado em prximos
empreendimentos relacionados a projeto e construo de habitaes de interesse
social (figura 36).
Figura 36: Alternativa para rea de servio
Fonte: Mariano de Farias (2009)
7.3.1 Avaliao dos moradores
Segundo a pesquisa, a maioria dos moradores do Conjunto Vila da
Barca possui renda variando entre meio e dois salrios mnimos, sendo que a
predominncia indica que 39,8% dos usurios esto na faixa entre e 1 salrio
mnimo. Trata-se, portanto, de uma populao de baixssima renda familiar
(Grfico 1, Tabela 1).
112
8,3%
39,8%
30,1%
12,0%
9,8%
At 1/2 SM
Mai s 1/2 a 1 SM
Mai s 1 a 2 SM
Mai s de 2 SM
Sem resposta
Grfico 1 Renda dos moradores do Cj. Residencial Vila da Barca
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
significativa a presena de moradores na faixa etria entre 41 e 60
anos, representando um percentual de 42,1%, enquanto que 36,1% dos usurios
das moradias possuem idades entre dezoito e quarenta anos de idade (Grfico 2,
Tabela 2).
0,8%
36,1%
42,1%
14,3%
6,8%
Menos de 18
18 a 40
41 a 60
Mai s de 60
Sem resposta
Grfico 2 Idade dos moradores
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
No Conjunto habitacional da Vila da Barca, 53,4% das moradias so
habitadas por famlias compostas de quatro a cinco pessoas. Observa-se tambm
que um expressivo percentual delas (24,8%) abriga famlias com seis ou mais
pessoas (Grfico 3), sendo 15,8% com 6 a 7 pessoas e 9% com 8 ou mais
pessoas.
113
21,8%
53,4%
15,8%
9,0%
1 a 3
4 a 5
6 a 7
8 e mai s
Grfico 3 Quantidade de moradores na habitao
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
A pesquisa, conforme o grfico 4, mostrou que a maioria dos
moradores do novo conjunto habitacional ocupa as moradias entre nove e doze
meses, representando 76,7% dos usurios.
14,3%
76,7%
0,8%
3,8%
4,5%
At 4
5 a 8
9 a 12
Mai s de 12
Sem resposta
Grfico 4 Tempo de moradia (meses)
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
O grfico 5 e a tabela 5 indicam que a grande maioria dos usurios
considera boa ou tima, o tamanho das moradias. Enquanto 24,8% esto
insatisfeitos em relao a este quesito. Dessa forma, as moradias do conjunto
atendem, em geral, um dos requisitos fundamentais da habitao saudvel: o
dimensionamento adequado.
114
58,6%
21,8%
16,5%
3,0%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 5 Tamanho da moradia
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
O grfico 6 detalha a opinio dos usurios em relao ao tamanho das
moradias, de acordo com o nmero de moradores. Percebe-se, que o grau de
satisfao elevado nos apartamentos com at 5 moradores, caindo muito
naqueles com 6 ou mais residentes.
3,0 3,4
1,4
4,8
8,3
21,8
0,0
19,7
38,1
58,4
58,7
69,0
64,8
42,8
25,0
27,6
14,1 14,3
8,3
16,5
Total 1 a 3 4 e 5 6 e 7 8 e mai s
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 6 Tamanho da moradia por nmero de moradores
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
115
12,8%
80,5%
5,3%
1,5%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 7 Iluminao natural da moradia
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
O projeto valorizou a importncia da iluminao natural, o que refletiu
numa boa aceitao dos moradores do conjunto, representado por 80,5% dos
entrevistados. Apenas 6.8% consideraram a iluminao natural da moradia como
ruim ou pssima, conforme indicao do grfico 7 e tabela 6.
Isto tambm se refletiu na questo da iluminao artificial nas reas
comuns do bloco, onde 70,7% dos consultados consideraram a iluminao boa.
Contudo neste item, aumentou o nmero de insatisfaes, originado por
problemas nas lmpadas ou por desaparecimento das mesmas, de acordo com o
que mostram o grfico 8 e a tabela 7.
6,8%
70,7%
16,5%
6,0%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 8 Iluminao artificial nas reas comuns do bloco
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
116
Nos grficos 9 e 10 e tabelas 8 e 9, observa-se uma boa aceitao dos
entrevistados nos itens ligados iluminao artificial nas vias pblicas do conjunto
e do bairro, representado por mais de 60% dos entrevistados.
4,5%
66,2%
23,3%
6,0%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 9 Iluminao artificial nas vias pblicas do conjunto
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
3,8%
63,2%
28,6%
4,5%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 10 Iluminao artificial nas vias pblicas do bairro
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
117
Com relao temperatura nas moradias, observa-se que, nos
perodos de estiagem, os ambientes das moradias ficam mais quentes, fato
confirmado pelo depoimento dos entrevistados na pesquisa que representaram
43,6%, e, que disseram que a temperatura fica ruim nos ambientes da casa,
quando h uma menor intensidade de chuvas. Trata-se de uma percentual
bastante expressivo e que pode ser considerado como um ponto problemtico do
projeto (grfico 11).
3,8%
39,1%
43,6%
13,5%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 11 Temperatura na moradia nos perodos de menor intensidade de chuvas
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Em compensao, nos perodos de maior intensidade de chuvas, os
ambientes da moradia ficam mais agradveis, conforme opinio de 72,2% dos
entrevistados, de acordo com o que mostram os grficos 11 e 12 e, tabelas 10 e
11.
118
6,0%
72,2%
18,0%
3,8%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 12 Temperatura na moradia nos perodos de maior intensidade de chuvas
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Para 70% dos entrevistados, a cozinha o ambiente mais ventilado da
habitao, em contraposio aos demais ambientes da casa. Ressaltando, que os
quartos possuem ventilao ruim, segundo manifestao de 47,4% dos usurios
consultados (Grfico 13).
3,8%
66,2%
24,8%
5,3%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 13 Ventilao na cozinha das moradias
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Dependendo da posio dos quartos, 42,9% dos entrevistados,
consideraram boa a ventilao dos dormitrios (Grfico 14, Tabela 15), contudo
47,4% classificaram como ruim e 7,5% como pssima.
119
2,3%
42,9%
47,4%
7,5%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 14 Ventilao nos quartos
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
No aspecto geral, 60,2% dos usurios entrevistados consideraram
como boa ventilao nos demais ambientes das habitaes (Grfico 15, Tabela
16).
3,0%
60,2%
30,8%
6,0%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 15 Ventilao em outros ambientes
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
As vias de circulao e as moradias do lado foram consideradas como
reas que propiciam emisses sonoras que perturbam os moradores dos
apartamentos, opinio expressada por mais de 70% dos usurios em
contrapartida, as moradias de baixo e de cima contriburam com 12,9% do
barulho que perturba os usurios (Grfico 16, Tabela 19).
120
16,4%
2,6%
10,3%
39,7%
31,0%
reas l azer e
estaci onamentos
Moradi as de bai xo
Moradi as de ci ma
Moradi as do l ado
Vi as de ci rcul ao
Grfico 16 De onde vem o barulho que lhe perturba
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
3,0%
67,6%
22,6%
6,8%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 17 Soluo de escadas externas de acesso s moradias
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
As solues de escadas, segundo a pesquisa foram aprovadas por
cerca de 70% dos entrevistados, tanto no aspecto de acesso s moradias como
tambm na soluo de acessos a quartos e banheiros. Verificou-se, contudo, que
o percentual de moradores insatisfeitos bastante elevado sendo que, (22,6%)
consideraram a soluo ruim e 6,8% pssima, conforme expressam os grficos
17 e 18 e tabela 20.
121
6,0%
62,4%
24,1%
7,5%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 18 Soluo de escadas para acesso a quartos e banheiros
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
6,0%
54,2%
30,8%
9,0%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 19 Localizao dos sanitrios na moradia
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
A posio dos sanitrios foi considerada boa por mais de 50% dos
usurios, todavia 30,8% dos entrevistados consideraram que os sanitrios ficaram
numa posio ruim (Grfico 19, Tabela 22).
Com relao ao aspecto quantidade de sanitrios na moradia, usurios
de habitaes com at sete pessoas, disseram que o nmero de sanitrios
aceitvel, o que representou mais de 65% das pessoas entrevistadas. Todavia,
famlias com mais de sete membros reclamaram da quantidade de sanitrios nas
moradias, o que representou 66,7% dos consultados (Grfico 20, Tabela 23).
Este fato refletiu a opinio dos usurios no item referente ao nmero de
dormitrios da moradia, onde famlias com mais de seis pessoas opinaram que o
nmero de quartos insuficiente, o que representou mais de 90% de pessoas
entrevistadas, pertencentes a famlias com mais de sete membros (Grfico 21,
Tabela 24).
122
72,4
78,9
66,7
33,3
28,6 27,6
21,1
33,3
66,7
71,4
Total 1 a 3 4 e 5 6 e 7 8 e mai s
No
Si m
Grfico 20 Quantidade de sanitrios por n de pessoas na moradia
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
54,6
66,2
38,1
8,3
45,1
41,4
33,8
61,9
91,7
54,9
Total 1 a 3 4 e 5 6 e 7 8 e mai s
No
Si m
Grfico 21 Quantidade de dormitrios por n de pessoas na moradia
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
Por localizar-se em rea onde a segurana pblica ainda precria,
47,3% dos entrevistados disseram que as moradias so boas, em contrapartida
42,9% dos usurios consultados, opinaram desfavoravelmente em relao s
habitaes dizendo que, no aspecto segurana contra terceiros, os apartamentos
so ruins, conforme indicao no Grfico 22 e Tabela 25.
123
3,0%
47,3%
42,9%
6,8%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 22 Segurana das moradias contra terceiros
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
0,0%
23,3%
53,4%
23,3%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 23 Segurana dos blocos contra incndio
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Para 53,4% dos moradores, os blocos no oferecem segurana contra
incndio. Curiosamente 23,3% dos entrevistados disseram que a segurana
contra incndio pssima e outros 23,3% opinaram que a segurana boa
(Grfico 23, Tabela 26).
Por outro lado, 57,1% dos moradores consideram boa a segurana das
moradias contra acidentes. Neste item, 35,3% dos consultados disseram que a
segurana das moradias ruim (Grfico 24, Tabela 27).
124
0,8%
57,1%
35,3%
6,8%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 24 Segurana das moradias contra acidentes
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
A maioria dos entrevistados considera ruim a adaptao da moradia ao
uso do deficiente fsico. um reflexo da soluo projetual e tipologia adotada, que
inseriu escadas, como nica opo de acesso aos diversos ambientes da moradia
(Grfico 25, Tabela 28).
2,3%
25,6%
48,0%
24,1%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 25 Adaptao da moradia ao uso do deficiente fsico
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
125
Para os usurios, de conformidade com o grfico 26, a aparncia
externa dos blocos considerada como boa por cerca de 70% dos entrevistados,
contrastando com 22,6% dos usurios, que consideram os blocos com uma
aparncia externa entre ruim e pssima (Grfico 26, Tabela 29).
8,3%
69,1%
17,3%
5,3%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 26 Aparncia externa dos blocos
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Segundo a pesquisa, a maioria dos entrevistados considera boa a
dimenso dos ambientes das habitaes. Os usurios cujas famlias possuem
mais de sete pessoas consideraram pssima a dimenso dos ambientes. Sendo
que no aspecto sala de visita, 65,4% est satisfeitos, contra 34,6% que esto
insatisfeitos (Grfico 27, Tabela 30).
6,0%
59,4%
25,6%
9,0%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 27 Dimenses da sala de visita das moradias
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
126
O Grfico 28 e a Tabela 31 indicam que, 69,1% dos usurios esto satisfeitos
com as dimenses dos dormitrios, mas 28,9% esto insatisfeitos. A insatisfao
est concentrada em moradias com mais de seis pessoas.
5,3%
63,8%
25,6%
5,3%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 28 Dimenses dos dormitrios
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Os grficos 29 e 30 e as tabelas 32 e 33 apontam para uma satisfao
dos usurios, com relao s dimenses das cozinhas e dos banheiros, sendo
que os banheiros tiveram ndices de maior aceitao.
7,5%
58,7%
23,3%
10,5%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 29 Dimenses da cozinha
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
127
3,0%
54,1%
33,1%
9,8%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 30 Dimenses do banheiro
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Como o sistema de abastecimento de gua potvel do conjunto est
interligado ao sistema que atende ao entorno do conjunto e por extenso ao
bairro, o abastecimento de gua potvel do conjunto sofre constantes
interrupes gerando desconforto aos usurios (Grfico 31, Tabela 34).
5,3%
35,6%
32,6%
26,5%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 31 Abastecimento de gua potvel
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
A maioria dos moradores considera que o sistema de energia eltrica
do conjunto bom. Contudo mais de 35% dos entrevistados desaprovam o
sistema de energia eltrica do conjunto (Grfico 32, Tabela 35).
128
3,0%
60,2%
21,1%
15,8%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 32 Sistema de energia eltrica do conjunto
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
Segundo os grficos 33 e 34 e tabelas 36 e 37, a maioria dos
entrevistados considera bom o sistema de coleta de lixo e de esgotamento
sanitrio do conjunto. Este dado reflete a preocupao do projeto, de dotar o
conjunto de uma Estao de Tratamento de Esgoto (ETE).
6,8%
64,7%
11,3%
17,3%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 33: Sistema de esgotamento sanitrio e drenagem do conjunto
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008)
129
9,0%
63,2%
18,0%
9,8%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 34 Coleta de lixo do conjunto
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
A maioria dos entrevistados comparou a nova moradia em relao
antiga, e, consideraram que a atual habitao muito melhor que a anterior
(Grfico 35, Tabela 38).
67,7%
27,1%
3,0%
2,3%
Mui to mel hor
Um pouco mel hor
Um pouco pi or
Mui to pi or
Grfico 35 A nova moradia comparada com a antiga
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
No mbito da nova moradia, a maioria tambm dos usurios
consultados concordou que os ambientes da habitao atendem as necessidades
dos moradores (grfico 36).
130
82,8
78,9
76,2
58,3
14,3
17,2
21,1
23,8
41,7
85,7
1 2 3 4 5
No
Si m
Grfico 36 Os ambientes atendem as necessidades dos moradores
Fonte: dados da pesquisa de campo (2008)
O estudo apontou para uma satisfao dos entrevistados, que
representaram 91% dos moradores consultados, as insatisfaes ficaram por
conta das habitaes que possuam mais de seis pessoas, todavia o grau de
satisfao foi sempre superior a 55%.
Por outro lado, 88% dos usurios consultados disseram que tem
interesse em reformar os seus apartamentos e 74,4% dos entrevistados
declinaram a inteno de no trocar de moradia. Em contrapartida, mais de dez
apartamentos foram vendidos, revelia dos gestores municipais, responsveis
pela construo e administrao do conjunto habitacional.
3,8%
21,1%
9,0%
66.1%
ti ma
Boa
Rui m
Pssi ma
Grfico 37 Tipo de Parede
Fonte: dados da Pesquisa de campo (2008)
131
Com relao ao tipo de parede, o estudo apontou para uma aceitao
de 66,1% considerando que o sistema utilizado na construo das habitaes
uma tecnologia desconhecida para a maioria dos usurios. Todavia o sistema de
paredes autoportantes desagradou um nmero significativo de pessoas (21,1%).
Talvez pela impossibilidade de efetuarem reformas e alteraes nos diversos
ambientes da moradia, recomendados que foram, para os riscos estruturais que
as alteraes possam representar, quando da abertura indiscriminada de novos
vos nos paramentos de paredes (grfico 37).
A pesquisa identificou que os usurios esto satisfeitos com alguns
aspectos relacionados nova habitao, mormente no que se refere localizao
do imvel (41,35%) e tambm com a estrutura de saneamento do conjunto
(18,79%).
Todavia, alguns aspectos desfavorveis foram relatados pelos
usurios, os mais significativos dizem respeito precariedade do abastecimento
de gua potvel no conjunto (28,57%), taxa de iluminao pblica (14,28%) e
segurana das moradias (13,53%).
132
8 A TICA DA HABITAO SAUDVEL
Analisando os resultados sob a tica do conceito de habitao
saudvel, o conjunto Vila da Barca atendeu aos requisitos do conceito de forma
diferenciada plena.
Foi atendido satisfatoriamente, em primeiro lugar, o quesito equilibrada
relao de vizinhana, pois a separao entre as diversas unidades habitacionais
est claramente definida. O aspecto da funcionalidade est perfeitamente
atendido atravs da organizao dos ambientes, os quais esto de acordo com os
preceitos da setorizao e integrao dos diversos espaos internos das
moradias facilitando sobremaneira o desempenho das atividades nas habitaes.
Com relao ao aspecto infra-estrutura, o estudo indicou um
atendimento parcial, principalmente no que diz respeito ao fornecimento precrio
de gua potvel nas habitaes e a questo da segurana pblica.
Ficou a desejar os aspectos da flexibilidade, tendo em vista no ser
possvel realizar alteraes construtivas nos ambientes das unidades
habitacionais sem que o morador corra risco.
A pesquisa deixa transparecer,
Nas novas moradias, os usurios tm de arcar com os custos de
manuteno, principalmente com taxas relativas energia eltrica, gua potvel,
coleta de lixo e esgoto sanitrio. Considerando que a maioria dos usurios est
localizada nas faixas de at trs salrios mnimos, algumas famlias no esto
podendo arcar com os custos dos impostos, no tendo alternativa seno vender
que os moradores esto satisfeitos, em
sua maioria, pela obteno da posse de sua prpria moradia, mormente nos
aspectos relacionados localizao das moradias, espaos de lazer e
saneamento bsico. Contudo existem algumas insatisfaes, ora pelas
dimenses das habitaes, ora pelas tipologias adotadas, que ocasionaram
partidos diferentes no que concerne ao espao interno dos apartamentos; todavia,
o que chama ateno para o aspecto desfavorvel, o item ligado ao
abastecimento de gua potvel, seguido, da questo de iluminao e segurana
pblica.
133
seus apartamentos por valores irrisrios, e, incontinenti, voltou a ocupar, as
precrias habitaes alugadas nas periferias da cidade. No caso especfico do
Conjunto Vila da Barca, aproximadamente dez apartamentos foram vendidos ou
repassados a terceiros.
Foi observado, tambm, que grande percentual de moradores do
conjunto, tem interesse em reformar suas residncias, o que denota certa
insatisfao com o espao de moradia. Contudo, se estas expectativas forem
concretizadas, o projeto original tende a se descaracterizar se no houver
orientao tcnica dos gestores, no sentido de no favelizar o conjunto.
Por outro lado, os moradores denotaram, em geral, um sentimento de
satisfao por ocuparem espaos habitacionais mais saudveis, se comparados
com as suas antigas moradias, caracterizadas por falta de infra-estrutura
habitacional, sujeitas proliferao de doenas e riscos de acidentes, alm da
insegurana pblica que preocupava as famlias, agora alojadas em ambientes
mais saudveis.
134
9 CONSIDERAES FINAIS
Por mais que os governos estejam preocupados em diminuir os ndices
do dficit habitacional, o problema da urbanizao acelerada continua
acontecendo em todas as grandes cidades, principalmente no Brasil. O espao
urbano das cidades continua a crescer de forma desordenada, aliada questo
da precariedade de infra-estrutura urbana, neste ponto, a necessidade de moradia
torna-se candente. A grande leva de pessoas oriundas das zonas rurais e
municpios vizinhos, que chegam s grandes cidades no af de conseguirem
oportunidades de emprego e renda, tem gerado necessidades de novas moradias
para estes contingentes humanos.
Os espaos encontrados para as ocupaes de novas residncias
esto localizados, quase sempre, em assentamentos precrios situados nas
zonas metropolitanas das grandes cidades. Via de regra, so locais desprovidos
de servios de saneamento bsico e que geram, por conseguinte, problemas para
os usurios destes logradouros, mormente no que se refere aos deslocamentos
para o trabalho, escola, posto de sade e centro comercial das cidades.
Alm da falta de infra-estrutura, a condio precria das moradias
nestas zonas, caracteriza o isolamento e a excluso social da populao carente
das cidades. O resultado do crescimento desordenado das cidades, sem infra-
estrutura, de tal forma que possa garantir a necessidade do cidado leva ao
entendimento da funo social da habitao, como o espao, onde o sonho
familiar concretizado no sentido da realizao das atividades do dia a dia.
Por entender que o dficit habitacional uma realidade no pas, cabe
aos profissionais ligados rea de construo civil e do projeto arquitetnico,
buscar solues tcnicas viveis, no sentido de amenizar as carncias sociais
que afligem grande parte da populao brasileira, que est necessitando de
moradias confortveis e econmicas.
A pesquisa aponta para uma relativa satisfao da maioria dos
moradores, contudo seria importante que os responsveis pelas polticas pblicas
135
do pas sejam convencidos de que o conforto das habitaes deve fazer parte dos
estudos projetuais de habitaes de interesse social.
As diversas tipologias adotadas nos projetos habitacionais, em
algumas circunstancias, ocasionam problemas maiores do que os verificados com
a funcionalidade das unidades habitacionais, pois no se preocupam na maioria
dos casos, com a localizao, disposio e tamanho dos ambientes. Existem
reclamaes, apesar de isoladas, quanto ao uso dos materiais, aliados ao
processo construtivo.
Todo projeto arquitetnico direcionado faixa de interesse social
constitui-se de um conjunto de decises que, quase sempre, precisam privilegiar
alguns aspectos em detrimentos de outros, em razo da forte limitao dos
recursos disponveis. O conjunto habitacional Vila da Barca, a julgar pela opinio
da maioria dos seus moradores, conseguiu uma equao projetual que pode ser
considerada bastante satisfatria, especialmente no tocante aos requisitos da
moradia saudvel.
Seria interessante, contudo, que nos novos projetos destinados a essa
faixa de pblico, houvesse uma preocupao no que tange ao uso de materiais
construtivos de baixo impacto ambiental, e, que atendessem precipuamente os
ditames de sustentabilidade, desempenho, qualidade e conforto da moradia.
Habitao de Interesse Social, alm de ser uma tentativa de diminuir o dficit
habitacional tem necessariamente de atender aos princpios de habitao
saudvel oportunizando melhor qualidade de vida aos usurios.
Seria desejvel, que os projetos de habitao de interesse social
caminhassem no sentido de incorporarem o uso de formas alternativas e
sustentveis de fontes energticas que produzissem melhor desempenho na
qualidade de vida dos usurios, neste ponto, deve ser ressaltado a possibilidade
da utilizao de painis solares ou o aproveitamento da energia elica como
forma de aperfeioar o baixo consumo de energia nas habitaes, alm da
utilizao e reaproveitamento de gua de chuva.
136
REFERNCIAS
ABIKO, Alex Kenya. Autoconstrutibilidade. Anais do Seminrio Nacional sobre
Desenvolvimento Tecnolgico. So Paulo, 1995.
______. Casa e Trabalho. Inovao Empresarial, v.8, p.12-13, So Paulo, 1999.
AGENDA 21 / Cmara dos Deputados / Centro de Documentao e Informao /
Coordenao de Publicaes Braslia, 1995.
ARRETCHE. M. Interveno do Estado e o Setor Privado: modelo brasileiro de
poltica habitacional. Revista Espao & Debates, n 31, 1990.
AZEVEDO, S. Vinte e dois anos de poltica de habitao popular (1964-1986):
criao, trajetria e extino do BNH. Revista de Administrao Pblica, v.22,
n.4, out./dez.1988.
______. O desempenho do poder pblico na rea habitacional: um breve
retrospecto. In: Dficit habitacional no Brasil. Belo Horizonte: Fundao Joo
Pinheiro, 1995.
AZEVEDO, Aluisio. O Cortio. So Paulo: Editora Zero Hora, 1998.
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatstica Aplicada s Cincias Sociais, 5 ed.
Florianpolis: Editora da UFSC, 2003.
BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: um Hausmann Tropical. Rio de
Janeiro: Coleo Biblioteca Carioca, Vol. II Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Esporte, 1992.
BNH. BNH: Projetos Sociais. Banco Nacional de Habitao. Rio de Janeiro,
1979.
______. Avaliao e Perspectivas. Rio de Janeiro, 1974.
BOLAFFI, Gabriel. Habitao em Questo. So Paulo, 1983.
137
______. A Produo Capitalista da Casa (e na cidade) no Brasil. So Paulo:
Alfa-Omega, 1979.
______. A Casa das Iluses. So Paulo, 1977.
______. Habitao e Urbanismo, o problema e o falso problema. So Paulo,
1977.
BONDUKI, Nabil. Origens da Habitao Social no Brasil. So Paulo: Estao
Liberdade, 2004.
______. (org). As Prticas Bem-sucedidas em Habitao, Meio Ambiente e
Gesto Urbana nas Cidades Brasileiras. SP: Studio Nobel, 1996.
______.Habitar So Paulo: reflexes sobre a gesto urbana. So Paulo:
Estao Liberdade, 2000.
BOTEGA, Leonardo da Rocha. De Vargas a Collor: urbanizao e poltica
habitacional no Brasil. Espao Plural, Dossi Cidades, 2007.
BRASIL. Constituio (1988). Emenda constitucional n. 26, de 14 de fevereiro
de 2000. So Paulo: Saraiva, 2005.
BUENO, Mariano. O Grande Livro da Casa Saudvel. So Paulo: Editora Roca,
1995.
BUSS, P. M. Promoo da Sade Pblica. Rio de Janeiro: ENSP, 1998.
______. Qualidade de Vida e sade. Recife: Abrasco, 2000.
CASTRO, Jorge (org); LACERDA, Leonardo; PENNA, Ana Claudia. Avaliao
Ps-Ocupao APO: Sade nas Edificaes da FIOCRUZ. Rio de Janeiro:
FIOCRUZ, 2004.
CBIC. Propostas para a poltica Nacional de Habitao, 2008.
138
CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortios e epidemias na corte imperial.
So Paulo: Companhia das Letras, 1999.
COELHO, Will Robson. O Dficit das Moradias: instrumento para avaliao e
aplicao de programas habitacionais. USP. So Carlos, 2002.
COHEN, SC. Et al. Habitao Saudvel no SUS. Rede Brasileira de Habitao
Saudvel. ENSP, Rio de Janeiro, 2003.
COHEN, SC & PERUCCI, LCA. Relatrio Rede Brasileira de Habitao
Saudvel perodo: 03/2002 a 07/2003. ENSP. Rio de Janeiro, 2003.
______. CYNAMON,SC & KLIGERMAN, DC. Verso Preliminar do estudo e
desenvolvimento dos padres regionais de habitabilidade no Brasil. Rede
Brasileira de Habitao Saudvel. ENSP. Rio de Janeiro, 2003.
COHEN, SC. Habitao e Sade como instrumentos de polticas pblicas
saudveis e concretizao de uma estratgia de promoo de sade. Escola
Nacional de Sade Pblica, Rio de Janeiro, 2000.
COMAS, Carlos Eduardo Dias. O Espao da arbitrariedade: consideraes
sobre o conjunto Habitacional BNH e o Projeto da cidade
brasileira. In: Projeto, n.91, set. 1986.
CORONA, Eduardo; LEMOS Carlos. Dicionrio da Arquitetura Brasileira. So
Paulo: Edart, 1972, p. 38 a 198.
CORRA, Antnio Jos Lamaro. Qualidade de vida urbana na Amaznia: os
casos de Marapanim e Vila dos Cabanos. Belm: UNAMA, 2001.
CORREA, Roberto Lobato. O Espao Urbano. So Paulo: Atica, 1989.
CORREIA, Telma de Barros. Moradia e Trabalho: o desmonte da cidade
empresarial. Recife: UFPE, 1997.
COSTA, Emilia Viotti da. O progresso e o trabalhador livre. In: HOLANDA, Srgio
B. (org). O Brasil Monrquico. So Paulo: Editora Difel, 1982.
139
DAMATTA, Roberto. A Casa & a Rua. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara-
Koogan, 1995.
DUARTE, Cristvo Fernandes. Asilo da Mendicidade em Belm do Par: a
Pobreza Urbana como contra-face da Bellpoque na Amaznia.
ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 12/2007 Belm. Anais. Belm: Campus
Universitrio do Guam, 2007.
ENGELS, Friedrich. A Questo da Habitao. SP: Editora Acadmica, 1988.
FERNANDES, E. Perspectivas para a renovao das polticas de legalizao de
favelas, In: cadernos IPPUR. Rio de Janeiro, ano XV, n 1, 2001, p.9-38.
FERNANDES, Florestan. Classes Sociais na Amrica Latina. So Paulo: Zahar,
1981.
FERNANDES, Marlene. Agenda Habitat para os Municpios. Rio de Janeiro:
IBAM, 2003.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Dicionrio da Lngua
Portuguesa. 1 Edio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, p.82.
FUNDAO IBGE. Censo Demogrfico 2000. Braslia, 2003.
FUNDAO JOO PINHEIRO. Dficit habitacional no Brasil. Belo Horizonte,
1995.
______. Dficit Habitacional no Brasil. Centro de Estatstica e Informaes. 2
ed. reimpresso - Braslia, 2006.
GOHN, Maria da Glria. Movimentos Sociais e Luta pela Moradia. SP: Edies
Loyola, 1991.
GONALVES, R. Um Mapeamento do Dficit Habitacional Brasileiro. 1981-95.
Estudos Econmicos da Construo, v.2, n.3, p.29-51, 1997.
140
GONALVES, J.P. Acesso ao financiamento para a moradia pelos extratos
de mdia e baixa renda: a experincia recente. CEPAL, 1997.
HAHNER, June. Pobreza e Poltica: os pobres urbanos no Brasil: 1870-1920.
Braslia: UNB, 1993.
IBGE. Censo Demogrfico 2000. Braslia, 2003.
IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Sistema Financeiro de
Habitao. Rio de Janeiro, 1974.
IDESP Instituto do Desenvolvimento Econmico-Social do Par. Avaliao das
Intervenes do poder pblico na questo habitacional no Par. Belm,
1990.
IPEA. As polticas federais de desenvolvimento de desenvolvimento urbano em
1987. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA. Polticas Pblicas, n
15. Braslia, 1988.
______. As Polticas federais de desenvolvimento urbano em 1988. IPEA.
Polticas Pblicas n 19. Braslia, 1989.
______. As Polticas federais de desenvolvimento urbano. IPEA. Polticas
Pblicas. Braslia, 1999.
______. As Polticas federais de desenvolvimento urbano. IPEA. Polticas
Pblicas. Braslia, 2007.
KOWARICK, Lucio. A Espoliao Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
LANNA, Ana Lucia Duarte. Uma cidade na transio. Santos: 1870-1913. So
Paulo: Hucitec, Prefeitura Municipal de Santos, 1996.
LEMOS, Carlos. Histria da Casa Brasileira. So Paulo: Contexto, 1989.
141
LOBO, Eullia Maria Lameyer. Histria do Rio de Janeiro (do capital comercial
ao capital industrial e financeiro). Rio de Janeiro: IBMEC, 1978.
LORENZETTI, Maria Silvia Barros. A questo habitacional no Brasil.-
Consultoria Legislativa da Cmara dos Deputados. Braslia, 2001.
LUCENA, J. M. P. O mercado habitacional no Brasil. Rio de Janeiro: EPGE-
FGV, 1986.
MAHFUZ, Edson. O Clssico, o Potico e o Ertico e outros Ensaios. Coleo
Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis,
2002.
_______. Fala sobre as fachadas contemporneas. Materiais de projeto.
Revista AU. PINI. Edio 182, maio 2009. Disponvel em:
<http://www.revistaau.com.br>.Acesso em: 27.07.2009
MARICATO, Ermnia. A Produo Capitalista da Casa (e da Cidade) no Brasil
Industrial. SP: Editora Alfa-Omega, 1979.
______. Poltica Habitacional no Regime Militar: do milagre brasileiro crise
econmica. Petrpolis: Vozes, 1987.
MARTINEZ, A. C. Ensaio sobre projeto. Braslia: Editora Universidade de
Braslia, 2000.
MARTUCCI, Ricardo. Projeto tecnolgico para edificaes habitacionais:
Utopia ou Desafio? 2002 f. Dissertao (Doutorado em Arquitetura e
Urbanismo). Tese de Doutorado apresentada Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo-USP, So Paulo, 1990.
MEDEIROS, Jorge Frana da Silva. Territrios da Cidade, Territrios de
Trabalho: Uma anlise do Processo de (Des)Organizao do Centro
Comercial de Belm. ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 12/2007 Belm.
Anais. Belm: Campus Universitrio do Guam, 2007.
MOTTA, D. (org.) Gesto do uso do solo e disfunes do crescimento
urbano: avaliao e recomendao para a ao pblica. IPEA, Braslia, 1998.
142
MOURA, ride. Poliedros Regulares. O projeto da Vila da Barca. Revista AU.
PINI. Edio 170, maio 2008. Disponvel em: <http://www.revistaau.com.br>.
Acesso em: 27.07.2009
NEVES, Margarida de Souza. Os Cenrios da Repblica. O Brasil na virada do
sculo XIX para o XX. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003.
OPAS. Guias Metodolgicos para Iniciativa de Vivienda Saludable, 2000.
ORNSTEIN, Sheila W. Avaliao Ps-Ocupao do Ambiente Construdo. SP:
Studio Nobel-Edusp, 1992.
______. BRUNA, Gilda Collet; Romero, Marcelo de Andrade. Ambiente
Construdo & Comportamento: Avaliao Ps-Ocupao e a Qualidade
Ambiental. SP: Nobel: FAUUSP: FUPAM, 1995.
PENTEADO, Antonio Rocha. Belm do Par (Estudo de Geografia Urbana). 1
Vol. UFPa, 1968.
REDE BRASILEIRA DE HABITAO PARA A SADE. Documento Base I
Seminrio Internacional de Eng de Sade Pblica, Recife, 2002.
RIBEIRO, Luiz Csar de Queiroz. A Crise da Moradia nas Grandes Cidades: da
questo da habitao reforma urbana. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.
______. O Que Questo da Moradia. SP: Editora Brasiliense, 1983.
RODRIGUES, Arlete Moiss. Moradia nas cidades brasileiras. So Paulo:
Contexto, Edusp, 1988.
ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislao, poltica urbana e territrios na
cidade de So Paulo. So Paulo: Nobel, 1997.
ROSSI, A.M.G. Novos Conceitos em Tipologia e Tecnologia na Construo
Habitacional com Apoio Governamental: uma Comparao entre Brasil e
Alemanha. Dissertao (Doutorado). COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, 1999.
143
ROSSI, A.M.G.; BASSALO, J.; ANDRADE, P.; MELLO, F. Adensamento
horizontal como alternativa tipolgica habitacional e urbana. Anais do
ENTAC. So Paulo, 2004.
SANTOS, Cludio Hamilton M. Polticas Federais de Habitao no Brasil:
1964/1998. IPEA, Braslia, 1999.
SANTOS, Daniela Soares dos. O Cortio: Higienizao de casas e Formao
de Almas. Uberlndia, 2006.
SO PAULO (Municpio) Secretaria da Habitao e do Desenvolvimento
Urbano. Urbanizao de Favelas. So Paulo, 1992.
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAO Ministrio das Cidades. Poltica
Habitacional e a Integrao Urbana de Assentamentos Precrios. Braslia,
2008.
SEPURB. Poltica Nacional de Habitao. Braslia, 1996.
______.Poltica de habitao: aes do governo federal jan./95 a jun./98.
Braslia, 1998.
SERRA, Daisy. Pesquisadora e coordenadora setorial do Patrimnio Cultural de
Campinas, 2002.
SEVCENCO, Nicolau. A Literatura como Misso. So Paulo: Brasiliense, 1983.
SILVA, Elvan. Geometria Funcional dos Espaos da Habitao. Porto Alegre:
Editora a Universidade, 1982.
SILVA, Maria Anglica Covelo; JOBIM, Margareth de Souza Schmidt. A
Avaliao Ps Ocupao como mtodo de apoio introduo de inovaes
tecnolgicas, 2002.
SUDAM. Monografia das Baixadas de Belm: subsdios para um projeto de
recuperao. 2 Ed. Belm, 1976.
144
TEIXEIRA, MB. Ateno primria ambiental: o foco na experincia local. Debates
Scio-Ambientais 3 (8); 6-7. 1997.
VALLADARES, Lcia do Prado. (org.) Habitao em Questo. SP: Zahar
Editores, 1979.
______. A Gnese da Favela Carioca. Revista Brasileira de Cincias Sociais
vol. 15, n 44, Rio de Janeiro, 1991.
______. Repensando a Habitao no Brasil. SP: Zahar Editores, 1983.
VILLAA, Flavio. O que todo cidado precisa saber sobre Habitao. So
Paulo, 1979.
______. Uma contribuio para a histria do planejamento urbano no Brasil.
So Paulo: Edusp, 1999.
Yin, Robert K. Estudo de Caso Planejamento e Mtodos. SP: Artmed Editora,
2003.
.
145
APNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
146
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TTULO DA PESQUISA Avaliao Ps-Ocupao em Conjuntos
Habitacionais de Interesse Social: O Caso da Vila da Barca (Belm-Pa) .
Voc est sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima
citado. O documento abaixo contm todas as informaes necessrias sobre a
pesquisa que estamos fazendo. Sua colaborao neste estudo ser de muita
importncia para ns, mas se desistir a qualquer momento, isso no causar
nenhum prejuzo a voc.
Eu,_________________________________,residente e domiciliado
na,__________________bairro:_________municpio de:________________,
portador da Cdula de identidade:_________e inscrito no
CPF:_________________, nascido em:_________________, no
dia:____/_____/_______, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontnea
vontade em participar como voluntrio(a) do estudo Avaliao Ps-Ocupao
em Conjuntos Habitacionais de Interesse Social: O Caso da Vila da Barca
(Belm-Pa)
Estou ciente que:
I) Informar sobre a pesquisa a ser realizada citando os objetivos e a metodologia
da pesquisa de forma reduzida;
II) Os dados sero coletados em moradias, atravs de questionrio.
III) No sou obrigado a responder as perguntas realizadas no questionrio de
avaliao;
IV) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaborao neste estudo no
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicao;
V) A minha participao neste projeto contribuir para acrescentar literatura
dados referentes ao tema.
VI) No receberei remunerao e nenhum tipo de recompensa nesta pesquisa,
sendo minha participao voluntria;
147
VII) Os resultados obtidos durante a pesquisa sero mantidos em sigilo;
VIII) Concordo que os resultados sejam divulgados em publicaes cientficas,
desde que meus dados pessoais no sejam mencionados;
IX) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos
resultados parciais e finais desta pesquisa.
( ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.
( ) No desejo conhecer os resultados desta pesquisa.
Belm,___/____/ 2008
Declaro que obtive todas as informaes necessrias, bem como todos os
eventuais esclarecimentos quanto s dvidas por mim apresentadas.
Testemunha 1 : _______________________________________________
Nome / RG / Telefone
Testemunha 2 : ______________________________________________
Nome / RG / Telefone
Responsvel pelo Projeto: Prof. Dr. Marco Aurlio Arbage Lobo.
Telefone para contato: 091-8111-2286
Pesquisador responsvel: Mariano de Jesus Farias Conceio.
Telefone para contato: 091 8146-7867
148
APNDICE B - Questionrio aplicado aos moradores
149
UNAMA - Universidade da Amaznia
Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano.
Projeto Vila da Barca.
QuestionrioN:
Data de aplicao:
Bloco:
Apto.:
Questionrio Avaliativo de Ps-ocupao
Anlise Comportamental
01 Dados do Chefe de Famlia.
Sexo: [ ] M [ ] F
Idade: ______________
Renda: R$___________
02 Quantas pessoas moram na habitao?
[ ] pessoas
03 H quanto tempo voc usa a nova habitao?
[ ] anos [ ] meses
04 Como voc qualifica a sua nova habitao quanto ao tamanho?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Iluminao Natural e Artificial Pblica
05 Como voc qualifica a iluminao natural de sua moradia?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
06 Como voc classifica a sua moradia em relao iluminao artificial nas
reas comuns do bloco?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
150
07 Como voc classifica a sua moradia em relao iluminao artificial nas
vias pblicas do conjunto?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
08 Como voc classifica a sua moradia em relao iluminao artificial nas
vias pblicas do bairro?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Conforto Higro-Trmico nos perodos de maior e menor intensidade de
chuvas
09 Como voc considera a temperatura de sua moradia nos perodos de menor
intensidade de chuvas?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
10 Como voc considera a temperatura de sua moradia nos perodos de maior
intensidade de chuvas?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
11 Voc j observou focos de umidade na sua moradia?
[ ] Sim [ ] No
12 Em caso positivo, qual o perodo do dia?
[ ] manh [ ] tarde [ ] noite
Ventilao Natural
13 Como voc classifica a sua moradia em relao ventilao na cozinha?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
151
14 Como voc classifica a sua moradia em relao ventilao nos quartos?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
15 Como voc classifica a sua moradia em relao ventilao dos outros
ambientes?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Acstica
16 Voc j observou na sua moradia algum tipo de barulho vindo de reas
externas ou vizinhas?
[ ] Sim [ ] No
16.1 Em caso de sim, como voc o considera?
[ ] Insuportvel
[ ] Suportvel
17 De onde vem o barulho que lhe perturba?
[ ] Das moradias de baixo
[ ] Das moradias de cima
[ ] Das moradias do lado
[ ] Das reas de lazer e estacionamentos
[ ] Das vias de circulao
Do Conjunto como um todo
18 Como voc avalia a soluo de escadas externas de acesso s moradias?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Justifique:
19 Como voc avalia a soluo de escadas nas moradias para acesso a quartos
e banheiros?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Justifique:
152
20 Como voc avalia a localizao dos sanitrios na sua moradia?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Justifique:
21 A quantidade de sanitrios suficiente?
[ ] Sim [ ] No
22 A quantidade de dormitrios suficiente?
[ ] Sim [ ] No
23 Quanto segurana das moradias contra terceiros, voc avalia como?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
24 Quanto segurana dos blocos contra incndio, voc avalia como?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
25 Quanto segurana das moradias contra acidentes, voc avalia como?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
26 Como voc avalia a adaptao da moradia ao uso pelo deficiente fsico?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Justifique:
27 Quanto aparncia externa dos blocos. Qual a sua opinio?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
Justifique:
153
28 Como voc avalia as dimenses da sala de sua moradia?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
29 Como voc avalia as dimenses dos dormitrios de sua moradia?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
30 Como voc avalia as dimenses da cozinha de sua moradia?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
31 Como voc avalia as dimenses do banheiro de sua moradia?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
32 Qual a sua opinio sobre o abastecimento de gua potvel?
[ ] timo
[ ] Bom
[ ] Ruim
[ ] Pssimo
33 Qual a sua opinio sobre o sistema de energia eltrica do conjunto?
[ ] timo
[ ] Bom
[ ] Ruim
[ ] Pssimo
34 Qual a sua opinio sobre o sistema de esgotamento sanitrio e drenagem do
conjunto?
[ ] timo
[ ] Bom
[ ] Ruim
[ ] Pssimo
35 Qual a sua opinio sobre a coleta de lixo do conjunto?
[ ] tima
[ ] Boa
[ ] Ruim
[ ] Pssima
154
36 Comparando com sua antiga moradia, como voc avalia a sua nova
habitao?
[ ] Muito melhor
[ ] Um pouco melhor
[ ] Um pouco pior
[ ] Muito pior
Justifique:
37 Voc est satisfeito (a) com a sua nova moradia?
[ ] Sim [ ] No
Justifique:
38 Os ambientes de sua moradia atendem as suas necessidades?
[ ] Sim [ ] No
Justifique:
39 Na sua opinio as reas de lazer e praas satisfazem aos desejos dos
moradores do conjunto?
[ ] Sim [ ] No
40 Voc tem interesse em reformar a sua moradia?
[ ] Sim [ ] No
Justifique:
41 Voc trocaria a sua moradia por outra em um outro bairro ou cidade?
[ ] Sim [ ] No
Justifique:
42 Qual a sua opinio sobre o tipo de parede utilizado na construo das
moradias?
[ ] timo
[ ] Bom
[ ] Ruim
[ ] Pssimo
43 -Indique os trs aspectos mais favorveis da sua moradia.
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) __________________________________________________________
44 Indique os trs aspectos mais desfavorveis de sua moradia.
155
APNDICE C - Tabelas Suplementares
156
156
Tabela 1: Renda mdia mensal familiar, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Estratos Frequncia Pct. Pct. Acum.
At 1/2 SM 11 8,3 8,3
Mais 1/2 a 1
SM 53 39,8 78,2
Mais 1 a 2
SM 40 30,1 38,3
Mais de 2 SM 16 12,0 90,2
Sem resposta 13 9,8 100,0
Total 133 100,0
157
Tabela 2: perfil etrio dos responsveis por domiclios, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Estratos Frequncia Pct. Pct. Acum.
Menos de 18 1 0,8 0,8
18 a 40 48 36,1 36,9
41 a 60 56 42,0 78,9
Mais de 60 19 14,3 93,2
Sem resposta 9 6,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: Pesquisa de campo
Tabela 3: frequncia dos gneros dos responsveis por domiclios, Conjunto Vila
da Barca, 2008.
Tipo Frequncia Pct.
Masculino 52 39,1
Feminino 81 60,9
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
1.3_Gnero
Tipo Frequncia Pct. Pct. Acum.
Masculino 52 39,1 21,8
Feminino 81 60,9 75,2
Total 133 100,0 89,5
8 e mais 12 10,5 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
158
Tabela 4: domiclios por nmero de moradores, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Estratos Frequncia Pct. Pct. Acum.
At 4 5 3,8 3,8
5 a 8 19 14,3 18,1
9 a 12 102 76,6 94,7
Mais de 12 6 4,5 99,2
Sem resposta 1 0,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 5: opinio dos moradores quanto ao tamanho da moradia, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct. Pct. Acum.
tima 22 16,5 16,5
Boa 78 58,7 75,2
Ruim 29 21,8 97,0
Pssima 4 3,0 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
159
4 e 5 6 e 7
8 e
mais
10 3 1
46 9 3
14 8 7
1 1 1
71 21 12
Atributos Total 1 a 3 4 e 5 6 e 7
8 e
mais
tima 16,5 27,6 14,1 14,3 8,3
Boa 58,7 69,0 64,8 42,8 25,0
Ruim 21,8 0,0 19,7 38,1 58,4
Pssima 3,0 3,4 1,4 4,8 8,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 6: opinio dos moradores quanto iluminao natural da moradia,
Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 17 12,8 12,8
Boa 107 80,5 93,2
Ruim 7 5,3 98,5
Pssima 2 1,5 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
160
Tabela 7: opinio dos moradores quanto iluminao artificial
as reas comuns dos blocos, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 9 6,8 6,8
Boa 94 70,7 77,5
Ruim 22 16,5 94,0
Pssima 8 6,0 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 8: opinio dos moradores quanto iluminao artificial nas vias pblicas,
Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 6 4,5 4,5
Boa 88 66,2 70,7
Ruim 31 23,3 94,0
Pssima 8 6,0 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 9: opinio dos moradores quanto iluminao das vias pblicas do bairro,
Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 5 3,8 3,8
Boa 84 63,1 66,9
Ruim 38 28,6 95,5
Pssima 6 4,5 100,0
Total 133 100,0
161
Tabela 10: opinio dos moradores, quanto temperatura dos ambientes em
perodos de menor intensidade de chuvas, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct. Pct. Acum.
tima 5 3,8 3,8
Boa 52 39,1 42,9
Ruim 58 43,6 86,5
Pssima 18 13,5 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 11: opinio dos moradores, quanto temperatura das moradias em
perodos de maior intensidade de chuvas, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct. Pct. Acum.
tima 8 6,0 6,0
Boa 96 72,2 78,2
Ruim 24 18,0 96,2
Pssima 5 3,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 12: opinio dos moradores, quanto presena de focos de
umidade em suas moradias, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Sim 116 87,2
No 17 12,8
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
162
Tabela 13: opinio dos moradores sobre o perodo de
aparecimento de umidade, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Manh 14 15,4
Tarde 71 78,0
Noite 6 6,6
Total 91 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 14: opinio dos moradores quanto ventilao da cozinha
das moradias, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 5 3,8 3,8
Boa 88 66,1 69,9
Ruim 33 24,8 94,7
Pssima 7 5,3 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
163
Tabela 15: opinio dos moradores, quanto ventilao
nos quartos das moradias, Conjunto Vila da Barca,
2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 3 2,3 2,3
Boa 57 42,8 45,1
Ruim 63 47,4 92,5
Pssima 10 7,5 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 16: opinio dos moradores, quanto ventilao
em outros ambientes, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 4 3,0 3,0
Boa 80 60,2 63,2
Ruim 41 30,8 94,0
Pssima 8 6,0 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
164
Tabela 17: opinio dos moradores, quanto ao rudo externo
que interferem nas habitaes, Conjunto Vila da Barca,
2008.
Atributos Frequncia Pct.
Sim 114 85,7
No 19 14,3
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 18: opinio dos moradores, quanto ao nvel de rudo
em suas moradias, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Insuportvel 35 30,2
Suportvel 81 69,8
Total 116 100,0
Fonte: pesquisa de campo
165
Tabela 19: opinio dos moradores, quanto origem dos
rudos, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
reas lazer e estacionamentos 19 16,4 16,4
Moradias de baixo 3 2,6 19,0
Moradias de cima 12 10,3 29,3
Moradias do lado 46 39,7 69,0
Vias de circulao 36 31,0 100,0
Total 116 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 20: opinio dos moradores, quanto s escadas externas de suas moradias, Conjunto Vila
da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 4 3,0 3,0
Boa 90 67,6 70,6
Ruim 30 22,6 93,2
Pssima 9 6,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
166
Tabela 21: opinio dos moradores, quanto s escadas internas de suas moradias, Conjunto Vila da
Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct. Pct. Acum.
tima 8 6,0 6,0
Boa 83 62,4 68,4
Ruim 32 24,1 92,5
Pssima 10 7,5 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 22: opinio dos moradores, quanto localizao dos sanitrios,
Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct. Pct. Acum.
tima 8 6,0 6,0
Boa 72 54,2 60,2
Ruim 41 30,8 91,0
Pssima 12 9,0 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
167
Tabela 23: opinio dos moradores,
quanto ao nmero de sanitrios na
moradia, Conjunto Vila da Barca, 2008.
21.1_Numero de Sanitrios por grupos
de pessoas
Atributos Frequncia Pct. Atributos Total 1 a 3 4 e 5 6 e 7 8 e mais
Sim 95 71,4 Sim 71,4 72,4 78,9 66,7 33,3
No 38 28,6 No 28,6 27,6 21,1 33,3 66,7
Total 133 100,0
N. de domiclios 133 29 71 21 12
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 24: opinio dos moradores, quanto ao nmero de
dormitrios nas moradias,
Conjunto Vila da Barca, 2008.
Numero de Dormitrios
Numero de Dormitrios por
grupos de pessoas
Atributos Frequncia Pct. Atributos Total
1 a
3 4 e 5 6 e 7
8 e
mais
Sim 73 54,9 Sim 54,9 54,6 66,2 38,1 8,3
No 60 45,1 No 45,1 41,4 33,8 61,9 91,7
Total 133 100,0
N. de
domiclios 133 29 71 21 12
Fonte: pesquisa de campo
168
Tabela 25: opinio dos moradores, quanto segurana das
moradias contra terceiros, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 4 3,0 3,0
Boa 63 47,3 50,3
Ruim 57 42,9 93,2
Pssima 9 6,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 26: opinio dos moradores, quanto segurana
contra incndio, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 0 0,0 0,0
Boa 31 23,3 23,3
Ruim 71 53,4 76,7
Pssima 31 23,3 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
169
Tabela 27: opinio dos moradores, quanto segurana das
moradias contra acidentes, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 1 0,8 0,8
Boa 76 57,1 57,9
Ruim 47 35,3 93,2
Pssima 9 6,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 28: opinio dos moradores, quanto adaptao das
moradias ao uso de deficientes fsicos, Conjunto Vila da
Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 3 2,3 2,3
Boa 34 25,6 27,9
Ruim 64 48,0 75,9
Pssima 32 24,1 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
170
Tabela 29: opinio dos moradores, quanto aparncia
externa dos blocos, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 11 8,3 8,3
Boa 92 69,1 77,4
Ruim 23 17,3 94,7
Pssima 7 5,3 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 30: opinio dos moradores, quanto s dimenses da
sala de visita das moradias, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 8 6,0 6,0
Boa 79 59,4 65,4
Ruim 34 25,6 91,0
Pssima 12 9,0 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
171
Tabela 31: opinio dos moradores, quanto s dimenses dos
dormitrios, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 7 5,3 5,3
Boa 85 63,8 69,1
Ruim 34 25,6 94,7
Pssima 7 5,3 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa
de campo
Tabela 32: opinio dos moradores, quanto s dimenses da
cozinha das moradias, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 4 3,0 3,0
Boa 72 54,1 57,1
Ruim 44 33,1 90,2
Pssima 13 9,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
172
Tabela 33: opinio dos moradores, quanto s dimenses dos
banheiros das moradias, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 10 7,5 7,5
Boa 78 58,6 66,1
Ruim 31 23,3 89,4
Pssima 14 10,5 99,9
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 34: opinio dos moradores, quanto ao
abastecimento de gua potvel nas moradias, Conjunto
Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 7 5,3 5,3
Boa 47 35,6 40,9
Ruim 43 32,6 73,5
Pssima 35 26,5 100,0
Total 132 100,0
Fonte: pesquisa de campo
173
Tabela 35: opinio dos moradores, quanto ao sistema de
energia eltrica, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 4 3,0 3,0
Boa 80 60,1 63,1
Ruim 28 21,1 84,2
Pssima 21 15,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Tabela 36: opinio dos moradores, quanto ao
sistema de esgotamento sanitrio e drenagem,
Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 12 9,0 9,0
Boa 84 63,2 72,2
Ruim 24 18,0 90,2
Pssima 13 9,8 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
174
Tabela 37: opinio dos moradores, quanto
coleta de lixo, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
tima 9 6,8 6,8
Boa 86 64,6 71,4
Ruim 15 11,3 82,7
Pssima 23 17,3 100,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de
campo
Tabela 38: opinio dos moradores, quanto nova moradia
comparada com a antiga, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Pct.
Acum.
Muito melhor 90 67,7 67,7
Um pouco melhor 36 27,1 94,8
Um pouco pior 4 3,0 97,8
Muito pior 3 2,3 100,1
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
175
Atributos Frequncia Pct.
Sim 121 91,0
No 12 9,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Satisfao com os ambientes da moradia.
Atributos Total 1 a 3 4 e 5 6 e 7 8 e mais
Sim 85,7 82,8 78,9 76,2 58,3
No 14,3 17,2 21,1 23,8 41,7
N. de domiclios 133 29 71 21 12
Fonte: pesquisa de campo
Satisfao com as praas.
Atributos Frequncia Pct.
Sim 103 78,0
No 29 22,0
Total 132 100,0
Fonte: pesquisa de campo
176
Tabela 40: opinio dos moradores, quanto ao interesse em reformar suas moradias,
Conjunto Vila da Barca, 2008.
Atributos Frequncia Pct.
Sim 117 88,0
No 16 12,0
Total 133 100,0
Fonte: pesquisa de campo
Figura 41: Aspectos favorveis apontados pelos moradores, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Alvenaria 8
Banheiro 9
Lazer 18
Localizao 55
Quarto 16
Saneamento 25
Segurana 12
Ventilao 8
Vizinhana 12
Fonte: pesquisa de campo
177
Figura 42: Aspectos desfavorveis apontados pelos
moradores, Conjunto Vila da Barca, 2008.
Abastecimento de gua
3
8
Acabamento (mal feito)
1
6
Banheiro
1
4
Casa pequena
1
6
Infiltrao
1
1
Luz
1
9
Segurana 18
Fonte: pesquisa de campo
178
178
ANEXO A - Certificado emitido pelo Comit de tica em Pesquisa (CEP),
referente ao Projeto de Pesquisa Avaliao Ps-Ocupao em Conjuntos
Habitacionais de Interesse Social: O Caso da Vila da Barca (Belm-Pa).
179
180
ANEXO B - Planta de Localizao do Projeto Vila da Barca
181
Figura : Planta de Localizao do Projeto Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
182
ANEXO C - Planta Geral da Vila da Barca
183
Figura : Planta Geral da Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
184
ANEXO D - Quadras 04 e 05 do Projeto Vila da Barca
185
Figura : Quadra 04 do Conjunto Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
Figura : Quadra 05 do Conjunto Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
186
187
ANEXO C - Planta Geral da Vila da Barca
188
Figura : Planta Geral da Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
189
ANEXO D - Quadras 04 e 05 do Projeto Vila da Barca
190
Figura : Quadra 04 do Conjunto Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
Figura : Quadra 05 do Conjunto Vila da Barca
Fonte: SEHAB (2007)
191
ANEXO E - Plantas com detalhes de Geminao Projeto Vila da Barca
192
Figura : Plantas com detalhes de Geminao
Fonte: SEHAB (2007)
193
Figura : Detalhe de apartamentos Geminados
Fonte: SEHAB (2007)
194
ANEXO F - Aspectos Construtivos do Conjunto Vila da Barca
195
Figura : Construo de paredes e assentamento de esquadrias
Fonte: SEHAB (2007)
Figura : Construo da estrutura de cobertura
Fonte: SEHAB (2007)
196
ANEXO G - Plantas com detalhes de Geminao Projeto Vila da Barca
197
Figura : Plantas com detalhes de Geminao
Fonte: SEHAB (2007)
198
Figura : Detalhe de apartamentos Geminados
Fonte: SEHAB (2007)
199
ANEXO H - Aspectos Construtivos do Conjunto Vila da Barca
200
Figura : Construo de paredes e assentamento de esquadrias
Fonte: SEHAB (2007)
Figura : Construo da estrutura de cobertura
Fonte: SEHAB (2007)
Você também pode gostar
- IMERSÃO EM EMAGRECIMENTO - Dr. Marcelo ConradoDocumento2 páginasIMERSÃO EM EMAGRECIMENTO - Dr. Marcelo ConradoJosé RobertoAinda não há avaliações
- Portugues de Adm IbamDocumento8 páginasPortugues de Adm Ibamjhenyfer barrosAinda não há avaliações
- Sindrome Nefrítica e Sindrome NefróticaDocumento12 páginasSindrome Nefrítica e Sindrome Nefróticamicaella fenderAinda não há avaliações
- Técnicas Intra e Extra BucalDocumento145 páginasTécnicas Intra e Extra BucalCelina Mainardes Furquim100% (1)
- Afirmações PartoDocumento3 páginasAfirmações PartoÉricaAinda não há avaliações
- NSUMBUDocumento4 páginasNSUMBUEdy NascimentoAinda não há avaliações
- PERIODONTIA I - Interrelação Perio DentisticaDocumento3 páginasPERIODONTIA I - Interrelação Perio DentisticaRafael NobreAinda não há avaliações
- Delitti, M. Relação TerapêuticaDocumento12 páginasDelitti, M. Relação Terapêuticamirianbsa4293Ainda não há avaliações
- Ficha de Integração - Treinamento Admissional: FacchiniDocumento8 páginasFicha de Integração - Treinamento Admissional: FacchiniRaiz SertanejaAinda não há avaliações
- Oleo de PerobaDocumento14 páginasOleo de PerobaMarcelo Henrique SoaresAinda não há avaliações
- Manual SIV 8hDocumento75 páginasManual SIV 8hnunofresco2Ainda não há avaliações
- Simulado - Intoxicação ExógenaDocumento7 páginasSimulado - Intoxicação ExógenaHugo Leandro PaivaAinda não há avaliações
- Modelo de Anamnese (Adulto) Baseado Na Terapia Cognitivo ComportamentalDocumento5 páginasModelo de Anamnese (Adulto) Baseado Na Terapia Cognitivo ComportamentalIngrid CostaAinda não há avaliações
- 1020Documento6 páginas1020Aiana BachAinda não há avaliações
- 7 Ano Bacterias Protistas Fungos Virus Com GabaritoDocumento4 páginas7 Ano Bacterias Protistas Fungos Virus Com GabaritoPATRICIA PAZAinda não há avaliações
- Vigilância Sanitária e Epidemiologia Aplicada A Saúde Do TrabalhadorDocumento36 páginasVigilância Sanitária e Epidemiologia Aplicada A Saúde Do TrabalhadorMarcio OliveiraAinda não há avaliações
- Fmu Biomedicina Prc3a1ticas Biomc3a9dicas II Aula 3Documento24 páginasFmu Biomedicina Prc3a1ticas Biomc3a9dicas II Aula 3Alisson BuchiAinda não há avaliações
- Penal 1Documento34 páginasPenal 1Joyceane NascimentoAinda não há avaliações
- Deterioração Microbiana de Carnes FrescasDocumento10 páginasDeterioração Microbiana de Carnes FrescasSandra PereiraAinda não há avaliações
- Violações Das Fronteiras ProfissionaisDocumento6 páginasViolações Das Fronteiras ProfissionaisPedro Henrique RochaAinda não há avaliações
- 1440 8. Programas de Acompanhamentos e Monitoramento Dos Impactos AmbientaisDocumento29 páginas1440 8. Programas de Acompanhamentos e Monitoramento Dos Impactos AmbientaisHenrique Piton MartinsAinda não há avaliações
- Descargador Lineas de TransmisionpdfDocumento4 páginasDescargador Lineas de TransmisionpdfSantiago BAinda não há avaliações
- Principais Marcos Históricos Da PsicopedagogiaDocumento2 páginasPrincipais Marcos Históricos Da PsicopedagogiaNara Cardonna100% (3)
- Feromônios Humano PDFDocumento5 páginasFeromônios Humano PDFPsychoKillerBoyAinda não há avaliações
- Abate de FrangoDocumento9 páginasAbate de FrangoFranciele Ribeiro0% (1)
- PPR Estudo DirigidoDocumento10 páginasPPR Estudo Dirigidobruno mantovaniAinda não há avaliações
- Prevenção Da Estenose VaginalDocumento20 páginasPrevenção Da Estenose VaginalSoc. Portuguesa de Radioterapia OncologiaAinda não há avaliações
- FICHA TÉCNICA - Whey Girl - Lakma NutriDocumento3 páginasFICHA TÉCNICA - Whey Girl - Lakma NutriLuciane BuenoAinda não há avaliações
- A Importancia Da Analise Microscópica e Histológica de Leites e DerivadosDocumento3 páginasA Importancia Da Analise Microscópica e Histológica de Leites e DerivadosAdriana LouroAinda não há avaliações
- FORXIGA - COM REV - VP - Rev0816Documento70 páginasFORXIGA - COM REV - VP - Rev0816Tainá ReginaAinda não há avaliações