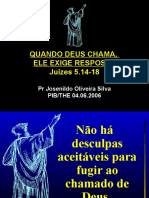Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dialnet OPatronatoRuralBrasileiroNaAtualidade 3740442
Dialnet OPatronatoRuralBrasileiroNaAtualidade 3740442
Enviado por
Olmo DalcoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dialnet OPatronatoRuralBrasileiroNaAtualidade 3740442
Dialnet OPatronatoRuralBrasileiroNaAtualidade 3740442
Enviado por
Olmo DalcoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A.
Segreti
Crdoba (Argentina), ao 8, n 8, 2008, 139-159.
ISSN 1666-6836
O Patronato Rural Brasileiro na atualidade:
dois estudos de caso
Sonia Regina de Mendona*
Resumen
Desde la llamada modernizacin de la agricultura brasilea, promovida por
los gobiernos militares sobre todo en los aos 1970, la representacin patronal
rural entr en una profunda crisis, derivada tanto de la especializacin de la
actividad, que gener innumerables nuevas gremiales de clase, como de la
emergencia de una dualidad en sus estructuras. En este contexto, algunas
entidades disputaron el monopolio de la representacin legtima del conjunto,
elaborando distintos proyectos con vistas a la hegemona. El estudio se enfoca
en parte de esta disputa, analizando las estrategias y los proyectos provenientes
de dos gremiales, la Sociedad Rural Brasilera y la Organizacin de las Cooperativas
Brasileras, priorizando la afirmacin de esta ltima como fuerza hegemnica
del agroempresariado nacional.
Palabras clave: Brasil - Estado - patronato rural - gremiales
Abstract
Since begginings of the so called brazilian agricultural modernization, promoted
by military governments specially in the 1970s, the landowners representative
leagues suffered a deep crisis, due to the speciallization of the activity, which
originated new class associations, and to the emergence of two structures of
agricultural organization. Within this scenario, some leagues disputed the
monopoly of the legitimate representation of the hole, elaborating differents
projects in order to become hegemonical. The study focuses part of this struggle,
analysing strategies and projects adopted by two of these leagues: the Brazilian
Rural Society and the Brazilian Cooperative Association, enphasying the latter,
which became the new hegemonical force amongst brazilian agro-entrepreneurs.
Key words: Brazil - state - rural patronage - landowners leagues
Recepcin del original: 23/03/2009
Aceptacin del original: 22/08/2009
* Programa de Ps-Graduao em Histria, Universidade Federal Fluminense.
E-mail srmend@ar.microlink.com.br
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
140
Apresentao
A questo das relaes intra-classe dominante agrria e de seus agentes
com a sociedade poltica no Brasil uma zonas de sombra na pesquisa histrica
no pas. A problemtica aqui abordada a dos mecanismos pelos quais grupos
agroindustriais e suas agremiaes buscaram inscrever-se junto ao Estado
restrito,1 nele inserindo suas demandas especficas. Tais mecanismos resultaram
em permanentes conflitos pelo monoplio de posies estratgicas junto a
organismos do Estado destinados administrao, gesto e regulao da
Agricultura, gerando uma rede atores sociais que se perpetua no processo de
construo do Estado brasileiro.
Lembrando que falar do empresrio rural ou do grande proprietrio rural no
Brasil atual, no mais remete ao tradicional latifundirio, tipificado na figura
do coronel, face aos desdobramentos derivados da modernizao da
agricultura verificada sobretudo nos anos 1970,2 importa analisar o processo
histrico atravs do qual se deu o fim do divrcio entre agricultura e indstria.3
Isto porque, significante e significado, profundamente enraizados no imaginrio
social brasileiro se descolaram, conquanto boa parte da sociedade ignore a
diferenciao ocorrida, resultando em que muitos setores mdios urbanos de
baixa renda, por exemplo, distanciem-se do apoio a movimentos, candidatos
ou partidos vinculados luta em prol dos trabalhadores rurais expropriados.
Comeando pela literatura dedicada ao estudo das transformaes ocorridas
no campo brasileiro nas quatro ltimas dcadas, tem-se que ela enfatiza a
modernizao da agricultura, calcada no trip abundncia de crdito agrcola,
absoro de insumos modernos e integrao aos grandes circuitos de
comercializao, promovidos pelo Estado,4 processo do qual emergiram os
CAIs (Complexos Agro-Industriais), irredutveis, simplesmente, s fazendas.
O desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, sem qualquer alterao
na estrutura fundiria, gerou efeitos scio-econmicos perversos como a
1
O referencial terico adotado deriva da concepo de Estado ampliado de Antonio
GRAMSCI, A concepo dialtica da histria, Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1978;
Maquiavel, a poltica e o estado moderno, Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1980.
2
Da vasta bibliografia sobre a modernizao da agricultura brasileira destacamos:
Jos Graziano DA SILVA, A modernizao dolorosa, Rio de Janeiro, Zahar, 1981; Jos
Graziano DA SILVA, Progresso tcnico e relaes de trabalho na agricultura, So Paulo,
Hucitec, 1991; Antonio BARROS DE CASTRO, Sete Ensaios sobre a economia brasileira,
Rio de Janeiro, Forense, 1977; Guilherme DELGADO, Capital financeiro e agricultura no
Brasil (1965-1985), So Paulo, cone-Unicamp, 1987; Jos DE SOUZA MARTINS, No h
terra para plantar neste vero, Petrpolis, Vozes, 1986; Jos DE SOUZA MARTINS, O
poder do atraso, So Paulo, Hucite, 1994; Wenceslau GONALVES NETO, Estado e
agricultura no Brasil (1960-1980), So Paulo, Hucitec, 1994; Bernardo SORJ, Estado e
classes sociais na agricultura brasileira, Rio de Janeiro, Zahar, 1980; Geraldo MULLER, O
complexo agroindustrial brasileiro, So Paulo, FGV, 1981; L. CORADINI y A. FREDERICO,
Agricultura, cooperativas e multinacionais, Rio de Janeiro, Zahar, 1982; Srgio LEITE,
Padres de desenvolvimento e agricultura no Brasil, Reforma Agrria, Campinas, vol.
25, nm. 1, 1995, pp. 137-152.
3
Geraldo MULLER, O complexo... cit., p. 18.
4
Guilherme DELGADO, Capital financeiro... cit.; Bernardo SORJ, Estado e classes... cit.;
Jos Graziano DA SILVA, A modernizao... cit., 1978.
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
141
forte concentrao da propriedade, o xodo rural, o aumento da taxa de
explorao da fora de trabalho e o declnio na qualidade de vida da populao
rural, originando movimentos pr-reforma agrria organizados pelos prprios
agentes afetados.
Em contrapartida, os estudos acadmicos sobre o tema dispersaram-se,
passando muitos autores a questionar se a reforma agrria seria ainda
necessria, face existncia de um mercado interno consolidado e de uma
agricultura plenamente industrializada.5 Outros chegam a trat-la como mera
poltica compensatria, promovendo grave reducionismo da temtica. 6
Avaliaes como essas decorrem do fato de os especialistas privilegiarem
apenas os aspectos econmicos da modernizao, subestimando o fato de
que ela no alterou apenas as bases tcnicas da produo, conformando um
novo e problemtico perfil da sociedade rural brasileira, 7 marcado pela
expropriao do produtor rural, pela ruptura de relaes sociais tradicionais e
pelo delineamento de novas oposies sociais irredutveis velha contraposio
patres versus trabalhadores. Outro desdobramento no econmico da
modernizao da agricultura foi a redefinio do papel do Estado face sua
profunda imbricao ao processo. Nas anlises correntes, empresrios e Estado
so tratados como entidades estranhas uma outra. Mas, o que teria
significado, de fato, a interveno estatal na conduo do processo
modernizador? Atravs de que embates entre entidades organizadas das
fraes da classe dominante agrria teria ela se verificado? Em que medida
tal interveno sofreu presses de agremiaes patronais rurais e por quais
dentre tantas delas? Em verdade, est-se diante de um desdobramento da
industrializao da agricultura brasileira muito pouco focalizado pelos
estudiosos: o da emergncia de novas agremiaes de classe e a redefinio
de suas modalidades de representao.8
Essa mobilizao poltica acentuou-se, sobretudo, em resposta proposta
governamental contida no Plano Nacional de Reforma Agrria (PNRA) de 1985,
destinado a frear o intenso processo especulativo com a terra. Nesse contexto,
as crticas mais veementes ao Plano partiram no dos segmentos agrrios
5
Segundo Palmeira & Leite, um dos efeitos nefastos da modernizao da agricultura
consistiu na decretao da obsolescncia da reforma agrria dos anos 50 e 60,
adequada a outro tipo de economia, ligada ao complexo rural ou complexo latifndiominifndio. Nesse contexto, a reforma agrria s seria conveniente quando no havia
um mercado interno de dimenses abrangentes e onde a industrializao fosse insuficiente,
configurando um quadro onde a estrutura agrria obstaculizava o desenvolvimento.
Com a modernizao da agricultura, o debate se deslocou para a questo de se a reforma
agrria ainda teria um sentido econmico. Moacir PALMEIRA e Srgio LEITE, Debates
econmicos, processos sociais e lutas polticas, L. COSTA e R. SANTOS (org.), Poltica e
Reforma Agrria, Rio de Janeiro, Mauad, 1999, p. 103.
6
Jos GRAZIANO DA SILVA, Por uma Nova Poltica Agrcola, Revista de Economia
Rural, Braslia, 24(3), pp. 283-292.
7
Para os autores, a motivao dos capitalistas que investiam na agricultura residia menos
na perspectiva de a realizarem lucros maiores do que nos demais setores econmicos e
mais na perspectiva de aplicar dinheiro com mais vantagem do que em outras aplicaes
financeiras.
8
A esse respeito, ver Jos GRAZIANO DA SILVA, Les Associations Patronales de
lAgriculture Brsiliene Moderne: les controverses au cours de la transition vers la
dmocratie, Cahiers du Brasil Contemporain, Paris, 18, 1992, pp. 11-34.
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
142
de regies menos dinmicas do pas mas, sim, daqueles do estado de So
Paulo, traduzindo a reao causada pela potencial perspectiva de bloqueio
de novas compras de terra por parte de industriais e banqueiros.9 Destaco
que, desde os anos 70, as vantagens asseguradas pelo Estado para promover
a capitalizao do campo promoveram, no mbito da atividade agroindustrial,
uma poderosa coalizo de interesses em torno da terra, que se incrustou nos
rgos pblicos e com isso, a redemocratizao brasileira de meados dos
anos 80, da qual o PNRA foi um captulo, forneceu maior capacidade de
barganha aos atores dominantes envolvidos, sobretudo devido ao crescimento
de sua participao no Congresso Nacional.10
Patronato Rural e representao poltica: aspectos historiogrficos
A manuteno da poltica modernizadora viu-se comprometida em incios
dos anos 1980, com o esgotamento do flego financeiro estatal derivado da
crise do milagre econmico brasileiro. Os novos ajustes macroeconmicos
promoveram uma escassez crnica de recursos pblicos, acirrando as disputas
intra-classe dominante como um todo. Diante disso, uma contradio j latente
junto classe agroindustrial seria aguada: sua dicotmica estrutura de
representao poltica, segmentada entre a esfera formal-legal e a real. Os
estudos sobre as instituies agremiativas da classe dominante brasileira em
geral so escassos e pontuais, principalmente no tocante agricultura. Mais
raros ainda so os que analisam a imbricao existente entre Sociedade
Poltica (Estado restrito) e Sociedade Civil, perfazendo um conjunto bem
modesto11 o qual, por sua escassez, acaba tornando-se referncia obrigatria
aos interessados no tema, a despeito de seu cunho muitas vezes contraditrio
e mesmo superficial em matria de pesquisa histrica.
Assim, na dcada de 1980 redefiniram-se os canais de representao
poltica dos segmentos da classe agroindustrial, bem como o tom de seu
discurso/ao: enquanto nos anos 70 sua presena na cena poltica foi marcada
pelo discurso da penalizao da agricultura, face ao suposto favorecimento
estatal aos industriais,12 a partir dos 80 o argumento foi substitudo pelo da
imprescindibilidade da agricultura para o capitalismo, j que o setor gerara parte
9
Moacir PALMEIRA e Srgio LEITE, Debates econmicos... cit., p. 124.
Sonia Regina de MENDONA, Questo Agrria, Reforma Agrria e Lutas Sociais no Campo,
Servio Social & Movimento Social, So Lus, EDUFMA, vol. 2, nm. 1, 2001, pp. 7-27.
11
Dentre eles possvel citar: Renato PERISSINOTTO, Classes Dominantes e Hegemonia
na Repblica Velha, Campinas, Edunicamp, 1994; Regina BRUNO, Senhores da Terra,
Senhores da Guerra, Rio de Janeiro, Forense Universitria/UFRRJ, 1997; Regina BRUNO,
A nova ofensiva burguesa no campo, Anais do XXIX Congresso da Sober, 1991; Jos
GRAZIANO DA SILVA, As Representaes Empresariais da Agricultura Brasileira Moderna:
as Disputas na Transio para a Democracia, Anais do XXIX Congresso Brasileiro de
Economia e Sociologia Rural, Braslia, 1991, pp. 261-285; Plnio MORAES, Algumas
observaes para o estudo das Classes Dominantes na Agropecuria Brasileira, Reforma
Agrria, Campinas: 17 (2), 1987, pp. 17-33; Flvio HEINZ, Les Fazendeiros lheure
syndicale: reprsentation professionnelle, intrts agraires et politique au Brsil (19451967), Nanterre: tese de Doutorado em Histria, Universit Paris X, 1996.
12
Regina BRUNO, Senhores da... cit., 1993.
10
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
143
significativa das divisas utilizadas no pagamento da dvida externa nacional. Tal
redefinio da estratgia discursiva mobilizou os anseios da classe como um
todo, dando-lhe uma aparncia de monolitismo que encobria processos mais
complexos, uma vez que a prpria modernizao da agricultura gerara profunda
diferenciao de interesses entre os grupos dominantes agrrios, segmentando
suas entidades representativas e seus conflitos.
A luta pelo monoplio de uma representao unvoca dos grupos agrrios
ocorria, legalmente, atravs de Federaes Rurais em cada estado e da
Confederao Nacional da Agricultura (CNA), em mbito nacional. Para alm
dessa estrutura formal-legal, a representao real de interesses deu-se
atravs da proliferao de associaes civis de produtores, como a Sociedade
Rural Brasileira (SRB), a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) e uma mirade
de entidades mais recentes como a Associao dos Empresrios da Amaznia,
a Organizao das Cooperativas Brasileiras (OCB) ou a Associao Brasileira
de Criadores de Zebu (ABCZ), por exemplo. Logo, no decorrer das ltimas
quatro dcadas, as associaes por produto e as cooperativas assumiram,
de fato, a representao dos segmentos de produtores altamente
empresarializados,13 tendo como cerne a prpria modernizao.14
Autores como Graziano da Silva, que analisam o perodo posterior
divulgao do PNRA e ao surgimento da mais polmica agremiao patronal
desse perodo, a Unio Democrtica Ruralista (UDR), indicam que esta teria
surgido no vcuo da crise de representao em curso, usurpando bandeiras
e causas das demais entidades. Seu estudo focaliza os mecanismos polticos
dessa contenda e para o autor, a dualidade de estruturas representativas e o
fracasso das entidades ditas tradicionais teriam sido responsveis pelo xito
da UDR quanto ao PNRA e Assemblia Nacional Constituinte de 1986-88.
De modo semelhante, estudando aquilo que considera uma nova ofensiva
burguesa no campo, Bruno afirma observar-se a, uma trama de contradies
entre setores e fraes dos grupos dominantes, onde a competio por
tecnologia e repartio da renda fundiria foi particularmente intensa.15 A
autora demonstra como os grandes proprietrios/empresrios rurais
continuaram afirmando-se como arautos do anticomunismo e da propriedade
rural enquanto esteios da ordem social, fortalecendo-se junto ao Estado e
ampliando a legitimidade de sua representao. sobre essa questo
especfica, que este trabalho se debrua, comparando duas agremiaes: a
Sociedade Rural Brasileira (fundada em 1919 e vinculada grande burguesia
cafeeira paulista) e a Organizao das Cooperativas Brasileiras (surgida nos
1960, agremiando o setor das grandes cooperativas empresariais).
13
Jos GRAZIANO DA SILVA, As Representaes Empresariais... cit., p. 262.
Em particular fatores como a dissociao verificada entre proprietrio rural e dono de
terras, suscitada pela valorizao fundiria ou o crescimento do arrendamento capitalista
no centro-sul em ramos integrados aos Complexos Agroindustriais.
15
Regina BRUNO, Senhores da... cit., p. 8.
14
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
144
A Sociedade Rural Brasileira
Conquanto as entidades recortadas para anlise no pertencessem
estrutura formal-legal da representao patronal, profundas diferenas
marcaram sua ao poltica. A Sociedade Rural Brasileira (SRB) constituiu-se,
desde as origens, na mais expressiva agremiao de proprietrios rurais do
pas, criada na dcada de 1910 para fazer frente Sociedade Nacional de
Agricultura e com ela disputou, at os anos 1980, a liderana de todos os
segmentos. Existente at hoje, a SRB, diversamente da SNA, uma entidade
de bases estritamente regionais, que organiza setores do patronato rural
oriundos do estado de So Paulo conquanto jamais tenha prescindido do
termo brasileira em sua denominao.16
Bandeiras
At finais dos anos 1950, a disputa pela unicidade da representao patronal
rural polarizou-se junto a trs instituies: a Confederao Rural Brasileira,
sua aliada a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) e a SRB, que faria do
glorioso passado do estado de So Paulo como seu maior capital simblico.
A herana histrica paulista respaldou as pretenses nacionalizantes da SRB,
tornando-a depositria de uma nostalgia do poder rural no pas e smbolo da
grande riqueza nacional, o caf.17 Lastreados neste culto, os dirigentes da
SRB revelaram uma postura de total rejeio a qualquer tipo de reforma
agrria, exceo daquela a que denominavam de autntica: eminentemente
produtivista e anti-distributivista. Atravs de seu peridico, A Rural, seus
lderes difundiram dezenas de editoriais centrados no debate sobre a reforma
agrria, sempre brandindo a imagem do setor agrcola como desprotegido
pelo Estado. Ao mesmo tempo, enfatizariam o intenso apoio por ela prestado
ao golpe civil-militar de 1964, patrocinando cerimnias em prol da salvaguarda
dos agricultores e do patriotismo. A revista da SRB permite acompanhar, ao
longo dos 30 anos pesquisados, o posicionamento da entidade face s
agremiaes congneres ficando patente, desde a dcada de 1960, tanto
sua aproximao a entidades regionais de produtores rurais -mormente
cafeicultores-, quanto a permanente disputa com a CNA e a SNA, fortemente
ligadas ao Governo Federal. A SRB estaria ao lado de associaes agrcolas
sobretudo do estado do Paran, j que boa parte dos grandes cafeicultores
paulistas investira nessa rea.18
O recrutamento dos quadros da SRB se fazia junto a bases paulistas
congregando, quase com exclusividade, proprietrios e empresrios
agroindustriais. A SNA, por seu turno, sempre contou com um espectro
efetivamente nacional quanto abrangncia de suas bases, integradas por
16
Sobre a noo de nacionalizao dos interesses de grupos sociais: Sonia DRAIBE,
Rumos e Metamorfoses, So Paulo, Brasiliense, 1987.
17
Flvio HEINZ, Les Fazendeiros... cit., p. 252.
18
Este foi o caso, reafirmado em vrios nmeros da revista, do apoio prestado pela SRB
a entidades como a Associao Paranaense de Cafeicultores. A Rural, jul. 1964, p. 41.
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
145
proprietrios de distintas regies do pas, muitos deles tambm polticos ou
altos dignatrios pblicos. Em funo dessa diferena de perfis, a posio da
SRB junto aos debates sobre as questes do campo e da reforma agrria
traduziam a viso do segmento mais moderno e mais industrializado dos
proprietrios rurais no pas, incluindo frigorficos, industriais do ramo alimentcio
e correlatos, alm de grandes empresas financeiras que investiam intensamente
em terras, dentro e fora do estado de So Paulo.
Em prol da Moderna Agricultura
Coerentemente ao perfil de suas bases, a SRB assumiu como principal
bandeira a defesa da modernizao da agricultura colocando-se, muitas vezes,
contra as polticas macroeconmicas do governo que obstaculizassem a
continuidade do processo. Na lgica de seus dirigentes, a soluo para
consolidar o papel da agricultura e dos empresrios enquanto pilares da
economia e sociedade brasileiras residia na aplicao macia de tecnologia
no campo, antecipando, em certos aspectos, o processo que mais tarde viria
a ser conhecido como agribusiness. A Sociedade, que tambm agremiava
indstrias produtoras de adubos, fertilizantes, tratores, etc., difundiria seu
uso como requisito da modernidade pretendida, alegando ser a mecanizao
uma condio necessria ao desenvolvimento agrcola.19 Neste sentido,
patrocinou inmeros eventos como a Reunio Anual de Produtores de Sementes
ou as Reunies Anuais de Produtores de Sementes e Mudas do Brasil, ocorridas
em sua sede em 1978.20 Insistindo numa agricultura altamente capitalizada,
os dirigentes da SRB preconizavam a tcnica como soluo da crise agrcola
do pas, aderindo ao alerta emitido pela indstria de tratores, que apontava
para as graves conseqncias da diminuio de seu uso, face s restries
creditcias impostas pelo governo. A verdadeira agricultura nacional seria
aquela onde o futuro s tem espao reservado para os produtores
profissionalizados. O papel das empresas ser de extrema importncia para a
melhoria da produtividade de todo o complexo agroindustrial.21
Por certo, nesse projeto, o fosso social entre proprietrios modernos e
arcaicos seria consideravelmente aprofundado, segmentando-se a grande
produo e a produo familiar, uma vez que discordamos da posio simplista
e ingnua de alguns tcnicos governamentais, que consideram a distribuio
de terras como capaz de erradicar a misria.22
19
A Rural, set. 1979, p. 8. A SRB encomendou estudos a especialistas para demonstrar
o espao ainda existente, junto a atividade agropecuria, para sua utilizao.
20
A Rural, set. 1978, p. 11. A figura mais destacada nesses eventos foi Ney Arajo,
presidente da ABRASEM e futuro presidente da entidade empresarial rural hoje hegemnica,
a ABAG.
21
A Rural, mai.-jun. 1982, p. 15.
22
A Rural, dez., 1985, p. 15.
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
146
A recusa da Reforma
Outro ponto basilar do projeto da SRB foi sua total rejeio a qualquer
alterao na estrutura fundiria brasileira, revelando conservadorismo e
radicalismo que podem ser explicados por dois fatores. De um lado, o
passadismo de suas bases, centrado no orgulho de seu paulistocentrismo
responsvel pela grandeza do pas e, de outro, o fato de congregar modernas
agroempresas que investiam em terras em diferentes regies do pas. Logo,
qualquer ameaa ao direito da propriedade era percebido sob o signo da
ilegalidade.23
Definindo o que consideravam uma reforma agrria justa, seus dirigentes
referiam-se apenas a uma reforma agrcola que contemplasse a intocabilidade
da propriedade fundiria, o fim de qualquer direito trabalhista ao homem do
campo e a nfase modernizao da atividade. Qualquer interferncia
governamental fora desses parmetros seria duramente questionada, sobretudo
o PNRA de 1985. Nesse momento, defenderiam a necessidade do produtor
rural assumir-se enquanto empresrio que visa o lucro, demonstrando as
injustias cometidas pelo Estado contra a classe agrcola.
A mobilizao da entidade contra qualquer reforma agrria envolveu
inclusive a criao de agncias especialmente voltadas ao estudo da temtica,
sendo contratadas pela SRB figuras de proa do meio acadmico, como por
exemplo a Cmara de Estudos e Debates Econmicos e Sociais, integrada por
renomados intelectuais da Fundao Getlio Vargas e da Universidade de So
Paulo. 24 Seus diretores tambm atuariam junto a espaos externos
agremiao, como a 34. reunio da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Cincia, difundindo sua proposta de reforma agrria. A divulgao do PNRA
representou o ponto culminante de mobilizao da Sociedade que atacou,
frontalmente, as foras demonacas que o haviam concebido, personalizadas
no ento presidente do Instituto Nacional de Reforma Agrria (Jos Gomes da
Silva) e no Ministro de Assuntos Fundirios (Nelson Ribeiro). A Rural publicaria
uma srie de cinco nmeros especiais, contendo crticas detalhadas ao Plano
e, para esvaziar os mecanismos expropriatrios previstos no PNRA, seus
editorialistas denunciavam sua incorreo de princpios, entendendo ser a
concentrao fundiria brasileira no uma responsabilidade dos proprietrios
mas, sim, fruto da natureza prdiga do pas com seu vasto territrio. Logo, a
principal estratgia da SRB foi a total desqualificao do Plano, seus mentores
e executores, visando reduz-lo, no contexto da transio democrtica
brasileira, a mera demagogia eleitoreira.25
23
A Rural, nov. 1964, pp. 8-9.
A iniciativa foi amplamente noticiada pelo jornal O Estado de So Paulo, ao divulgar
que embora possa parecer estranho que empresrios rurais estejam discutindo a
concentrao fundiria e propondo novos caminhos para agropecuria, o presidente da
SRB, afirma que o grupo est apenas encarando a realidade dos fatos. O Estado de So
Paulo (OESP), 29-03-1981, p. 51.
25
A Rural, jul. 1985, p. 6.
24
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
147
Para inviabilizar a aprovao da verso original do PNRA, as lideranas da
SRB proporiam a criao de um Conselho Nacional de Reforma Agrria a ser
por elas monitorado, suscitando reaes das agremiaes rivais.26 Sua proposta
alternativa de reforma agrria previa como instrumentos o Imposto Territorial
Progressivo, a colonizao particular e a criao de um Sistema Nacional de
Crdito Fundirio, em lugar da desapropriao das terras improdutivas prevista
no Plano. Tal proposta foi endossada pela Associao Brasileira de Criadores
de Zebu, a Federao da Agricultura do Estado de Minas Gerais e a Sociedade
dos Produtores de lcool e Acar. Em matria intitulada Os 10 Mandamentos
da Reforma Agrria, A Rural divulgaria a postura a ser adotada por seus
associados, plena de apelos moralistas, como quem produz nada tem a
temer ou ainda a reforma agrria no inicia guerra, busca paz e concrdia.27
Quanto funo social da terra, definida no PNRA, dela se apropriariam
enquanto produo para o mercado, segundo critrios de competitividade e
produtividade que dele afastariam os menos capazes,28 invertendo a lgica
do Plano.
Menos Estado, Mais Mercado
A postura crtica com relao s polticas pblicas agrcolas seria outro
mecanismo de ao da SRB, coincidindo com entidades rivais, mormente sobre
trs aspectos: o corte dos crditos para a agricultura; a escassez de subsdios
estatais ao setor e o excesso de regulao da atividade pelo Estado. Em
torno desses eixos se afirmaria a poltica agrcola idealizada pelos dirigentes
da Sociedade, indicando tenses e conflitos inter-agremiativos pois, conquanto
representasse grupos agroempresariais beneficiados pela modernizao da
agricultura, ainda preponderavam junto a ela trs setores: cafeicultores,
pecuaristas de gado de corte e agroexportadores em geral. E em sua defesa
a entidade adotaria posies radicais, como processar judicialmente o Estado
quando do tabelamento de preos agrcolas.29
Tendo sempre o Estado como alvo, os lderes SRB censuravam, por exemplo,
o apoio prestado ao setor cooperativizado, prenunciando conflitos com sua
nova rival, a OCB, centrada na produo granfera.30 Em meio a tais embates
e para deles desviar a ateno dos associados, a entidade aprofundou sua
campanha anti-intervencionismo estatal, preconizando a liberdade das foras
de mercado e antecipando-se penetrao do iderio neoliberal no pas.31
26
OESP, 27-06-1985, p. 12.
A Rural, out. 1986, p. 64.
28
Funo social da propriedade da terra cumprida quando seu regime de posse e uso
reflete as condicionantes determinadas pela dinmica imposta pela sociedade. A livre
iniciativa quem preside e orienta este processo. A Rural, out. 1986, p. 11.
29
Correio Braziliense, 8-3-1989, p. 5.
30
A prioridade agricultura j est sendo questionada por lideranas rurais que, no
recente encontro de Cafeicultores em So Paulo, afirmaram que no passou de prioridade
produo de gros. A Rural, set. 1980, p. 3.
31
Enquanto o agricultor no for reconhecido como empresrio que investe e corre
riscos em busca de lucros, teremos problemas de produo. A Rural, abr. 1978, p. 3.
27
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
148
Curiosamente, o combate estatizao da agricultura adquiria flego
justamente no contexto de revitalizao das exportaes agrcolas brasileiras
dos anos 1980, sustentada pelas grandes cooperativas empresarializadas,32
levando a SRB a atacar exportadores de soja e cacau subsidiados pelo Estado
e a afirmar-se como ltima trincheira da soberania nacional.33
A Rural tambm minimizaria o papel das demais agremiaes, representandoas como ineficazes ou mesmo pelegas, maximizando o peso poltico da
Sociedade, via divulgao de notcias sobre sua participao no preenchimento
de cargos como ministro da Agricultura34 e presidentes de rgos federais,
como o Conselho Monetrio Nacional.35 A campanha implicou, at mesmo, na
comercializao da revista junto a bancas de jornais, para ampliar a penetrao
de seu projeto junto a setores sociais para alm do agrrio. O contexto de
discusso do PNRA, no entanto, polarizaria a disputa pela hegemonia do
patronato rural brasileiro em torno a duas entidades: a SRB e a OCB.
Bases sociais e quadros dirigentes
O estudo do quadro dirigente da SRB partiu da anlise da trajetria dos
integrantes de suas diretorias superiores, destacando-se que 94% deles
vinculavam-se grande propriedade rural e/ou agroempresas. Releva, ainda,
a presena de quatro diretores diretamente imbricados ao capital bancrio,36
deixando claro seu vnculo com o grande capital agroindustrial e financeiro de
So Paulo. Outra caracterstica marcante deste grupo sua extrao
profundamente regional, sendo 90% deles paulistas.37 Apesar de pretender
instituir-se como porta-voz legtima da agricultura brasileira, era bvio
tratar-se de uma entidade de paulistas, para paulistas, dando continuidade
ao perfil que assumira desde sua criao.38 Os dirigentes da SRB tambm se
caracterizaram pela escassa titulao escolar, sendo 20% deles agrnomos,
32
A grande tese a ser defendida pelas classes rurais no rompe as amarras para dar
lugar s foras de mercado, desde o caf ate a madeira. A grande tese a ser defendida
a da liberdade de exportao. A Rural, jul. 1981, p. 17, grifos SRM.
33
Tal epteto devia-se ao fato de ser a cafeicultura considerada ainda como setor
responsvel pela gerao de boa parte das divisas do pas.
34
Em 1964 a revista publicaria que a SRB escolhe o novo Ministro da Agricultura, o exSecretrio de Agricultura de So Paulo, Oscar Thompson. A Rural, mai. 1964, p. 49.
35
A classe agrcola de So Paulo est em festa com a ascenso presidncia do Banco
Nacional de Credito Cooperativo de Jos Pires de Almeida, da SRB e do cooperativismo
nacional. A Rural, mai. 1967, p. 13. As lideranas da SRB reivindicaram espao no
Conselho pois o descaso com que a agricultura encarada pelo governo desestimula o
agricultor e pe em risco a soberania nacional. A Rural, set. 1978, p. 20.
36
Dos quais somente um declarava-se, explicitamente, como banqueiro, Francisco Figueiredo
Barreto foi diretor do Banco do Estado de So Paulo e do Banco F. Barreto S.A.
37
Caso se considere a base regional dos empreendimentos desses trs atores sociais, constatase que um os realizava, de fato, em Minas Gerais, sendo presidente da Federao dos Agricultores
e Produtores do Estado de Minas Gerais, e os demais atuantes em So Paulo e no Paran.
38
A esse respeito ver Sonia Regina de MENDONA, O Ruralismo Brasileiro, So Paulo, Hucitec,
1997.
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
149
16% advogados, 6,6% mdicos e 3,3% economistas, revelando a
preponderncia entre eles da atividade econmica exercida e no de sua
trajetria acadmica, levando a crer que a meritocracia ou o diploma parecem
ter tido peso secundrio para tais agentes.39
Para alguns autores, o reduzido ndice de diretores diplomados interpretado
no como um perfil de carreira do qual a formao escolar estivesse ausente,
porm como um aspecto menos decisivo do que era, por exemplo, para os
diretores da SNA.40 Tal afirmativa deve ser tida como parcialmente verdadeira,
pois esta ultima tambm contava com forte participao de grandes
proprietrios ou agropecuaristas em suas diretorias, embora em percentuais
menos elevados. A diferena me parece ter residido no fato de que expressivo
nmero de diretores da SNA ocupou postos destacados junto a agncias do
Estado nacional, para o que a obteno de um diploma seria estratgica.
Neste caso, o pertencimento pblicos da Unio foi praticamente ausente
quanto aos diretores da SRB, dos quais apenas cinco (15%) os ocuparam,
quase sempre junto Departamento Nacional do Caf e ao Instituto Brasileiro
do Caf. Em contrapartida, muitos de seus lderes detiveram postos junto aos
governos estadual e municipal (28%), sendo seis secretrios estaduais de
Agricultura e quatro deputados estaduais. Em compensao, a grande maioria
dos diretores dedicou-se a atividades na iniciativa privada: dos 38 arrolados,
70% eram proprietrios ou gerentes de grandes empresas.
Uma ultima caracterstica da diretoria da SRB foi a grande participao,
junto a ela, de lderes de entidades patronais e presidentes de cooperativas:
dos 38 diretores analisados, 38% dirigiam agremiaes patronais da agricultura41
e 15,5% cooperativas de grande porte.42 Caso somados, tem-se 53% de
dirigentes de outras associaes de classe/cooperativas, sendo comum
acumularem ambas as funes. Logo, a entidade paulista, que agremiava a
nata dos agroempresrios do pas, contou com lideranas marcadas por
trs aspectos: o grande envolvimento com o processo de desenvolvimento
do capitalismo no campo; a escassa ligao a cargos pblicos federais em
detrimento das carreiras junto iniciativa privada e seu acentuado regionalismo,
conquanto a capitalizao da agricultura e a emergncia dos complexos
agroindustriais tenha des-regionalizado fortemente a atividade.
39
Mesmo para os dirigentes da SRB que obtiveram diploma superior, sua identificao
com a regio sempre emergia como marca de distino, pois os agrnomos ou advogados
pesquisados tinham obtido seus ttulos junto a tradicionais Faculdades paulistas.
40
Flvio HEINZ, Les Fazendeiros... cit., p. 329.
41
Dentre os dirigentes de entidades patronais cito os presidentes da Associao Paulista
de Cafeicultores, da Associao Paulista de Criadores de Bovinos, da Associao Paulista
de Cafeicultores e da Federao das Associaes de Produtores de Minas Gerais, entre
outros.
42
Dos presidentes de cooperativas, destaco o presidente da Federao das Cooperativas
de Cafeicultores do Estado de So Paulo, o diretor da Cooperativa de Fornecedores de
Cana de So Paulo e o presidente da Cooperativa de Agricultores da Regio de Orlndia.
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
150
A organizao das cooperativas brasileiras
A primeira cooperativa de que se tem notcia foi fundada em Manchester
(1844) por 28 teceles que, reunindo suas economias, montaram um armazm,
a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, dando origem a um modelo
econmico dito alternativo e paradigmtico dos princpios da igualdade,
liberdade, tica e justia, destinado a difundir a eficincia junto organizao
social, em busca de objetivos comuns. Desde ento, as cooperativas
expandiram-se por todo o mundo como associaes autnomas de pessoas,
unidas voluntariamente para satisfazer necessidades comuns, mediante
empreendimentos de propriedade coletiva e democraticamente geridos. Nascia
o mito fundador do cooperativismo, ao qual todas as cooperativas remeteriam
para legitimar suas atividades, apesar de plenamente capitalistas e lucrativas:
os princpios rochdaleanos at hoje justificam a pureza dessas entidades.43
Mas o cooperativismo tambm se consolidou enquanto doutrina, erigindo o
consumidor em figura-chave e atribuindo livre concorrncia a responsabilidade
pelas desigualdades do capitalismo. Com base nessa premissa, divulgaria a
necessidade da vitria do interesse geral sobre particularismos, produzindo
uma ordem idealizada e assente na negao dos conflitos. Outra viga-mestra
da doutrina era o no-envolvimento do Estado na economia, garantindo-se
iniciativa privada o papel de motor da ordem social.44 Alastrando-se pelo
mundo e penetrando regimes distintos, o cooperativismo sofreria reformulaes
passando, inclusive, a admitir a interveno de seu antigo objeto de crticas:
o Estado. 45 Supondo neutralizar tenses sociais e instrumentalizar a
racionalizao tcnico-econmica da produo e das trocas, as cooperativas
se auto-definiam como fatores de transformao moral dos homens, graas
aos ensinamentos do igualitarismo, responsveis pela emergncia de uma
nova mentalidade, teoricamente apartada de doutrinas perniciosas.
No Brasil, o cooperativismo germinaria a partir de 1889, embora muitos
estudiosos localizem tal incio no alvorecer do sculo XX, com o surgimento
de Caixas Cooperativas organizadas por imigrantes no Rio Grande do Sul.46 O
pensamento e a ao dos primeiros cooperativistas brasileiros foram marcados
pela coexistncia de duas vertentes: uma, voltada para a quebra do circulo
43
Seriam eles: adeso livre e voluntria; gesto democrtica; participao econmica
dos associados; autonomia e independncia; educao, formao e informao,
intercooperao e responsabilidade social. Entre 1890 e 1910, o Cooperativismo tornouse a opo dos sem-terra e proprietrios sem bens lquidos, constituindo-se em forma
de resistncia s presses sociais latentes no perodo. Eric HOBSBAWM, A era dos
imprios, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988.
44
O Cooperativismo evoluiria da idia de uma via intermediria entre capitalismo e
socialismo, para uma prtica de organizao de associaes econmicas que, distantes
das lutas polticas, serviriam como paliativo aos males do capitalismo, embora sem
defender o fim da relao proprietrios versus proletariado.
45
A este respeito: Paul HUGON, Histria das doutrinas econmicas, So Paulo, Atlas, 1970.
46
Almir ANDRADE, Contribuio histria administrativa do Brasil na Repblica, at o
ano de 1945, Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1950, vol. 1, p. 108.
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
151
de ferro da intermediao comercial-financeira e em prol do lucro individual,
deixando claro seu cunho empresarial e privado; outra, de carter doutrinrio,
surgiria da iniciativa de agrnomos-funcionrios do Ministrio da Agricultura,
que defendiam a cooperativa como instrumento de superao das desigualdades
sociais vigentes na agricultura,47 a partir do Estado.
Somente aps 1930 as primeiras legislaes especficas emergiram no pas.
Se, at ento, o cooperativismo no transcendera o estatuto de projeto
poltico, doravante adquiriria o status de prtica governamental, centralizada
e nacionalizada. O sintoma da tenso entre as tendncias citadas foi a
pluralidade de decretos-lei que, entre 1932 e 1945, tentaram imprimir uma s
diretriz cooperativizao no pas,48 traduzindo a disputa pela imposio ora
do cooperativismo livre, ora do sindicalista.49 O xito do cooperativismo livre
deu-se em 1938 e, embora doutrinrio e fortemente estatizado, propiciou a
implementao da cooperativizao agrcola em bases nacionais, atrelado
progressiva burocratizao do Ministrio da Agricultura.50 Em contrapartida,
o poder pblico reviu as faculdades cabveis s cooperativas transformandoas, de agremiaes destinadas a operaes econmicas sem fins lucrativos,
em entidades capazes de adotar qualquer atividade com fins econmicosociais. O surgimento das cooperativas no pas, entretanto, no foi
acompanhado de entidades representativas que dotassem o segmento da
coeso necessria defesa de seus interesses, o que somente ocorreria nos
anos 1960, mediante duas agremiaes: a Aliana Brasileira de Cooperativas
(Abcoop) e a Unio Nacional das Associaes Cooperativistas (Unasco).51 Em
1969 o Ministrio da Agricultura as unificaria, j que as cooperativas
despontavam como base de apoio a polticas agropecurias, tornando imperiosa
a existncia de porta-vozes consensuais, para dialogar com o governo. Da
surgiria a Organizao das Cooperativas Brasileiras (OCB), nica representante
de todo o chamado sistema.
A OCB funcionou em So Paulo at 1972, ainda gozando de pouca expresso
poltica. A partir de 1974 iniciaria sua trajetria ascendente junto correlao
de foras vigente entre as entidades patronais da agroindstria, o que se
explica, dentre outros fatores, pela criao da Contribuio das Cooperativas,
fonte da grande massa de recursos responsvel por seu fortalecimento.52
47
A esse respeito: Sonia Regina de MENDONA, A Poltica de Cooperativizao Agrcola
do Estado Brasileiro, Niteri, Eduff, 2002.
48
Ibid., p. 41.
49
O decreto 22.239 foi o primeiro texto normatizador do cooperativismo brasileiro,
definindo cooperativas como sociedades de pessoas e no de capitais, mediante a iseno
de alguns impostos.
50
A tutela se dava mediante imposio de inmeras obrigaes s cooperativas, como o
aumento das exigncias para definir suas diretorias e a estipulao de precondies
para candidatos.
51
Os motivos da ciso prendiam-se a divergncias sobre a nfase na formao de
cooperativas de consumo como estratgia para enfraquecer as cooperativas agrcolas.
52
Informativo OCB, nov.-dez. 1983, p. 5.
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
152
Projetos e estratgias de ao
Apesar do apoio oficial sua implantao, a OCB promoveu, ao longo dos
anos 1980, grande campanha pela aprovao de nova lei que consagrasse a
autonomia do cooperativismo face ao Estado. A afinidade construda entre o
Estado e a entidade pode ser entendida a partir dos prprios princpios inerentes
sua doutrina, sobretudo seu carter supostamente democrtico, sua autorepresentao como projeto no-capitalista e anti-lucro e a possibilidade de
distribuio dos ganhos entre cooperados segundo seu trabalho e no o
capital investido. Tais pilares, remetidos ao mito fundador Rochdaleano,
transformaram o cooperativismo em instrumento de negao do conflito social,
via propaganda da colaborao entre associados de portes diversos que
teriam em comum o fato de no terem patres.53
Semelhantes premissas levaram as lideranas da OCB a afirmarem-na no
s como opo socialmente superior de explorao/organizao das atividades
agroindustriais, mas tambm como porta-voz autntico -posto que dotado
de misso social- do conjunto das agremiaes patronais rurais. Esta seria a
mais importante bandeira da OCB at a plena consecuo de seus objetivos,
em fins da dcada de 1980, tendo como cone seu lder mais atuante: Roberto
Rodrigues.
Uma das estratgias da direo da entidade consistiu em publicar
regularmente peridicos encarregados de difundir o cooperativismo como
equivalente democracia e igualitarismo. Igualmente fortaleceria a agremiao
a insero de seus representantes junto sociedade poltica. Em torno deste
mote a OCB institua-se em fora hegemnica, capitaneando a criao de
importantes entidades pan-agremiativas como a Frente Ampla da Agropecuria
Brasileira (1986) e a Associao Brasileira de Agribusiness (1993). Sua pedagogia
consistiu em repetir, ad nauseam, que o cooperativismo a soluo do
futuro; para ns um sistema-sntese. Possibilita a capitalizao sem
capitalismo e a socializao sem socialismo.54 A doutrina funcionaria como
bssola para a construo da legitimidade externa da OCB, j que
igualitarismo, sociabilidade democrtica e paz social eram atributos tidos como
inerentes manuteno da ordem no campo.55 Em nome desses princpios
seus lderes a defenderiam como instrumento de soluo dos conflitos no
campo estabelecendo, inclusive, sua suposta afinidade com a Igreja, de modo
a neutralizar seus segmentos mais progressistas, envolvidos na organizao
de movimentos sociais rurais.
Quanto a suas demandas especficas, duas merecem destaque pela
recorrncia: a busca da autogesto e do crdito subsidiado a serem obtidos,
diante da poltica recessiva do Estado, mediante a fundao de banco prprio.
Isso se justificava pelo significativo peso desempenhado pela produo das
cooperativas junto s exportaes brasileiras. A demanda por crdito, que
53
Ibid., p. 27.
Revista Brasileira de Cooperativismo, jan.-fev. 1978, p. 51.
55
O cooperativismo prega uma sociedade que se aproxima bastante da sociedade solidria
e crist pregada pela Igreja, sem o uso da violncia e confiante num processo reformista
das praticas sociais. Revista Brasileira de Cooperativismo, jul-ago. 1980, pp. 1-2.
54
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
153
unificava todas as entidades patronais rurais acentuando tenses e conflitos,
via-se agravada no caso das cooperativas j que, devido a seu atrelamento
ao Estado contavam, desde os anos 1940, com uma agncia oficial destinada
ao setor, o Banco Nacional de Crdito Cooperativo (BNCC), embora inoperante
por escassez de recursos.56 Desde fins da dcada de 70, os dirigentes da
OCB denunciariam a distonia entre o BNCC e as Cooperativas, obrigando-as
a submeterem-se ao sistema bancrio privado e seus juros escorchantes.
Da a campanha pela fundao de um banco a ser criado com recursos do
setor.
A segunda demanda dos diretores da OCB, a autogesto, dirigia-se quer
comercializao internacional de seus produtos, quer criao de rgos
prprios de crdito, liberando o setor do vnculo com o Estado. Embora sua
campanha datasse da dcada de 70, somente seria exitosa na conjuntura
poltica favorvel inaugurada nos anos 1990, em meio onda neoliberal que
grassou no pas.57 Nesse contexto, em pleno processo de desmonte do Estado
brasileiro via privatizao de suas empresas, as lideranas da OCB viram a
oportunidade de fortalecer-se politicamente, assumindo a gerncia de algumas
delas. Outra bandeira da entidade era sua original proposta de reforma agrria,
bem diversa da defendida pela SRB. Alm de no rejeitar radicalmente a
necessidade de alteraes na estrutura fundiria do pas, atribua-se s
prprias cooperativas a funo de instrumentos da reforma, assegurando
agremiao o papel de a mais adequada e legitima para encabear o processo.
Vale apontar que todas as iniciativas de reforma agrria posteriores derrota
do PNRA contaram com a mediao das lideranas da OCB enquanto assessores
de rgos pblicos encarregados da definio/organizao de assentamentos
rurais, lavrando novo tento poltico para a entidade que emergiu, em 1990,
como a nova fora hegemnica dos grupos dominantes agroindustriais.58
Construindo a liderana
A documentao produzida pela OCB revela o empenho de seus dirigentes
em superar a crise de representao patronal da agricultura atravs de uma
atuao bifronte: dentro do prprio movimento cooperativista e junto s
entidades de classe. No primeiro caso, buscou consolidar os fludos canais de
comunicao entre bases/cpula da estrutura cooperativista, evitando o
que os diretores consideravam como falta de conscincia dos cooperativados,
um obstculo ao consenso interno. Utilizando seus peridicos como veculos
56
Sobre o assunto, para os anos 1930-40: Sonia Regina de MENDONA, A Poltica... cit.
Em fins da dcada de 1980 a OCB encaminhou ao Ministrio da Agricultura documento
visando contribuir para a definio dos rumos da poltica agrcola, contendo as
reivindicaes centrais do segmento.
58
No por casualidade, em agosto de 1991, um dos diretores da OCB, Adelar Cunha, foi
nomeado Superintendente do INCRA.
57
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
154
de aproximao com as bases,59 chegariam a eleger um inimigo comum: as
empresas tidas como falsas cooperativas, smbolo da invaso do cooperativismo
pelo capitalismo. Nesse caso denunciariam sobretudo, a Copersucar -integrada
por usineiros paulistas- vista como empresa que usa indevidamente o ttulo
de cooperativa,60 medindo foras com a SRB a cujos quadros aqueles
pertenciam. A vitria final coube OCB.61
Para evitar a pulverizao poltica das bases, os diretores da OCB
promoveram uma reorganizao administrativa do sistema, uma vez que em
as cooperativas tm 6 milhes de scios, mas no tm conscincia de sua
representatividade.62 Como o sistema estruturava-se a partir de cooperativas
singulares, passava pelas Organizaes Cooperativas Estaduais (OCEs) e
chegavam agremiao nacional, estreitou-se a comunicao entre os nveis,
priorizando-se o primeiro deles. Para tanto foram criados Comits Educativos
(1989) destinados a formar lideranas capazes de implementar a integrao
almejada. Afinal, diante do vulto dos negcios geridos pelas cooperativas,
era imperioso buscar uma nova feio para o cooperativismo, com a
implantao da autogesto, mediante novos quadros tcnicos.63 A Educao
se destacou como instrumento difusor da conscincia autogestionria,
pedagogicamente controlada pela cpula da OCB.64
No tocante afirmao de sua hegemonia extra-muros, a estratgia da
agremiao consistiu em divulgar a tendncia natural dos cooperativistas
para o desempenho das funes de representao poltica, face a seu
aprendizado das prticas democrticas e igualitrias, erigindo-se a OCB no
mediador ideal entre segmentos agrrios, Estado e Sociedade. A consolidao
dessa liderana pautou-se, ainda, pela filiao a organismos internacionais,
donde retiraria prestgio simblico e poltico, tal como sua associao
Organizao das Cooperativas da Amrica (1981) e International Cooperative
Alliance (ICA), a partir de 1983. Tamanho prestigiamento resultou na nomeao
de dirigentes cooperativistas para cargos-chave no Ministrio da Agricultura.65
59
O cooperativismo como um todo jamais poder negligenciar a importncia do dilogo
com a OCB e sua revista nacional. Ela supre o vazio das comunicaes ente cooperativas
e cooperados. Mas no s dialogo: tambm o grito, o protesto, o gesto firme.
Revista Nacional do Cooperativismo, jan.-fev. 1978, p. 1, grifo SRM.
60
Revista Nacional do Cooperativismo, jul-ago. 1978, p. 3.
61
Num primeiro momento, o presidente da OCB ops-se legalizao da Copersucar
pelo governo, alegando no ser responsvel pelo endividamento do Sr. Jorge Wolney
Atalla, presidente de uma Cooperativa Binica, Revista Nacional do Cooperativismo,
jan.-fev. 1979, p. 10.
62
Revista Nacional do Cooperativismo, nov.-dez. 1979, p. 51.
63
Informativo OCB, mar. 1989, p. 3. Grifos meus.
64
Um desdobramento desse projeto consistiu na realizao anual do Encontro Nacional
de Capacitao e Organizao do Quadro Social em Cooperativas. Informativo OCB,
ago. 1991, p. 2.
65
Dentre eles destacaram-se Rubem Ilgenfritz da Silva (Secretrio Geral do Ministrio);
Dijandir Dal Pasquale (presidente do Banco Nacional de Crdito Cooperativo); Ignacio
Mammana Neto (presidente da Companhia de Financiamento da Produo) e Athos
Almeida Lopes (presidente da Embrater).
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
155
Outro indcio de seu crescente prestgio junto a agremiaes rivais foram os
inmeros prmios, honrarias e cargos acumulados por seu mais conhecido
dirigente, Roberto Rodrigues.66
A fora da agremiao nutriu-se ainda de canais de acesso direto
Sociedade Poltica, destacando-se, dentre eles, a criao, em 1981, da Frente
Parlamentar Cooperativista (FPC), baseada no cadastramento de todos os
parlamentares com alguma afinidade com a Agricultura. Para os dirigentes,
era preciso que o cooperativismo no fique apenas na filosofia e tenha
maior poder poltico67 e, embora inicialmente inexpressiva, em 1983 a Frente
contaria com oitenta participantes. Azeitando toda essa arquitetura,
denominada de sistema de veiculao dirigida, estavam as Organizaes
Estaduais de Cooperativas, correias de transmisso encarregadas de distribuir
formulrios aos parlamentares das bases regionais e publicizar seu apoio
causa cooperativa, comprometendo-os politicamente.
A disputa pela hegemonia
A hegemonia da OCB junto ao patronato rural se consolidou na conjuntura
poltica inaugurada pela Nova Repblica, que permitiu a seus dirigentes reforar
a identidade entre sua doutrina e o novo regime, ambos democrticos.68 A
despeito disso, o aprofundamento da crise econmica levou as lideranas da
entidade a criticar severamente as polticas agrcolas, catalisando o
descontentamento das demais agremiaes. O consenso que se esboava,
seria ratificado pelo enfrentamento UDR, associao patronal criada dias
aps a divulgao do PNRA. Neste combate, a OCB capitanearia a formao
de um Bloco Parlamentar Ruralista, composto por 80 deputados e 6 senadores
destinado a levantar todos os projetos existentes em relao agricultura e
estabelecer prioridades, de modo a dar menos tempo s articulaes da
UDR.69
As eleies para a Assemblia Nacional Constituinte (1986) oportunizaram
novo avano poltico da OCB, cujas lideranas acentuaram seu lobby no
Legislativo. Bem antes disso, j haviam conseguido eleger candidatos prprios,
ao constatarem o desequilbrio existente entre o peso econmico e o peso
poltico das cooperativas na vida nacional. Em editorial de 1985, a ao seria
difundida junto s bases, juntamente com a denncia de adversrios do
cooperativismo, desta vez encarnados na UDR que, igualmente, promovia
campanha para financiar, atravs da realizao de leiles de gado, candidaturas
de parlamentares aliados.
66
Rodrigues foi condecorado pelo governo francs com a Ordem do Mrito Agrcola;
membro do GATT e do Concex; representante oficial da Agricultura no Frum de
Entendimento Nacional e no Conselho Empresarial de Competitividade Industrial;
presidente da OCA em 1993 e da ICA, de 1999 at o presente.
67
Jornal do Cooperativismo, set.-out. 1983, p. 15.
68
Jornal do Cooperativismo, mar.-abr. 1985, p. 2.
69
OESP, 13-3-1985, p. 36.
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
156
A tenso entre ambas as lideranas -Ronaldo Caiado (UDR) e Roberto
Rodrigues- assomou a mdia e a opinio pblica, sendo exibidos como
polarizaes exemplares da representao patronal rural. Enquanto Caiado
era apresentado como preparado, jovem e letrado, Rodrigues seria o novo
lder da agricultura, que empolga a imprensa e os polticos e se torna
intermedirio credenciado a negociar interesses dos fazendeiros e do governo.
A campanha da UDR para impor-se como liderana de toda a agricultura
seria marcada por inmeros percalos, derivados do carter violento e radical
de suas prticas, rechaadas pelas demais agremiaes, temerosas do
desgaste de sua imagem pblica.70 Um destes foi a criao, articulada por
Rodrigues, da Frente Ampla da Agropecuria Brasileira (FAAB), um colegiado
integrado por porta-vozes das principais entidades patronais, destinado a
frear a UDR.71
Os estudiosos so unnimes em apontar que a dupla derrota da proposta
de reforma agrria -aquela contida no PNRA e aquela votada na Assemblia
Nacional Constituinte- em muito se deveu atuao da UDR, que capitalizou
como suas as iniciativas da FAAB. Ademais, a truculncia dos membros da
UDR no Congresso coadjuvou esse triunfo. Na fase final de votaes da
Constituinte, Caiado encabeava lobby pela aprovao do texto anti-reforma,
alis elaborado pela equipe de juristas por ele contratada, contando com a
cmoda omisso de agremiaes at ento oponentes, como a SRB e a
CNA.72
No entanto, tratou-se de vitria efmera, j que aps a promulgao da
Nova Constituio em 1988, a UDR voltaria a ser combatida pelas oposies
organizadas pela OCB. A rigor, a Unio conseguiu apenas impor uma supremacia
momentnea, mas no sua direo efetiva, o que se pode explicar pela posio
subalterna ocupada por suas bases -pecuaristas- junto agricultura
modernizada e pela truculncia de seus quadros. Em contrapartida, a reao
da OCB a essa fugaz vitria foi imediata. Visando s eleies de 1990, seus
lderes articularam uma rede parlamentar to bem coordenada que, antes
mesmo de sua realizao, seu Informativo divulgava a listagem dos candidatos
que, eleitos, comporiam a nova Frente Parlamentar Cooperativista.73 Doravante
a OCB afirmar-se-ia como fora hegemnica do patronato agroindustrial,
responsvel pela definio da nova proposta: trabalhar pela criao da
Cooptrade, em So Paulo, empresa de comrcio internacional das cooperativas
agropecurias brasileira,74 evidenciando o eixo do projeto hegemnico das
70
Adriano PILATTI, Marchas de uma Contramarcha: transio, UDR e Constituinte, So
Paulo, dissertao de Mestrado/PUC, 1988, p. 104; Jos GRAZIANO DA SILVA, Les
Associations Patronales... cit., p. 20.
71
Fazendeiro tem nova entidade: mais de 100 lideranas de vrias entidades e
cooperativas se reuniram para fundar a Frente Ampla da Agropecuria Brasileira que
nasceu tambm para minimizar a influencia crescente da UDR, sendo idealizada pela
OCB. Correio Braziliense, 18-06-1986, p. 7.
72
OESP, 24-03-1988, p. 33.
73
Esses nomes totalizaram 30 parlamentares, de distintos partidos e regies do pas.
Informativo OCB, set. 1990, p. 3.
74
Informativo OCB, fev. 1990, p. 2.
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
157
entidades agroindustriais brasileiras, pouco faltando para afirmar-se o conceito
de agribusiness.75
E seria uma vez mais atravs da ao de Rodrigues, guindado aos mais
altos postos, dentro e fora do sistema cooperativo, que a OCB confirmaria
seu papel dirigente, defendendo a abertura da agricultura brasileira
competitividade internacional via noo de agro-negcio.76 E uma das formas
de consegui-lo consistiu na criao do Instituto Superior de Estudos da
Agricultura,77 destinado a dirimir conflitos entre agremiaes patronais,
conciliando demandas de todos os segmentos da agroindstria.78 A hegemonia
da OCB teve por coroamento sua proposta de fundao de uma entidade
patronal de novo tipo: a Associao Brasileira de Agribusiness (ABAG -1993).
OCB - Quadros dirigentes e bases sociais
A anlise da diretoria da OCB entre 1970 e 1990 deixa entrever que ela era
integrada, maciamente, por agroempresrios79 imbricados agricultura
tecnologizada e zelosos do papel desempenhado pela produo oriunda de
cooperativas junto s exportaes brasileiras. O estudo dos 37 diretores
elencados permite inferir algumas concluses. A primeira a permanncia de
alguns nomes por perodos considerveis, demonstrando continuidade de
diretrizes de atuao e a consolidao institucional da entidade.80 Ademais,
quanto a sua extrao social, 86% dos deles eram proprietrios rurais ou
agroindustriais, sendo apenas quatro desprovidos de vnculo aparente com a
propriedade da terra. 81 Desse conjunto, 57% apresentam-se como
agropecuaristas, 14% como pecuaristas, 3,5% como cotonicultores, 3,5%
como cacauicultores 82 e 3,5% como, simultanemente, banqueiro e
agropecuarista.
75
Para tanto, o Sistema OCB e o Ministrio da Agricultura firmaram acordo promovendo
o Programa de Modernizao da Agricultura Brasileira (1990), calcado no assentamento
de empresas pblicas que haviam sido privatizadas junto aos Departamentos Tcnicos
da entidade. Informativo OCB, dez. 1990, p. 3.
76
Informativo OCB, fev. 1990, p. 8.
77
O ISEA, fundado em 1990, contou com o patrocnio da FAAB.
78
Gazeta Mercantil, 14-07-1990, p. 3.
79
Sonia Regina de MENDONA, Estado e Representao Empresarial: Um Estudo Sobre a
Sociedade Nacional de Agricultura (1964-1993), Relatrio Final de Pesquisa ao CNPq,
Niteri, fev. 2005.
80
Estes foram os casos de Jos Pereira Campos Filho (presidente da entidade entre 19781985); Amrico Utumi (vice-presidente de 1978-1985); Paulo Cardoso Pinto da Silva (vice
entre 1979-1988) e Roberto Rodrigues (presidente entre 1985-1990).
81
Os diretores da OCB sem vnculo com a grande propriedade eram um funcionrio do
Banco do Brasil; um tcnico de carreira da EMATER e dois mdicos.
82
Da cotonicultura destacou-se o presidente da Cooperativa Central dos Produtores de
Algodo do Cear e do setor cacaueiro, o presidente da Cooperativa Central do Cacau
de Ilhus.
Sonia Regina de Mendona, O Patronato Rural Brasileiro na atualidade...
158
A diretoria da OCB tambm englobava porta-vozes da agroindstria de
distintas regies do pas, aproximando-se do perfil nacional da SNA e
contrastando com o regionalismo dos quadros da SRB. De toda a diretoria
apenas 20% eram paulistas, 11% gachos e 10% paranaenses, distribuindose os 59% restantes entre agroempresrios de Gois, Alagoas, Pernambuco
ou Rio Grande do Norte,83 o que remete a outra caracterstica: o fato de ser
o grupo dirigente composto por dirigentes de cooperativas de diferentes
nveis, singular ou federativo, reforando sua maior abrangncia. Ademais,
muitos diretores ocupavam postos de destaque junto a entidades patronais
externas ao segmento, totalizando 23% que presidiam agremiaes como a
prpria SRB, a SNA, a Federao da Agricultura do Estado de So Paulo ou a
Sociedade Mineira de Agricultura, por exemplo, sugerindo a tendncia fuso
de quadros entre as entidades patronais aps 1985.
Quanto formao profissional dos diretores, repete-se trao j verificado
junto s lideranas da SRB: a escassa valorizao das trajetrias escolares
que, neste caso, deve ser relativizada pois seu percentual mais elevado do
que na entidade paulista, atingindo 56%, em boa parte agrnomos. Alm
disso, cinco diretores ocuparam cargos junto ao governo federal84 e cinco
junto a administraes estaduais, perfazendo 39% da diretoria com carreira
pblica. Da depreender-se que a OCB constituiu-se em agremiao patronal
onde o peso da herana preponderou sobre o peso do diploma escolar, bem
como as carreiras privadas sobrepujaram as carreiras pblicas85 o que, longe
de significar desinteresse em ocupar postos estratgicos no Estado, indicava
que deles no dependiam suas trajetrias.
Comentrios conclusivos
A modernizao da agricultura brasileira, alicerada em crditos e subsdios
fornecidos pelo Estado aps o golpe civil-militar de 1964, contou com vrios
desdobramentos econmico-sociais e polticos. Dentre os primeiros, estiveram
a tecnicizao da agricultura, sua especializao e a brutal expropriao de
trabalhadores rurais, ao passo que dentre os segundos destacou-se a
dualizao da estrutura de representao dos interesses patronais. A crise
promovida por tal segmentao acentuou-se na dcada de 1980, com a
divulgao do PNRA, aguando a disputa entre as agremiaes pela imposio
de uma s liderana de o conjunto, como ilustrado pelos casos da SRBpaulista, regionalista e tradicionalista- e da OCB-empresarial, nacional e
supostamente mais democrtica.
83
Os nordestinos e nortistas, caso somados, perfaziam 26% da diretoria.
Os cargos foram de assessor especial do Ministro da Agricultura; presidente do INCRA;
membro da Comisso Nacional de Sementes e Mudas; suplente de Deputado Federal e
diretor do BNCC.
85
Pierre BOURDIEU e Monique SAINT MARTIN, Le Patronat, Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, Paris, nm. 21-22, 1978, p. 17.
84
Anuario del Centro de Estudios Histricos Prof. Carlos S. A. Segreti/8
159
Enquanto as lideranas da SRB esmeraram-se em cultivar sua herana
histrica de entidade de cafeicultores, responsvel pela riqueza nacional,
os dirigentes da OCB, congregando segmentos empresarializados das grandes
cooperativas agroindustriais, pautaram-se pela maior aproximao com o
Estado restrito e pela divulgao de um projeto onde cooperativismo associavase democracia. Ademais, enquanto os lideres da SRB recusavam qualquer
ingerncia estatal junto estrutura fundiria do pas, a OCB, atravs de seu
mais destacado quadro, esboou uma proposta ancorada em dois pilares: a
aceitao de algum redistributivismo fundirio -desde que assessorado pela
agremiao- e a integrao ao agribussiness.
Mediante estratgias polticas at certo ponto similares ambas as
agremiaes buscaram construir sua liderana junto s demais. Entretanto, o
tom conservador e contrrio pequena produo do projeto da SRB selaria
sua derrota em fins dos anos 1980, consagrando-se a OCB -coroada pela
fundao da ABAG- como nova fora hegemnica do patronato rural brasileiro
at os dias atuais, exemplificada pela indicao de Roberto Rodrigues como
Ministro da Agricultura do governo Lula.
Você também pode gostar
- Itan PDFDocumento3 páginasItan PDFHelena MariaAinda não há avaliações
- HistóriaDocumento2 páginasHistóriaHope AnjoAinda não há avaliações
- Bibliografia Sobre Ditadura MilitarDocumento9 páginasBibliografia Sobre Ditadura MilitarAmana Martins Fagundes100% (1)
- TCC Esquerda CatolicaDocumento4 páginasTCC Esquerda CatolicaAmana Martins FagundesAinda não há avaliações
- Anos de Chumbo Na ParaíbaDocumento12 páginasAnos de Chumbo Na ParaíbaAmana Martins FagundesAinda não há avaliações
- Governo Pedro GondimDocumento140 páginasGoverno Pedro GondimAmana Martins Fagundes100% (1)
- 11Documento2 páginas11Amana Martins FagundesAinda não há avaliações
- RESENHA Crítica A Razão DualistaDocumento5 páginasRESENHA Crítica A Razão DualistaAmana Martins FagundesAinda não há avaliações
- Portaria 040 de 2018 Regras para Férias PremioDocumento3 páginasPortaria 040 de 2018 Regras para Férias PremioNelson NunesAinda não há avaliações
- 71 Mensagens de Aniversário Emocionantes para A Sua Mãe - PensadorDocumento1 página71 Mensagens de Aniversário Emocionantes para A Sua Mãe - Pensadordavid.mg81peAinda não há avaliações
- Prefeitura Municipal de Foz Do Iguaçu: Estado Do Paraná Secretaria Municipal Da EducaçãoDocumento36 páginasPrefeitura Municipal de Foz Do Iguaçu: Estado Do Paraná Secretaria Municipal Da EducaçãoJuliana CostaAinda não há avaliações
- Projeto de Vida em Rco+Aulas 2ºtrimestre 2023Documento8 páginasProjeto de Vida em Rco+Aulas 2ºtrimestre 2023g.melloAinda não há avaliações
- Apostila Aula 1 - Semana Do Consultor de Ergonomia 2023Documento44 páginasApostila Aula 1 - Semana Do Consultor de Ergonomia 2023HELIO DA SILVAAinda não há avaliações
- Prova 6 - Serviços GeraisDocumento14 páginasProva 6 - Serviços GeraisPauloAinda não há avaliações
- Artigos Revista AmericanaDocumento40 páginasArtigos Revista AmericanaLarissaFabrizAinda não há avaliações
- O Jiu-Jitsu Como Inclusão Social No Ambiente EscolarDocumento32 páginasO Jiu-Jitsu Como Inclusão Social No Ambiente EscolarSinval NetoAinda não há avaliações
- Teoria Geral de SistemasDocumento15 páginasTeoria Geral de SistemasGabrielleKlerchAinda não há avaliações
- 1997 - Automação Bancaria e o Impacto Sobre o TrabalhoDocumento80 páginas1997 - Automação Bancaria e o Impacto Sobre o TrabalhomonecheAinda não há avaliações
- Ao Ilustríssimo Síndico Do Condominio Ficcos BenjaminDocumento3 páginasAo Ilustríssimo Síndico Do Condominio Ficcos BenjaminRICARDO ANTONIO CORREIA DE ARÁUJOAinda não há avaliações
- Reunião 09JAN23Documento51 páginasReunião 09JAN23agamenon buenoAinda não há avaliações
- Simulado 8º AnoDocumento12 páginasSimulado 8º AnoRosimere BritoAinda não há avaliações
- Recurso Extraordinário Com Agravo 1.067.392 CearáDocumento11 páginasRecurso Extraordinário Com Agravo 1.067.392 CearáWagner FrancescoAinda não há avaliações
- Willian Sousa Damasceno Diário Oficial de SobralDocumento20 páginasWillian Sousa Damasceno Diário Oficial de SobralWilliam SousaAinda não há avaliações
- Como Aumentar o Seu Desempenho Sexual: Muito Além Do PrazerDocumento10 páginasComo Aumentar o Seu Desempenho Sexual: Muito Além Do PrazerEmanoel KapaAinda não há avaliações
- Laudo 5Documento1 páginaLaudo 5Bruna vitoria Morato salesAinda não há avaliações
- OCEANOSDocumento2 páginasOCEANOSMyllenaAinda não há avaliações
- O Chamado de DeusDocumento11 páginasO Chamado de DeusRomulo SouzaAinda não há avaliações
- Curso Administrador FincasDocumento9 páginasCurso Administrador Fincassilvia0% (1)
- Raf ElectronicsDocumento1 páginaRaf ElectronicsdjalexremixAinda não há avaliações
- Normas para Distribuição de Vagas para Outras Forças No Sistema Colégio Militar Do Brasil (Eb60-N-08.005), 1 Edição, 2019Documento13 páginasNormas para Distribuição de Vagas para Outras Forças No Sistema Colégio Militar Do Brasil (Eb60-N-08.005), 1 Edição, 2019tatianaeltabeyAinda não há avaliações
- Bolo de MandiocaDocumento11 páginasBolo de MandiocaNeilianeSilva0% (1)
- O Filme Tempos Modernos e A Moderna Gestão de PessoasDocumento1 páginaO Filme Tempos Modernos e A Moderna Gestão de PessoasDeysi SantosAinda não há avaliações
- Impacto de TEDocumento107 páginasImpacto de TEClara MenezesAinda não há avaliações
- BG Nº 122 de 3 JUL 2023Documento14 páginasBG Nº 122 de 3 JUL 2023fulano de talAinda não há avaliações
- Novena Da Imaculada ConceicaoDocumento7 páginasNovena Da Imaculada ConceicaoHelen Correia AlvesAinda não há avaliações
- 01-Indice - Nem Uma Hora - Larry Lea PDFDocumento4 páginas01-Indice - Nem Uma Hora - Larry Lea PDFJaime RCAinda não há avaliações