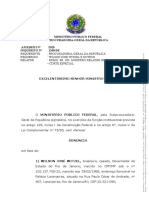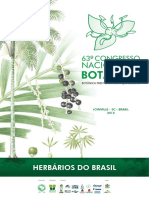Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Invenção Da Favela
A Invenção Da Favela
Enviado por
Maruca Batata Dulce0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações4 páginasliteratura brasileira
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoliteratura brasileira
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações4 páginasA Invenção Da Favela
A Invenção Da Favela
Enviado por
Maruca Batata Dulceliteratura brasileira
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
VALLADARES, Licia do Prado.
A inveno da
favela: do mito de origem a favela.com. Rio de
Janeiro: FGV, 2005. 204 p.
Linda M. P. Gondim
A inveno da favela uma daquelas obras
que j nascem clssicas, no sentido de representar
um marco, pela originalidade, abrangncia e profundidade, no estudo de um tema ou campo do
conhecimento. O livro referncia obrigatria para
os pesquisadores do fenmeno favela, qualquer que
seja o enfoque adotado haja vista a maestria com
que Lcia Valladares consegue articular a anlise
das ideologias com a discusso do contexto histrico, dando conta, simultaneamente, das dimenses material e simblica que constituem a realidade social.
A Autora explicita, nos primeiros pargrafos do texto, que seu objeto so as representaes
construdas por diversos atores ao longo dos cem
anos de existncia das favelas, no se detendo em
suas causas nem em sua evoluo, suas manifestaes e conseqncias, expressas em indicadores
quantitativos no contexto urbano. Esses aspectos,
porm, no esto de modo algum ausentes da anlise.
A inveno da favela insere-se numa trajetria intelectual e profissional marcada pela seriedade e coerncia, sem prejuzo da ousadia e da
criatividade.1 Desde o incio de sua experincia
como pesquisadora, ainda estudante de Cincias
1
O entrelaamento entre a carreira de Licia Valladares e a
histria da pesquisa sobre favelas no Rio de Janeiro fica
evidente em diversas partes do livro, o que s contribui
para enriquecer o tratamento do tema. Nesse sentido, ao
se referir sua experincia, seria mais adequado que a
Autora utilizasse sempre a primeira pessoa do singular,
como faz na Introduo, ao invs de recorrer a um ns
Sociais no Rio de Janeiro, a curiosidade intelectual, a reflexo terica e um cuidadoso trabalho
emprico conduziram seus passos no estudo da
questo habitacional e, em particular, das favelas.
Numa poca (1967-68) em que pesquisa social era
sinnimo de survey, Lcia Valladares, sob a orientao de Carlos Alberto Medina, realizou observao participante na favela da Rocinha, onde
residiu por nove meses. Essa experincia, como
ela relata na Introduo, motivou-a a elaborar sua
tese de doutorado sobre a poltica habitacional do
governo do ento Estado da Guanabara, centrada
na remoo de favelados para conjuntos
habitacionais longnquos e mal equipados, como
Cidade de Deus. A tese, defendida na Frana
em 1974, foi publicada pela Zahar Editores, (Rio
de Janeiro, 1978), com o ttulo Passa-se uma casa.
No caberia, aqui, reconstituir a carreira da
Autora, da qual, provavelmente, o ponto culminante o livro resenhado, originado na sua tese
de Habilitation Diriger des Recherches, trabalho
exigido de candidatos ao ingresso como professores efetivos no sistema universitrio francs.2 Ao
mencionar a trajetria de Lcia Valladares, meu
objetivo destacar uma caracterstica da obra em
pauta, pertinente sociologia do conhecimento:
trata-se de seu carter de meta-inveno, ou seja,
o estudo da favela como fenmeno inventado
ele mesmo uma inveno. Esse termo tem o valor heurstico de chamar ateno para os aspectos
simblicos e ideolgicos da realidade produzidos
por atores sociais e no por uma espcie de deus
ex machina.
Nesse sentido, o livro resenhado tambm
uma criao que desvenda caminhos, mas que nada
tem de mgica ou instantnea, sendo, antes, um
trabalho artesanal, no que tem de delicado e dedicado, e cientfico, no que tem de crtico e criativo.
Evidncia disto o cuidado com que a pesquisadora lana mo de materiais e fontes de informao os mais diversos, incluindo imagens publicadas
abstrato (por exemplo, quando menciona nosso
contacto pessoal com Anthony Leeds... p. 112, nota
176). Fica a sugesto para uma prxima edio.
2
Atualmente, Licia Valladares professora da Universidade de Lille.
485
CADERNO CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 485-488, Set./Dez. 2005
A INVENO DA FAVELA: do mito de
origem a favela.com
RESENHA
Linda M. P. Gondim
CADERNO CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 485-488, Set./Dez. 2005
RESENHA
na mdia na primeira metade do sculo XX.
A inveno da favela contrape-se tendncia, identificada entre os estudiosos do fenmeno,
de fazer tbula rasa do conhecimento produzido
desde as primeiras dcadas do sculo XX. Da o
ambicioso trabalho de arqueologia intelectual que
transparece desde o primeiro captulo, onde se
revelam sucessivas camadas de discursos sobre
a favela, inicialmente produzidos por mdicos,
jornalistas, engenheiros, reformadores sociais e
outros intelectuais, engajados em discusses sobre os destinos da ento capital federal e da prpria nao. Na base dessas camadas encontra-se
a Tria Negra de Euclides da Cunha: a palavra
favela, no final do sculo XIX, designava um assentamento formado no Rio de Janeiro por ex-combatentes de Canudos que ocuparam o Morro da
Providncia, onde se encontrava uma planta chamada favela, tambm existente no arraial situado
em Monte Santo, Bahia.
A pesquisa revela uma razo menos prosaica para a associao entre Os sertes e o mito fundador da favela. Se, como realidade histrica, esta
remonta aos ltimos anos do sculo XIX sendo,
portanto, anterior publicao da obra de Euclides
da Cunha (1902) no plano do imaginrio essa
obra forneceu aos intelectuais a matria prima
que lhes permitiu compreender e interpretar a
favela emergente (p. 30): aglomerao de excludos rebeldes, formando uma comunidade coesa e
pondo em perigo a ordem social.
O Captulo I analisa, ainda, a transformao da favela em problema urbanstico e social a
desafiar a administrao pblica nas primeiras
dcadas do sculo XX, motivando estudos e pesquisas que culminaram na sua incluso no Plano
Agache (1930) e no Cdigo de Obras de 1937. O
texto desvela personagens esquecidos como o mdico Victor Tavares de Moura e a assistente social
Maria Hortncia do Nascimento e Silva, autores
de estudos que viriam a subsidiar a pioneira experincia de poltica habitacional para favelados, na
forma de Parques Proletrios, no incio da dcada
de 1940. Destaque especial concedido a Alberto
Passos Guimares, dirigente do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatstica (IBGE) que elaborou a
definio da categoria favela, pesquisada no Recenseamento Geral de 1950.
No Captulo II, Lcia Valladares escava as
representaes sociais sobre as favelas, construdas
nos primrdios do processo de institucionalizao
das Cincias Sociais no Brasil (dcadas de 1950 e
1960). Discute a influncia do Padre Lebret e do
movimento Economia e Humanismo, sob a gide
dos quais foi realizado o estudo Aspectos humanos das favelas cariocas, conduzido pela
SAGMACS (Sociedade de Anlises Grficas e
Mecanogrficas Aplicadas aos Complexos Sociais),
publicado, em 1960, no jornal O Estado de So
Paulo. Tal estudo, que influenciou a produo dos
principais estudiosos da favela nos anos subseqentes Carlos Alberto Medina, Jos Artur Rios,
Anthony Leeds e Janice Pearlman, entre outros
encontra-se ausente, lamentavelmente, das bibliografias sobre o tema.
A anlise desvenda conexes inusitadas,
como a semelhana de mtodos e princpios utilizados no estudo da SAGMACS e aqueles da Escola de Chicago: nfase no trabalho de campo de
natureza qualitativa, utilizando mltiplas fontes,
em conjugao com mtodos quantitativos; articulao entre pesquisa e ao social, tendo o bairro
como foco de interveno; adoo de uma abordagem multidisciplinar, associando aportes da Sociologia, Antropologia, Geografia, Economia e outras Cincias Sociais.
A arqueologia intelectual feita no Captulo
II abrange, tambm, atores como o Peace Corps,
que estudaram a favela numa perspectiva menos
sofisticada, marcada por uma viso
homogeneizadora dos favelados e por um ativismo
reformista alienado do contexto poltico repressor
da poca (dcadas de 1960 e 1970). A escavao
evidencia a complexidade da questo, pois o Peace
Corps contava com a colaborao de Anthony
Leeds, um competente pioneiro do trabalho de
campo antropolgico nas favelas do Rio de Janeiro, que iria contribuir decisivamente para a implantao do Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social do Museu Nacional (UFRJ).
486
Acompanhando as mudanas no processo
de construo das representaes sobre favelas, nas
dcadas de 1970 e 1980, o Captulo III assinala a
transio do foco de anlise para os atores coletivos, j que a ampla difuso do interesse de estudlas no mais permite abordar a questo do ponto
de vista de atores individuais e suas pequenas redes de investigao. A conjuntura poltica da poca era marcada, simultaneamente, pelo
autoritarismo ainda que houvesse razovel espao para a crtica nos meios intelectuais e pela
exploso dos aglomerados urbanos e metropolitanos. A atuao do Banco Nacional da Habitao
viabilizou a remoo de expressivo nmero de
favelados para conjuntos habitacionais; contudo,
ao invs de diminuir, multiplicavam-se as chamadas habitaes sub-normais, segundo designao do IBGE.
A favela torna-se objeto preferencial de pesquisa nos programas de ps-graduao que se
multiplicam, bem como em centros de pesquisa
governamentais e organizaes no governamentais. Essa nova situao teve um resultado
ambivalente: se, por um lado, fez com que as favelas deixassem de ser demonizadas como responsveis ou condensadoras de todas as mazelas urbanas, por outro lado contribuiu para a permanncia de dogmas no sentido de pressupostos
compartilhados, mas no explicitados nem discutidos pelos pesquisadores.
O primeiro dogma corresponde viso
da favela como um espao absolutamente especfico e singular (p. 149); o segundo se expressa no
tratamento de tal espao como o territrio urbano
[tpico] dos pobres (p. 151); e o terceiro diz respeito insistncia em considerar as favelas como categoria unvoca, abstraindo-se tanto as considerveis diferenas entre elas, como as variaes encontradas no interior das mesmas. A consistncia
da crtica que Lcia Valladares faz aos dois ltimos
dogmas evidente, como se constata na anlise
apresentada no prprio Captulo III e na Concluso: sem negar que grande parte dos favelados so
pobres, outros espaos urbanos podem ser considerados, tambm, lcus da pobreza, como conjun-
tos habitacionais, loteamentos irregulares e mesmo bairros perifricos.
Quanto ao terceiro dogma, a pretensa
homogeneidade das favelas, na viso da Autora,
no se sustenta, devendo-se assinalar suas diferenas de natureza sociolgica (p. 152), associadas a outras dimenses, expressas em estatsticas
e anlises, que distinguem variaes essas sim,
reconhecidas pelos pesquisadores quanto ao tamanho, tempo de ocupao, rea da cidade onde
se localizem, tipo de terreno onde se implantam,
disponibilidade de servios e equipamentos urbanos, etc. O exemplo da Rocinha, apresentado na
Concluso do livro, revela a variedade de servios
e atividades disponveis sua populao: rede de
TV a cabo exclusiva, agncias bancrias,
videolocadoras, lojas de eletrodomsticos, clnicas particulares, laboratrios, escritrios de advocacia, agncias imobilrias... Sua relao com a cidade amplifica-se mediante a incluso no mundo
globalizado, o que ocorre tambm com outras favelas, que dispem de sites na Internet e so includas no circuito turstico (Exotic Tours, Favela Tour,
Jeep Tour) (p. 153). E nada mais emblemtico da
ruptura com o esteretipo da favela como produtora apenas de violncia, trfico de drogas ou de
manifestaes culturais especficas (e.g. samba, rap,
religies afro-brasileiras ou pentecostais) do que a
ascenso social de jovens favelados que obtm diplomas universitrio ou mesmo de ps-graduao,
os doutores da favela.
Entretanto, a meu ver, essa realidade indita e multifacetada no nega a especificidade da favela como fenmeno social primeiro dos
dogmas denunciados pela Autora. Como negla, se o prprio objeto da obra afirma tal
especificidade, no plano das representaes? Em
outras palavras, se nada h de especfico no fenmeno, como seria possvel discutir sua inveno?
Cabe, aqui, lembrar o princpio formulado por
Thomas, um dos nomes centrais da Escola de
Chicago, pioneiro da abordagem fenomenolgica
na Sociologia e precursor da pesquisa qualitativa:
Se os homens definem situaes como reais, elas
so reais em suas conseqncias (apud Coser,
487
CADERNO CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 485-488, Set./Dez. 2005
Linda M. P. Gondim
RESENHA
1977) que o digam os favelados, objeto de estig- vela.
ma (Gondim, 1981/82), em decorrncia, em gran- REFERNCIAS
de parte, da natureza (vista como) especfica do
COSER, Lewis. Masters of Sociological Thoughts: ideas in
lugar onde moram.
historical and social context. 2. ed. Nova York: Harcourt
Disponvel em:
Vale ressaltar que minha discordncia com Brace Jovanovitch, 1977.
www2.Pfeiffer.edu/Lridener/DSS/Thomas/THOMAS PL.
relao a esse ponto da obra, longe de lhe dimi- HTML.
nuir o mrito, antes o acentua, pois aponta para o GONDIM, Linda M. P. A manipulao do estigma de
favelado na poltica habitacional do Rio de Janeiro. Revisseu papel como incentivadora de um debate que ta de Cincias Sociais, Fortaleza, 12/13, n. 1 / 2, p. 27-44,
tem tudo para ser mais complexo, original e pro- 1981/1982.
Licia do Prado. Passa-se uma casa; anlifundo a partir da publicao de A inveno da fa- VALLADARES,
se do Programa de Remoo de Favelas do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
(Recebido para publicao em dezembro de 2005)
(Aceito em dezembro de 2005)
CADERNO CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 485-488, Set./Dez. 2005
Linda M. P. Gondim Sociloga, Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de
Cornell (EUA), Professora do Departamento de Cincias Sociais e do Programa de Ps-Graduao em
Sociologia da Universidade Federal do Cear. Pesquisadora I do CNPq e Lder do Grupo de Pesquisa Culturas das Cidades: arte, poltica e espao pblico na contemporaneidade, registrado no CNPq. Publicou
vrios artigos, livros e captulos de livros sobre poltica habitacional, movimentos sociais e participao
popular no planejamento e na gesto das cidades, incluindo os livros Clientelismo e modernidade nas
polticas pblicas: os governos das mudanas e O Drago do Mar e a Fortaleza ps-moderna: cultura,
patrimnio e imagem da cidade (no prelo).
488
Você também pode gostar
- Tinhorao, O Choro en Música Popular. Um Tema em DebateDocumento11 páginasTinhorao, O Choro en Música Popular. Um Tema em DebateJosefina Lewin100% (5)
- Historia Da PMDocumento66 páginasHistoria Da PMLuan Vasaki Guimarães100% (3)
- Fulniô - Os Últimos Tapuia PDFDocumento332 páginasFulniô - Os Últimos Tapuia PDFJardel RodriguesAinda não há avaliações
- Disciplina Organizaçao de EventosDocumento109 páginasDisciplina Organizaçao de EventosNelson C. Souza100% (1)
- Manual Identidade Visual Prefeitura RioDocumento41 páginasManual Identidade Visual Prefeitura RioJunior MoriAinda não há avaliações
- Amazonias em Tempos Contemporaneos Entre Diversidades e AdversidadesDocumento288 páginasAmazonias em Tempos Contemporaneos Entre Diversidades e AdversidadesMariah Torres Aleixo100% (1)
- Provas e Gabaritos Sobre A Urbanização No BrasilDocumento77 páginasProvas e Gabaritos Sobre A Urbanização No Brasilvaleria0% (1)
- História Do Brasil - República Velha RevoltasDocumento5 páginasHistória Do Brasil - República Velha RevoltasWaleska RibeiroAinda não há avaliações
- Lista ENEM 01 - GABARITODocumento21 páginasLista ENEM 01 - GABARITOAlguém QualquerAinda não há avaliações
- A Historia Da Imprensa No Brasil ColonialDocumento23 páginasA Historia Da Imprensa No Brasil Colonialprofessorfabio100% (1)
- Cildo MeirelesDocumento9 páginasCildo MeirelesPedro Gabriel Amaral CostaAinda não há avaliações
- Marilia Kranz Pinturas e Relevos - MKZDocumento70 páginasMarilia Kranz Pinturas e Relevos - MKZGalateaAinda não há avaliações
- Modesto Bittencourt de SouzaDocumento17 páginasModesto Bittencourt de SouzaLéo EleutérioAinda não há avaliações
- Marica Urbanização DispersaDocumento21 páginasMarica Urbanização DispersaCentro de Documentação Técnica e Científica de Maricá - CDTCMAinda não há avaliações
- Arte e PolíticaDocumento19 páginasArte e PolíticaAndré RodriguesAinda não há avaliações
- Ojb 09Documento16 páginasOjb 09Anderson De Ana Solimar CarneiroAinda não há avaliações
- Quem e o Pastor Do Pastor - Pr. JonairDocumento2 páginasQuem e o Pastor Do Pastor - Pr. JonairErisvaldo Souza LeiteAinda não há avaliações
- Bib20 2Documento18 páginasBib20 2Carlos GiganteAinda não há avaliações
- 07 Prova 2Documento20 páginas07 Prova 2João VíctorAinda não há avaliações
- Witzel-Denuncia 280820203312Documento119 páginasWitzel-Denuncia 280820203312Tácio LorranAinda não há avaliações
- 101 Ferrovias em Construcao 2010Documento65 páginas101 Ferrovias em Construcao 2010Rodrigo Nascimento BarrosAinda não há avaliações
- Diagnóstico Bairro Da Condor BelémDocumento18 páginasDiagnóstico Bairro Da Condor BelémBiancaOliveiraAinda não há avaliações
- Plano Estratégico de Desenv. Urbano Integrado - Produto - 4 PDFDocumento426 páginasPlano Estratégico de Desenv. Urbano Integrado - Produto - 4 PDFMarcio FonsecaAinda não há avaliações
- PDF TNT FinalDocumento12 páginasPDF TNT FinalleledigitalcontentAinda não há avaliações
- Geociencias,+17210 FINAL+FINALDocumento13 páginasGeociencias,+17210 FINAL+FINALTony MaiaAinda não há avaliações
- 6ano - 1SEMESTRE FINAL - 2020 - ALUNO - 06FEV-páginas-7-72 PDFDocumento66 páginas6ano - 1SEMESTRE FINAL - 2020 - ALUNO - 06FEV-páginas-7-72 PDFlucelaine&charles rentoAinda não há avaliações
- Herbarios Do BrasilDocumento63 páginasHerbarios Do BrasilalgasperAinda não há avaliações
- Anais VIII Seminário de Pesquisa Da Pós-Graduação em História (2015)Documento877 páginasAnais VIII Seminário de Pesquisa Da Pós-Graduação em História (2015)ARS-PRPP0% (1)
- Darwinismo SocialDocumento12 páginasDarwinismo SocialDenise BarataAinda não há avaliações
- TST-CIDADES-FEIRA-FERROVIA-7440-Texto Del Artículo-18481-1-10-20230220Documento38 páginasTST-CIDADES-FEIRA-FERROVIA-7440-Texto Del Artículo-18481-1-10-20230220Doralice Sátyro MaiaAinda não há avaliações