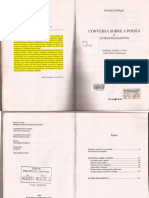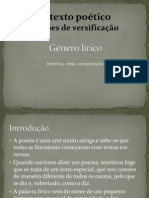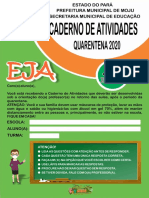Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Generos Literarios Entrevista Teoria
Generos Literarios Entrevista Teoria
Enviado por
Camila Leite de AraujoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Generos Literarios Entrevista Teoria
Generos Literarios Entrevista Teoria
Enviado por
Camila Leite de AraujoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gneros literrios e gneros jornalsticos
Uma reviso terica de conceitos
Paula Cristina Lopes
Universidade Autnoma de Lisboa
ndice
1
Gneros literrios
Gneros jornalsticos
Bibliografia
10
A identificao, definio e ordenao em categorias dos vrios modos
de narrativa, formas de classificao ou rotinas prprias da escrita a que chamamos gneros manifestamente ambgua e discutvel. A questo controversa, desde Plato at actualidade.
Os gneros so diferentes modalidades de criao narrativa, so classes
de texto, codificaes de propriedades discursivas (TODOROV, 1978: 49,
51) que se determinam e diferenciam por factores variveis como a temtica,
a finalidade, a estrutura ou a forma. O conceito de gnero , pois, teoricamente baseado tanto na forma exterior (metro e estrutura especficos) como
tambm na forma interior (atitude, tom, finalidade mais grosseiramente, sujeito e pblico (WELLEK e WARREN, s.d: 289). Tendo em conta estes factores, e numa primeira anlise, recorrendo trade clssica, podemos limitar os
gneros literrios a trs grandes categorias: pica, Lrica e Drama. O mesmo
se passa no que concerne aos gneros jornalsticos: Informativos (Facts) e
Opinativos (Comments).
Mestre em Cincias da Comunicao e ps-graduada em Comunicao, Cultura e Tecnologias da Informao. Professora na Universidade Autnoma de Lisboa e formadora no Cenjor,
frequenta o Programa de Doutoramento em Sociologia do ISCTE.
Paula Cristina Lopes
Gneros literrios
O conceito de gnero entendido atravs da codificao de propriedades do
discurso (semnticas, pragmticas, verbais) presentes em determinado texto.
Carlos Ceia afirma que os gneros literrios so formas de classificao dos
textos literrios, agrupados por qualidades formais e conceptuais em categorias fixadas e descritas por cdigos estticos1 . Mas, de onde vm os gneros?
Tzvetan Todorov procura responder a esta questo, dizendo que os gneros
(literrios) tm origem pura e simplesmente no discurso humano (TODOROV,
1978: 62), que vm simplesmente de outros gneros. Um novo gnero
sempre a transformao de um ou vrios gneros antigos: por inverso, por
deslocamento, por combinao (TODOROV, 1978: 48).
O mesmo autor salienta ainda que os gneros existem como instituio,
funcionam como horizonte de espera para os leitores e como modelos de
escrita para os autores. (. . . ) Atravs da institucionalizao, os gneros comunicam com a sociedade em que aparecem (TODOROV, 1978: 52). Portanto,
enquanto codificao de discurso, relacionam-se com um tempo, com uma
conveno histrica, com um perodo poltico, social, cultural.
Mas, na verdade, o conceito nem sempre foi entendido assim. O conceito de gnero foi, ao longo dos sculos, entendido como modelo de criao
literria e no, como visto na actualidade, enquanto categoria histrica, sujeita a mudana.
Segundo R. Wellek e A. Warren, a teoria dos gneros um princpio ordenador: classifica a literatura e a histria literria no em funo da poca e
do lugar, mas sim de tipos especificamente literrios de organizao ou estrutura (WELLEK e WARREN, s.d.: 282). A teoria dos gneros literrios pode
ser sistematizada em trs momentos-chave: Clssico (de Plato e Aristteles
ao neoclassicismo), Romntico (de Hegel aos poetas ingleses) e Moderno (do
Formalismo Russo aos nossos dias).
O sistema literrio do Classicismo caracteriza-se pela imitao de modelos da antiguidade greco-clssica, numa poca de teorizao pouco frutifica.
Com o Romantismo tudo posto em causa, sobretudo a rigidez dos gneros:
um perodo de grande liberdade artstica, de culto do gnio. No Modernismo e Ps-modernismo, dada a complexidade dos fenmenos tericos
e histricos, deixa de ter sentido o conceito de norma, pois estamos a viver, h
mais de um sculo, uma poca em que os gneros literrios se realizam num
horizonte de profunda liberdade artstica e, portanto, so refractrios consol1
Gneros Literrios in CEIA, Carlos, E-Dicionrio de Termos Lingusticos
(http://www.fcsh.unl.pt/)
www.bocc.ubi.pt
Gneros literrios e gneros jornalsticos
idao de regras, para alm da relativa rapidez com que se exaurem as prprias
poticas (MELLO, 1998: 72).
No Livro III de A Repblica, Plato fundamenta e sistematiza a questo
dos gneros literrios e procede a uma tripartio, afirmando que os textos
literrios so uma narrativa de acontecimentos passados, presentes e futuros
que pressupe trs modalidades de concretizao: por um simples acto narrativo, dominado pelo discurso de primeira pessoa do prprio narrador-poeta
(como no ditirambo2 ); por um acto mimtico (a instncia da mimesis), dominado pelo discurso da personagem (como na tragdia e na comdia); e por
um modo misto, que combina os dois modos de representao anteriores, alternando as vozes do narrador-poeta e das personagens (como na epopeia).3
Aristteles costuma ser apontado como o fundador da teoria dos gneros.
A matriz da poesia a imitao; a imitao constitui o princpio unificador
dos textos poticos. Na Potica faz referncia trade pica Lrica
Drama como gneros literrios privilegiados e sistematiza os seus aspectos compositivos, tanto de natureza semntica como formal (MELLO, 1998:
66). Aristteles sugere uma distino entre os modos literrios (a imitao
narrativa que produz o texto literrio) e as diferentes formas de representao
textual que resultam do processo mimtico artstico (os diferentes gneros).
(. . . ) a arte da poesia concretiza-se em diferentes modalidades (gneros) a
partir de um modo nico de realizao: a mimesis. Toda a poesia imitao
(. . . ) encontra nas diferentes espcies os gneros literrios como a epopeia,
a tragdia ou a poesia ditirmbica a mesma matriz de interpretao da realidade4 . Aristteles assinala como factores diferenciadores os meios de imitao (ritmo, canto e verso), os objectos que imitam (personagens superiores
ao homem, referncia epopeia e tragdia; personagens inferiores, referncia
pardia e comdia) e os modos de imitao (narrativo no caso da epopeia,
dramtico na caso da tragdia).
Com Horcio sobreveio a questo dos efeitos estticos que a arte, subordinada ao conceito de belo, deve produzir sobre o pblico. (. . . ) No processo de
elaborao ficcional, o poeta deve ter em conta a fora do referente social e cultural, bem como o critrio da verosimilhana (MELLO, 1998: 68). Horcio
concebia os gneros como entidades diferenciadas entre si, configuradas por
distintos caracteres temticos e formais, devendo o poeta mant-los cuidadosa2
Ditirambo a forma de lrica coral popularizada na Grcia arcaica, de inspirao dionisaca, e prpria de ocasies festivas. O ditirambo precede as comdias e as tragdias gregas.
in CEIA, Carlos, E-Dicionrio de Termos Lingusticos (http://www.fcsh.unl.pt/)
3
Gneros Literrios in CEIA, idem
4
Gneros Literrios in CEIA, ibidem
www.bocc.ubi.pt
Paula Cristina Lopes
mente separados, de modo a evitar, por exemplo, qualquer hibridismo entre o
gnero cmico e o gnero trgico (SILVA, 2007: 347).
Em relao a este perodo, R. Wellek e A. Warren sistematizam: Aristteles e Horcio so os textos clssicos da teoria dos gneros. Com base neles, encaramos a tragdia e a pica como espcies caractersticas (e, tambm, como as
espcies maiores). Mas pelo menos Aristteles apercebia-se tambm de outras
e mais fundamentais distines: entre drama, pica e lrica. (. . . ) As trs espcies maiores encontram-se j distinguidas em Plato e Aristteles consoante a
maneira da imitao (ou da representao): a poesia lrica a persona do
prprio poeta; na poesia pica (ou no romance) o poeta, em parte, fala na sua
prpria pessoa, como narrador, e, em parte, faz as suas personagens falarem
em discurso directo (narrativa mista); no drama, o poeta desaparece por trs do
elenco das suas personagens (WELLEK e WARREN, s.d.: 282284).
O Neoclassicismo assenta na ideia de que a teoria dos gneros tradicionais
uma evidncia em si mesma, por isso no necessita de explicitao ou de
uma nova sistematizao5 . Valoriza-se a pureza do gnero, repudia-se a
mistura de estilos, temas ou emoes, aceita-se a epopeia e a tragdia como
gneros maiores.
O Romantismo assume, como j salientado, a subjectividade: tudo
posto em causa, sobretudo a rigidez dos gneros, negado o carcter imutvel
dos gneros e das regras de classificao/ordenao. A teoria clssica dos
gneros reestruturada, reequacionada. O Romantismo aceita a multiplicidade e a diversidade das obras literrias, ao mesmo tempo que reclama o carcter absoluto da arte em relao a quaisquer intervenes exteriores do artista6 .
Hegel e Schlegel so figuras incontornveis deste perodo. Hegel correlaciona,
na Esttica, a tripartio dos gneros com as categorias passado, presente e
futuro e Schlegel retoma a tripartio dos gneros de Plato e Aristteles com
nova enunciao: em termos dialcticos, Schlegel entende a pica como a
tese, a lrica como a anttese e o drama como a sntese de todas as realizaes subjectivas e objectivas da imaginao artstica7 . Hegel, recuperando
a tradio clssica, distingue trs gneros: pica, Lrica e Drama. A pica,
vocacionada para representar um quadro objectivo, representa o primeiro estdio de evoluo dos gneros; a lrica, associada subjectividade, representa
o segundo estdio; enquanto que o drama opera a sntese do objectivo e do
subjectivo (MELLO, 1998: 82).
5
6
7
Gneros Literrios in CEIA, ibidem
Gneros Literrios in CEIA, ibidem
Gneros Literrios in CEIA, ibidem
www.bocc.ubi.pt
Gneros literrios e gneros jornalsticos
Nas estticas que sucedem ao Romantismo, a principal preocupao parece
ser a compreenso do elemento humano, social e cultural, representado na
obra literria. forte, acentuado, o sentido da historicidade do homem e das
suas circunstncias. Da complexidade de conceitos, linguagens e metodologias resulta um ecletismo na abordagem dos gneros. Os estudos sobre o Psmodernismo literrio apontam num mesmo sentido: assumem-se as multidisciplinaridades, as interseces discursivas, a promiscuidade completa entre
todos os gneros literrios8 .
No podemos esquecer ainda que a referncia seja breve as investigaes do italiano Benedetto Croce. Aceitando a utilidade dos gneros na
sistematizao da histria literria, Croce aproxima-se das formas do pensamento liberal, rejeitando abstraces e generalizaes. Sob a sua influncia,
difundiu-se, durante a primeira metade do sculo XX, um forte descrdito em
relao ao conceito de gnero.
Os formalistas russos entendem o gnero literrio como uma entidade
evolutiva, cujas transformaes adquirem sentido no quadro geral do sistema literrio e na correlao deste sistema com as mudanas operadas no
sistema social, e por isso advogam uma classificao historicamente descritiva
dos gneros (SILVA, 2007: 371). Os gneros vivem, desenvolvem-se,
modificam-se, desagregam-se, do lugar a novos gneros. Relacionada com
esta corrente est a caracterizao proposta por Jakobson (SILVA, 2007: 373):
o gnero pico, centrado sobre a terceira pessoa, pe em destaque a funo
referencial; o gnero lrico, orientado para a primeira pessoa, est vinculado
estreitamente funo emotiva; o gnero dramtico, poesia da segunda pessoa, apresenta como subdominante a funo conotativa.
Bakhtine distingue gneros primrios ou simples (como a narrativa familiar, a carta, o dilogo do dia-a-dia) e gneros complexos (os gneros literrios).
O gnero entendido no contexto global das prticas verbais e seus condicionamentos histricos e socioculturais. Para Bakhtine, o gnero representa o
princpio de determinao da obra literria.
Northrop Frye estabelece a distino entre uso literrio e no literrio da
linguagem (recorde-se que tambm Wellek e Warren reconhecem trs usos
principais da linguagem literrio, corrente e cientfico). Frye identifica cinco
modos ficcionais baseados nas capacidades do heri das obras de fico (como,
por exemplo, o modo fantstico, o modo mtico ou o modo irnico) e estabelece a existncia de quatro categorias narrativas mais amplas do que os
gneros: o romance, a stira, a tragdia e a comdia. Por fim, constri uma
teoria dos gneros, tendo como elemento diferenciador o radical de apre8
Gneros Literrios in CEIA, ibidem
www.bocc.ubi.pt
Paula Cristina Lopes
sentao: o epos (narrao oral), o gnero lrico (separao autor audincia,
poeta fala frequentemente consigo prprio), o gnero dramtico (separao
autor auditrio, mas caracteres internos da histria representada dirigem-se
ao auditrio) e a fico (na qual domina a prosa). Frye (REIS, 2001: 240)
esclarece que a origem das palavras drama, pica e lrica sugere que o
princpio central do gnero bastante simples. A base das distines de gnero
na literatura parece ser o radical de apresentao. As palavras podem ser representadas diante de um espectador; podem ser faladas perante um ouvinte;
podem ser cantadas ou entoadas; ou podem ser escritas para um leitor.
Mais recentemente, Robert Scholes props trs modos fundamentais a
stira, a histria e o romance , por sua vez subdivididos numa ampla gama.
Em jeito de resumo, podemos dizer que, para a moderna teoria literria,
o que est em causa elaborar formas racionais que dem conta, j no do
nvel abstracto do discurso literrio (como o fizeram o Formalismo Russo e as
diversas teorias semiticas), mas dos modos de produo do sentido das formas, tendo em conta as situaes concretas de produo e recepo, isto , os
textos literrios e a sua leitura, no quadro da pragmtica literria (MELLO,
1998: 25). A este respeito, continua Cristina Mello: Atravs da conjugao
de perspectivas da teoria do texto e da enunciao, esboa-se, nos ltimos anos
(desde a dcada de 70), uma teorizao semitica dos gneros que, tendo em
conta a natureza pragmtica da literatura, privilegia cada vez mais os contextos de produo e recepo dos textos literrios. Passadas as pocas em que
os gneros eram concebidos segundo uma orientao filosfica de tipo idealista (o que sucedeu em todo o perodo romntico, prolongando-se na esttica
de Croce), atravessamos uma poca de continuidade do legado do Formalismo
Russo (permanece a valorizao das estruturas textuais), a par de uma, cada
vez mais significativa, ateno votada s manifestaes concretas, nos planos
da produo e da recepo (MELLO, 1998: 38). Na mesma linha de anlise,
Michal Glowinski, citado na obra Teoria Literria, argumenta: Pouco importa que os gneros observem as regras reconhecidas e geralmente aprovadas
numa dada poca, que delas se afastem ou mesmo as transgridam deliberadamente; o certo que programam, de certa forma, as modalidades de leitura, que
pressupem a priori uma certa atitude do leitor perante o discurso e por isso
apelam ao seu saber ou, se preferirem, sua competncia. Assim encarado, o
gnero em nada difere dos outros factores do discurso literrio: est orientado
para o receptor e integra, por isso mesmo, aquilo a que chamamos conscincia genrica. Essa conscincia existe, de uma ou de outra forma, em todos os
participantes potenciais na comunicao literria. Manifesta-se, porm, diversamente no emissor (...) e no receptor. (...) Esta conscincia assume diversas
www.bocc.ubi.pt
Gneros literrios e gneros jornalsticos
formas; a sua manifestao mnima consiste numa aptido espontnea para
distinguir um gnero de outro gnero, baseando-se tal distino, na maioria
dos casos, numa tradio, isto , nos modelos aceites por um grupo social
(ANGENOT, 1995: 115118).
J Wellek e Warren salientam que, na sua maioria, a moderna teoria
literria mostra-se inclinada (...) a dividir a literatura imaginativa em fico
(romance, conto e pica), drama (quer em prosa, quer em verso) e poesia (centrada no que corresponde antiga poesia lrica). (...) A moderna teoria dos
gneros claramente descritiva. No limita o nmero das espcies possveis e
no prescreve regras aos autores. Admite que as espcies tradicionais possam
misturar-se e produzir uma espcie nova (WELLEK e WARREN, s.d.: 284,
293).
Como facilmente se depreende, o conceito de gnero no pode ser definido
a partir de um nico princpio; a classificao em gneros resulta de um conjunto de processos dominantes; o problema da classificao em gneros s
pode ser resolvido em contextos histricos determinados. No h, por assim
dizer, uma classificao fixa ou imutvel. Como salienta Vtor Aguiar e Silva,
os gneros literrios desempenham um importante papel na organizao e na
transformao do sistema literrio. Em cada perodo histrico se estabelece
um cnone literrio, isto , um conjunto de obras que so consideradas como
relevantes ou modelares, em estreita conexo com uma determinada hierarquia
atribuda aos diversos gneros (SILVA, 2007: 393).
O sistema literrio , pois, dinmico, aberto, sistmico, permite o nascimento de novos gneros, o desenvolvimento e a transformao/adaptao de
outros, a subdiviso em categorias mais ou menos mutveis. Os gneros podem definir-se como categorias substantivas, representando entidades historicamente localizadas, quase sempre dotadas de caractersticas formais variavelmente impositivas e relacionveis com essa sua dimenso histrica: so estas
propriedades que reconhecemos em gneros literrios do modo lrico como
a cloga, a elegia, o ditirambo, o epigrama, o madrigal, o epitfio, o hino, a
ode, a cano, etc; em gneros literrios do modo narrativo como a epopeia,
o romance, o conto, a novela, etc; em gneros literrios do modo dramtico
como a tragdia, a comdia, a farsa, a tragicomdia, o auto, etc (REIS, 2001:
246). Podemos pensar ainda numa diviso em subgneros significativos como
o conto policial, o romance gtico, o romance histrico, etc.
Neste sentido, as trs categorias ou classes de texto (modos) e respectivas
subcategorias (gneros) so:
Narrativa, onde se incluem o romance, a epopeia, a fbula, a novela, o
conto e a crnica.
www.bocc.ubi.pt
Paula Cristina Lopes
Lrica, onde se incluem a ode, o hino, o soneto, a elegia, a cano.
Dramtica, onde se incluem a stira, a farsa, a comdia, a tragdia, o
auto.
Gneros jornalsticos
No jornalismo habitam vrias formas discursivas. Para compreender a(s) sua(s)
significao(es) necessrio verificar e validar fronteiras, nomeadamente no
que concerne a modelos de redaco. Mas, tal como na literatura, a dificuldade de delimitao em campos estanques predefinidos uma constante. Nos
meios de comunicao social, os factos/acontecimentos so enquadrados a
partir de modelos funcionais-argumentativos da linguagem. Nuno Crato refere que os gneros jornalsticos so rotinas prprias da escrita, caracterizadas
em cada caso por factores variveis, desde a forma como aparece a posio
do autor, o estilo, o tema, at factores como a apresentao e dimenso. So
mais rotinas e hbitos do que verdadeiros gneros literrios pois, enquanto no
gnero literrio h uma grande liberdade de criao que se traduz no carcter
original da obra, em cada gnero jornalstico predomina o estereotipo, o hbito
e a relativa uniformidade de apresentaes. (...) Podem apontar-se duas razes
para a existncia de uma grande variedade de gneros no jornalismo contemporneo: a multiplicidade de assuntos tratados e a diversidade do pblico
(CRATO, 1986: 138).
Os gneros jornalsticos ordenam o material informativo, produzem discursos sociais mais ou menos diferenciados. Funcionam como categorias bsicas intrinsecamente ligadas expresso da mensagem jornalstica, sua forma
e estrutura. Basicamente, podemos dizer que existem dois grandes grupos
onde se arrumam os gneros jornalsticos enquanto matriz terica: o que
serve para dar a conhecer factos/acontecimentos, atravs da sua descrio e
narrao; e o que visa dar a conhecer ideias, atravs da exposio de comentrios e juzos de valor acerca de factos/acontecimentos. No primeiro caso,
falamos de gneros informativos (facts); no segundo, de gneros opinativos
(comments). Identifiquemo-los:
Informativos, onde se incluem a notcia, a breve, a reportagem, a entrevista, o inqurito.
Opinativos, onde se incluem o editorial, o artigo de opinio, o artigo de
anlise, o comentrio, a crnica.
www.bocc.ubi.pt
Gneros literrios e gneros jornalsticos
Na origem da remota diviso dos gneros jornalsticos parece estar o jornalista ingls Samuel Buckley. O director do The Daily Courant (17021735), o primeiro dirio poltico do mundo, separou notcias de comentrios, e
fez da informao dita objectiva a alma do peridico. Buckley acreditava que
as informaes no deviam ser contaminadas pela opinio.
Mas tambm evidente que a delimitao/classificao dos gneros jornalsticos est estreitamente relacionada com as diferentes etapas histricas
do jornalismo. Segundo ngel Benito (FONTCUBERTA, 1996: 102-103), a
partir de 1850 a histria do jornalismo consubstancia-se em trs etapas bem
definidas: jornalismo ideolgico, jornalismo informativo e jornalismo explicativo.
O jornalismo ideolgico impera at ao final da I Guerra Mundial. um jornalismo doutrinrio, moralizante, ao servio das ideias polticas. Os jornais existem enquanto instrumentos de causas polticas, partidrias, de cariz opinativo e no raro polmico. A imprensa caracteriza-se sobretudo pela redaco
e apresentao de gneros opinativos e dirige-se, numa primeira anlise, s
classes educadas, s elites. um jornalismo intelectual para intelectuais.
O jornalismo informativo desenvolve-se na dcada de 70 do sculo XIX e
coexiste, durante algum tempo, com o jornalismo ideolgico. Apoia-se fundamentalmente na informao, na transmisso de factos. O jornalismo assumese como o relato de factos de actualidade, como espelho da realidade social.
Serve a opinio pblica, um pblico mais vasto e heterogneo. O jornalista
afirma-se como servidor do pblico, vigilante dos poderes, defensor da verdade e da imparcialidade. Aps a I Guerra Mundial, impe-se enquanto modelo, tendo por base a trilogia fundamental de gneros informativos: notcia,
reportagem, entrevista.
O jornalismo explicativo, cujo nascimento se relaciona com o ps II Guerra
Mundial, pretende ocupar um novo espao num panorama informativo dominado pela evoluo tecnolgica. Nascem e consolidam-se novas linguagens
intimamente relacionadas com novos Media, novas formas de difuso e de
contacto com o pblico, marcadas pela rapidez na transmisso da informao.
A concorrncia da Rdio e da Televiso obriga a Imprensa a uma nova abordagem do material informativo, favorecendo um trabalho de explicao, interpretao, dos factos. Como diz Dominique Wolton, quanto mais acontecimentos h, menos a informao se pode reduzir transmisso dos factos e mais
requer interpretao.
O jornalismo explicativo aborda os acontecimentos com maior profundidade. O leitor encontra juzos de valor lado a lado com a narrao objectiva
www.bocc.ubi.pt
10
Paula Cristina Lopes
de factos, em teoria perfeitamente delimitados, perfeitamente identificados enquanto informao ou opinio.
Tal como referimos em relao literatura e aos seus gneros, tambm a
teoria clssica dos gneros jornalsticos tem vinda a ser posta em causa. Diversos autores (acadmicos e jornalistas) consideram que, actualmente, a realidade dos Media supera a tipologia apresentada, considerada excessivamente
rgida ou desfasada. De facto, no podemos deixar de admitir mudanas nos
formatos narrativos que so os gneros. Tal como a literatura, o jornalismo
um processo dinmico e sistmico que permite (e at estimula) o nascimento de
novos gneros, o desenvolvimento ou a transformao de outros, a proliferao
de subgneros. Os gneros e subgneros jornalsticos variam com as pocas,
os tempos, os gostos, as modas. Informao e opinio caminham paralelamente e, no raramente, misturam-se e interagem, numa promiscuidade
observvel em qualquer suporte jornalstico. Embora os jornais, nomeadamente os ditos de referncia, proclamem a distino clara entre textos de
informao e textos de opinio em espaos claramente abalizados9 , determinados, no ser difcil para um leitor mais atento encontrar diariamente
exemplos que constituem prova do contrrio.
Nenhum dos gneros existe, portanto, em estado puro, ou seja, a maior
parte dos textos jornalsticos integra caractersticas prprias dos diferentes
gneros. Caber ao analista determinar, em cada caso, qual o gnero dominante (REBELO, 2000: 118). No entanto, para Mar de Fontcuberta, certo
que os gneros jornalsticos so fundamentalmente quatro: a notcia, a reportagem, a crnica e o artigo ou comentrio (FONTCUBERTA, 1996: 103).
Mas, tal como em literatura, no devemos desvalorizar uma ampla panplia de
subgneros, como a crnica poltica, a crnica social ou de costumes ou a
crnica desportiva.
Bibliografia
ANGENOT, Marc, dir., Teoria Literria, Lisboa, Dom Quixote, 1995
CEIA, Carlos, E-Dicionrio de Termos Lingusticos (http://www.fcsh.
unl.pt/)
CRATO, Nuno, Comunicao Social - A Imprensa, 2 edio, Lisboa, Presena, 1986
9
Ver, por exemplo, o Livro de Estilo Pblico, 1998, p. 93
www.bocc.ubi.pt
Gneros literrios e gneros jornalsticos
11
FONTCUBERTA, Mar de, La Noticia Pistas para Percibir el Mundo, 2
Edio, Barcelona, Paids, 1996
MELLO, Cristina, O Ensino da Literatura e a Problemtica dos Gneros
Literrios, Coimbra, Almedina, 1998
REBELO, Jos, O Discurso do Jornal, Lisboa, Editorial Notcias, 2000
REIS, Carlos, O Conhecimento da Literatura Introduo aos Estudos Literrios,
2 Edio, Coimbra, Almedina, 2001
SILVA, Vtor Manuel de Aguiar e, Teoria da Literatura, 8 Edio, Coimbra,
Almedina, 2007
TODOROV, Tzvetan, Os Gneros do Discurso, Lisboa, Edies 70, 1978
WELLEK, Ren e WARREN, Austin, Teoria da Literatura, 5 edio, s.l.,
Europa-Amrica, s.d
www.bocc.ubi.pt
Você também pode gostar
- Análise de Poemas de Álvaro de CamposDocumento19 páginasAnálise de Poemas de Álvaro de CamposEstela Esteves100% (6)
- Celebração de Posse Do Novo PárocoDocumento6 páginasCelebração de Posse Do Novo PárocoLeonardo de Souza80% (5)
- Guimaraes Rosa Grande Sertao VeredasDocumento164 páginasGuimaraes Rosa Grande Sertao Veredasdorotheejambon0% (1)
- Edilene - A Voz e Suas PoéticasDocumento19 páginasEdilene - A Voz e Suas PoéticasAndrea RabeloAinda não há avaliações
- Coesão e CoerenciaDocumento6 páginasCoesão e CoerenciaLeonardo de Souza0% (1)
- CIRNE, Moacy. A Explosão Criativa Dos QuadrinhosDocumento70 páginasCIRNE, Moacy. A Explosão Criativa Dos QuadrinhosBárbara Chieregate100% (2)
- Conversa Sobre Poesia Schlegel PDFDocumento58 páginasConversa Sobre Poesia Schlegel PDFElielsonAinda não há avaliações
- Analise Do Livro I Juca PiramaDocumento3 páginasAnalise Do Livro I Juca PiramaMaurício Eduardo AnacletoAinda não há avaliações
- Fp-Dor de PensarDocumento25 páginasFp-Dor de Pensarinesmaria190Ainda não há avaliações
- Plano de Aula MODERNISMODocumento7 páginasPlano de Aula MODERNISMOFábia Santana0% (1)
- Omar Calabrese - A Linguagem Da Arte - Part2Documento92 páginasOmar Calabrese - A Linguagem Da Arte - Part2Luana Aguiar100% (1)
- FrancêsDocumento8 páginasFrancêsLeonardo de SouzaAinda não há avaliações
- Proposta Celebrativa para o Dia Do CatequistaDocumento3 páginasProposta Celebrativa para o Dia Do CatequistaLeonardo de SouzaAinda não há avaliações
- AtividadeAvaliativa - Doc11 10 2011Documento4 páginasAtividadeAvaliativa - Doc11 10 2011Leonardo de Souza67% (3)
- TDAH WordDocumento8 páginasTDAH WordLeonardo de SouzaAinda não há avaliações
- 1-Jorge de SenaDocumento4 páginas1-Jorge de SenaHelena Azevedo100% (1)
- Ricardo Domeneck Canonizações e EsquecimentosDocumento21 páginasRicardo Domeneck Canonizações e EsquecimentosFernanda DanielleAinda não há avaliações
- Como Diminuir Corrupção BrasilDocumento31 páginasComo Diminuir Corrupção BrasilGladston AugustoAinda não há avaliações
- Texto Lírico - Noções de VersificaçãoDocumento31 páginasTexto Lírico - Noções de VersificaçãoDiego Fonseca100% (1)
- A Poesia de Hermes Fontes PDFDocumento16 páginasA Poesia de Hermes Fontes PDFAntonielleAinda não há avaliações
- POEMAS DE AMOR E MORTE Antologia Sincron PDFDocumento268 páginasPOEMAS DE AMOR E MORTE Antologia Sincron PDFIzenete NobreAinda não há avaliações
- Sofia Rodrigues Bo I ToDocumento307 páginasSofia Rodrigues Bo I Tovictor novoaAinda não há avaliações
- TerceiraMargem n22Documento272 páginasTerceiraMargem n22Fábio Santana PessanhaAinda não há avaliações
- Artigo Miró Da MuribecaDocumento14 páginasArtigo Miró Da MuribecaMARYANA KARLLA PENHA DE ARAUJOAinda não há avaliações
- 754 394 PBDocumento267 páginas754 394 PBMariana Pereira GuidaAinda não há avaliações
- Pablo NerudaDocumento17 páginasPablo NerudatccnoiteAinda não há avaliações
- RESUMO Barroco No BrasilDocumento3 páginasRESUMO Barroco No BrasilLD RodriguesAinda não há avaliações
- Estudo de CasoDocumento3 páginasEstudo de CasoGisele Prado GiAinda não há avaliações
- No Meio Do Caminho Tinha Uma PedraDocumento4 páginasNo Meio Do Caminho Tinha Uma PedraregianeAinda não há avaliações
- Bob DylanDocumento1 páginaBob DylanLEONARDO SILVA ROCHAAinda não há avaliações
- Caderno 10 de Atividades BsDocumento11 páginasCaderno 10 de Atividades BsChyntia SilvaAinda não há avaliações
- A Prosa Poetica de Paulo Freire Na Pedagogia Do OpDocumento11 páginasA Prosa Poetica de Paulo Freire Na Pedagogia Do OpVanessa Garcia SanchesAinda não há avaliações
- Arte 9a ClasseDocumento8 páginasArte 9a ClasseIsac Fossitala100% (1)
- Simulado ENEM PH (2o Dia)Documento31 páginasSimulado ENEM PH (2o Dia)José Eduardo CuryAinda não há avaliações
- Questões Enem PDFDocumento12 páginasQuestões Enem PDFLucas Vinicius100% (1)
- 3 - Etapa - EJA MOJU PDFDocumento31 páginas3 - Etapa - EJA MOJU PDFmarcos figueiredoAinda não há avaliações