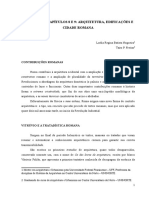Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Globaliza Ão e Urbaniza Ão
Globaliza Ão e Urbaniza Ão
Enviado por
Uelison AlvesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Globaliza Ão e Urbaniza Ão
Globaliza Ão e Urbaniza Ão
Enviado por
Uelison AlvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 14(4) 2000
GLOBALIZAO E URBANIZAO
SUBDESENVOLVIDA
JOO SETTE WHITAKER FERREIRA
Professor de Planejamento Urbano
Pesquisador do Laboratrio de Habitao e Assentamentos Humanos da FAUUSP
Resumo: O presente artigo discute as relaes entre o novo paradigma econmico da globalizao e a urbanizao acelerada das grandes metrpoles subdesenvolvidas. Baseando-se em dados estatsticos, ressalta-se o
extremo grau de pobreza comum a todas essas cidades da periferia da economia-mundo capitalista. Analisase, por fim, o carter das novas matrizes de planejamento urbano relacionadas globalizao, questionando
sua eficcia no combate aos determinantes estruturais da pobreza urbana.
Palavras-chave: cidades-globais; globalizao; urbanizao da pobreza.
uma metrpole de cerca de 8,5 milhes de habitantes (na
regio metropolitana, em 1990). E a continuao da histria no propriamente uma novela de sucesso, pois atribui-se justamente bolha especulativa imobiliria que
ali se criou a gnese da crise financeira que assolou o
mundo em 1998, lembrada nas nossas memrias como a
crise asitica. Vejamos exatamente o que ocorreu, e
porque esse acontecimento reflete um modelo de urbanismo globalizado que se repete na maioria das metrpoles
subdesenvolvidas, inclusive em So Paulo.
ste artigo inicia-se mencionando a histria recente
de uma grande metrpole subdesenvolvida. Principal cidade de seu pas, abrigando 55% das riquezas, foi objeto de um fantstico movimento de investimentos internacionais, que se intensificou a partir da dcada
de 90 graas liberalizao de sua economia. Como resultado, os bairros com maior acessibilidade viria viram
crescer mais de mil edifcios ultramodernos, torres inteligentes com mais de 50 andares, oferecendo escritrios com
toda a infra-estrutura demandada pelas grandes corporaes internacionais e pelos servios ligados ao chamado
tercirio avanado, ou ainda residncias com o alto padro exigido pelos homens de negcios globalizados. Em
outras palavras, essa cidade seguiu a receita do urbanismo da ps-modernidade, que alguns chamam de Planejamento Estratgico. Inseriu-se, no circuito das cidadesglobais, esse arquiplago de competitividade urbana
internacional, no qual a cidade uma mquina de produzir renda, uma mercadoria em potencial que conseguir
atrair tanto mais investimentos quanto souber aproveitar
as possibilidades econmicas do espao urbano, atravs da coalizo entre as elites fundirias, o poder pblico
e os empreendedores imobilirios (Arantes et alii, 2000;
Vainer, 2000). 1
Poder-se-ia afirmar que o quadro anteriormente descrito refere-se cidade de So Paulo. Entretanto, e apesar
das semelhanas, trata-se de Bangcoc, capital da Tailndia,
A BOLHA ESPECULATIVA TAILANDESA
Desde 1985, a Tailndia j vinha recebendo, devido
a uma conjuntura cambial favorvel, oferta de mode-obra barata e a uma relativa estabilidade poltica, investimentos japoneses diretos que lhe permitiram lograr
um crescimento econmico significativo at o final da
dcada (Charmes, 1998). No incio dos anos 90, sob os
novos ventos da economia mundial e acuada por fortes
presses internacionais, a Tailndia adotou (assim como
o Brasil e muitos outros pases subdesenvolvidos) a receita econmica neoliberal, visando atrair, por meio da
desregulao financeira, da abertura do mercado e da
elevao das taxas de juros, o seu quinho do enorme
volume de capital financeiro internacional que at hoje
perambula pelo mundo.
10
GLOBALIZAO E URBANIZAO SUBDESENVOLVIDA
imobilirios. A impopularidade gerada levou sua substituio, em 1995, por outro governo comprometido com
os interesses dos setores financeiro e imobilirio, que acentuou a crise ao reforar a liberalizao econmica, investir em mega-obras virias prximas aos grandes projetos
imobilirios e pr em prtica programas de salvamento
das instituies financeiras e imobilirias falidas (Charmes,
1998), alis muito parecidos com o nosso Proer.
Junto a isso, e como ltimo recurso em face da crise
que se apresentava para alavancar os fundos necessrios
a seus empreendimentos, 36 empresas de promoo imobiliria lanaram aes na Bolsa de Valores. Em 1996,
61% da capitalizao na bolsa de Bangcoc devia-se a ttulos vendidos por essas empresas e por instituies financeiras ligadas promoo imobiliria. Assim, as dificuldades vividas por esse setor rapidamente causaram a
queda da bolsa de Bangcoc, gerando desconfiana internacional. Em 1997, quando a Somprasong Land, uma das
maiores empresas imobilirias do pas, anunciou sua incapacidade em pagar obrigaes contradas no mercado
internacional, iniciou-se um movimento de fuga macia
de capitais, desestabilizando de vez a economia do pas,
obrigado a recorrer ajuda do FMI. A crise asitica estava deflagrada, e seu efeito domin sobre o mercado financeiro mundial chegaria rapidamente por aqui.
O relato das conseqncias da chamada bolha especulativa tailandesa, aqui resumidas a partir do elucidativo artigo de Eric Charmes (1998), serve para mostrar uma situao que encontra similitudes por todos os
cantos do Hemisfrio Sul: a intrnseca relao causaefeito estabelecida entre polticas econmicas de ajuste
estrutural de cunho liberal, adotadas por diversas economias dependentes segundo os moldes preconizados pelas agncias multilaterais, e a manuteno quando no
o agravamento da trgica situao socioeconmica da
maior parte da populao desses pases. No mbito das
grandes metrpoles, isso se traduz por um crescimento
da populao excluda vivendo em condies de absoluta pobreza. Em outras palavras, o que aconteceu em Bangcoc sintomtico e familiar em qualquer pas subdesenvolvido: a aguda contradio entre a globalizao
modernizadora empreendida pelas elites dominantes,
ideologicamente apresentada como um passaporte de ingresso para o Primeiro Mundo, e as bases sociais miserveis, oriundas do passado colonial, sobre as quais essa
modernizao se assenta de maneira ainda mais acentuada nas grandes metrpoles urbanizadas do Terceiro
Mundo.
Do ponto de vista urbano, as conseqncias dessa
dinamizao econmica foram imediatas na cidade de
Bangcoc. Segundo o pesquisador francs Eric Charmes
(1998), a produo anual de escritrios chegou a mais de
um milho de metros quadrados em 1994 e a de apartamentos residenciais, a mais de 150 mil unidades.2 Imensos empreendimentos residenciais de alto luxo foram lanados nas cercanias do centro bem servidas pela rede viria
(a exemplo do paulistano Village Pananby, s margens do
rio Pinheiros) e, em 1995, iniciou-se a construo da mais
alta torre em concreto do mundo, a Baiyoke Tower II, com
320 metros de altura e 90 andares. A valorizao imobiliria insuflou-se (o preo total das residncias venda na
cidade, em 1994, chegou a 5 bilhes de dlares) e o valor
da terra multiplicou-se exponencialmente, chegando a 5
mil dlares o metro quadrado de terreno nas reas mais
valorizadas. Assim, somente empreendimentos de grande
porte poderiam ser rentveis, o que favoreceu a presena,
por detrs dessas operaes, dos fundos de penso internacionais e de empreiteiras globalizadas, como a gigante
francesa Bouygues. Em mercados razoavelmente organizados e regrados (o que no ocorre no Brasil, neste setor), os investimentos imobilirios podem ser altamente
rentveis, apesar de serem considerados de alto risco diante
da imobilidade do capital investido. Por isso, verifica-se
a ocorrncia, no s na Tailndia, mas tambm em HongKong e no Japo, de forte atividade no setor atravs de
grandes empreendimentos gerenciados no caso dos edifcios comerciais como empresas annimas com cotas
de participao (e no se vendendo escritrios um a um).
Porm, apesar de toda a euforia econmica e imobiliria, a Tailndia nunca deixou de ser um pas subdesenvolvido e, como tal, nunca deixou de ter pobres, alis em
maioria absoluta. Assim, ainda segundo Charmes (1998),
somente 10% das famlias de Bangcoc tinham condies,
em 1995, de adquirir moradias vendidas a preos acima
de 48 mil dlares (cerca de 30% da oferta). As estimativas mais otimistas apontavam, no mesmo ano, que cerca
de 275 mil famlias moravam em favelas ou habitaes
informais. Rapidamente, verificou-se que a festejada oferta
de habitaes e escritrios comerciais estava muito acima da demanda real, o que provocou, j em 1995, a vacncia de 30% dos imveis ofertados.
A poltica econmica baseada na estagnao da indstria e das exportaes e na exploso das importaes e do
consumo provocou, concomitantemente, um endividamento que obrigou o governo a tomar atitudes recessivas
e restritivas, em especial quanto aos empreendimentos
11
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 14(4) 2000
Brasil no se esgotou. Ao contrrio, Sampaio Jr. (1999a e
b) avalia que esta contradio transformou-se hoje em
aberto antagonismo, ou seja, uma relao pela qual a possibilidade de controle da sociedade sobre seu prprio destino no mais compatvel com a manuteno de suas
assimetrias sociais e sua posio subalterna e dependente
em relao economia-mundo capitalista. O dilema imposto por tal impasse e as conseqncias decorrentes de
uma ou outra opo levam o autor a afirmar que o Brasil
encontra-se hoje entre a Nao e a Barbrie (Sampaio
Jr., 1999c:12). No obstante, nesse cenrio de antagonismo que se insere o discurso da globalizao, incorporado pelas burguesias modernas como o instrumento
mais apropriado, no novo contexto histrico do capitalismo financeiro, para perpetuar uma nova imposio de incorporao dos progressos tcnicos do capitalismo hegemnico, que somente elite beneficiaro e lhe garantiro
a manuteno de sua hegemonia interna.
DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E
COMBINADO
Tal contradio no nova e foi h muito evidenciada
pelos grandes intrpretes da formao do Brasil, como Caio
Prado Jr., Florestan Fernandes e Celso Furtado. Embora
suas anlises se ancorem intimamente na realidade das
sociedades latino-americanas, elas descrevem uma lgica
comum, em muitos aspectos, a todos os pases que vivem
sob a gide do capitalismo dependente.3 Estes autores ressaltam a oposio entre imperialismo (os interesses da
expanso da economia-mundo capitalista4) e formao de
Estados Nacionais capazes de controlar o prprio destino
(Sampaio Jr., 1999a). Tal oposio se manifesta na impossibilidade de compatibilizar desenvolvimento capitalista, democracia e soberania nacional.
No Brasil, a aliana estratgica da burguesia com o capital internacional e com as potncias hegemnicas permitiu que a industrializao por substituio de importaes fosse levada s ltimas conseqncias, aumentando
o grau de autonomia relativa do pas dentro do sistema
capitalista mundial (Sampaio Jr., 1999b). Em outros pases perifricos, a ausncia de uma indstria nacional minimamente significativa relegou s elites um papel de
simples coadjuvante interno dos agentes do comrcio internacional, o que foi denominado, pelo socilogo egpcio Samir Amin (1991), de compradorizao das elites
subdesenvolvidas. O impacto extremamente destrutivo da
globalizao sobre o parque industrial brasileiro, ao ameaar a continuidade do processo de industrializao, parece relegar nossa burguesia ao mesmo papel de mera compradora dentro do sistema capitalista mundial. Entretanto,
o que se quer destacar aqui o processo pelo qual a burguesia moderna garante seus interesses de hegemonia
interna, sobrepondo-se s elites mais conservadoras (atrasadas) e promovendo o avano capitalista internacional
por sobre uma estrutura social arcaica baseada em relaes de desigualdade e dominao herdadas do Brasil
colonial. Essa a estrutura do que muitos autores brasileiros, e Florestan Fernandes em especial, chamaram de
desenvolvimento desigual em relao ao desenvolvimento do capitalismo hegemnico dos pases industrializados,
e combinado , pois dispe novas estruturas econmicas
e sociais trazidas do centro sobre estruturas internas arcaicas (Sampaio Jr., 1999a).
O entendimento dos autores citados anteriormente de
que a contradio entre desenvolvimento desigual do capitalismo em escala mundial e o processo de formao do
URBANIZAO DA POBREZA
As grandes metrpoles subdesenvolvidas so hoje a
expresso do antagonismo e da desigualdade anteriormente
descritos. Em primeiro lugar, porque o fenmeno de urbanizao acelerada observado no mundo nos ltimos 40
anos ocorreu, em grande parte, nos pases da periferia do
sistema. Em segundo lugar, porque, uma vez isto posto,
observa-se que so justamente as cidades os instrumentos
de excelncia do fenmeno de expanso da economiamundo capitalista que se convencionou a chamar de globalizao. Sedes de grandes corporaes transnacionais e
de instituies financeiras, redes de informao, teleportos
e sistemas de telefonia celular e de comunicao por cabo,
bens de consumo sofisticados e atividades de servios so
elementos da modernidade associada globalizao.
Elementos de carter essencialmente urbano, a tal ponto
que servem de parmetro de definio das cidades-globais para os autores que se empenham nesse tipo de caracterizao (Sassen, 1996; Borja e Castells, 1997a).
O fenmeno de urbanizao observado em grande parte dos pases subdesenvolvidos em muito se deve matriz
de industrializao tardia da periferia. A atratividade
exercida pelos plos industriais sobre a massa de mode-obra expulsa do campo (em especial nos pases que receberam empresas multinacionais que alavancaram a passagem de economias agroexportadoras para economias
semi-industrializadas,5 como o Brasil ou a ndia) provocou, a partir da dcada de 60, a exploso de grandes
12
GLOBALIZAO E URBANIZAO SUBDESENVOLVIDA
de mortalidade infantil, em grande parte conseqncia
do aumento da infra-estrutura urbana bsica ofertada (saneamento, gua tratada, etc.). Dados da Cepal mostram
que na Amrica Latina, em virtude de sua alta taxa de
urbanizao, predomina a pobreza econmica (devido aos
baixos salrios) sobre aquela por falta de infra-estrutura
bsica adequada. Se em 1980 as carncias fsicas (necessidades bsicas no-satisfeitas) superavam em porcentagem a incidncia de pobreza (54% e 35%, respectivamente), j em 1997 essa relao havia se invertido, com
o ndice de pobreza somando 36%, contra 32% da populao sem saneamento bsico (Arriagada, 2000:11).
Em contrapartida, Maricato mostra que a urbanizao
desigual provocou tambm uma piora nos ndices socioeconmicos (crescimento, renda, desemprego e violncia)
e urbansticos (crescimento urbano e aumento de favelas).
O que se verifica que a urbanizao , de fato,
concentradora da pobreza. Ainda segundo Arriagada
(2000), 60% dos pobres da Amrica Latina moram em
zonas urbanas, situao que converte o continente na
regio em desenvolvimento que melhor exemplifica o processo mundial de urbanizao da pobreza (Arriagada,
2000:8, grifos meus). Na virada do sculo, 125,8 milhes
de moradores de reas urbanas do continente so pobres.
A ONU define como pobre a pessoa que ganha menos de
400 dlares por ano.8 Ainda segundo a Cepal, na Amrica
Latina, cerca de 220 milhes de pessoas viviam na pobreza no ano 2000, o que representa aproximadamente 45%
da populao do continente (Cepal, 2000a). No mundo,
esse nmero se eleva a 1,3 bilho de pessoas, ou um quinto da populao mundial (Ibase, 1997), boa parte concentrada nas grandes metrpoles da periferia.
As condies de pobreza encontradas nessas cidades
podem ser verificadas pela alta porcentagem de moradores vivendo em habitaes subnormais. No Brasil, entende-se por esse termo moradias em favelas, cortios e loteamentos clandestinos. A informalidade urbana diz
respeito inadequao fsico-construtiva da habitao e/
ou geomorfolgica/ambiental do entorno (construes precrias, terrenos em reas de risco ou de preservao ambiental, rea til insuficiente para o nmero de moradores, etc.), ausncia de infra-estrutura urbana (saneamento,
gua tratada, luz, acessibilidade viria, etc.), ou ainda
ilegalidade da posse da terra ou do contrato de uso. Dentro dessas caractersticas, variam de idioma para idioma
os termos que designam tais habitaes: villas, callampas,
barriadas, tomas, slums, bidonvilles, etc. (Clichevsky,
2000). O que no variam so o grau de precariedade e a
plos urbanos no Terceiro Mundo, que no receberam a
proviso de habitaes, infra-estrutura e equipamentos urbanos que garantisse qualidade de vida a essa populao
recm-chegada. Na maioria dos casos, o poder pblico
pouco se empenhou para isso, devido abundncia de mode-obra ofertada (que reduzia seu poder de reivindicao)
e sua imiscuio com as elites dominantes, interessadas
em manter baixos os nveis salariais e o custo da mo-deobra. O resultado desse processo que chamaremos de
urbanizao desigual so as gigantescas metrpoles
industriais fordistas subdesenvolvidas, concentradoras da
produo industrial e da massa de mo-de-obra disponvel e marcadas pela diviso social do espao urbano, que
Lipietz (1985) chamou de aglomeraes paternalistas,
tpicas do fordismo perifrico. Segundo Sampaio Jr.
(1999b:425), j na dcada de 70 Caio Prado Jr. vislumbrava o carter excludente dessa forma de urbanizao:
a inexorvel desarticulao da industrializao agravaria de maneira gigantesca o excedente estrutural de mode-obra, o qual, pela sua magnitude absoluta e pela sua
elevada concentrao nos centros urbanos, tenderia a
tornar cada vez mais difcil e traumtica a sua posterior
integrao no desenvolvimento capitalista, agravando
ainda mais a crise social. (grifo meu).
importante ressaltar que as taxas de urbanizao
elevadssimas da Amrica Latina (mdia de 75% em 2000,
segundo a Cepal) no encontram equivalncia na sia ou
na frica, onde a populao ainda predominantemente
rural.6 Entretanto, isso no desmente a observao do forte ritmo de urbanizao do Terceiro Mundo, j que, no
obstante suas baixas taxas de urbanizao, esses continentes apresentam grande nmero de metrpoles que, isoladamente, ultrapassam os 5 milhes de habitantes e organizam-se segundo as caractersticas da aglomerao
fordista perifrica. Observa-se que, entre as dez reas
metropolitanas mais populosas do mundo, apenas trs
(Tquio, Nova York e Osaka) so do Norte e as outras
sete pertencem a pases subdesenvolvidos7 (dessas sete,
s trs esto na Amrica Latina).
Essas grandes aglomeraes urbanas da periferia, justamente em virtude dessa urbanizao desigual, apresentam hoje, invariavelmente, um absoluto quadro de pobreza. Ermnia Maricato mostra, em artigo nessa mesma
revista, que o processo de urbanizao permitiu, verdade, melhorias significativas em alguns indicadores sociais, principalmente nos demogrficos. A Amrica Latina, e em especial o Brasil, apresentou melhorias nos
ndices de esperana de vida ao nascer, ou ainda na taxa
13
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 14(4) 2000
nas rurais adjacentes mancha metropolitana urbanizavam-se ao ritmo de 9,6% ao ano (IRD, 1998). Em Bogot, na Colmbia, de 1973 a 1985, os bairros centrais da
cidade apresentaram taxas negativas de crescimento e os
da periferia cresceram entre 7,5% e 12,5%, no mesmo
perodo.
falta de qualidade, caractersticas da globalizao da
pobreza.
Nas grandes metrpoles brasileiras, estima-se que cerca de 50% da populao, em mdia, resida na informalidade, o que s em So Paulo representa cerca de 6
milhes de pessoas. Os moradores de favelas chegam a
cerca de 20% da populao dessa cidade, assim como em
Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, chegando
a 46% em Recife (Bueno apud Clichevsky, 2000). Em
Crdoba, na Argentina, cerca de 20% da populao mora
em favelas (villas) (Luciano, 1997) e na regio metropolitana de Lima (Peru), 50% dos habitantes moram em condies subnormais, sendo 30% em favelas e 20% em cortios (Castro e Riofro, 1997). Esse nmero se repete em
Quito e em Caracas, no Equador, atingindo 59% na Cidade do Mxico e em Bogot (Cepal, 2000b). Tal situao
no se restringe s metrpoles latino-americanas. Uma
rpida volta ao mundo mostra como pobreza e urbanizao formam um par bastante globalizado, apresentando
nmeros incrivelmente semelhantes. Em 1996, estimavase que 50% da populao de Deli, na ndia, morava informalmente (Bueno, 2000), sendo 25% em favelas (IRD,
1998). Em Bombaim, no mesmo pas, estimava-se em 150
mil o nmero de moradores de rua, sendo que, em 1991,
45% da populao vivia em assentamentos ilegais (Bueno,
2000). Chittagong, a segunda maior cidade de Bangladesh,
tem uma populao estimada entre 1,5 e 2,5 milhes de
habitantes, dos quais 1 milho so favelados (FPH, 1997).
Nas Filipinas, Manila apresentava, tambm em 1996, 40%
de sua populao residindo na informalidade, porcentagem prxima de Karachi, no Paquisto (44%, em 1996)
(Bueno, 2000). J na Indonsia, em 1994, essa porcentagem subia para 70%, nas cidades de Surabaia e Yogyakarta
(Bueno, 2000). No Cairo, outra grande metrpole subdesenvolvida, alvo da modernizao ocidental, tambm a
metade da populao vivia, em 1996, em condies informais. Evidentemente, os nmeros da frica, a extrema
periferia esquecida da economia-mundo capitalista, so
ainda mais assustadores: em Luanda, capital da Angola,
70% da populao morava na informalidade. Em Adis
Abeba, na Etipia, eram 85% (Bueno, 2000).
Outra caracterstica da urbanizao desigual o exagerado ritmo de crescimento das periferias pobres em relao aos centros urbanizados. Enquanto a taxa mdia de
crescimento anual das cidades brasileiras de 1,93%, o
da periferia de So Paulo chega a 4,3% ao ano (Instituto
Cidadania, 2000). Em Deli, na ndia, a regio urbanizada
crescia 3,8% ao ano, entre 1981 e 1991, enquanto as zo-
ENTRE A CIDADE E A BARBRIE
Esse , portanto, o cenrio das grandes cidades subdesenvolvidas, no incio do sculo XXI: um alto grau de pobreza, oriundo da natureza estruturalmente desequilibrada da industrializao e da urbanizao perifricas. A
preocupao de Prado Jr. estava certa, e hoje patente a
impossibilidade de reintegrar o contingente excessivo de
mo-de-obra nos grandes centros urbanos, o que agrava
inexoravelmente o quadro social. nesse contexto que a
globalizao tenta imprimir suas caractersticas modernizadoras, exacerbando o quadro de antagonismo explicitado anteriormente, pois, no contexto urbano, a contradio estrutural das economias de desenvolvimento
desigual e combinado se traduz pela incompatibilidade entre os bairros globalizados da cidade formal e os assentamentos ditos subnormais, que configuram a tipologia
majoritria da cidade real, nas zonas perifricas abandonadas pelo capital e pelo poder pblico.
Como mostraram os nmeros da excluso urbana apresentados anteriormente, h hoje mais pobres do que ricos
em muitas metrpoles do Terceiro Mundo. Isso provoca,
obviamente, uma inverso no conceito do que a verdadeira cidade, pois as elites esto na verdade cada vez mais
sitiadas em um mar de pobreza. Nunca as classes dominantes se sentiram to ameaadas. No toa, portanto,
que a grande imprensa brasileira tradicionalmente representante dos interesses de nossas elites use repetidamente termos como centro invadido, ou cidade sitiada
(Veja, 2001) para expressar o sentimento de que a verdadeira cidade, a que vale, apenas a cidade formal que
essas elites ocupam. Ao invs de perceberem no crescimento inexorvel da pobreza a preocupante e inaceitvel
mudana do perfil socioeconmico geral dos habitantes,
as elites apenas se preocupam com uma invaso indesejada
da sua cidade. A recusa em perceber que essa cidade j
no mais representativa da cidade real verifica-se tanto
na constante busca de segurana e conforto em bairrosfortalezas de altssimo padro como Alphaville, em So
Paulo, Muang Thong Thani, em Bangcoc, e Nordelta, em
Buenos Aires quanto na reao de indignao em face
14
GLOBALIZAO E URBANIZAO SUBDESENVOLVIDA
o), por outro, pouco resolveram e at acentuaram a desigualdade social, fato hoje admitido at pelo Banco Mundial (Folha de S.Paulo, 16/09/99). A Cepal avalia que as
reformas liberais tiveram um efeito surpreendentemente
pequeno no crescimento, no emprego e na eqidade, em
nvel agregado (Stallings e Peres, 2000). O modelo preconizado no vinha com a advertncia11 de que a possvel
modernizao decorrente da globalizao nos pases subdesenvolvidos s beneficiaria a poucos e que, pelo contrrio, o alto grau de excluso desse processo iria sim
deixar de fora grandes parcelas das populaes envolvidas (Fiori, 1997).
Mesmo que exista hoje forte desconfiana sobre os efeitos dos ajustes estruturais de cunho liberal impetrados por
vrios pases subdesenvolvidos, seus correspondentes no
mbito das polticas urbanas continuam sendo apresentados como mais atuais do que nunca (Maricato, Fix e
Ferreira, 1999). Esse novo instrumental tcnico de gesto
das cidades, um novo planejamento que ficou conhecido como Planejamento Estratgico (PE), adaptado s caractersticas de flexibilidade e dinamismo da economia
globalizada, contrape-se ao planejamento funcionalista
modernista e busca referncias em parmetros ligados
gesto empresarial. A principal caracterstica do PE a
de que ele no traz uma resposta, em termos de polticas
pblicas, ao impasse antagnico existente nas cidades
subdesenvolvidas. Pelo contrrio, parece acirrar ainda mais
tal anacronismo.
O Planejamento Estratgico pauta-se pela viso de que
a nica maneira de se pensar o futuro das cidades inserilas numa rede de cidades-globais, na qual a problemtica central deve ser a competitividade urbana (Vainer,
2000): As agncias multilaterais e seus idelogos j desenharam a cidade ideal do limiar do sculo XXI: a cidade produtiva e competitiva, globalizada, conectada a
redes internacionais de cidades e de negcios. Concebida
e pensada como empresa que se move num ambiente global competitivo, o governo desta cidade se espelha no
governo da empresa: gesto empresarial, marketing
agressivo, centralizao das decises, pragmatismo, flexibilidade, entre outras, seriam as virtudes das quais dependeria cada cidade para aproveitar as oportunidades e
fazer valer suas vantagens competitivas no mercado de
localizao urbana.12
A idia, portanto, a de que a cidade globalizada encontra mais chances de sobrevivncia quanto mais souber
se inserir na competio pela atrao de investimentos e
de sedes de grandes empresas transnacionais, quanto mais
dos nveis insustentveis de violncia urbana gerados pelo
chamado apartheid social urbano.
Talvez se possa ento tomar emprestado, para apliclo ao contexto urbano, o raciocnio exposto por Sampaio
Jr. (1999a) para a particular situao do capitalismo brasileiro no ps-guerra: enquanto as cidades fordistas perifricas mantiveram-se, nas ltimas dcadas, sob controle
da burguesia, apesar do alto grau de desigualdade e pobreza nas suas franjas perifricas, mantiveram sob relativo controle a matriz espacial e temporal do desenvolvimento urbano. As cidades eram o locus poltico
privilegiado para o exerccio da onipotncia das classes
dominantes, independentemente da pobreza que se fazia
crescente.9 A situao social das cidades, no final da dcada de 90, entretanto, transformou essa contradio em
aberto antagonismo. A burguesia parece ter perdido definitivamente o controle sobre o crescimento urbano desigual, e cada vez mais faz-se necessria uma opo mais
radical entre a manuteno de um status-quo urbano, em
que as estruturas das relaes sociais, econmicas e polticas chegaram a nveis intolerveis, e a adoo de medidas que abalem radicalmente essas estruturas no sentido
da construo de uma cidadania baseada em princpios de
eqidade social. No caso das cidades brasileiras, assim
como certamente em muitas metrpoles subdesenvolvidas,
pode-se dizer que se vive, hoje em dia, uma situao
limtrofe entre a cidade e a barbrie.
A cidade subdesenvolvida expressa a marginalidade
social em pases que combinam o atraso com o moderno.
Seu problema portanto o mesmo da sociedade subdesenvolvida: a subordinao absoluta lgica dos negcios, por meio da histrica superexplorao do trabalho e
superdepredao do meio ambiente, que parecem ter chegado, na sociedade e nas cidades, a nveis intolerveis.
Entretanto, as aes de imposio do capitalismo hegemnico, pelo novo paradigma da globalizao, e as novas
matrizes de planejamento urbano que as acompanham, parecem apenas reforar essa situao.
PLANEJAMENTO ESTRATGICO
E SUBDESENVOLVIMENTO
Se, por um lado, as polticas liberais nos moldes do
conhecido Consenso de Washington,10 apresentadas ao
Terceiro Mundo como uma tbua de salvao para a crise
dos anos 80, promoveram certa dinamizao econmica
ligada ao tercirio avanado e s indstrias de ponta (no
centro dos novos paradigmas econmicos da globaliza-
15
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 14(4) 2000
investir nos avanados sistemas de informao e comunicao, na modernizao de sua infra-estrutura, no fortalecimento do tercirio avanado e em canais de conexo
com o capital financeiro internacional, supostamente capaz de dar nova vida s reas urbanas degradadas. O
arcabouo tcnico desse novo planejamento divide as
aes de interveno no espao urbano em vrias escalas,
todas elas vinculadas s comunicaes ou s atividades
conectadas economia globalizada: teleportos, centros empresariais, espaos para feiras e congressos, parques tecnolgicos, aeroportos, hotis, operaes de embelezamento e modernizao dos espaos pblicos, etc. (Borja
e Castells, 1997b).
A melhor ilustrao dos resultados desse novo planejamento urbano est na descrio da bolha especulativa de Bangcoc, feita no incio deste artigo. Uma pujante renovao imobiliria das reas mais nobres, resultante
da articulao entre os atores locais essenciais para a
dinamizao econmica urbana a saber, os empreendedores imobilirios, as elites fundirias, o poder pblico13
e os investidores, sejam estes nacionais ou internacionais
em torno da construo de consensos para identificar
as possibilidades econmicas dos lugares de forma que
se tornem atraentes para os potenciais compradores da
cidade, os investidores internacionais (Arantes et alii, 2000
e Vainer, 2000). Percebem-se facilmente o forte carter
empresarial da ao do PE e a ausncia de preocupaes
com questes sociais mais urgentes, contrapondo-se farta
presena de termos como valorizao, negcios, visibilidade, insero na dinmica econmica e outros
que remetem nova funo concorrencial das cidades.
Neste cenrio, a realidade social das metrpoles subdesenvolvidas parece ter sido simplesmente esquecida. Ocorre de fato que, mais uma vez, modelos tcnico-tericos
de planejamento so importados de uma realidade que no
a da periferia, porm so implantados aqui como se fossem a chave para a caminhada rumo ao Primeiro Mundo. A incompatibilidade entre essas receitas e a nossa
realidade urbana levou Ermnia Maricato (2000) a cunhar
o termo as idias fora do lugar e o lugar fora das idias.
O modelo do Planejamento Estratgico, no obstante,
vem sendo aplicado por diversos municpios na Amrica
Latina, geralmente promovido por grandes operaes de
marketing, como cabe a qualquer operao de cunho
concorrencial. Assim, ficaram conhecidos por aqui os
exemplos do Plano Estratgico da Cidade do Rio de Janeiro, ou ainda o plano de reurbanizao do Eixo Tamanduatehy, promovido em Santo Andr-SP14. No caso do Rio,
Vainer (2000) mostra como se trata de uma bem orquestrada farsa, montada para colocar em escanteio as reivindicaes populares e dar espao aos interesses dos
empreendedores e a um agressivo marketing de criao
de falsos consensos que a legitimassem. Tudo para validar projetos caros aos grupos dominantes da cidade, que
permitiriam tornar a cidade competitiva e vendvel dinmica do capital internacional. Na Argentina, o Planejamento Estratgico vem sendo implementado oficialmente
em vrias cidades, com destaque para Crdoba e Bahia
Blanca.
AS ILHAS DE PRIMEIRO MUNDO
As polticas pblicas afinadas com o novo cenrio econmico excludente da globalizao promoveram nos anos
90 e o Planejamento Estratgico se insere nesse processo a desregulamentao e flexibilizao das normas urbansticas e a fragmentao urbana (Clichevsky, 2000),
em contraposio ao centralismo funcionalista e regulador do paradigma anterior (Planejamento Modernista).
Assim como as polticas de ajuste neoliberal abriram as
portas para a entrada do capital globalizado interessado
nas importantes parcelas de consumidores altamente capitalizados dos pases perifricos (devido ao alto grau de
concentrao da renda), a desregulao urbana favoreceu
a ao da articulao empreendedores imobilirios/proprietrios fundirios/grande capital/poder pblico, que
viram nas parcelas abastadas das sociedades perifricas e
nas empresas transnacionais atuantes nesses mercados uma
grande oportunidade de negcios imobilirios. Por isso,
repetem-se pelo mundo afora os exemplos de produo
de espaos de alto poder aquisitivo, verdadeiras ilhas de
Primeiro-Mundo dentro do mar de pobreza das metrpoles subdesenvolvidas. Pode-se dizer que a produo do
espao nas cidades antagnicas da periferia da globalizao segue cada vez mais um parmetro de segregao social, em que as elites dominantes determinam sua conformao, excluindo abertamente as camadas populares, num
fenmeno que por sinal no propriamente novo, como
j demonstrou Villaa (1999a). Essas ilhas podem ter
funes ou caractersticas diferentes, podendo ser bairros
residenciais, zonas de negcios voltadas ao tercirio avanado, ou ainda reas mais centrais degradadas e recuperadas para novos usos residencial e comercial voltados
para as elites urbanas (a chamada gentrificao). Todas
elas, entretanto, caracterizam-se pelo alto volume de investimentos privados e pblicos, pelas modernas tecno-
16
GLOBALIZAO E URBANIZAO SUBDESENVOLVIDA
Comprometem-se, em reas privilegiadas, altos valores do
oramento na produo de infra-estrutura urbana, principalmente viria, compatvel com as exigncias das ilhas
de modernidade, em detrimento dos investimentos macios urgentemente necessrios na cidade informal, o que
ressalta o alto carter de excluso desse processo. Assim,
Maricato (2000:141) mostra que o governo paulistano, em
1998, gastou, em 11 obras virias, a incrvel soma de US$
7 bilhes, aproximadamente, comprometendo a cidade com
dvidas que iriam tornar inviveis at mesmo os servios
bsicos da gesto seguinte. Dessas 11 megaobras, apenas
duas no estavam no interior ou prximas da regio que
concentra os bairros de mais alta renda de So Paulo. Aparentemente tratou-se da estratgia de construir uma ilha
de Primeiro Mundo, com condies para abrigar a So
Paulo, cidade mundial. No mesmo perodo o governo municipal descumpriu a lei que obrigava o municpio a investir 30% do oramento na Educao.
logias empregadas, pela qualidade da infra-estrutura urbana disponibilizada e pelo alto poder aquisitivo de seus
usurios. Muitas so fruto de articulaes encabeadas pela
ao decisiva de arquitetos-empreendedores15 (Arantes,
2000), interessados na criao de promissoras oportunidades para o grande capital (s vezes de maneira artificial, como em Bangcoc).
J foram citados os exemplos dos bairros residenciais
de Muang Thong Thani, em Bangcoc, Parque Panamby,
em So Paulo, e Nordelat, em Buenos Aires. O modelo de
gentrificao de reas centrais, iniciado nos pases industrializados nas conhecidas operaes urbanas de Battery
Park, em Nova York, e de London Docklands, em Londres (Nobre, 2000), passou a ser aplicado na periferia como
receita de sucesso para dar nova vida (na verdade, vida
das elites) a bairros centrais abandonados por causa da
nova dinmica da economia globalizada (mais uma vez,
as idias fora do lugar). Um dos exemplos mais sintomticos o de Puerto Madero, em Buenos Aires. Em So
Paulo, embora deva agora contar felizmente com a
enrgica oposio de grupos organizados da sociedade
civil, como o Frum Centro Vivo, j grande a articulao entre empresrios, investidores, poder pblico estadual, arquitetos e empreendedores imobilirios para a promoo de uma revitalizao do centro nos moldes da
gentrificao urbana, para fazer com que ele volte a ser
visto pelo grande capital. No mbito empresarial, a
Operao Urbana Faria Lima, em So Paulo, vem promovendo a criao de uma nova centralidade de negcios
e comrcio, no eixo de crescimento sudoeste da cidade,
ao longo da calha do rio Pinheiros (Nobre, 2000).
Assim, ao crescimento acelerado das periferias pobres
e presena de reas centrais abandonadas pelas elites,
se contrapem zonas de crescimento exclusivo das classes dominantes, que conformam metrpoles divididas entre a cidade formal, alvo de todos os investimentos imobilirios e da ao e investimentos do poder pblico, e a
informal, esquecida por ambos16 (Maricato, 1996). Os
exemplos no Brasil nos so familiares, como a Zona Sul
do Rio de Janeiro, ou a regio sudoeste de So Paulo. No
resto do mundo, no diferente: o bairro de Colaba, em
Bombain, a regio sul e o distrito de Nova Delhi, em Deli,
ndia, e assim por diante.
O aspecto mais importante a ser destacado que essa
lgica vem pressupondo uma forte participao do poder
pblico em sua promoo, seja por estar este representando os interesses dominantes, seja por estar certo que promove de alguma maneira a modernizao da cidade.
SO PAULO, CIDADE GLOBAL?
Se a relao entre os modelos econmicos de ajuste
estrutural adotados nacionalmente e a no-melhoria subseqente do quadro de pobreza, em especial nas cidades,
parece agora mais clara, varia de pas para pas a eventual
relao direta entre o capital financeiro globalizado e o
aquecimento imobilirio nas grandes cidades com potencial para cidades-globais. Por exemplo, o alto grau de
comprometimento direto do grande capital internacional
nas operaes imobilirias especulativas na Tailndia no
encontra semelhanas (ainda?) no Brasil. Segundo Fix (no
prelo), os investidores mais proeminentes nos megaprojetos
imobilirios brasileiros ligados ao tercirio avanado (como
na regio da Av. Luiz Carlos Berrini, em So Paulo) so
fundos de penso nacionais. Entretanto, mesmo que no
sejam capitais diretamente ligados ao mercado internacional, importante ressaltar que so de carter financeiro e
especulativo, ou seja, fortemente inseridos na dinmica
financeira do capitalismo internacional globalizado. Tambm sintomtica a paulatina entrada no mercado brasileiro de grandes grupos estrangeiros de promoo imobiliria, como o caso da Richard Ellis, uma das principais
promotoras na rea da Av. Luiz Carlos Berrini. Nobre
(2000:144) destaca a ao desses atores, na cidade de So
Paulo: os investidores preferidos para cooptao dos promotores foram os fundos de penso(...). Entre 1990 e 1998,
os investimentos dos fundos de penso no mercado imobilirio passaram de 2 para aproximadamente US$ 8 bilhes
17
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 14(4) 2000
cncia e comprometendo o retorno dos investimentos imobilirios. Se o alto risco dos investimentos imobilirios j
provocou crises no s em Bangcoc, mas tambm em pases centrais como os EUA e a Inglaterra, o que dizer dos
riscos eventuais em uma economia que se encontra em alto
grau de instabilidade como a brasileira (Sampaio Jr.,
1999a)? So Paulo, com seus cerca de 6 milhes de excludos, teria flego financeiro e econmico suficiente, no
restrito crculo de suas elites sitiadas, para garantir o sucesso de um boom econmico promovido diretamente pelo
capital especulativo internacional?
Outra argumentao tpica daqueles que pretendem
enfaticamente atribuir cidade de So Paulo o ttulo de
cidade-global a que aponta para um processo de substituio das atividades industriais caractersticas do
fordismo por novas atividades de carter globalizado, em
geral ligadas ao tercirio avanado. Embora seja verdade
que a cidade concentra grande volume de atividades desse setor (o que no , alis, um fato novo nem exclusivo
da era da globalizao), interessante observar os resultados de pesquisa feita pela Secretaria de Planejamento,
que, aps classificar as atividades econmicas da cidade
em globais ou no-globais, constatou que apenas 7,2%
dos estabelecimentos se enquadram em atividades mais
diretamente ligadas ao que se convencionou chamar de
globalizao (PMSP, 2001:29).
Tambm argumenta-se a existncia de uma fuga macia de indstrias para centros mais distantes, devido ao alto
custo de manuteno de empresas na cidade e s facilidades de gesto empresarial descentralizada propiciadas pela
tecnologia de comunicao, em um processo de desconcentrao industrial. Embora seja este um fenmeno verdadeiro, ele ainda ocorre em propores muito relativas,
bem menos importantes do que o propagado. Dados da
Fundao Seade mostram que a Regio Metropolitana ainda responsvel por 60,4% de todo o valor adicionado
gerado pela indstria paulista e por 56,8% do pessoal
ocupado no Estado (Fundao Seade, 2000).
Alm disso, o aumento das atividades tercirias tem
com certeza relao com a expanso dos setores do tercirio avanado ligados economia globalizada, mas
sobretudo a queda do nvel de emprego industrial, conseqncia do impacto destrutivo da globalizao sobre
o parque industrial brasileiro, que determinou uma migrao de parte desses trabalhadores desempregados para
o setor tercirio, ou ainda para o setor informal. Dados
da Prefeitura de So Paulo mostram um aumento significativo do desemprego em So Paulo, entre 1988 e 1998,
(...). A associao dos promotores imobilirios com esses
investidores possibilitou a construo de uma grande quantidade de edifcios modernos (...) cujos locatrios preferidos foram as grandes corporaes multinacionais.
Por esse critrio, entende-se a argumentao daqueles
que se empenham em definir a cidade de So Paulo como
uma cidade-global. No , entretanto, o critrio mais
animador, haja vista o resultado desastroso da implicao
do capital financeiro internacional no mercado imobilirio de Bangcoc. Nobre (2000) mostra como os megaprojetos servem apenas como uma forma de atrair investimentos atravs de um desenho urbano que agrade s
grandes corporaes e s elites. Pautando-se pelo exemplo dos megaprojetos executados na dcada de 80, nos
EUA e em Londres, o autor mostra como isso, no entanto,
aumenta o potencial de risco dos investimentos imobilirios: a expanso do mercado imobilirio nessa dcada
ocorreu atravs da criao artificial de demanda, pois os
edifcios foram construdos por razes financeiras (maiores taxas de retorno), e no por necessidades reais do
mercado, levando desvalorizao do estoque construdo e ao crescimento das taxas de vacncia nos edifcios
antigos. (...) Em outras palavras, o projeto autojustificase. Ele no responde nem s foras do mercado, nem s
necessidades identificveis. E cria demanda artificialmente. (...) A quebra da bolsa de valores na Segunda-Feira
Negra (19 de outubro de 1987) ps fim ao perodo de crescimento econmico, levando perda de empregos no setor que mais se beneficiou com a desregulamentao econmica. Londres e Nova York perderam cada uma
aproximadamente 100 mil empregos no setor financeiro
(Fainstein, 1994). O mercado imobilirio foi diretamente
afetado pelo grande aumento da vacncia dos edifcios
comerciais, que chegou a duplicar, alcanando 20% do
estoque construdo (Nobre, 2000:127-128).
A fragilidade da relao entre investimentos financeiros e imobilirios patente, e a crise em Bangcoc evidenciou isso mais do que nunca. interessante notar que os
edifcios mais modernos de So Paulo, na nova centralidade das Avenidas Berrini e guas Espraiadas, so
ocupados por empresas em regime de locao (Nobre,
2000). Em situaes de instabilidade econmica mais sria, que podem ocorrer, como se sabe, a qualquer hora,
essas empresas reorganizam sua estrutura fsica para enxugar custos, substituindo, rapidamente, os custosos edifcios inteligentes por solues mais baratas, como escritrios junto s fbricas, ou aluguel de edifcios mais
simples, aumentando de forma inesperada a taxa de va-
18
GLOBALIZAO E URBANIZAO SUBDESENVOLVIDA
NOTAS
crescendo de 8,2% para 17% (PMSP, 2001) devido diminuio da atividade industrial, que passou de 29,1%
para 17,8% no mesmo perodo. Tambm se transferiram
empregos para o setor de servios, ainda que em grande
parte em atividades no to globalizadas, como servios domsticos e pequeno comrcio. Porm, o aumento
desse setor, entre 1988 e 1998, portanto exatamente no
perodo de intensificao dos paradigmas econmicos da
globalizao, no foi to significativo, e principalmente
partiu de um valor j bastante alto em 1988: de 51,3%
para 62,4%. O que impressiona, isto sim, que a recesso
econmica fez com que a economia informal crescesse
enormemente, de tal forma que o emprego assalariado
com registro representava, em 1998, apenas 40,5% das
ocupaes (PMSP, 2001).
No se pretende aqui negar o carter globalizado de
um importante nmero de atividades econmicas desenvolvidas hoje em So Paulo, em especial na chamada
nova centralidade das Avenidas Faria Lima, Berrini e
guas Espraiadas. Tampouco se quer negar que a cidade desempenhe de fato um papel de destaque na nossa
insero na economia globalizada. O questionamento que
se faz aqui diz respeito ao grau de importncia que se d
a essa insero e portanto ao papel global da cidade
e crena de que ela seja uma via eficaz para a modernizao do pas, em moldes que no sejam os dos interesses das burguesias nacionais, mas sim os do conjunto
da sociedade. Parece que a nfase dada por pesquisadores e profissionais de planejamento ao estudo sobre a
maneira e a posio com que a metrpole se insere na
rede das cidades globais reflete uma matriz terica equivocada, pois importada dos pases centrais, e que no
responde aos desafios prprios da nossa realidade. Uma
matriz, alis, que no se adapta em nenhuma metrpole
de pases da economia dependente. um caso tpico de
idias fora do lugar (Maricato, 2000).
Qual , ento, a modernidade que queremos? A da
possibilidade de autodeterminao da nao nos moldes
da democracia e da eqidade econmica e social. Porm,
o modelo de ajuste estrutural neoliberal e sua vertente
urbanstica do planejamento estratgico s servem, como
visto, para produzir mais excluso e garantir a entrada
no Primeiro Mundo apenas de alguns privilegiados. Podese ento perguntar: para a soluo dos problemas estruturais que impedem o desenvolvimento efetivamente
includente e a construo de uma nao que controle o
seu prprio destino, qual a vantagem, na ponta do lpis,
em So Paulo ser uma cidade-global?
Agradeo a Helena Menna Barreto, da FAUUSP, e Alfredo Calcagno, da Cepal,
pela ajuda na obteno de dados essenciais redao deste artigo.
1. Sassen, Borja, Castells e muitos outros autores que defendem a idia de que a
economia globalizada se organiza nessa rede mundial de cidades medem o grau
de globalizao de uma metrpole atravs de dados como o nmero de sedes de
empresas transnacionais, a importncia de suas bolsas de valores, o grau de
informatizao e de capacidade informacional do parque imobilirio, o nmero de
equipamentos destinados aos negcios (hotis, business-centres...), etc. Ver a
respeito Arantes et alii (2000), Maricato (2000), Vainer (2000) e Ferreira (2000).
2. guisa de comparao, em 1996, um ano em que o mercado esteve especialmente aquecido, a mdia de lanamentos de habitaes no mercado formal na
cidade de So Paulo, segundo a Embraesp, foi de 30 mil unidades.
3. Aceitando-se, claro, as variaes devidas s especificidades histricas e culturais to diferentes de cada pas. Ver, por exemplo, Amin (1991).
4. Nos termos propostos por Braudel (1978) e Wallerstein (1994).
5. As agncias multilaterais criaram vrios rtulos para diferenciar pases como Brasil,
Mxico, ndia ou Paquisto, considerados com grande potencial de entrar na economia globalizada: economias em desenvolvimento, semi-industrializadas, emergentes, etc. Neste trabalho, adotou-se a definio pases subdesenvolvidos para identificar tanto estes quanto todos os outros pases da periferia, j que nenhum deles
deixa de apresentar nveis inadmissveis e generalizados de pobreza.
6. Taxas de urbanizao na Malsia 52,1%, Nigria 37,7% e ndia 26,3%
(World Bank, 1995).
7. So elas, em ordem de tamanho decrescente: Cidade do Mxico, So Paulo,
Seul, Moscou, Bombain, Calcut e Buenos Aires-La Plata (Lefebvre, 1992).
8. O que dizer daqueles que dispem de 1,5 dlar/dia, e que estatisticamente no
so mais, portanto, considerados pobres.
9. Ao contrrio, a pobreza tornou-se at politicamente interessante ao permitir a
corrupo eleitoral atravs da compra de votos, a manipulao eleitoral, etc.
10. O documento completo embora por natureza extremamente sucinta, como devem ser as cartilhas do Consenso de Washington pode ser lido em Williamson (1994).
11. No foi, entretanto, por falta de advertncias por parte de um grande nmero de
intelectuais brasileiros, entre os quais destacam-se Jos Luis Fiori, Maria da Conceio Tavares, Francisco de Oliveira, Otlia Arantes, Ermnia Maricato, Plinio
Sampaio Jr., e muitos outros, que o Brasil adotou a cartilha do Consenso de
Washington.
12. Manifesto de lanamento da idia de uma Rede Brasileira de Planejadores
pela Justia Social, Porto Alegre, 27 de janeiro de 2001.
13. Nas muitas vezes em que este representa os interesses dos setores dominantes, o que no incomum em pases subdesenvolvidos nos quais as prioridades
das polticas pblicas so muito freqentemente invertidas a favor desses setores
e em detrimento do bem geral e da homogeneizao social.
14. Ainda que no definido como tal pela prefeitura daquela cidade.
15. Em So Paulo, a figura do arquiteto-empreendedor bastante familiar: Carlos
Bratke (Av. Luiz Carlos Berrini), Julio Neves (Av. Faria Lima) e Ruy Othake so
alguns dos exemplos mais conhecidos. Nos pases industrializados, as grandes
operaes de promoo urbansticas sempre envolvem um seleto grupo de grandes e festejados escritrios de arquitetura, at como forma de garantir um
markenting urbano mais eficaz.
16. Uma rara exceo regra Joanesburgo, na frica do Sul, que por motivos
prprios dinmica do fim do apartheid racial naquele pas, foi inteiramente ocupada pela populao negra e pobre aps a elite branca ter decidido abandon-la por
completo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AMIN, S. Lempire du chaos. Paris, LHarmattan, 1991.
ARANTES, O.B.; MARICATO, E. e VAINER, C. O pensamento nico das cidades: desmanchando consensos. Petrpolis, Vozes, 2000 (Coleo Zero
Esquerda).
ARRIAGADA, C. Pobreza en Amrica Latina: nuevos escenarios y desfios de
polticas para el hbitat urbano. Santiago do Chile, Cepal/Eclac - Divisin
19
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 14(4) 2000
de Medio Mabiente y Assentamientos Humanos, Srie Medio Ambiente y
Desarrollo, n.27, out. de 2000.
LIPIETZ, A. Mirages et miracles: problmes de lindustrialisation dans le TiersMonde. Paris, La dcouverte, 1985.
BORJA, J. e CASTELLS, M. Local & global: management of cities in the information
age. Londres, UNCHS (Habitat/ONU) e Earthscan Publications, 1997a.
LUCIANO, F. Regularizacin de assentamientos irregulares en Crdoba. In.
AZUELA, A. e FRANOIS, T. (orgs.). El acesso de los pobres al suelo
urbano. Mxico, Centro de Estdios Mexicanos y Centroamericanos,
Universidad Autnoma de Mxico, Instituto de Investigaciones Sociales,
Programa de Estudios sobre la Ciudad, 1997.
__________ . Planes estratgicos y proyectos metropolitanos. Cadernos
IPPUR. Rio de Janeiro, UFRJ, Ano XI, n. 1 e 2, 1997b.
BRAUDEL, F. Escritos sobre a histria. So Paulo, Editora Perspectiva, 1978.
MARICATO, E. Metrpole na periferia do capitalismo. So Paulo, Hucitec/Srie Estudos Urbanos, 1996.
BUENO, L.M. de M. Projeto e favela: metodologia para projetos de urbanizao. Tese de Doutorado. So Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de So Paulo, 2000.
__________ . Planejamento urbano no Brasil: as idias fora do lugar e o lugar
fora das idias. In: ARANTES, O.B.; MARICATO, E. e VAINER, C.
Op.cit., 2000.
CASTRO, M. e RIOFRO, G. La regularizacin de las barriadas: el caso de
Villa El Salvador (Per). In. AZUELA, A. e FRANOIS, T. (orgs.). El
acesso de los pobres al suelo urbano. Mxico, Centro de Estdios Mexicanos y Centroamericanos, Universidad Autnoma de Mxico, Instituto
de Investigaciones Sociales, Programa de Estudios sobre la Ciudad, 1997.
MARICATO, E.; FIX, M. e FERREIRA, J.S.W. Encontro com a Planners
Network: planejadores urbanos e justia social. In: FAUUSP. Informativo
FAUUSP, So Paulo, Ano 1, n.7, dez. de 1999.
NOBRE, E. C. Reestruturao econmica e territrio: expanso recente do tercirio na marginal do rio Pinheiros. Tese de Doutorado. So Paulo,
FAUUSP, ago. 2000.
CEPAL. Panorama Social de Amrica Latina 1999-2000. Santiago do Chile, Comisso econmica para a Amrica Latina e o Caribe ONU, 2000a.
__________ . From rapid urbanization to the consolidation of human settlements
in Latin America and the Caribbean: a territorial perspective. Santiago do
Chile, Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe ONU, 2000b.
PMSP. Globalizao e desenvolvimento urbano. So Paulo, PMSP/Sempla, 2001.
SAMPAIO Jr., P.A. Entre a nao e a barbrie: os dilemas do capitalismo dependente. Petrpolis, Vozes, 1999a.
CHARMES, E. La nouvelle bulle a clat en Thalande. Etudes Foncires. Paris,
n.81, Adef Association des Etudes Foncires, Inverno de 1998.
__________ . O impasse da formao nacional. In: FIORI, J.L. (org.). Estados e moedas no desenvolvimento das naes. Petrpolis, Vozes, 1999b
(Coleo Zero Esquerda).
CLICHEVSKY, N. Informalidad y segregacin urbana en Amrica Latina: una
aproximacin. Santiago do Chile, Cepal/Eclac Divisin de Medio Mabiente
y Assentamientos Humanos, Srie Medio Ambiente y Desarrollo, n.28, out.
de 2000.
__________ . Origem e desdobramento da crise da teoria do desenvolvimento
na Amrica Latina. So Paulo em Perspectiva. So Paulo, Fundao Seade,
v.13, n.1-2, jan.-jun. 1999c.
FAINSTEIN, S. The city builders: property, politics and planning in London
and New York. Oxford, Blackwell Publishers, 1994.
SASSEN, S. La ville globale: New York, London, Tokyo. Paris, Descartes et Cie,
1996 (Collection Les Urbanits).
FERREIRA, J.S.W. So Paulo metrpole subdesenvolvida: para que(m) serve a
globalizao?. So Paulo, FAUUSP, 2000, mimeo.
STALLINGS, B. e PERES, W. Crescimiento, empleo y equidad: el impacto de
las reformas econmicas en Amrica Latina. Santiago de Chile, Cepal/Fondo
de Cultura Econmica, 2000.
FIORI, J.L. Os moedeiros falsos. Petrpolis, Vozes, 1997.
FIX, M. Parceiros da excluso: duas histrias da construo de uma nova cidade em So Paulo. So Paulo, Editora Boitempo, no prelo.
VAINER, C. Ptria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratgia discursiva
do planejamento estratgico. In: ARANTES, O.B.; MARICATO, E. e
VAINER, C. Op.cit., 2000.
FOLHA DE S.PAULO. Abertura no reduz pobreza, diz Bird, So Paulo, Segundo Caderno, 16/09/99, p.1.
VEJA. So Paulo, 22/01/2001.
FPH. Politiques urbaines et lutte contre la pauvret. Paris, Documents de Travail
des Editions Charles Leopold Mayer, n.96, 1997.
VILLAA, F. Efeitos do espao sobre o social na metrpole brasileira. In:
SOUZA, M.A.A. de et alii. Metrpole e globalizao. So Paulo, Cedesp,
1999a.
FUNDAO SEADE/Governo do Estado de So Paulo. Cadernos do Frum So
Paulo Sculo XXI. So Paulo,Tomo III, Caderno 11, Dirio Oficial do Estado de So Paulo, volume 110, n.109, jun. 2000.
__________ .Uma contribuio para a histria do planejamento urbano no Brasil. In: DEK, C. e SCHIFFER, S. O processo de urbanizao no Brasil.
So Paulo, Edusp/Fupam, 1999b.
IBASE e outras ONGs. Observatrio da Cidadania: monitorando o desenvolvimento Social Watch. Montevideo, n.1, Uruguai, Instituto del Tercer Mundo, 1997.
WALLERSTEIN, I. A cultura como campo de batalha ideolgico do sistema
mundial moderno. In FEATHERSTONE, M. (org.). Cultura global: nacionalismo, globalizao e modernidade. Petrpolis, Vozes, 1994.
INSTITUTO CIDADANIA. Projeto Moradia. So Paulo, 2000.
IRD. Atelier International Metropoles en mouvement. Programme Ville/Rseau
Socio-Economique de lHabitat. Paris, IRD/CNRS, dezembro 1998.
WILLIAMSON, J. (org.). The political economy of policy reform. Washington,
Institute for International Economics, 1994.
LEFEBVRE, S. Mondialisation et urbanisation:levolution demografique dun
phenomne urbain. Montral, Canada, paper INRS-Urbanisation- UQAM,
1992.
WORLD BANK. Social Indicators of Development. Bank Book, Baltimore/London
World and John Hopkins University Press, 1995.
20
Você também pode gostar
- Plano de Aula Patrimônio Cultural para Os Anos IniciaisDocumento7 páginasPlano de Aula Patrimônio Cultural para Os Anos IniciaisLóren Victória CardosoAinda não há avaliações
- As 14 Pérolas Da ÍndiaDocumento61 páginasAs 14 Pérolas Da ÍndiaLenildo Araujo100% (6)
- Resumo Capítulo 8 e 9 - Introdução À História Da ArquiteturaDocumento8 páginasResumo Capítulo 8 e 9 - Introdução À História Da ArquiteturaTairo Freitas0% (1)
- Trabalhadores e Sindicatos No Brasil Marcelo Badaro Mattos PDFDocumento160 páginasTrabalhadores e Sindicatos No Brasil Marcelo Badaro Mattos PDFcelianevbsAinda não há avaliações
- Fernando Schinimann - A Batalha Da Carne em CuritibaDocumento298 páginasFernando Schinimann - A Batalha Da Carne em CuritibaSicrano da SilvaAinda não há avaliações
- Projeto FanfarraDocumento15 páginasProjeto FanfarraCintia PaintnerAinda não há avaliações
- TL Julia Beula2017Documento115 páginasTL Julia Beula2017firstfazilAinda não há avaliações
- (Cap 1) Ocupações Urbanas - A Fronteira Entre A Violação Do Direito de Propriedade e o Exercício Do Direito À MoradiaDocumento128 páginas(Cap 1) Ocupações Urbanas - A Fronteira Entre A Violação Do Direito de Propriedade e o Exercício Do Direito À MoradiatainarapsampaioAinda não há avaliações
- Artigo - Os Efeitos Dos Vazios Urbanos No Custo de Urbanização Da Cidade de Palmas-TODocumento25 páginasArtigo - Os Efeitos Dos Vazios Urbanos No Custo de Urbanização Da Cidade de Palmas-TOJoão BazolliAinda não há avaliações
- Boletim Vermoim #2Documento4 páginasBoletim Vermoim #2Aloisio Nogueira100% (2)
- Introdução Transporte PublicoDocumento26 páginasIntrodução Transporte PublicoemersonvianaAinda não há avaliações
- O Declinio Do Homem Publico o Mundo Publico Do Antigo Regime Richard SennettDocumento37 páginasO Declinio Do Homem Publico o Mundo Publico Do Antigo Regime Richard SennettSinei SalesAinda não há avaliações
- Projecto NascimentoDocumento27 páginasProjecto NascimentoSongane de Araujo AraujoAinda não há avaliações
- Planejamento Gestão Obra 2017Documento5 páginasPlanejamento Gestão Obra 2017Felix SilvaAinda não há avaliações
- Bang - E. K. Blair PDFDocumento403 páginasBang - E. K. Blair PDFDenise TavaresAinda não há avaliações
- A Cidade de Lisboa Na Idade MédiaDocumento1 páginaA Cidade de Lisboa Na Idade MédiaBrunaAinda não há avaliações
- A Rede UrbanaDocumento39 páginasA Rede UrbanaCarolina FerreiraAinda não há avaliações
- Rio de Janeiro 2024-03-19 CompletoDocumento100 páginasRio de Janeiro 2024-03-19 CompletoStephAinda não há avaliações
- Projeto PDFDocumento40 páginasProjeto PDFBenhur SmehaAinda não há avaliações
- CURRÍCULO EM AÇÃO Aluno 7 Ano LPVOL.4Documento44 páginasCURRÍCULO EM AÇÃO Aluno 7 Ano LPVOL.4Cláudia Geronimo Viana100% (2)
- Edição de Junho/Julho Do Boletim Informativo "O Beato"Documento16 páginasEdição de Junho/Julho Do Boletim Informativo "O Beato"Freguesia do BeatoAinda não há avaliações
- Plano Diretor de MaceióDocumento95 páginasPlano Diretor de MaceióMarielly NobreAinda não há avaliações
- Os Bandeira de Mello e Os Poderes Locais Na Paraíba Colonial... T&F PDFDocumento24 páginasOs Bandeira de Mello e Os Poderes Locais Na Paraíba Colonial... T&F PDFInaldo JrAinda não há avaliações
- 1aol Planej Urb e DimenDocumento1 página1aol Planej Urb e DimenIsaac RangelAinda não há avaliações
- Mapografia Social de Aracaju para o Observatorio Social FinalDocumento51 páginasMapografia Social de Aracaju para o Observatorio Social FinalMarta Valeska Santos ReisAinda não há avaliações
- Cartilha ReurbDocumento38 páginasCartilha ReurbArturAinda não há avaliações
- COUTO, SANTOS & GUERRA (2012) - A Importância Da Economia Solidária Na Promoção Da Coesão Social - Breve Reflexão A Partir Do Caso PortuguêsDocumento6 páginasCOUTO, SANTOS & GUERRA (2012) - A Importância Da Economia Solidária Na Promoção Da Coesão Social - Breve Reflexão A Partir Do Caso PortuguêslukdisxitAinda não há avaliações
- Donzelot 1986 (A Policia Das Familias)Documento28 páginasDonzelot 1986 (A Policia Das Familias)Marcelly BrandãoAinda não há avaliações
- A Cidade e A LoucuraDocumento14 páginasA Cidade e A LoucuraViviana RodriguesAinda não há avaliações
- Alcântara, Ana - Espaços Da Lisboa Operária - Trabalho, Habitação, Associativismo e Intervenção Operária Na Cidade Na Última Década Do Século XIX (2019)Documento287 páginasAlcântara, Ana - Espaços Da Lisboa Operária - Trabalho, Habitação, Associativismo e Intervenção Operária Na Cidade Na Última Década Do Século XIX (2019)Pedro SoaresAinda não há avaliações