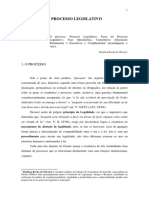Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Maioridade Penal - Consulta 2
Maioridade Penal - Consulta 2
Enviado por
DianneDinizDeBerredoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Maioridade Penal - Consulta 2
Maioridade Penal - Consulta 2
Enviado por
DianneDinizDeBerredoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Centro Universitrio de Braslia UniCEUB
Faculdade de cincias Jurdicas e Sociais Aplicadas FAJS
Curso de Direito
ALICE LVARES DE OLIVEIRA
A INCONSTITUCIONALIDADE DA DIMINUIO
DA MAIORIDADE PENAL E A SUA INEFICCIA
NO COMBATE CRIMINALIDADE
BRASLIA
2010
ALICE LVARES DE OLIVEIRA
A INCONSTITUCIONALIDADE DA DIMINUIO DA
MAIORIDADE PENAL E A SUA INEFICCIA NO
COMBATE CRIMINALIDADE
Monografia apresentada como requisito para
concluso do curso de bacharelado em Direito
do Centro Universitrio de Braslia.
Orientador: Jos Carlos Veloso Filho.
BRASLIA
2010
Para Amelita, Ido e Aldenice, meus pais, pelo amor e
incentivo de todas as horas.
Agradeo a orientao do Mestre Jos Carlos Veloso Filho pelo
contnuo acompanhamento e relevante orientao para o
desenvolvimento dessa monografia.
RESUMO
Para a atual Constituio Federal e para o Cdigo Penal Brasileiro os
menores de dezoito anos so considerados inimputveis, isto , eles no esto
sujeitos s leis penais. Este fato, ao contrrio do que muitos pensam, no significa
que os menores no se sujeitam a punies, pois estes esto sujeitos s medidas
socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA). Devido
o envolvimento de menores em delitos graves, a sociedade cobra do Estado
solues urgentes para a reduo da criminalidade e com isso obter maior
segurana social e, dentre estas, a diminuio da maioridade penal, pois assim, eles
sofreriam as sanes previstas no Cdigo Penal. Entretanto, a Constituio Federal
considera a inimputabilidade penal como uma garantia individual do adolescente,
portanto a abolio de um direito considerado fundamental, neste caso previsto no
artigo 228, seria invivel porque estaria violando uma clusula ptrea. Por fim, foi
feito uma anlise sobre as teorias criminolgicas que tentam explicar as causas do
comportamento criminoso, e assim foi possvel notar que nunca houve estudo que
mostrasse a idade como um fator determinante na conduta criminosa. Toda esta
discusso relevante nos meios jurdico, poltico e social, razo esta que ser o
objeto desta monografia.
Palavras chave: Direito Penal, Maioridade Penal e Criminalidade.
SUMRIO
Introduo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07
1. As teorias criminolgicas que estudam as causas do comportamento criminoso 08
2 A maioridade penal no Brasil ------------------------------------------------------------------- 14
2.1 Dos aspectos histricos ----------------------------------------------------------------------- 14
2.2 Dos critrios para a fixao da maioridade penal -------------------------------------- 20
2.3 Da questo da maioridade penal na legislao brasileira ---------------------------- 22
2.4 Das medidas socioeducativas previstas no ECA --------------------------------------- 27
3 A diminuio da maioridade para a Constituio Federal ------------------------------- 34
3.1 Dos direitos e das garantias fundamentais ----------------------------------------------- 34
3.2 Do poder de reforma e das clusulas ptreas ------------------------------------------- 36
3.3 Da inconstitucionalidade da diminuio --------------------------------------------------- 38
3.4 Das PECs que visam alterar o artigo 228 da Constituio Federal ---------------- 40
Concluso ---------------------------------------------------------------------------------------------- 43
Referncias -------------------------------------------------------------------------------------------- 46
INTRODUO
A discusso sobre da diminuio da maioridade penal tem causado muita
polmica nos cenrios poltico, jurdico e social atualmente, visto que, a cada dia,
parece crescer o nmero de adolescentes envolvidos em fatos criminosos. A partir
disto, deve-se analisar quais so as causas deste comportamento e verificar se a
reduo da maioridade penal servir de soluo no combate delinqncia.
Cumpre observar ainda se h a possibilidade de reduzir a maioridade penal,
visto que por ser considerada garantia individual no seria passvel de reforma,
afinal, trata-se de clusula ptrea.
No primeiro captulo sero abordados os caminhos em que a criminologia tem
se direcionado para compreender o objetivo da sano penal, ou seja, a Justia
Criminal Retributiva e a Justia Criminal Restaurativa.
Neste captulo, o estudo tambm ser calcado nas principais teorias
criminolgicas que visam entender as causas do comportamento criminoso e se em
alguma dessas teorias aponta a faixa etria do delinqente como fator determinante
para uma conduta criminosa.
No segundo captulo encontra-se, alm de um desenvolvimento histrico
sobre os direitos das crianas e dos adolescentes, uma explanao sobre os trs
critrios para a fixao da maioridade penal, sejam eles, o biolgico, o psicolgico e
o biopsicolgico.
Foi abordado ainda como o direito penal atual trata a criana e o adolescente,
e, com isso, se h um nexo psquico entre o autor do delito e o fato praticado por
ele, ou seja, se o adolescente capaz de entender o carter ilcito da infrao e se
h como se determinar a partir disso.
Busca-se compreender se a condenao do adolescente infrator servir como
medida ressocializadora ou apenas como punio, que, alm de no viabilizar a sua
reintegrao ao convvio em sociedade, provavelmente servir como pr escola de
crime.
Depois disto, ao final do mesmo captulo, sero analisadas as medidas
socioeducativas que so aplicadas ao adolescente caso este incorra em algum ato
infracional, pois, ao contrrio do que muitos pensam, o menor infrator tambm sofre
sanes penais.
No terceiro captulo ser abordada a viso da Constituio Federal em face
desse tema, pois este trabalho calca-se em saber se a norma constitucional permite
ou no a reduo da maioridade penal.
Sero estudadas as caractersticas dos direitos e das garantias fundamentais
e o Poder de Reforma, para, a partir disso, entender se a maioridade penal de fato
uma clausula ptrea e se ser passvel de mudanas.
Ao longo deste captulo, objetivou-se entender se o rol das garantias
fundamentais apenas exemplificativo, de forma que outras garantias possam ser
encontradas em decorrncia do sistema constitucional.
Ainda neste sentido, ser feita uma anlise sobre a constitucionalidade das
Propostas de Emenda Constituio que visam alterar o artigo 228 da CF/88 e em
que medida estas sero importantes para a diminuio da criminalidade.
Portanto, o objetivo da presente monografia analisar qual o atual tratamento
dado s crianas e aos adolescentes pelo ordenamento jurdico, entender se a
diminuio da maioridade penal algo constitucional e, se isto ocorresse, se
acarretaria em algum benefcio para a sociedade, como a diminuio da violncia e
o aumento da segurana.
1. As teorias criminolgicas que estudam as causas do comportamento
criminoso
A criminologia uma cincia emprica que se ocupa de estudos sobre o
delito, o delinqente e o controle social e a vtima.1
Pode-se dizer que atualmente o direito penal, e at mesmo a criminologia,
caminham por dois caminhos. O primeiro que seria a chamada Justia Criminal
Retributiva que comea pela culpabilidade e tem como objetivo principal o
sofrimento do criminoso. E o segundo que seria a Justia Criminal Restaurativa que
busca basicamente analisar os danos que a criminalidade causou vtima e repararlhe de forma justa.2
Para Antonio Beristain:
Os partidrios do modelo retributivo definem o delito como a infrao
culpvel da lei do Estado, enquanto os seguidores da justia
restaurativas, ao contrrio, como a infrao legal de uma pessoa que
causa dano a outra. 3
Antonio Beristain defende a Justia Restaurativa e diz que:
A meta da justia retributiva pretende sancionar o delinqente,
porque culpado, olhando seu passado, quia peccatum est, porque
infringiu a lei. Afortunadamente, pouqussimos penalistas mantm
esse conceito de culpabilidade moral que durante tantos sculos tem
dominado e manchado a dogmtica e a prxis penal. Assim
mesmo, j quase geral a recusa da sano no sentido retributivo
autentico. Digo quase geral porque ainda alguns professores, juzes
e polticos, sobretudo nos pases que mantm a pena de morte,
aplaudem o castigo como dor e sofrimento ao criminoso [...]. A justia
restaurativa recusa, com slidos argumentos, quase todas essas
noes bsicas da justia retributiva. Ela, ao contrrio, procura
solucionar o problema, restaurar o dano resultante do delito. Estuda
as responsabilidades e as obrigaes do delinqente para conseguir
reparar os prejuzos causados. 4
SHECAIRA, S. S. Criminologia. 1 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 60.
BERISTAIN, A. Nova Criminologia Luz do Direito Penal e da Vitimologia. 1 ed. Braslia:
Universidade de Braslia: So Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 171.
3
BERISTAIN, A. Nova Criminologia Luz do Direito Penal e da Vitimologia. 1 ed. Braslia:
Universidade de Braslia: So Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 176.
4
BERISTAIN, A. Nova Criminologia Luz do Direito Penal e da Vitimologia. 1 ed. Braslia:
Universidade de Braslia: So Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 178.
2
Cumpre observar ainda que toda sociedade precisa de regras que assegurem
a convivncia interna de seus membros. A partir disso, o controle social, que o
conjunto de normas e sanes que objetivam manter o jovem seguindo as normas
da comunidade, divide-se em dois tipos. O controle social informal exercido pela
famlia, pela escola, vida profissional, opinio alheia, dentre outros. E o controle
social formal exercido pela polcia, pela Justia, ou seja, pelo aparelho poltico do
Estado.5
Nas ltimas dcadas produziu uma notria transformao regressiva no
campo da chamada poltica criminal ou, mais precisamente, da poltica penal, pois
do debate entre polticas abolicionistas e reducionistas passou-se, quase sem
soluo de continuidade, ao debate da expanso do poder punitivo. Nele o tema do
inimigo da sociedade ganhou o primeiro plano de discusso.6
A figura do delinqente, que um dos principais objetos de preocupao da
criminologia, fora bastante investigado durante o perodo da Escola Positiva7, onde
era sempre visto como realidade biopsicopatolgica. Contudo, para a criminologia
mais moderna, o estudo do delinqente passou para segundo plano e o interesse
das investigaes se deslocou para a prpria conduta delitiva, para a vtima e para o
controle social. O infrator passa a ser tratado como unidade biopsicossocial e no de
uma perspectiva biopsicopatolgica como a tica individualista e correcionalista da
criminologia tradicional.8
A moderna sociologia criminal e os modelos sociolgicos constituem hoje o
paradigma dominante e contriburam decisivamente para um conhecimento realista
do problema criminal. Mostra-se a natureza social deste problema, assim como a
pluralidade de fatores que interatuam nele. Mostra-se sua conexo com fenmenos
normais e ordinrios da vida cotidiana. Mostra-se o impacto das contradies
estruturais e do conflito e a mudana social dinmica delitiva, o funcionamento dos
5
SHECAIRA, S. S. Criminologia. 1 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 56.
ZAFFARONI, E. R. O Inimigo no Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 13.
7
Pela concepo positivista, no h vontade humana; o pensamento, o querer, no so mais do que
manifestaes fsicas de um processo fsico-psicolgico que se desenvolve por meio de condutores
no sistema nervoso, sendo, portanto, um homem irresponsvel. De acordo com PRADO, L. R. Curso
de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 9 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
8
GOMES, L. F. e MOLINA, A. G. P. Criminologia. 4 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
74.
6
10
processos de socializao em funo da aprendizagem e identificao do indivduo
com modelos e tcnicas criminais e a ao seletiva do controle social no
recrutamento da populao reclusa.9
As teorias criminolgicas explicam o comportamento criminoso de diversas
maneiras e nenhuma delas considera a faixa etria como fator determinante. So
cinco as principais teorias sobre o referido assunto. A primeira a chamada Teoria
Multifatorial, que investiga preferencialmente a delinqncia juvenil e entende que a
criminalidade nunca resultado de um nico fator ou causa, mas sim, da ao
combinada de muitos dados e circunstncias. O prottipo de investigao
plurifatorial foi realizado pelo casal Gluek em 1950 e durante dez anos examinaram
mediante equipes interdisciplinares (assistentes sociais, psiclogos, antroplogos e
psiquiatras) quinhentos pares de jovens delinqentes e no delinqentes, buscando
fatores diferenciais entre ambos, com a finalidade de elaborar um diagnstico sobre
as causas da delinqncia. Tomando dados de referencia a famlia, a escola, o
municpio e a estrutura da personalidade, concluram que, para a elaborao do
prognstico, os mais relevantes seriam: a vigilncia do jovem por sua me, a maior
ou menos severidade com que ela o eduque e o clima de harmonia ou de
desavenas familiares.10
A Segunda teoria a chamada ecologia criminal e foi desenvolvida pelos
tericos da Universidade de Chicago. Esta teoria fala sobre a existncia de reas de
delinqncia em uma cidade. Uma cidade se desenvolve segundo crculos
concntricos, por meio de um conjunto de zonas ou anis a partir de uma rea
central. No mais central desses anis, chamado de Loop, estavam concentrados o
comrcio e a indstria. Na segunda zona que se encontrava logo aps este,
chamada de zona de transio, encontrava-se entre o Loop e a primeira zona
residencial. Esta estava sujeita mobilidade da populao, agitao, sujeira e mau
cheiro das indstrias, e por ser uma zona menos compatvel com as condies de
moradia, tinha concentrada nela pessoas de muito baixo poder aquisitivo. Da
GOMES, L. F. e MOLINA, A. G. P. Criminologia. 4 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
338
10
GOMES, L. F. e MOLINA, A. G. P. Criminologia. 4 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
339.
11
terceira at a quinta zona estavam reas residenciais, e quanto mais distantes do
Loop, maior o poder aquisitivo de sua comunidade.11
Fora verificado que as reas de maior ocorrncia de criminalidade eram os
trechos da cidade que estavam ligados degradao fsica, segregao
econmica, tnica, racial, etc. O nmero de crimes era maior nas reas prximas ao
Loop, o que sugeriu a probabilidade de uma estreita relao entre certos ambientes
da comunidade e a formao de padres delinqentes de comportamento.12
Foi observado tambm que na grande cidade no h o controle social
informal, j mencionado anteriormente, que existe nas pequenas cidades. O mundo
urbano com o anonimato criou impessoalidade nas relaes humanas. Ento o
crime se transforma em um mecanismo de acesso a valores e a bens. Busca-se a
ascenso social atravs do delito, e no mais pelos mtodos convencionais, como o
trabalho e economias pessoais.13
A terceira teoria a Estrutural Funcionalista da Anomia, introduzida por Emile
Durkheim e desenvolvida por Robert Merton. Esta teoria afirma que:
1) As causas do desvio no devem ser pesquisadas nem em fatores
bioantropolgicos e naturais (clima, raa), nem em uma situao
patolgica da estrutura funcional.
2) O desvio um fenmeno normal em toda estrutura social.
3) Somente quando so ultrapassados determinados limites, o
fenmeno do desvio negativo para a existncia e o
desenvolvimento da estrutura social, seguindo-se um estado de
desorganizao, no qual todo o sistema de regras de conduta perde
valor, enquanto um novo sistema ainda no se firmou (est a
situao de anomia). Ao contrrio, dentro de seus imites funcionais,
o comportamento desviante um fator necessrio e til para o
equilbrio e o desenvolvimento scio-cultural.14
O crime seria normal porque no teria origem em nenhuma patologia
individual ou social, mas sim no normal e regular funcionamento de toda ordem
11
SHECAIRA, S. S. Criminologia. 1 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 163.
SHECAIRA, S. S. Criminologia. 1 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 165.
13
SHECAIRA, S. S. Criminologia. 1 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 166.
14
BARATTA, A. Criminologia Crtica e Crtica do Direito Penal. Introduo Sociologia do Direito
Penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia, 2002, p. 59.
12
12
social. O crime cumpre a sua funo integradora e inovadora e deveria ser
contemplado como produto do normal funcionamento de toda sociedade. 15
O delito provocaria e estimularia a reao social, estabilizaria e manteria vivo
o sentimento coletivo que sustenta, na generalidade dos conscios, a conformidade
s normas. Alem disso, a criminalidade poderia ter tambm, alm desta funo
indireta, um papel direto no desenvolvimento moral de uma sociedade.16
A quarta teoria a chamada de Subculturais. Esta se afasta sensivelmente
dos postulados estrutural-funcionalista sustentado pela teoria da anomia e tambm
da anlise ecolgica da Escola de Chicago. O conceito de subcultura pressupe a
existncia de uma sociedade pluralista, com diversos sistemas de valores
divergentes em torno dos quais se organizam outros tantos grupos desviados. Busca
compreender o delito como opo coletiva, com um particular simbolismo ou
significado. No caso concreto da delinqncia juvenil, ela deveria ser vista como
deciso de rebeldia aos valores oficiais das classes mdias, no como atitude
racional e utilitria prpria do mundo dos adultos. Para os modelos subculturais o
delito no conseqncia da desorganizao social ou da carncia ou vazio
normativo, seno de uma organizao social distinta, de uns cdigos de valores
prprios ou ambivalentes em relao aos da sociedade oficial: os valores de cada
subcultura. 17
A quinta teoria a do Labelling Approach, tambm conhecida por Rotulao
Social ou Etiquetagem. De acordo com essa teoria no se pode compreender o
crime prescindindo da prpria reao social, do processo social de definio ou
seleo de certas pessoas e condutas etiquetadas como delitivas. Delito e reao
social so expresses interdependentes, recprocas e inseparveis. O desvio no
qualidade intrnseca da conduta, mas sim uma qualidade que lhe atribuda por
15
GOMES, L. F. e MOLINA, A. G. P. Criminologia. 4 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
350.
16
BARATTA, A. Criminologia Crtica e Crtica do Direito Penal. Introduo Sociologia do Direito
Penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia, 2002, p. 61.
17
GOMES, L. F. e MOLINA, A. G. P. Criminologia. 4 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
364.
13
meio de complexos processos de interao social, processos estes altamente
seletivos e discriminatrios.18
Ento o problema criminolgico foi deslocado do plano da ao para o da
reao, e tem sua explicao coincidindo com a chamada delinqncia secundria,
isto , a delinqncia que resulta do processo causal desencadeado pela
estigmatizao. Por isso, nota-se que uma das formas mais graves de reprovao
penal, a priso, contribui de alguma forma com a criminalidade. As condies da
priso e o contato com dos presos com outros criminosos acabavam por criar os
criminosos habituais. Mesmo aqueles que cometeram infraes de menor relevncia
so transformados em criminosos profissionais pela reao social das instituies
correcionais para crianas e adolescentes, ou seja, ao invs da sano prevista em
lei ter uma funo de criar uma justa e adequada contramotivao ao
comportamento criminoso, ela acaba apenas especializando o menor infrator.19
Portanto, seria de bom tom analisar onde realmente est o problema. Se ele
se faz presente na lei ou na condio social atual. Deve-se verificar o que realmente
leva o adolescente a infringir as normas impostas.
18
GOMES, L. F. e MOLINA, A. G. P. Criminologia. 4 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
385.
19
SHECAIRA, S. S. Criminologia. 1 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 288.
14
2. A maioridade penal no Brasil
2.1 Dos aspectos histricos
Durante o perodo Brasil-Colnia as Ordenaes de Portugal tinham grande
aplicao e com isso mantinha-se a autoridade mxima dentro do seio familiar, que
era do pai, para, a partir disso, garantir o direito de punir o filho como forma de
educ-lo. importante observar que se exclua a ilicitude da conduta paterna se no
exerccio deste direito o filho viesse a falecer ou sofresse alguma leso. 20
Nesse perodo, no campo no infracional, o Estado agia em paralelo com a
Igreja. A legislao cannica era emanada do Conclio de Trento que ampliou a
jurisdio clerical sobre estabelecimentos de piedade, padroado das igrejas e todos
os bens eclesisticos, tornou-se mais ampla a ingerncia da Igreja nos civis.21
Em 1551 foi fundada a primeira Casa de Recolhimento de crianas do Brasil,
gerida pelos jesutas que buscavam isolar as crianas ndias e negras da m
influncia dos pais, com seus costumes considerados brbaros na poca. Neste
ponto da histria, consolidou-se ento, a poltica do recolhimento do menor.22
O beb era entregue s amas-de-leite, e estas eram pagas pelo governo,
findo o perodo de amamentao, a criana permanecia na casa da ama, porm esta
tinha o seu salrio reduzido, e ficava sendo contratada como ama-seca at que a
criana completasse 07 (sete) anos e fosse encaminhada, pelo Juiz dos rfos,
aos lavradores para que servissem dele para servios.23
Foi durante a fase imperial que se teve incio um receio em relao aos
infratores, menores ou maiores, e a poltica de represso aos crimes era fundada no
temor ante a crueldade das penas. Durante as Ordenaes Filipinas, a
20
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 5.
21
PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 9 ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 123.
22
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 5.
23
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 89.
15
imputabilidade penal era alcanada aos 07 (sete) anos de idade. Desta idade at os
17 (dezessete) anos, o tratamento era similar ao do adulto, apenas com certa
atenuao na aplicao da pena. Dos 17 (dezessete) aos 21 (vinte e um) anos,
eram considerados jovens adultos e, por isso, j eram passveis de sofrer a pena de
morte, que naquela poca era por enforcamento. A nica exceo era no caso do
crime de falsificao de moeda, para o qual se autorizava a pena de morte para
maiores de 14 (catorze) anos.24
Entretanto, em 16 de dezembro de 1830, o imperador D. Pedro I sancionou o
Cdigo Criminal do Imprio do Brasil, fundado em princpios de direitos e liberdades
individuais, que trouxe em sua redao algumas mudanas. 25
Introduziu-se o exame da capacidade de discernimento para a aplicao da
pena. Os maiores de 14 (catorze) anos eram considerados inimputveis. Todavia, se
fosse comprovado que havia discernimento para os menores na faixa dos 07 (sete)
aos 14 (catorze) anos, estes poderiam ser levados para as Casas de Correo, lugar
este que poderiam permanecer at os 17 (dezessete) anos de idade, se as
autoridades assim julgassem necessrio.26
O fisiologista alemo Wilhelm Preyer, cujo livro The Mind of the Child que foi
publicado em 1882, quem acabou por ser considerado o pai da moderna psicologia
infantil, pois antes a criana no era objeto de grandes atenes e cuidados, e a
partir da passou a ser preocupao central, e foi com esse cuidado que inspirou
novos sentimentos e acabou nascendo a famlia moderna.27
Depois disso foi publicado o Cdigo Penal dos Estados Unidos do Brasil de
1890 que apresentou algumas modificaes em relao ao cdigo anterior, como
por exemplo, os menores de 09 (nove) anos que neste momento foram
considerados inimputveis, independente de qualquer avaliao. O exame de
24
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 5.
25
PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 9 ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 125.
26
BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Cdigo Criminal do Imprio do Brazil. Publicado na CLBR
de 1830.
27
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 85.
16
verificao de discernimento fora mantido apenas entre as crianas de 09 (nove) e
14 (catorze) anos de idade. E o adolescente entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete)
anos, seria sancionado com uma pena equivalente a dois teros da pena de um
adulto.28
Observa-se ento que tanto o Cdigo penal de 1830, promulgado pelo
Imprio, quanto o Cdigo de 1890, o primeiro da Repblica, continham medidas
especiais prescritas para aqueles que, apesar de no terem atingido a maioridade,
tivessem praticado atos de que fossem considerados criminais. O que organizava
estes cdigos era a Teoria da Ao com Discernimento que imputava
responsabilidade penal ao menor em funo de uma pesquisa da sua conscincia
em relao pratica da ao criminosa.29
O incio do perodo republicano foi marcado pelo aumento da populao do
Rio de Janeiro e So Paulo em decorrncia, especialmente, da intensa migrao
dos escravos postos em liberdade. O pensamento da sociedade variava entre
defender direitos e se defender dos menores infratores. Novas Casas de
Recolhimento foram inauguradas no incio do sculo XX, dividindo-se entre escolas
de preveno, com o objetivo de educar os menores que estavam em situao de
abandono, e escolas de reforma e colnias correcionais, cuja meta era ressocializar
os menores que infringiam as leis.30
Aps movimentos internacionais da poca e, at mesmo, discusses internas
levaram construo de uma Doutrina de Direito do Menor, fundada no binmio
carncia/delinqncia. Esta foi a fase da criminalizao da infncia pobre. Havia
uma pensamento generalizado de que o Estado tinha a obrigao de proteger a
criana e o adolescente. Em 12 de outubro de 1927 publicou-se o decreto 17. 943-A,
que foi o primeiro Cdigo de Menores do Brasil, tambm conhecido por Cdigo Mello
Mattos. De acordo em esta lei, a famlia, independente da situao econmica,
deveria suprir de forma adequada as necessidades bsicas das crianas e jovens.
No campo infracional, crianas e adolescentes at os 14 (catorze) anos eram
28
BRASIL. Decreto n 847 de 11 de outubro de 1890. Cdigo Penal dos Estados Unidos do Brasil.
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 101.
30
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 5.
29
17
objetos de medidas punitivas com objetivos educacionais, enquanto que os jovens
entre 14 (catorze) e 18 (dezoito) anos eram sujeitos de sanes, apesar da
responsabilidade atenuada.31
A Constituio da Repblica do Brasil de 1937, sensibilizada pelas lutas pelos
direitos humanos, buscou, alm do aspecto jurdico, ampliar o horizonte social da
infncia e juventude, e dessa forma o Servio Social passou a fazer parte de
programas de bem estar para o menor.32
A mentalidade repressora comea a ceder espao para uma concepo de
reeducao, de tratamento na assistncia ao menor. Surgiu um novo modelo de
assistncia infncia, fundada em cincias jurdicas, pedaggicas e mdicas. A
assistncia deixou de ser caritativa e religiosa para ser calcada na racionalidade
cientfica.33
Percebeu-se que a influncia dos movimentos ps Segunda Guerra em prol
dos Direitos Humanos levaram a ONU, em 1948, a elaborar a Declarao Universal
dos Direitos do Homem e, em 20 de novembro de 1959, a publicar a Declarao dos
Direitos da Criana. Todavia, apesar de todo esse avano, no perodo do regime
militar, em claro retrocesso, a Lei n 5.228/67, reduziu a responsabilidade penal para
16 (dezesseis) anos de idade, sendo que, entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos,
seria utilizado o critrio subjetivo da capacidade de discernimento. Contudo, no ano
posterior, retornou-se ao regime anterior com imputabilidade penal at os 18
(dezoito) anos. importante observar que durante todo esse perodo a cultura da
internao, para carentes ou delinqentes, foi tnica e a segregao era vista
como, na maioria dos casos, a nica soluo.34
O Cdigo de Menores de 1979, institudo pela Lei 6.697 de 10 de outubro de
1979, foi orientado pela Doutrina de Proteo aos Menores em Situao Irregular,
31
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 6.
32
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 6.
33
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 100.
34
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 7.
18
que abrangia casos de abandono, a prtica de infrao penal, falta de assistncia ou
representao legal. Esta Lei era instrumento de controle social da infncia e do
adolescente, vtimas de omisses da famlia, da sociedade e do Estado em seus
direito bsicos.35
Na Constituio Federal de 1988, o legislador constituinte, influenciado por
movimentos europeus ps-guerra, buscou um direito funcional, pr-sociedade. De
um sistema normativo garantidor do patrimnio do indivduo, passou-se para um
novo modelo que prioriza o resguardo da dignidade da pessoa humana. O binmio
individual/patrimonial substitudo pelo coletivo/social.36
A intensa mobilizao de organizaes populares nacionais, acrescida da
presso de organismos internacionais, como o UNICEF, foram essenciais para que
o legislador constituinte se tornasse sensvel a uma causa j reconhecida como
primordial em vrios documentos internacionais como a Declarao de Genebra, de
1924; a Declarao Universal dos Direitos Humanos (Pacto So Jos da Costa Rica,
1969) e Regras Mnimas das Naes Unidas para a Administrao da Justia da
Infncia e da Juventude Regras Mnimas de Beijing (Res. 40/33 da Assemblia
Geral, de 29/11/85). A ordem rompeu com o j consolidado modelo da situao
irregular e adotou a Doutrina de Proteo.37
A aprovao dos textos dos artigos 227 e 228 da Constituio, fez o Brasil
adotar a Doutrina Jurdica da Proteo Integral. Alm dos direitos de carter
patrimonial, foram reconhecidos os direitos de personalidade, a proteo de valores
morais, tais como honra, dignidade, respeito e liberdade. Assim, o direito brasileiro
reconheceu que as crianas e os adolescentes so titulares de direitos fundamentais
como os adultos. Isto proporcionou ao Brasil fazer parte do seleto rol das naes
35
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 108.
36
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 8.
37
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 8.
19
mais avanadas na defesa dos interesses infanto-juvenis, para as quais crianas e
jovens so sujeitos de direitos fundamentais.38
O Estatuto da Criana e do Adolescente resultou da articulao de trs
vertentes: o movimento social, os agentes do campo jurdico e as polticas pblicas.
Coube ao movimento social reivindicar e pressionar, aos agentes jurdicos traduzir
tecnicamente os anseios da sociedade civil, e ao poder pblico coube, atravs das
Casas Legislativas, efetivar os anseios sociais e a determinao constitucional. Foi
ento criado o Estatuto que uma norma especial com extenso campo de
abrangncia,
enumerando
regras
processuais,
instituindo
tipos
penais,
estabelecendo normas de direito administrativo, princpios de interpretao, poltica
legislativa, ou seja, todo instrumento necessrio e indispensvel para efetivar a
norma constitucional.39
Todavia, mesmo aps tanto esforo e conscientizao para a construo de
um novo paradigma para o direito infanto-juvenil, h tentativas de retrocesso em
relao a esses direitos e garantias j conquistados. Julita Lambruguer, diretora do
Centro de Estudos de Segurana e Cidadania da Universidade Cndido Mendes
entende que:
Quando vejo o Congresso Nacional se movimentando para reduzir a
responsabilidade penal no pas para 16 anos, no posso deixar de
pensar que se est apostando no pior.(...). Dados coletados pelo
Flanud/SP., Unicef e Departamento da Criana e do Adolescente do
Ministrio da Justia falam por si. Em primeiro lugar, os adolescentes
infratores so responsveis por apenas 10% dos crimes cometidos
no Brasil. E mais: de cada cem mil adolescentes, s 2,7 so
infratores, enquanto em cada cem mil adultos, 87 so infratores. De
todos os atos infracionais praticados por adolescentes, somente 8%
equiparam-se a crimes contra a vida. A grande maioria (75%) so
crimes contra o patrimnio e destes, 50% so furtos. Isto , delitos
sem violncia. Mas o que precisamos ter coragem de admitir que
este pas est longe de cumprir com suas responsabilidades para
com nossas crianas e jovens, sobretudo pobres. Uma sociedade
excludente e injusta como a brasileira no pode apostar na reduo
38
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 109.
39
MACIEL. K [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos. 4
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 9.
20
da responsabilidade penal como a sada para a superao da
violncia.40
2.2 Dos critrios para a fixao da maioridade penal
Faz-se necessrio compreender o que imputabilidade penal. Este instituto
ocorre quando possvel responsabilizar penalmente algum por seus atos.
Contudo, preciso analisar algumas condies pessoais do indivduo, como por
exemplo, o seu desenvolvimento mental, para este se comportar de acordo com o
seu prprio entendimento.41
Conceitua-se, de forma simplificada, a imputabilidade como a capacidade de
culpa, ou seja, a condio pessoal de maturidade e sanidade mental que confere ao
agente a capacidade de entender o carter ilcito do fato e, ainda, saber determinar
o seu prprio comportamento diante deste entendimento.42
Cumpre observar que no se deve confundir imputabilidade penal com
responsabilidade jurdico-penal. A segunda se refere a obrigao de o agente se
sujeitar s conseqncias da infrao penal comentida. Com isso, nada tem a ver
com a capacidade mental de compreenso e autodeterminao. Por isso que um
inimputvel por doena mental, por exemplo, ser juridicamente responsvel pelo
ato delitivo praticado e pois ficar sujeito a uma sano, que a medida de
segurana.43
As pessoas que no conseguem entender a ilicitude de alguns fatos tm a
imputabilidade penal excluda total ou parcialmente. Este indivduo chamado de
inimputvel. H trs critrios usados para fixar a inimputabilidade penal. O sistema
biolgico, o psicolgico e o biopsicolgico.44
40
LEAL, L. de O. A Reduo da idade de imputabilidade penal e seus aspectos constitucionais.
Revista de Direito do Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro. Ed. Espao Jurdico.
Disponvel em: http://www.smithedantas.com.br/texto/menor_penal.pdf. Acessado em: 04/10/2010.
41
JESUS, D. E. Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 28 ed. So Paulo: Saraiva, 2005, p. 469.
42
DOTTI, R. A. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 3 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
431.
43
ESTEFAM, A. Direito Penal. Parte Geral. 1 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 261.
44
ESTEFAM, A. Direito Penal. Parte Geral. 1 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 261.
21
Para o sistema biolgico, tambm chamado de etiolgico, a inimputabilidade
declarada uma vez comprovada a doena mental ou o desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, ou seja, considera-se o motivo que ocasionou a
inimputabilidade.45
Para o sistema psicolgico ocorre o contrrio. O importante, ento,
considerar o efeito e no a causa. A lei enumera os aspectos da atividade psquica
cuja deficincia torna o indivduo inimputvel, sem referncia s causas patolgicas,
sendo necessria apenas a demonstrao de que o agente no tinha capacidade de
entender e de querer o fato, no plano estritamente psicolgico, para se admitir a
inimputabilidade.46
O sistema biopsicolgico aquele que se baseia, para o fim de constatao
da inimputabilidade, em dois requisitos: um de natureza biolgica, ligado causa ou
elemento provocador, e outro relacionado com o efeito, ou a conseqncia psquica
provocada pela causa. Assim, um doente mental, por exemplo, somente ser
considerado inimputvel se, alm da sua enfermidade (causa), constatar-se que no
momento da conduta, encontrava-se desprovido de sua capacidade de entender a
natureza ilcita do ato ou de se determinar conforme essa compreenso (efeito). 47
O sistema adotado pelo Cdigo Penal atual o biopsicolgico, como se
verifica na redao do artigo 26:
Art. 26 - isento de pena o agente que, por doena mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da
ao ou da omisso, inteiramente incapaz de entender o carter
ilcito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.48
No suficiente diagnosticar, por exemplo, que o agente portador de
psicose, epilepsia, parania ou debilidade mental, pois h portadores destas
enfermidades
45
que
no
so
desprovidos
dos
pressupostos
psquicos
da
DOTTI, R. A. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 3 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
495.
46
DOTTI, R. A. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 3 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
495.
47
ESTEFAM, A. Direito Penal. Parte Geral. 1 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 262.
48
BRASIL. Decreto-Lei n 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Cdigo Penal. Dirio Oficial da Unio.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940.
22
imputabilidade. Isso depender da estrutura psquica do indivduo. A exceo a essa
regra ocorre apenas quando se tratar de menores de 18 anos, caso em que a mera
comprovao desta condio ao momento da infrao suficiente para serem
declarados inimputveis.49
No apenas o Cdigo Penal, mas tambm a Constituio Federal visa a
inimputabilidade do adolescente. Em seu artigo 228, estes ficam sujeitos a
legislao especial, isto , no se sujeitam ao Cdigo Penal, mas sim, ao Estatuto
da Criana e do Adolescente.50
2.3 Da questo da maioridade penal na legislao brasileira
Atualmente a maioridade penal est fixada em 18 anos de idade pelo Cdigo
Penal Brasileiro51 e pela Constituio Federal, como dispe o seu artigo 228:
Art. 228. So penalmente inimputveis os menores de dezoito anos,
sujeitos s normas da legislao especial. 52
Esse mesmo limite mnimo de idade para a imputabilidade penal
consagrado na maioria dos pases (ustria, Dinamarca, Finlndia, Frana, Noruega,
Holanda, Cuba, Mxico, Uruguai, etc.). Todavia em outros pases podem ser
considerados imputveis pessoas de 17 (dezessete) anos (Malsia, Grcia, Nova
Zelndia); 16 (dezesseis) anos (Argentina, Birmnia, Israel, Espanha); 15 (quinze)
anos (ndia, Egito, Iraque, Guatemala, Paraguai, Lbano); 14 (catorze) anos
(Alemanha, Haiti); 10 (dez) anos (Inglaterra).53
Os adolescentes em conflito com a lei podem ser sancionados muitas vezes
com a internao em Instituies de Reeducao, entretanto, no se pode negar
que est viva na comunidade a idia de que estas instituies so apenas pr
49
DOTTI, R. A. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 3 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
496.
50
BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado
Federal, 2010.
51
BRASIL. Decreto-Lei n 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Cdigo Penal. Dirio Oficial da Unio.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940.
52
BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado
Federal, 2010.
53
MIRABETE, J. F. e FABBRINI, R. N. Manual de Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 26 ed. So Paulo:
Atlas, 2010, p. 202.
23
escolas do crime que servem apenas para preparar o menor para a verdadeira
priso que muito provavelmente ter que encarar quando ele se tornar penalmente
imputvel. A idia que a comunidade tem sobre este tipo de punio que a sua
finalidade no tem obtido xito, visto que no h, no Brasil, estrutura que comporte
as necessidades dos menores. Pelo contrrio, isto torna o problema ainda maior, j
que as superlotaes das instituies as tm feito cada vez mais parecidas com
presdios.54
A condenao do menor infrator a alguma pena prevista no Cdigo Penal no
, em sim, uma medida ressocializadora, e sim, apenas uma punio, ou seja,
apenas uma retribuio do Estado em face do delito praticado. A medida
socioeducativa se encontra, em verdade, na forma que esta condenao aplicada
ao jovem, por isso se faz necessrio compreender que apenas a privao de
liberdade faz parte da punio e no outras restries de direitos, como violaes a
condies de vida digna e que estas violaes somente pioram a situao psquica
do adolescente.55
H tambm o argumento de que necessrio diminuir a maioridade para
acabar com o aproveitamento da condio de menor para cometer crimes. Todavia,
estes aliciadores apenas reduziriam a faixa etria dos aliciados, e assim, passariam
a envolver crianas ainda mais jovens nesta realidade de delinqncia.56
Os adolescentes se colocam na posio de delinqente talvez at por
vontade prpria, mas isto se d somente por falta de conscincia. A pessoa se
aproveita de si mesma como meio do ato delitivo. A partir dessa suposio, buscase analisar o nvel de culpabilidade, a situao do adolescente no instante do estado
de inconscincia. Com isto, aplicado, o princpio denominado actio libera in
causa.57
54
VIEIRA, H. S. Perfil do Adolescente Infrator no Estado de Santa Catarina. Cadernos do Ministrio
Pblico. Florianpolis, n 3. Assessoria de Imprensa da Procuradoria Geral de Justia, 1999.
55
VOLPI, M. Os Adolescentes e a lei: O direito dos adolescentes, a prtica de atos infracionais e sua
responsabilizao. Braslia: Ilanud, 1998, p. 36.
56
MELLO, M. M. Inimputabilidade Penal. Adolescentes infratores: punir e (res) socializar. 1 ed.
Recife: Nossa Livraria, 2004, p. 58.
57
MIRABETE, J. F. e FABBRINI, R. N. Manual de Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 26 ed. So Paulo:
Atlas, 2010, p. 201.
24
Entende-se ento, por actio libera in causa, a situao em que o sujeito
pratica um comportamento criminoso sendo inimputvel ou incapaz de agir, mas, em
momento anterior, ele prprio se colocou nessa situao de ausncia de
imputabilidade ou de capacidade de ao, de maneira propositada ou, pelo menos,
previsvel.58
A culpabilidade um nexo psquico entre o autor e fato praticado por ele. Da
a inimputabilidade tem o dever limitador a entrada do indivduo no campo da
punibilidade, afinal s pode ser considerada culpada a pessoa capaz de
compreender o carter criminoso do fato. A imputabilidade , ento, algo
psicolgico, pois se trata de um conjunto de condies: maturidade e sanidade
mental.59
Com isso, verifica-se que, a pouca capacidade de entendimento pode no ser
bem ajuizada, visto que a pessoa que se aproveita da condio de menor para
delinqir
tem
plenas
condies
de
discernimento,
pois
no
entende
as
conseqncias do prprio ato.
Um adolescente pode, por exemplo, furtar um carro sabendo que
transgride os valores, mas no percebe, muitas vezes, a intensidade
da repercusso do fato na estabilidade da comunidade organizada.60
necessrio saber, portanto, quando se pode atribuir ao agente a prtica de
crime, para se poder falar em censurabilidade da conduta.61
Se um adolescente exercer alguma conduta proibida por lei, este ter, sim,
responsabilidade sobre o ato, porm as providncias referentes prtica de
infraes penais por menores de 18 anos, so atribudas ao Juzo de Menores, por
58
ESTEFAM, A. Direito Penal. 1 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 267/268.
MINAHIM, M. A. Direito Penal da Emoo. A Inimputabilidade do Menor. 1 ed. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 1992, p. 51/52.
60
MINAHIM, M. A. Direito Penal da Emoo. A Inimputabilidade do Menor. 1 ed. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 1992, p. 115.
61
MIRABETE, J. F. e FABBRINI, R. N. Manual de Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 26 ed. So Paulo:
Atlas, 2010, p. 195.
59
25
meio de aplicao de medidas destinadas a sua reeducao e recuperao, e no
aos juzes das varas criminais comuns.62
Outro argumento dos que defendem a reduo da maioridade o
amadurecimento precoce dos jovens em funo da multiplicao dos meios de
comunicao e do desenvolvimento tecnolgico. Entretanto, apesar disso tudo, no
se pode deixar de levar em considerao a situao de fragilidade do jovem, e por
isso dar-lhes ateno diferenciada. Alm do que, o aumento da violncia urbana
tambm no motivo para a diminuio, pois isto apenas aumentaria a quantidade
de pessoas pobres nas instituies carcerrias, o que no resolveria o problema da
sociedade.63
Principalmente os meios de comunicao tratam a maioridade penal fixada
em 18 anos como um incentivo a delinqncia. Estes, desprovidos de grande
conhecimento social ou jurdico, impreguinam na sociedade a idia de que a
diminuio da maioridade penal ir ter como conseqncia a diminuio da
violncia. Entretanto, este pensamento se afigura simples demais. importante
compreender que colocar um adolescente dentro de um presdio, que no tem nada
a ver com a ideologia constitucional, no ser uma soluo. Provavelmente at se
configure um aumento no problema.64
A responsabilidade penal juvenil obteve fortes bases doutrinrias na Carta
Poltica e nas regras mnimas das Naes Unidas para a administrao da Justia
da Juventude (Resoluo 40/83/85 da Assemblia Geral). O Estatuto da Criana e
do Adolescente brasileiro no artigo 103 conceituou o ato infracional como: a
conduta descrita como crime ou contraveno penal. Isto somente se refere
natureza das sanes, isto , as medidas que por serem socioeducativas se
distinguem das sanes criminosas nos aspectos predominantemente educacionais
62
MIRABETE, J. F. e FABBRINI, R. N. Manual de Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 26 ed. So Paulo:
Atlas, 2010, p. 203.
63
MELLO, M. M. Inimputabilidade Penal. Adolescentes infratores: punir e (res) socializar. 1 ed.
Recife: Nossa Livraria, 2004, p. 58.
64
MELLO, M. M. Inimputabilidade Penal. Adolescentes infratores: punir e (res) socializar. 1 ed.
Recife: Nossa Livraria, 2004, p. 57.
26
e no perodo de durao, em face ao carter do adolescente como pessoa em
desenvolvimento.65
O
Cdigo
Penal
Brasileiro
optou
pela
preveno
absoluta
de
inimputabilidade, a qual no admite prova em contrrio, ou seja, no se admite a
prova de que era o menor, ao tempo da ao ou omisso, capaz de entendimento
ou carter ilcito de acordo com esse entendimento. At mesmo a maioridade civil
alcanada antes dos 18 anos, nos casos de emancipao previstos no art. 9 1 do
Cdigo Civil, no torna tal indivduo imputvel.
Liberat afirma que:
O Cdigo Penal do menor, disfarado em Sistema Tutelar, suas
medidas no passavam de verdadeiras sanes, ou seja, penas,
disfaradas de proteo. No relacionava nenhum direito, a no ser
aquele de assistncia religiosa no trazia nenhuma medida de apoio
a famlia: tratava da situao irregular da criana e do jovem, que, na
realidade eram seres privados de seus direitos [...] a palavra menor
com o sentido dado pelo Antigo Cdigo do Menor era sinnimo de
carente, infrator, egresso na FEBEM, trombadinha, pivete. A
expresso menor reunia todos estes rtulos e os colocava sob os
estigmas da situao irregular. 66
Precisa-se compreender que no necessrio apenas tratar o problema da
delinqncia juvenil, mas sim, prevenir esse tipo de situao. So necessrias aes
preventivas para no deixar isso acontecer. O Estado precisa garantir, de fato, o que
de direito de todos para, somente aps isto, cobrar um comportamento
considerado normal. Afinal de contas ningum nasce bandido.67
Um dos principais argumentos de quem contra a reduo da maioridade
penal o de que as instituies prisionais j esto lotadas e no conseguem exercer
a funo ressocializadora, serve apenas como retribuio imposta pelo Estado.
Existem muitos mandados de priso que no so cumpridos por falta de espao
65
LIBERATI, W. D. Comentrios ao Estatuto da Criana e do Adolescente. 5 ed. So Paulo:
Malheiros, 2000, p.13.
66
LIBERATI, W. D. Comentrios ao Estatuto da Criana e do Adolescente. 5 ed. So Paulo:
Malheiros, 2000, p.13.
67
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Nascimento da Priso. Traduo de Raquel Ramalhete. 33 ed.
Petrpolis: Vozes, 2007.
27
fsico nas prises. Se a reduo da maioridade ocorresse, a populao carcerria
seria muito maior, e assim a situao s ficaria pior.68
Ningum pode negar que o jovem de 16 ou 17 anos de hoje tem
conhecimento do mundo e capacidade de discernir sobre a ilicitude de seus atos,
mas a diminuio da maioridade penal representaria um retrocesso na poltica
criminal e penitenciria brasileira. Da, entende-se ser irrelevante a mudana da
maioridade penal, afinal no ser dessa forma que ficar resolvida o problema da
violncia urbana de hoje.69
2.4 Das medidas socioeducativas previstas no ECA
O Estatuto da Criana e do Adolescente aborda, no artigo 112, as medidas
que podero ser aplicadas ao adolescente por autoridade competente, afinal,
contrrio ao pensamento da maioria, o menor que delinqe sofrer, sim, sanes
penais. Estas sero aplicadas diferentemente das sanes do maior, contudo,
tambm h a possibilidade de internao. Desta forma, o adolescente infrator ,
legalmente, apenado pelas medidas socioeducativas, que tm o objetivo de
resguardar direitos e deveres do indivduo em peculiar desenvolvimento.70
O fato dos menores serem inimputveis no ocasiona a impunidade. A
inimputabilidade, afastamento da responsabilidade penal, no gera, em absoluto, o
afastamento da responsabilidade social ou pessoal. Embora, em que pese no
estarem os adolescentes sujeitos normativa penal, so sim, responsveis pelos
seus atos frente sistemtica que lhes peculiar, o ECA, e devem receber
prestao jurisdicional condizentes com os parmetros legais ali definidos. 71
As medidas sero aplicadas exclusivamente pelo Juiz da Infncia e
Juventude, o qual levar em conta a capacidade do adolescente de cumpri-la, as
68
GOMES, L. F. Maioridade Penal e o Direito Penal emergencial e simblico. Disponvel em:
http://jus2.uol.com.br/Doutrina/texto.asp?id=9627. Acessado: 04/10/2010.
69
MIRABETE, J. F. e FABBRINI, R. N. Manual de Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 26 ed. So Paulo:
Atlas, 2010, p. 202.
70
ISHIDA, V. K. Estatuto da Criana e do Adolescente. Doutrina e Jurisprudncia. 10 ed. So Paulo:
Atlas, 2009, p. 170.
71
MACIEL. K. [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos.
4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 829.
28
circunstncias e a gravidade da infrao. Devem se analisados, primordialmente, os
aspectos pessoais e subjetivos que levaram o adolescente ao cometimento do ato
infracional.72
A maior parte do debate sobre as medidas socioeducativas est inserida no
que diz respeito s formas que estas so impostas, principalmente no que tange as
privativas de liberdade. H dois tipos de medidas socioeducativas, como podemos
ver abaixo:
O ECA prev dois grupos distintos de medidas socioeducativas. O
grupo das medidas socioeducativas em meio aberto, no privativas
de liberdade (Advertncia, Reparao do Dano, Prestao de
Servios Comunidade e Liberdade Assistida) e o grupo das
medidas scio educativas privativas de liberdade (Semi-liberdade e
Internao).73
A partir das idias anteriores conclui-se que o adolescente suscetvel a
vrias medidas que tornam oportuno o seu crescimento pessoal e social, alm de
proporcionar o descobrimento, por parte do infrator, de que seu ato anti-social
acarreta incmodos aos outros e, com certeza, tambm a si prprio.
Para alguns autores as medidas socioeducativas que mais podem surtir efeito
no desenvolvimento do adolescente infrator aquele que proporcione um
acompanhamento psicolgico e pedaggico ao adolescente, atravs da sua insero
em atividades educacionais e no mercado de trabalho, proporcionando a este um
melhor planejamento de sua vida. As nicas medidas descritas no ECA como scioeducativas que proporcionam a reintegrao do jovem a sociedade de forma direta
esto presentes nos incisos I ao IV e o inciso VII do artigo 112 do referido Estatuto.
Essas medidas so as consideradas medidas no privativas de liberdade, mas que
oferecem ao adolescente a oportunidade de acompanhamento como forma de
reintegrao na sociedade. 74
72
PEREIRA. T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma Proposta Interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 989.
73
SARAIVA, J. B. C. Direito Penal Juvenil. Adolescente e Ato Infracional. Garantias Processuais e
Medidas Socioeducativas. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
74
VOLPI, M. [org.]. O adolescente e o ato infracional. 3 ed. So Paulo: Cortez, 1999, p. 25.
29
O estatuto prev e sanciona medidas socioeducativas e medidas de proteo.
Alem do carter pedaggico, que visa reintegrao do jovem em conflito com a lei
na vida social, as medidas socioeducativas possuem outro, o sancionatrio, em
resposta sociedade pela leso decorrente da conduta tpica praticada. A medida
socioeducativa a manifestao do Estado, em resposta ao ato infracional,
praticado por menor de 18 anos, cuja aplicao tem por objetivo inibir a reincidncia,
desenvolvida com a finalidade pedaggica-educativa. 75
As medidas socioeducativas no privativas de liberdade podem ser
caracterizadas da seguinte forma. A primeira a advertncia. Esta a mais simples
e usual medida socioeducativa aplicada ao menor delinqente que pratica atos
infracionais de baixa gravidade: pequenos furtos, vadiagem, agresses leves. No
sempre a mais apropriada, contudo bastante tradicional. A advertncia
(art.115/ECA) consiste em admoestao verbal feita pelo Juiz da Infncia e da
Juventude, e dever ser reduzida a termo e assinada. 76
A segunda medida socioeducativa prevista no ECA a obrigao de reparar o
dano. Ocorre em situaes de furto, roubo ou apropriao indbita, e sempre que
possvel a restituio da coisa, esta medida poder ser aplicada. Tem o mrito de
despertar no adolescente a noo da responsabilidade pelo ato praticado e a idia
de que todo dano causado deve ser ressarcido. Possui natureza eminentemente
pedaggica. A reparao civil (art.116/ECA) pode ser tambm responsabilidade dos
pais, responsveis ou tutores, portanto, nada impede que estes sejam acionados por
prejuzos causados tambm por crianas.77
A terceira medida socioeducativa prevista no ECA a prestao de servios
comunidade (art.117/ECA). Esta medida tambm tem conotao pedaggica e sua
conseqncia principal de ordem moral. O objetivo conscientizar o adolescente
da importncia do trabalho e do papel desempenhado por ele na sociedade.
Proporciona ao adolescente a oportunidade de participar de atividades construtivas,
75
MACIEL. K. [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos.
4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 829.
76
MACIEL. K. [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos.
4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 839.
77
PEREIRA. T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 995.
30
desenvolvendo a solidariedade e a conscincia social. Ter a jornada de no mximo
08 (oito) horas e no poder prejudicar a sua freqncia escolar ou a jornada normal
de trabalho. 78
A quarta medida socioeducativa a liberdade assistida (art.118/ECA). Esta
medida ser aplicada sempre que, aps um estudo social, concluir que seja
desnecessria a internao e que h, na verdade, maior carncia de fiscalizao e
acompanhamento. A finalidade acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente,
promovendo a sua recuperao e reinsero na sociedade. E considerada a melhor
medida para a recuperao do menor, sobretudo se ele puder permanecer com a
prpria famlia. Um orientador nomeado ser responsvel por realizar os encargos
previstos no ECA, como supervisionar o aproveitamento escolar, inseri-lo em
programas profissionalizantes e apresentar relatrios autoridade competente. 79
Esta medida proporciona ao menor orientao de conduta, convvio familiar e
escolar, e at possibilidade de insero no mercado de trabalho. A liberdade
assistida dever ser feita pelo orientador que deve impulsionar no adolescente as
noes bsicas de autoridade e afeto, por meio de visitas domiciliares, verificao
das suas condies de escolaridade e trabalho. O objetivo desta medida
resguardar o menor de novos atos ilcitos e o proporcionar a uma nova vida social,
pautada na educao, e se possvel, no emprego. A cada trs meses dever ser
emitido um relatrio ao Juiz pelo orientador do adolescente, onde este poder
supervisionar e apoiar a funo. O intuito principal da medida velar atentamente,
orientar e evitar a reincidncia do menor.80
Cumpre ainda observar que qualquer uma das previstas no art. 101 tambm
poder ser aplicada ao adolescente infrator. Trata-se aqui das medidas especficas
de
proteo
como
encaminhamento
aos
pais,
freqncia
obrigatria
estabelecimento de ensino, programas comunitrios, tratamento mdico e
psicolgico, abrigo e famlia substituta. Verificada a hiptese de criana ou
78
PEREIRA. T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 999.
79
PEREIRA. T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 1001.
80
ELIAS, R. J. Comentrios ao Estatuto da Criana e do adolescente. 2 ed. So Paulo: Saraiva,
2004, p.129-130.
31
adolescente em situao irregular, tm-se as medidas deste artigo. Pode-se notar
que essas medidas visam primordialmente proteo integral do menor, prezando
pelo seu bem estar e de sua famlia. Essas medidas no so tomadas como
punitivas, como acredita boa parte da populao, mas sim, visam educar o
adolescente para o convvio social sadio.81
Existem tambm as sanes que prevem a privao da liberdade do menor
infrator. A primeira delas a insero em regime de semiliberdade (art.120 do ECA).
Esta medida s poder ser aplicada mediante o devido processo legal. Pode ser
determinado desde o incio, quando, pelo estudo tcnico, se verificar que
adequada e suficiente do ponto de vista pedaggico. Trata-se da permanncia em
estabelecimento determinado pela autoridade competente, com a possibilidade de
realizao de atividades externas. Esta medida tambm deve ser acompanhada de
escolarizao e profissionalizao, e no comporta prazo determinado, mas deve
ser avaliada, no mximo, a cada seis meses. 82
A segunda delas a internao em estabelecimento educacional. Quando o
adolescente comete um ato infracional mais grave, ou reincidente, deve ser feito
um estudo minucioso, por uma equipe multiprofissional, podendo se decidir por sua
internao. A internao precisa ser breve e em carter excepcional. Deve ser
observado o devido processo legal. Seu perodo mximo de 03 (trs) anos, e a
liberao ser compulsria aos 21 (vinte e um) anos. Esta internao dever ser
cumprida em estabelecimento prprio para adolescentes.83
Entre as duas medidas socioeducativas privativas de liberdade, a que causa
maior discusso na sociedade, e entre juristas e especialistas a internao. Esta
baseada em trs princpios:
Brevidade - Tal princpio encontra asilo no art. 121, 3 do ECA que
dispe que no existiro penas perptuas, pois a medida extrema de
internao no dever exceder a trs anos.
81
ISHIDA, V. K. Estatuto da Criana e do Adolescente. Doutrina e Jurisprudncia. 10 ed. So Paulo:
Atlas, 2009, p. 147.
82
PEREIRA. T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 1003.
83
MACIEL. K. [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos e Prticos.
4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 844.
32
Excepcionalidade - Subsumido no art. 122, 2 do ECA. A privao
de liberdade, neste contexto, surge como ultima ratio, aps outras
formas de advertncia e repreenso, de conformidade gravidade
do ato infracional, no como um fim em si mesma, mas como um
meio de proteger e possibilitar ao adolescente atividades
educacionais que lhe forneam novos parmetros de convvio social.
Respeito - nsita em inmeros dispositivos legais como, por exemplo,
o rol do art.124/ECA, diz esta com o respeito aos direitos e garantias
fundamentais expressos na Magna Carta e na lei Especial, no
sentido de zelar pela integridade fsica e mental dos internos (art.
125/ECA), reavaliao da medida a cada seis meses, cumprimento
em estabelecimento prprio (art. 121, 2 e 123/ECA), etc.84
A partir disto se analisa um fator que bastante debatido em relao s
medidas de privao de liberdade. que a estas esto associadas falta de efeitos
positivos, sobre os seus atributos mentais e fsicos, pois, como se sabe, os Centros
de Internao desses adolescentes infelizmente no oferecem os meios necessrios
para a reintegrao desse jovem na sociedade, e este acabam passando este
perodo de internao, quase sempre, sem a observncia destes princpios.
O Princpio da Brevidade ainda causa polmica dentre os legisladores, pois o
menor infrator pode ficar detido at completar 21 anos. Dessa forma alguns autores
alegam que os menores ao completarem 18 anos devem sair da medida de
internao, pois j adquiriu a plena capacidade civil e criminal, alm de no ser
inimputvel pelos crimes que cometeu quando adolescente. Cabe ressaltar que os
motivos que delineiam as idades nos dois ramos do Direito, so diferentes, sendo
que o ECA preconiza que haja sanes criminais a adolescentes que esto as
vsperas de completar os 18 anos. Assim se justificaria o prazo mximo de 03 anos
de internao, pois o jovem atingiria nesse prazo os 21 anos.85
O Respeito, direito fundamental da criana e do adolescente, tem como um
dos seus principais fundamentos, a integridade moral, que se apresenta como
projeo da personalidade e deve refletir os elementos integrantes da vida interior
da pessoa desde sua infncia. Como pessoas em fase de desenvolvimento, crianas
84
SARAIVA, J. B. C. Direito Penal Juvenil. Adolescente e Ato Infracional. Garantias Processuais e
Medidas Socioeducativas. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
85
SARAIVA, J. B. C. Direito Penal Juvenil. Adolescente e Ato Infracional. Garantias Processuais e
Medidas Socioeducativas. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
33
e adolescentes devem ser preservados em sua integridade moral e psquica,
respeitados os seus sentimentos e emoes, e assistidos em suas fragilidades.86
H que se falar tambm do respeito dignidade da criana e do adolescente,
pois este um valor absoluto, intrnseco essncia da pessoa humana. Este valor
ser um norte na interpretao e aplicao de normas jurdicas sempre sendo
considerado na proteo e tutela dos direitos da personalidade do homem e nas
suas relaes jurdicas, no sentido de proporcionar a base para realizar os objetivos
propostos pelo Estado.87
Por isso que os Princpios da Brevidade, Excepcionalidade e Respeito so
to importantes, quando visam proteger os jovens do ambiente destrutivo dos
Centros de Internao, onde se pode presenciar em relatos dos adolescentes
internados que esses lugares so verdadeiras escolas do crime.
86
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma Proposta Interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 146.
87
PEREIRA, T. S. Direito da Criana e do Adolescente. Uma Proposta Interdisciplinar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 150.
34
3. A diminuio da maioridade para a Constituio Federal
3.1 Dos direitos e garantias fundamentais
Encontra-se no ttulo II da Constituio os direitos e as garantias
fundamentais. Estes foram organizados em cinco captulos diferentes, que discorrem
sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da
nacionalidade, os direitos polticos e os direitos dos partidos polticos.88
Direitos fundamentais so o conjunto de normas, princpios prerrogativas,
deveres e institutos inerentes soberania popular, que garantem a convivncia
pacfica, digna, livre e igualitria independente de credo, raa, origem, cor, condio
econmica ou status social. Entretanto, somente ser possvel captar a idia de
direito fundamental se auscultar sua fundamentalidade material que se traduz por
meio do Princpio da Dignidade da Pessoa Humana, pois sem ele no h respeito
vida, liberdade, segurana, integridade fsica e moral do ser humano.89
As garantias fundamentais so as ferramentas jurdicas por meio das quais
tais direitos se exercem, limitando os poderes do Estado, pois probem abusos de
poder e todas as formas de violao aos direitos que asseguram.90
As caractersticas dos direitos fundamentais so:
a) Historicidade tiveram origem no Cristianismo e evoluram de
acordo com as condies concretas que se apresentaram ao longo
da histria.
b) Universalidade so destinados a todos os seres humanos. No
circunscritos a uma classe ou categoria de pessoas.
c) Limitabilidade no so absolutos. Assim, dois direitos
fundamentais podem chocar-se, hiptese em que o exerccio de um
implicar a invaso do mbito de proteo de outro. Nesse caso,
exige-se um regime de cedncia recproca. Muitas vezes essa
coliso de direitos foi antevista pelo constituinte, que a equacionou
na prpria Constituio Federal. Por exemplo: direito de propriedade
e desapropriao. Esta ser possvel mediante prvia e justa
indenizao
ao
proprietrio
desapropriado.
Contudo,
tal
88
BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado
Federal, 2010.
89
BULOS, U. L. Direito Constitucional ao Alcance de Todos. 2 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p.
287/288.
90
BULOS, U. L. Direito Constitucional ao Alcance de Todos. 2 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 291.
35
equacionamento nem sempre se encontra expresso na Constituio
Federal, e isso se d quando a coliso decorre do exerccio real e
concreto de dois direitos, por titulares distintos. Para Canotilho e Vital
Moreira, a regra da soluo do conflito da mxima observncia dos
direitos fundamentais envolvidos e da sua mnima restrio
compatvel com a salvaguarda adequada de outro direito
fundamental ou outro interesse constitucional em causa.
d) Concorrncia pode, ser acumulados, i. e., em um mesmo titular
podem acumular-se diversos direitos. Por exemplo: jornalistas que
exerce o direito de informao, opinio e comunicao.
e) Irrenunciabilidade os indivduos no podem dispor daqueles
direitos; podem, contudo, deixar de exerc-los temporariamente, mas
no renunci-los.91
Com isso, observa-se que tais caractersticas denotam que os direitos
fundamentais no so somente aqueles enumerados pelo Ttulo II da CF. Assim, por
exemplo, o direito anterioridade tributria, apesar de estar previsto no artigo 150,
inciso III, alnea b, na parte relativa s limitaes do poder de tributar, por preencher
todas as caractersticas acima mencionadas, tem natureza de direito fundamental,
conforme deciso do STF (ADIN 939) em julgamento de ao direta de
inconstitucionalidade da EC n 3/1993.92
Cumpre ento exaltar que, a relao dos direitos e garantias meramente
exemplificativa, outros podem ser encontrados como decorrncia do sistema
constitucional. No constitui, portanto, numerus clausus93. Tal concluso extrada
do pargrafo 2 do artigo 5 que dispe o seguinte:
Os direitos e garantias expressos nessa constituio no excluem
outros decorrentes do regime e dos princpios por ela adotados, ou
de tratados internacionais em que a republica federativa do Brasil
seja parte.94
A primeira parte do aludido pargrafo no deixa dvidas sobre existncia de
direitos e garantias implcitos e decorrentes. Importa dizer, ento, que teremos
direitos e garantias onde houver princpios constitucionais nessa matria. A segunda
parte do mesmo pargrafo dispe que os direitos e garantias expressos no
91
CAPEZ, F. ROSA, M. F. E. e SANTOS, M. F dos e CHIMENTI, R. C. Curso de Direito
Constitucional. 5 ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 54.
92
CAPEZ, F. ROSA, M. F. E. e SANTOS, M. F dos e CHIMENTI, R. C. Curso de Direito
Constitucional. 5 ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 54.
93
Nmeros fechados. Relao hemrtica, completa exaustiva. De acordo com VALLE, G. Dicionrio
Latim-Portugus. 1 ed. So Paulo: IOB-Thomson, 2004, p. 519.
94
BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado
Federal, 2010.
36
excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a Repblica
Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenes internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por trs quintos dos votos dos respectivos membros, sero equivalentes
s Emendas Constitucionais. 95
3.2 Do poder de reforma e das clusulas ptreas
Faz-se necessrio ento, estudar se a atual Constituio do Brasil permite
que seja reduzida a maioridade penal, ou seja, se h previso na Constituio de
norma que permita a mudana deste tipo de matria.
Ao lado do Poder Constituinte Originrio, h o Poder Constituinte Derivado,
Reformador ou Secundrio. As constituies , quando elaboradas, pretendem-se
eternas, mas no imutveis. H que se prever, no texto constitucional, um processo
para sua alterao. Nesse passo, surge o Poder Constituinte Reformador.96
Do sistema de Constituies rgidas resulta uma relativa imutabilidade do
texto constitucional, a saber, certa estabilidade ou permanncia que traduz, at certo
ponto, o grau de certeza e solidez jurdica das instituies num determinado
ordenamento estatal.97
O Poder de Reforma constitucional exercitado pelo Poder Constituinte
Derivado por sua natureza jurdica um poder limitado contido num quadro de
limitaes explcitas e implcitas, decorrentes da Constituio, a cujos princpios se
sujeitam, em seu exerccio, o rgo Revisor.98
Limites expressos, escritos, explcitos, taxativos ou diretos so os que vm
textualmente
consignados
no
texto
da
Constituio,
sendo
amplamente
reconhecidos pela jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal. Existem os limites
95
CAPEZ, F. ROSA, M. F. E. e SANTOS, M. F dos e CHIMENTI, R. C. Curso de Direito
Constitucional. 5 ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 57.
96
ARAUJO, L. A. D. e JUNIOR, V. S. N. Curso de Direito Constitucional. 14 ed. So Paulo: Saraiva,
2010, p. 30.
97
BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 23 ed. So Paulo: Malheiros, 2008, p. 196.
98
BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 23 ed. So Paulo: Malheiros, 2008, p. 198.
37
formais que consagram o procedimento especial para a realizao de reformas
constitucionais. H os limites circunstanciais que impedem reformas na Constituio
em perodos conturbados, como no estado de stio, por exemplo. E existem os
limitas materiais que visam impedir reformas contrrias ao contedo de
determinados assuntos, como estipula o artigo 60, pargrafo 4, incisos I a IV da
Constituio.99
No Brasil, esses limites integram o cerne intangvel da Constituio,
que funciona como uma espcie de ncleo normativo imodificvel, o qual engloba
matrias imprescindveis configurao do Estado brasileiro. precisamente esse
cerne intangvel que constitui as chamadas clausulas ptreas, tambm conhecidas
como garantias de eternidade, clusulas permanentes, clusulas absolutas,
clusulas irreformveis, etc. Portanto, diante delas, o legislador no poder remover
elenco especfico de matrias.100
Dispe o artigo 60, pargrafo 4 da Constituio:
4 - No ser objeto de deliberao a proposta de emenda tendente
a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e peridico;
III - a separao dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.101
importante ressaltar que esse dispositivo estende a proteo no apenas
aos bens l constantes, mas a qualquer emenda tendente a abolir as clusulas
ptreas. Por isso, a proteo mais extensa que os prprios bens, vedando a
deliberao de qualquer matria tendente a abolir clusula petrificada.102
Com isso, conclui-se logo que, se tratando de direito individual, a maioridade
penal no poder ser reduzida.
99
BULOS, U. L. Direito Constitucional ao Alcance de Todos. 2 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 109.
BULOS, U. L. Direito Constitucional ao Alcance de Todos. 2 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p.
109/110.
101
BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado
Federal, 2010.
102
ARAUJO, L. A. D. e JUNIOR, V. S. N. Curso de Direito Constitucional. 14 ed. So Paulo: Saraiva,
2010, p. 395.
100
38
De maneira geral, nenhuma norma jurdica intocvel, cabendo a mudana
atravs de processos formais de reforma. Estes se sujeitam ao controle de
constitucionalidade e tem como imodificveis as clusulas constitucionais que
integram o cerne fixo da Constituio, e uma dessas clusulas a que estipula a
idade limite da inimputabilidade penal.103
3.3 Da inconstitucionalidade da diminuio
Uma das maiores discusses a respeito da maioridade penal a referente ao
artigo 228 da Constituio Federal em que se discuti a possibilidade desse artigo ser
ou no objeto de modificao por meio de emenda a constituio, ou seja, se esse
artigo ou no uma clausula ptrea.
De acordo com Bulos, clusula ptrea significa:
[...] clusula ptrea aquela insuscetvel de mudana formal, porque
consigna o ncleo irreformvel da constituio. Podemos denominlas clusulas de inamovibilidade, porquanto diante delas o legislador
no poder remover elenco especfico de matrias, quais sejam, a
forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e
peridico, a separao dos poderes, os direitos e garantias
individuais.104
A Constituio Federal de 1988, em seu artigo 60, pargrafo 4, inciso IV,
colocou no patamar de clusulas ptreas, os direitos e garantias individuais,
impedindo sua modificao ou abolio. Ento, diante do estabelecido no artigo 60
da Constituio depreende-se que a reforma constitucional derivada possvel no
Brasil, desde que observadas s exigncias dos incisos do caput do mesmo
artigo.105
Estabelece o artigo 5 da Constituio Federal, o rol de direitos e garantias
individuais da pessoa humana, sendo desnecessrio discutir se so ou no
103
CARVALHO, K. G. Direito Constitucional. Teoria do Estado e da Constituio. Direito Constitucional
Positivo. 16 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 348/349.
104
BULOS, U. L. Constituio Federal Anotada. 7 ed. rev. e atual. So Paulo: Saraiva, 2007, p. 847.
105
CORRA, M. M. S. Carter fundamental da Inimputabilidade na Constituio. 1 ed. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 128.
39
amparados pelo pargrafo 4 do artigo 60, pois expressamente definido na
Constituio.106
Entretanto, o pargrafo 2 do seu artigo 5, diz que so direitos e garantias
individuais as normas dispersas pelo texto constitucional, no apenas as elencadas
no dispositivo mencionado. Assim, este pargrafo nos traz duas certezas. A
primeira, que a prpria Constituio Federal admite que encerra em seu corpo,
direitos e garantias individuais, e que o rol do artigo 5 no exaustivo. E a segunda,
que direitos e garantias concernentes com os princpios da prpria Constituio e de
Tratados Internacionais firmados pelo Brasil, integram referido rol, mesmo fora de
sua lista. Voltando leitura do inciso IV, do pargrafo 4, do artigo 60,
compreendemos que o dispositivo refere-se a no abolio de todo e qualquer
direito ou garantia individual elencados na Constituio, no fazendo a ressalva de
que precisam estar previstos no artigo 5.107
Diante do exposto, e com a certeza de que existem outros direitos e garantias
individuais espalhados pelo texto da Constituio, resta-nos a anlise e
comprovao, de que a inimputabilidade penal encerra disposio ptrea, por ser
sua inteno especfica de valorizar e proteger o indivduo, conferindo-lhe
tratamento compatvel com suas caractersticas. No que se refere inimputabilidade
penal, deixou-a o constituinte para o captulo que trata da criana e do adolescente,
uma vez que duas emendas populares, apresentadas pelos grupos de defesa dos
direitos da criana, fizeram inserir na Constituio os princpios da Doutrina da
Proteo Integral, consubstanciados nas normas das Naes Unidas.108
A inimputabilidade penal uma garantia fundamental protegida pela
Constituio Federal, ainda que no esteja no art. 5. As caractersticas do direito
protegido por ela so as mesmas caractersticas de uma clusula ptrea, e possui
106
BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado
Federal, 2010.
107
BULOS, U. L. Constituio Federal Anotada. 7 ed. rev. e atual. So Paulo: Saraiva, 2007, p. 411.
108
CORRA, M. M. S. Carter fundamental da Inimputabilidade na Constituio. 1 ed. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 212.
40
os mesmos elementos. Portanto no passvel de modificao pelo Poder de
Reforma.109
Quis o Constituinte separar os direitos e garantias das crianas e
adolescentes, das disposies relativas ao conjunto da cidadania, visando sua maior
implementao e defesa. Assim, elegeu tais direitos, colocando-os em artigo prprio,
com um princpio intitulado de prioridade absoluta, que faz com que a criana tenha
prioridade na implementao de polticas pblicas, por exemplo, e desta forma,
inclusive por questo de coerncia jurdico-constitucional no iria deixar ao
desabrigo do artigo 60, 4, IV, os direitos e garantias individuais de crianas e
adolescentes, quando foi justamente o contrrio que desejou fazer e o fez.110
Relacionando segunda parte do artigo 228, que dispe que o adolescente,
apesar de inimputvel penalmente, responde na forma disposta em legislao
especial, contm alm de uma garantia social de responsabilizao de adolescente,
um direito individual de que a responsabilizao ocorrer na forma de uma
legislao especial. Estamos diante de uma responsabilizao especial, no penal,
que um direito individual do adolescente e, como tal, consubstanciado em clusula
ptrea. Dito isto, s nos resta assegurar que este dispositivo constitucional tambm
clusula ptrea, portanto, insuscetvel de reforma ou supresso.111
3.4 Das PECs que visam alterar o artigo 228 da Constituio Federal
O legislador constituinte de 1988, ao prever a possibilidade de alterao das
normas constitucionais atravs de um processo legislativo especial, que mais
dificultoso que o ordinrio, definiu a Constituio como rgida, fixando-se a
supremacia da ordem constitucional.112
109
CORRA, M. M. S. Carter fundamental da Inimputabilidade na Constituio. 1 ed. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 214.
110
CORRA, M. M. S. Carter fundamental da Inimputabilidade na Constituio. 1 ed. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 130.
111
CORRA, M. M. S. Carter fundamental da Inimputabilidade na Constituio. 1 ed. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 214.
112
MORAES, A. Direito Constitucional. 25 ed. So Paulo: Atlas, 2010, p. 670.
41
As emendas so modificaes feitas na Constituio, cujo processo de
elaborao encontra-se disciplinado no artigo 60. Por ser rgida, o quorum para
aprovao mais elevado que o ordinrio, sendo necessrio o voto de trs quintos
(60%) dos membros das duas Casas em dois turnos de votao, na mesma sesso
legislativa.113
Atualmente muitos parlamentares visam a diminuio da maioridade penal,
posto que h um constante aumento de crimes cometidos por adolescentes. Existem
no Senado Federal algumas Propostas de Emenda Constituio com o objetivo de
mudar o texto constitucional referente ao artigo 228.
Houve a PEC n 18, de maro de 1999, criada pelo senador Romero Juc, a
qual previa que em casos de crimes contra a vida ou contra o patrimnio, cometidos
com violncia ou grave ameaa, seriam imputveis os infratores com 16 (dezesseis)
anos ou mais de idade. Entretanto, o processo foi arquivado em 03 de abril de
2009.114
Tem-se a PEC n 20, de maro 1999, criada pelo, ento senador, Jos
Roberto Arruda, que pretende tornar imputvel, para qualquer delito, o infrator com
16 (dezesseis) anos ou mais de idade, sob a prerrogativa de, se for menor de
dezoito anos, que seja averiguado seu amadurecimento intelectual e emocional, ou
seja, capacidade de discernimento. A ltima tramitao foi em 13 de julho de 2010,
na Subseo de Coordenao de Legislativa do Senado e aguarda incluso em
ordem do dia.115
113
NOVELINO, M. Direito Constitucional. 4 ed. So Paulo: Mtodo, 2010, p. 601/602.
Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matrias Legislativas. Disponvel
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=832,
acessado
24/08/2010.
115
Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matrias Legislativas. Disponvel
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=837,
acessado
24/08/2010.
114
em
em
em
em
42
H tambm a PEC n 3, de maro de 2001, tem a mesma inteno da PEC
anterior e foi criada pelo mesmo poltico. Atualmente, tambm aguarda incluso em
ordem do dia, entretanto sua ltima tramitao foi em 28 de julho de 2009.116
J a PEC n 26, de maio de 2002, criada pelo ento senador Iris Rezende,
estabelece que os maiores de 16 (dezesseis) e os menores de 18 (dezoito) anos de
idade so imputveis, mas somente em caso de crime hediondo ou qualquer crime
que seja contra a vida, se ficar constatado, por laudo tcnico elaborado por junta
nomeada pelo juiz competente, a capacidade do agente de entender o carter ilcito
de seu ato. Atualmente aguarda incluso em ordem de dia, desde 31 de julho de
2009. 117
Mais radical que as anteriores, a PEC n 90, de novembro de 2003, criada
pelo senador Magno Malta, tem a proposta de tornar imputveis os adolescentes
maiores de 13 (treze) anos, no caso de praticar algum crime hediondo. Esta
encontra-se aguardado incluso em ordem do dia desde 28 de julho de 2009. 118
E para finalizar, h tambm a PEC n 9, de maro de 2004, criada pelo
senador Papalo Paes, tem por objetivo acrescentar um pargrafo ao artigo 228 da
Constituio Federal, para determinar a imputabilidade penal quando o menor
apresentar idade psicolgica igual ou superior a dezoito anos, e tem hoje a mesma
tramitao da PEC anterior. 119
116
Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matrias Legislativas. Disponvel
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=46732,
acessado
25/08/2010.
117
Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matrias Legislativas. Disponvel
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=50391,
acessado
25/08/2010.
118
Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matrias Legislativas. Disponvel
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=64290 acessado em 30
agosto de 2010.
119
Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matrias Legislativas. Disponvel
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=66679 acessado em 30
agosto de 2010.
em
em
em
em
em
de
em
de
43
CONCLUSO
A maioridade penal muito debatida atualmente nas redes sociais, jurdicas e
polticas. A sociedade se assusta cada vez mais com a criminalidade e clama por
medidas extremas e urgentes para sua diminuio. Argumenta-se que os jovens,
menores de dezoito anos de idade, tm clara conscincia sobre o carter ilcito dos
atos e das conseqncias de seus atos, devido o grande desenvolvimento
tecnolgico e do acesso a vrias informaes. Esses jovens seriam estimulados
prtica delituosa, visto que o sentimento de impunidade corroboraria pela
Constituio Federal de 1988, pelo Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA) e
pelo Cdigo Penal, que determinam a inimputabilidade destes.
Todavia, esta mentalidade contestada pelos que acreditam na eficcia do
Estatuto da Criana e do Adolescente. Estes defendem que a diminuio da
maioridade penal s acarretar a estigmatizao e a superlotao carcerria, alm
de no reduzir a delinqncia existente, afinal isto depende de muitas outras coisas,
como a garantia de condies dignas de sobrevivncia, do fortalecimento da famlia
e da integrao dos jovens na sociedade, por exemplo.
Diante da importncia desta discusso, analisou-se, diante de uma
perspectiva histrica, como se desenvolveu a conscincia da necessidade de
proteo da criana e do adolescente. Viu-se que antes o jovem era tratado como
um problema a ser resolvido, contudo, aps a Constituio de 1988, o adolescente
em conflito com a lei passou a ser tratado como um indivduo portador de direitos e
garantias como um adulto. Porm, mesmo aps a construo de um novo
paradigma para o direito infanto-juvenil, h tentativas de retrocessos em relao a
estes.
Apresentou-se de forma sucinta os principais critrios para a fixao da
maioridade penal, e viu-se que o adotado pelo Brasil o sistema biopsicolgico, ou
seja, aquele que se baseia em uma deficincia que torna o indivduo inimputvel
(causa) e necessita demonstrar que devido esta deficincia o agente no era capaz
de entender o carter ilcito do fato (efeito).
44
Observa-se na sociedade uma grande sensao de impunidade quando se
trata de adolescentes infratores, visto que estes no so penalizados de acordo com
o Cdigo Penal Brasileiro, entretanto, ao contrrio do que muitos pensam, os jovens
so, sim, sancionados. Estes sofrem as medidas socioeducativas previstas no
Estatuto da Criana e do Adolescente. As penas variam entre a advertncia e a
internao. Cada uma ser aplicada de acordo com o ato infracional cometido,
entretanto, todas tm conotao pedaggica e buscam principalmente impedir que
os adolescentes reincidam.
Cumpre ainda notar que as leis que tm como caracterstica principal o
extremo rigor no geram a reduo da delinqncia, j que no atuam nas causas,
apenas nas conseqncias desta, serviriam somente como resposta aos apelos e
presses das vtimas e da sociedade, que no tem noo de justia, e sim, de
vingana. Introduzir os adolescentes infratores no sistema carcerrio brasileiro atual,
que vive hoje uma situao degradante e alarmante, poder transform-los em
adultos ainda mais violentos, e tirar deles as chances de se reintegrarem
sociedade. Por isso, entendo que esta medida apenas agravar os ndices de
criminalidade.
Viu-se tambm que h Propostas de Emenda Constituio que visam alterar
o seu artigo 228, entretanto isto no possvel, pois como fora visto durante o
trabalho, a maioridade penal, apesar de no estar elencada no artigo 5 da
Constituio, uma garantia fundamental, pois possui todas as suas caractersticas
e que por isso , de fato, uma clusula ptrea. Desta forma, no poder ser abolida
pelo Poder Derivado.
Afirmou-se, ainda, aps uma anlise das principais teorias criminolgicas que,
a reduo da maioridade penal no eficaz na reduo dos delitos envolvendo
menores, visto que em nenhum momento da histria, qualquer teoria que seja
afirmou que a idade fosse fator determinante entre as causas de criminalidade.
A Teoria Multifatorial, por exemplo, d como causa da criminalidade fatores
como vigilncia do menor pelos pais, maior ou menor severidade na educao, clima
harmnico ou desavenas familiares, dentre outras.
45
Enquanto que a Teoria Ecolgica, por sua vez, entende que as grandes
cidades criaram um clima de impessoalidade nas relaes humanas e que o crime
se transformou em um mecanismo de acesso a valores e a bens, que no seriam
conseguidos pelos mtodos convencionais.
Outra teoria muito importante que fora abordada durante o trabalho a
Subcultural que conclui que a delinqncia juvenil deve ser vista como deciso de
rebeldia em relao aos valores oficiais das classes mdias, e no, como uma
atitude racional, pois a criminalidade resultado de uma organizao social distinta
e de cdigos de valores prprios de cada subcultura.
Deste modo, conclui-se que, a idade limite para inimputabilidade penal foi
fixada atravs de um sistema biolgico, o qual se leva em conta a maturidade e o
desenvolvimento mental, alm da necessidade de saber se determinar em relao
do entendimento sobre o fato ilcito. E analisou-se ainda que a reduo da
maioridade penal uma medida inconstitucional, e que no teria eficcia no controle
da delinqncia juvenil.
46
REFERNCIAS
- ARAUJO, Luiz Alberto David e JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito
Constitucional. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010.
- BARATTA, Alessandro. Criminologia Crtica e Crtica do Direito Penal. Introduo
Sociologia do Direito Penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia, 2002.
- BERISTAIN, Antonio. Nova Criminologia Luz do Direito Penal e da Vitimologia. 1 ed.
Braslia: Universidade de Braslia: So Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.
- BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 23 ed. So Paulo: Malheiros, 2008.
- BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia:
Senado Federal, 2010.
-
BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Cdigo Criminal do Imprio do Brazil. Publicado
na CLBR de 1830.
-
BRASIL. Decreto n 847 de 11 de outubro de 1890. Cdigo Penal dos Estados Unidos do
Brasil.
- BRASIL. Decreto-Lei n 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Cdigo Penal. Dirio Oficial da
Unio. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940.
- BULOS, Uadi Lammego. Constituio Federal Anotada. 7 ed. rev. e atual. So Paulo:
Saraiva, 2007.
-
BULOS, Uadi Lammego. Direito Constitucional ao Alcance de Todos. 2 ed. So Paulo:
Saraiva, 2010.
- CAPEZ, Fernando. ROSA, Marcio Fernando Elias. SANTOS, Marisa Ferreira dos.
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Curso de Direito Constitucional. 5 ed. So Paulo: Saraiva,
2008.
- CARVALHO, Kildare Gonalves. Direito Constitucional. Teoria do Estado e da
Constituio. Direito Constitucional Positivo. 16 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.
- CORRA, Marcia Milhomens Sirotheau. Carter fundamental da Inimputabilidade na
Constituio. 1 ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.
- DOTTI, Rene Ariel. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 3 ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010.
-
ELIAS, Roberto Joo. Comentrios ao Estatuto da Criana e do adolescente. 2 ed. So
Paulo: Saraiva, 2004.
-
ESTEFAM, Andr. Direito Penal. Parte Geral. 1 ed. So Paulo: Saraiva, 2010.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Nascimento da Priso. Traduo de Raquel Ramalhete.
33 ed. Petrpolis: Vozes, 2007.
- GOMES, Luiz Flvio e MOLINA, Antonio Garca-Pablos de. Criminologia. 4 ed. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002.
47
- GOMES, Luiz Flvio. Maioridade Penal e o Direito Penal emergencial e simblico.
Disponvel em: http://jus2.uol.com.br/Doutrina/texto.asp?id=9627.
- ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da Criana e do Adolescente. Doutrina e Jurisprudncia. 10
ed. So Paulo: Atlas, 2009.
-
JESUS, Damsio Evangelista. Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 28 ed. So Paulo: Saraiva,
2005.
-
LEAL, Luciana de Oliveira. A Reduo da idade de imputabilidade penal e seus aspectos
constitucionais. Revista de Direito do Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro. Ed.
Espao Jurdico. Disponvel em: http://www.smithedantas.com.br/texto/menor_penal.pdf
-
LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentrios ao Estatuto da Criana e do Adolescente. 5 ed.
So Paulo: Malheiros, 2000.
- MACIEL, Ktia [coord.]. Curso de Direito da Criana e do Adolescente: Aspectos Tericos
e Prticos. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
-
MELLO, Marlia Montenegro. Inimputabilidade Penal. Adolescentes infratores: punir e (res)
socializar. 1 ed. Recife: Nossa Livraria, 2004.
- MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal da Emoo. A Inimputabilidade do Menor. 1
ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
-
MIRABETE, Julio Fabbrini. e FABBRINI, Ricardo Nascimento. Manual de Direito Penal.
Parte Geral. V. 1. 26 ed. So Paulo: Atlas, 2010.
- MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 25 ed. So Paulo: Atlas, 2010.
- NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 4 ed. So Paulo: Mtodo, 2010.
-
PEREIRA, Tnia da Silva. Direito da Criana e do Adolescente. Uma proposta
interdisciplinar. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
-
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 9 ed. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010.
-
SARAIVA, Joo Batista Costa. Direito Penal Juvenil. Adolescente e Ato Infracional.
Garantias Processuais e Medidas Socioeducativas. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2002.
- Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matrias Legislativas. Disponvel em
http://www.senado.gov.br.
- SHECAIRA, Sergio Salomo. Criminologia. 1 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
- STF. ADIN 939. Ministro Relator Sydney Sanches. Data do Julgamento: 15 de dezembro
de 1993. rgo Julgador: Tribunal Pleno.
- VALLE, Gabriel. Dicionrio Latim-Portugus. 1 ed. So Paulo: IOB-Thomson, 2004.
48
VIEIRA, Henriqueta Scharf. Perfil do Adolescente Infrator no Estado de Santa Catarina.
Cadernos do Ministrio Pblico. Florianpolis, n 3. Assessoria de Imprensa da
Procuradoria Geral de Justia, 1999.
- VOLPI, Mario [org.]. O adolescente e o ato infracional. 3 ed. So Paulo: Cortez, 1999.
-
VOLPI, Mario. Os Adolescentes e a lei: O direito dos adolescentes, a prtica de atos
infracionais e sua responsabilizao. Braslia: ILANUD, 1998.
- ZAFFARONI, Eugenio Raul. O Inimigo no Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan,
2007.
Você também pode gostar
- Polticas Publicas CombinadoDocumento54 páginasPolticas Publicas CombinadoDaniel chagasAinda não há avaliações
- Discursivas AFTDocumento4 páginasDiscursivas AFTÉrika Franklin BezerraAinda não há avaliações
- Trabalho de Direito A Liberdade de Reunião e ManifestaçãoDocumento13 páginasTrabalho de Direito A Liberdade de Reunião e ManifestaçãoXipila Nurdine100% (1)
- Monografia Direito Minerario BrasileiroDocumento58 páginasMonografia Direito Minerario BrasileiroJânio VimmosAinda não há avaliações
- 6º Simulado Pós Edital ComentadoDocumento29 páginas6º Simulado Pós Edital ComentadoantonioAinda não há avaliações
- Modernas Técnicas de Investigação e Justiça Penal ColaborativaDocumento170 páginasModernas Técnicas de Investigação e Justiça Penal ColaborativaEduardo TitaoAinda não há avaliações
- Indices Revista Mestrado em Direito UniFIEODocumento200 páginasIndices Revista Mestrado em Direito UniFIEObaleiraAinda não há avaliações
- QuestoesDocumento8 páginasQuestoesJÉSSICA MARIA DA SILVAAinda não há avaliações
- 3 7 1001 Questões de Concurso Direito Do Trabalho FCC 2012Documento42 páginas3 7 1001 Questões de Concurso Direito Do Trabalho FCC 2012deuzianeribeiroAinda não há avaliações
- Aula 03: Professores: Ricardo Vale, Nádia CarolinaDocumento61 páginasAula 03: Professores: Ricardo Vale, Nádia CarolinaDivisão Verbas RescisóriasAinda não há avaliações
- Exercícios Lei Orgânica Aula 01Documento4 páginasExercícios Lei Orgânica Aula 01Gabriella SerpaAinda não há avaliações
- 1622815977tjsp Analise Provas AnterioresDocumento57 páginas1622815977tjsp Analise Provas Anterioresgleice ellenAinda não há avaliações
- Tese PHD - Ana PatricioDocumento298 páginasTese PHD - Ana PatricioArmindoAinda não há avaliações
- Acordaos - 2 Camara - 2013 PDFDocumento479 páginasAcordaos - 2 Camara - 2013 PDFRenato MendesAinda não há avaliações
- 180-Texto Do Artigo-785-1-10-20170913Documento18 páginas180-Texto Do Artigo-785-1-10-20170913Leika JunqueiraAinda não há avaliações
- Monografia - Direito Do ConsumidorDocumento86 páginasMonografia - Direito Do ConsumidorSaraFarias100% (1)
- Carta Africana Dos Direitos e Bem-Estar Da CriancaDocumento26 páginasCarta Africana Dos Direitos e Bem-Estar Da CriancaMino77Ainda não há avaliações
- Legislação e Normas Da ABNT para A NR-10Documento7 páginasLegislação e Normas Da ABNT para A NR-10DarlanAinda não há avaliações
- Questões de Concurso Sobre Princípios Fundamentais Da República em Direito ConstitucionalDocumento1 páginaQuestões de Concurso Sobre Princípios Fundamentais Da República em Direito ConstitucionalZai SilvaAinda não há avaliações
- Manual de Tributação Empresa JúniorDocumento12 páginasManual de Tributação Empresa JúniorFelipe BispoAinda não há avaliações
- Edital-Perito-CARGOS DE PERITO CRIMINAL PCRJ PDFDocumento15 páginasEdital-Perito-CARGOS DE PERITO CRIMINAL PCRJ PDFCicero PaulaAinda não há avaliações
- Apostila - Processo LegislativoDocumento22 páginasApostila - Processo LegislativodehcbjAinda não há avaliações
- Dinamização Dos Ônus Da Prova e Dever de Custeá-LaDocumento14 páginasDinamização Dos Ônus Da Prova e Dever de Custeá-LamarioaufieroAinda não há avaliações
- Observações Da Educação Pública. - Sobre SÁBADOS LETIVOSDocumento11 páginasObservações Da Educação Pública. - Sobre SÁBADOS LETIVOSConvençãoCimadebaAinda não há avaliações
- Escrituracao Digital em SST e SocialDocumento182 páginasEscrituracao Digital em SST e SocialMilene AndradeAinda não há avaliações
- PL Educação Revisado FinalDocumento51 páginasPL Educação Revisado FinalNeivaldo De Lima Vírgilio IIAinda não há avaliações
- Aula 1 de Teoria Constitucional e Direitos Fundamentais Online 2021.2Documento9 páginasAula 1 de Teoria Constitucional e Direitos Fundamentais Online 2021.2luciana santana pereiraAinda não há avaliações
- MS ParlamentarDocumento15 páginasMS ParlamentarMetropolesAinda não há avaliações
- Unidade I. AULA 1 Direito Do Consumidor 2020Documento10 páginasUnidade I. AULA 1 Direito Do Consumidor 2020Ana BeatrizAinda não há avaliações
- 1 Teoria Da Lei PenalDocumento27 páginas1 Teoria Da Lei PenalArsenio Augusto MachaiaAinda não há avaliações