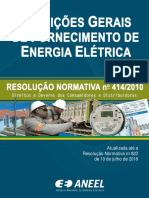Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Desenv. Religioso Dos Prof.e. R.
Desenv. Religioso Dos Prof.e. R.
Enviado por
djairTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Desenv. Religioso Dos Prof.e. R.
Desenv. Religioso Dos Prof.e. R.
Enviado por
djairDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O desenvolvimento religioso
dos professores de Ensino
Religioso e sua influncia na
ao pedaggica segundo
James Fowler
Ivani Ravasoli
Pedagoga, especialista em Ensino Religioso, religiosa do Sagrado Corao
de Jesus, assistente do Grupo de Pesquisa Educao e Religio - PUCPR.
ivaniravasoli@hotmail.com
Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
Mestre e Doutor em Cincias da Educao pela Universidade Pontifcia Salesiana
(Roma-Itlia), Ps-Doutor em Cincias da Religio pela Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo (PUC-SP), lder do Grupo de Pesquisa Educao e Religio,
professor do Programa de Ps-Graduao em Teologia da PUCPR
srjunq@gmail.com
Resumo
A presente pesquisa objetivou identificar os diferentes
saberes dos docentes, compreender o desenvolvimento e a
influncia da f na ao pedaggica dos professores da
disciplina de Ensino Religioso. O campo de pesquisa foram
unidades de uma instituio de ensino de cunho
humanstico cristo, confessional catlica, particular, nos
estados do Paran e Rio Grande do Sul. Os dados foram
obtidos por meio da aplicao de questionrios aos
professores de Ensino Religioso desde a Educao Infantil
at o Ensino Mdio. Para alcanar os objetivos propostos,
cinco pontos foram estabelecidos para discusso e anlises
dos resultados: (1) identificao dos professores - idade,
sexo, tempo de atuao na rea da educao e como
professor de Ensino Religioso; (2) formao dos
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
55
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
professores, saberes, conhecimentos adquiridos ao longo
de sua histria e trajetria profissional; (3) aspectos
religiosos, desenvolvimento da f, experincias religiosas
e espiritualidade; (4) o saber religioso; (5) anlise das
influncias da f na ao pedaggica, pois se acredita que
todo professor exerce influncia na vida e na
aprendizagem dos educandos, sobretudo o de Ensino
Religioso, pois desempenha papel decisivo nesse processo,
uma vez que o como fazer est ligado sua formao como
educador e quilo em que acredita. A base terica deste
trabalho fundamenta-se em Tardif (2002), que aponta os
diferentes saberes docentes, afirmando que por meio desses
saberes modelado o perfil do educador e em James W.
Fowler (1992), que apresenta seis estgios do
desenvolvimento da f baseando-se nos estudos de Piaget
(1983), Kolberg (1958) e Erikson (1976).
Palavras-chave:
Saberes docentes; ensino religioso; desenvolvimento da f;
ao pedaggica; formao de professor.
Em nossa sociedade, com frequncia ouvimos pessoas
falando sobre a importncia de se ter conhecimento.
Alguns acreditam que estamos na era do conhecimento.
Imbudos por uma fora cultural, assumimos tal ideologia;
no entanto, errneo reduzir o conhecimento aos saberes
formais adquiridos em escolas e universidades. O ser
humano, por sua prpria natureza, traz em si a busca do
conhecimento. Segundo Tardif, os saberes dos professores
so oriundos de:
[...] saberes pessoais, saberes provenientes da
formao profissional para o magistrio, saberes
provenientes dos programas e livros didticos
usados no trabalho, saberes provenientes de sua
prpria experincia na profisso na sala de aula e
na escola [...]. O saber profissional est, de certo
modo, na confluncia entre vrias fontes de saberes
provenientes da histria de vida individual, da
sociedade, da instituio escolar, dos outros atores
educativos, dos lugares de formao [...] (TARDIF,
2008, p. 63-64).
56
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
Com essa afirmao, torna-se evidente que os saberes
no aparecem na ao pedaggica do professor de forma
isolada; eles surgem em diversificados mbitos e esferas,
pois o professor no tem uma nica concepo em sua
prtica, mas vrias concepes que fundamentam sua ao
e seus saberes. Nesse sentido, Tardif (2002), ao abordar esse
tema em suas pesquisas, dispe que o saber docente um
saber plural, formado pelo amlgama, mais ou menos
coerente, de saberes procedentes da formao profissional
e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais com
os quais os professores constituem diferentes relaes e
passam a ser incorporados prtica docente. medida que
os saberes da experincia vo sendo edificados, todos os
demais saberes sero retraduzidos por eles na forma de
hbitos, ou seja, de um estilo pessoal de ensino, em traos
de personalidade que se expressam por um saber-ser e de
um saber-fazer pessoais e profissionais legitimados pelo
trabalho cotidiano.
Tardif (2002), ao propor o estudo desses saberes, propicia
ao professor criar sua identidade como profissional da
educao. Portanto, como seres em construo, fundamental
que os saberes dos professores ocorram de maneira global a
outras dimenses do ensino. Ao longo da histria pessoal, os
saberes e as experincias foram assimilados pelos professores
e, de certa forma, exercendo influncias em sua opo
profissional e em sua ao pedaggica.
A experincia diria de trabalho to importante quanto
a teoria passada em sala de aula. Assim, necessrio que o
professor de Ensino Religioso faa ponte entre a teoria e a
prtica, entre o conhecimento acadmico e as experincias
pessoais para que sua ao envolva seus educandos em uma
aprendizagem significativa, aprendendo a aprender, a
pensar, a relacionar os conhecimentos estudados com os
conhecimentos adquiridos nas experincias cotidianas,
dando significado ao aprendido. O professor precisa
entender que o contedo ensinado seja de total significao
para a vida de seu educando, usando sempre a crtica para
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
57
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
discernir quando este apresentar dificuldade em
transformar o que lhe foi ensinado. Segundo Libneo,
O Ensino envolve sentimentos, emoes. Da a
necessidade de conhecer e compreender motivaes,
interesses, necessidades de alunos diferentes entre
si, capacidade de comunicao com o mundo do
outro, sensibilidade para situar a relao docente
no contexto fsico, social e cultural do aluno
(LIBNEO, 1988, p. 88-89).
Esses dados sinalizam a importncia que o professor
precisa dar sua carreira e a necessidade constante de
atualizar sua prtica para que no fique estagnada. O saber
no tem dono. Todos sabem alguma coisa, todos possuem
um capital cultural. Portanto, o professor de Ensino
Religioso necessita reconhecer que seus educandos no so
depsitos de contedos; essencial uma relao com eles
para que o saber desenvolva-se de maneira recproca. No
adianta o professor querer impor os saberes aos educandos
se esse saber no suscitar o interesse e o gosto por aquilo
que ensinado. Carl Rogers afirma: Os educadores
precisam compreender que ajudar as pessoas a se tornarem
pessoas muito mais importante do que ajud-las a
tornarem-se matemticas, poliglotas ou coisa que o valha.
Em nosso pas, o investimento em educao no
prioridade. Os professores so mal remunerados; investese pouco na formao contnua, h rotatividade de pessoal,
fragmentao do trabalho e ruptura com os educandos,
ocasionando assim o desgaste, a no realizao pessoal e
profissional e at mesmo o abandono da profisso.
Com base em pesquisas realizadas por autores como
Dubar (2006), afirma-se que o trabalho no unicamente
transformar um objeto ou situao em outra coisa, mas,
tambm, transformar a si mesmo no e pelo trabalho. Essa
postura defende a importncia da aprendizagem por meio
das experincias do professor; enfatiza-se, portanto, que
para o trabalho do professor ser significativo e produtivo,
necessrio interao com os educandos. Segundo Tardif,
[...] o objeto do trabalho dos professores so seres
humanos individualizados e socializados ao mesmo
58
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
tempo. As relaes que eles estabelecem com seu
objeto de trabalho so, portanto, relaes humanas
e individuais e sociais ao mesmo tempo (TARDIF,
2008, p. 128).
fundamental situar o saber do professor na interface
entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim
de captar a sua natureza social e individual como um todo
(TARDIF, 2002, p. 16).
O professor de Ensino Religioso necessita proporcionar
ao educando a conquista da autonomia na aprendizagem.
Se o professor oferece tudo pronto, o educando no
descobre, no se sente desafiado para tal. A ajuda e a
mediao do professor so essenciais para a construo do
conhecimento. A interao entre professor e educando sofre
influncias de ambas as partes. Segundo Cabanas, a
interao que se d no processo pedaggico no neutra.
muito difcil educar um indivduo sem influenci-lo; no
limite diramos que impossvel, [...] o educador corre
sempre o risco de dar algo de si ao seu educando
(CABANAS, 2002, p. 243). Essas influncias precisam
possibilitar a partilha, a reflexo, a construo de saberes
de forma a transformar a escola e construir um mundo
melhor. A sala de aula ambiente de convivncia; nela se
desenrolam as diversas relaes, espao propcio para
aprender, mas, principalmente, para construir
conhecimentos e significados para a vida.
Frente aos enormes desafios que se apresentam, as
oportunidades que emergem no processo formativo do
professor necessitam ajud-lo a dialogar com a cultura, com
as diferenas, a construir relaes de alteridade, a estar
aberto prtica educativa dialgica, pois o professor de
Ensino Religioso no pode ser um conteudista; ele, ao mesmo
tempo em que ensina, ensinado pela experincia diria.
No vasto campo da religiosidade, ele no pode perder sua
identidade religiosa. A educao tarefa rdua e difcil,
porm uma misso importante no mundo atual carente
de referenciais. O professor, s vezes, o nico referencial
na vida de seus educandos. importante que ele acredite
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
59
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
no potencial daqueles que lhe so confiados e, ao mesmo
tempo, questione sobre o modelo de vida que est oferecendo
aos seus educandos.
Elli Beninc afirma que: O mnimo que se requer do
investigador que possua experincia religiosa e uma prcompreenso do fenmeno religioso (BENINC, 2001,
p. 54-63).
Estabelecer relao entre os acontecimentos, interpretar
a vida, escolher caminhos e discernir valores no so
somente tarefas do Ensino Religioso, mas sim de todas as
outras reas do conhecimento. Dessa forma, o ensino ser
significativo na vida dos educandos. Segundo Figueiredo,
Como disciplina integrante do sistema educacional
na sua globalidade, o Ensino Religioso o processo
de educao da dimenso religiosa do ser humano
que, na busca da razo de existir, realiza a
experincia do religioso, num movimento de relao
profunda consigo mesmo, com o mundo csmico, com
o outro, seu semelhante, e com o Transcendente
(FIGUEIREDO, 1995, p. 110).
Compreender o processo constitutivo da identidade
profissional implica entender o modo como os professores
interpretam a atividade docente e, consequentemente,
direcionam suas aes na prtica educacional.
Importa destacar que a reconstruo da identidade
profissional tarefa individual, porm condicionada
estrutura social e histrica num determinado contexto. A
noo de identidade, da construo de um sistema simblico
que confira significado para a profisso est intimamente
ligada s caractersticas que determinam o grupo com o
qual o indivduo se identifica.
Os estgios da f e o desenvolvimento humano
Todos ns, um dia, fomos crianas e experimentamos o
que ser criana. Com certeza, essas experincias teceram
nossa histria, possibilitando a construo de nossa
identidade como adultos; so experincias ricas em
significados e exercem influncias na ao docente. Como
60
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
seres sociais que somos, na relao com os outros que nos
encontramos e nos definimos como pessoa, como gente.
Consequentemente, o desenvolvimento da f se d por meio
das relaes humanas e seu alicerce se d na infncia, sendo
mediado pelas experincias que vivenciamos. Isso influencia
o significado que damos vida e maneira como
desenvolvemos a f.
O autor da teoria dos estgios da f, James Fowler,
relaciona a f com o significado atribudo vida e tambm
com o reconhecimento da necessidade do outro. Isso porque
a f est ligada s perguntas da vida e suas relaes. E a
partir das relaes que se pode entender a importncia deste
estudo, percebendo a influncia que a f exerce na vida e na
ao docente.
Fowler (1992) assegura ser pr-estgio o perodo que
antecede a interao linguagem e pensamento. Esse
momento denominado f indiferenciada, pois no h
nenhuma relao com um outro transcendente/imanente
explcita pela criana ou valores e crenas que direcionem
suas aes. necessrio que o beb se sinta acolhido e
querido em seu ambiente, pois sua dependncia muito
maior do que a de outros mamferos. Fowler afirma:
Creio que esto corretos aqueles observadores que
afirmam que nossas pr-imagens de Deus originamse aqui. Particularmente, elas se compem de
nossas primeiras experincias de mutualidade, nas
quais formamos a conscincia rudimentar de ns
mesmos como seres separados e dependentes de
outros imensamente poderosos, que estavam
presentes em nossa primeira tomada de conscincia
e que nos conheciam - com olhares reconhecedores
e sorrisos reconfirmadores - quando de nosso
primeiro autoconhecimento. Chamo-as de primagens porque em grande parte formam-se antes
da linguagem, antes dos conceitos e numa poca
que coincide com o surgimento da conscincia
(FOWLER, 1992, p. 106).
Portanto, nesse estgio encontram-se arraigadas as primagens de Deus, pois a criana ainda no se distingue dos
outros. A confiana da criana na vida e no mundo pode ser
prejudicada quando ela no sente, no experimenta a
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
61
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
confiana no relacionamento com os pais e responsveis,
bem como quando falha a assistncia e os cuidados a ela
prestados nessa fase.
Para Erikson (1976), nesse estgio do desenvolvimento
humano que se d a formao da confiana (confiana versus
desconfiana), que corresponde ao perodo do nascimento
at um ano e seis meses de idade aproximadamente.
Segundo o autor, a confiana da criana em seu cuidador
a principal responsvel para elaborar sua conceituao de
Deus. Destarte, o estabelecimento de relacionamentos
saudveis indispensvel no incio da vida.
Segundo a epistemologia gentica de Piaget, a criana,
nesse perodo, est na fase sensrio-motor, em que
predominam os reflexos naturais; a relao com o meio
fsica, possibilitando as construes de categorias do
objeto e do espao, da causalidade e do tempo (PIAGET,
2006, p. 21). Os rgos de sentido so a principal fonte
para a estimulao da inteligncia.
Portanto, os aportes de Jean Piaget, com seus estgios
de desenvolvimento cognitivo, e de Erik Erikson, com a
descrio do desenvolvimento psicossocial, completam o que
Fowler (1992) afirma sobre a mutualidade e a confiana
nesse estgio.
No campo da moral, Kolberg assim a define: A ordem
scio-moral definida em termos de status de poder e de
possesses ao invs de o ser em termos de igualdade e
reciprocidade (KOLBERG, 1971, p. 164). Ou seja, se um
ato negativo, ter uma repercusso negativa-punio e se
um ato positivo, sua repercusso ser positiva.
Fowler denomina o estgio 1 como f intuitivo-projetiva;
ela se inicia quando pensamento e linguagem esto no
mesmo compasso, no perodo dos trs aos sete anos, sendo
caracterizada pelo autor como
[] a fase fantasiosa e imitativa na qual a criana
pode ser influenciada de modo poderoso e
permanente; por exemplos, temperamentos, aes
e estrias da f visvel dos adultos com as quais ela
mantm relacionamentos primrios (FOWLER,
1992, p. 116).
62
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
de suma importncia a qualidade dos relacionamentos
que a criana estabelece com o adulto de seu convvio, pois
est atenta aos seus gestos, rituais e palavras. Esses podem
influenciar marcando positiva ou negativamente os
primeiros relacionamentos da criana com o sagrado, com
Deus. Para as crianas que no recebem essa bagagem na
famlia, o professor de Ensino Religioso pode desempenhar
esse papel, possibilitando vnculos que as ajudem a fazer
essa experincia. Porm, percebe-se que o carter universal
da f est presente; mesmo se no ambiente onde a criana
est inserida no se cultive a religio, a f perceptvel, as
crianas tm uma imagem de Deus. A f vai se
desenvolvendo de acordo com os conceitos de vida e de morte
que lhes so transmitidos. O ambiente um fator
importante para gerar confiana, o que permitir criana
expressar a imagem que est sendo constituda de Deus.
No estgio 2 , cognominado f mtico-literal, o
pensamento lgico est presente. A criana apresenta
domnio na definio de tempo e espao. Tende a investigar
e a testar os ensinamentos dos adultos e fala sobre sua
prpria experincia. Para Fowler (1982), a fase da f mticoliteral corresponde idade dos sete aos 12 anos.
Nessa fase, assume-se a crena, as histrias e as
narrativas do grupo. O desenvolvimento do pensamento
operacional concreto ajuda a desencadear o estgio mticoliteral da f. A criana comea a ter grande interesse em
saber como as coisas so e distingue a realidade da fantasia.
nessa fase que se torna significativa a escola, o grupo
religioso, a sociedade como fontes de pertena. forte a
identificao com o grupo, com a comunidade a qual
pertence. Fowler assegura que nesse estgio
[] a pessoa comea a assumir para si as estrias,
crenas e observncias que simbolizam pertena
sua comunidade. As crenas so apropriadas com
uma interpretao literal assim como as regras e
atitudes morais (FOWLER, 1992, p. 128).
A esperana supera o medo. As atitudes tomadas vo
dando certa credibilidade e segurana. Destaca-se o papel
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
63
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
fundamental da tica religiosa, pois fonte de gratificao
para a criana e o pr-adolescente. As relaes sociais se
do em um nvel bastante egosta, pois o indivduo busca
sua prpria satisfao no cumprimento das regras sociais
(DUSKA; WHELAN, 1994) e preceitos religiosos. Talvez
seja essa a razo pela qual a comunidade religiosa passa a
ser lugar para sentir-se bem. A autoridade dos pais e a viso
que tinham deles como super-heris passam a ser
questionadas. Amplia-se o crculo das relaes sociais, o
que contribui para o sentido de pertena a um grupo, seja
ele religioso ou no.
Para Erikson (1972), os grupos restritos possuem papel
fundamental na autoestima e no processo de construo da
identidade dos adolescentes. Os questionamentos como
quem sou, o que fazer e em que acredito afirmam a busca
do adolescente pela prpria identidade.
Na relao com o transcendente, a perspectiva de Deus
ganha conotao maior, est mais prximo, mais pessoal,
existe sintonia. As atitudes dos pais so relacionadas com
as atitudes paternais de Deus, principalmente na questo
da tomada de decises por parte dos pais. Deus ainda
entendido por meio de elementos antropomrficos. A noo
de justia de Deus baseada na reciprocidade, ou seja, se
Deus justo, as pessoas devem ser justas tambm.
Constroem um mundo mais ordenado. Quanto s regras e
atitudes morais, a inclinao maior nessa fase. Assim,
necessrio oferecer auxlio para que as crianas no se
tornem fundamentalistas, exigentes, perfeccionistas e super
controladoras. A f mtico-literal proporciona um suporte
ldico e criativo diante das crises e fracassos e propulsora
da vida devocional pela forma como se desenvolve, nessa
fase, a estruturao da f. A partilha de experincias dos
adultos com as crianas favorece a construo coletiva, e a
influncia mtua de geraes possibilita um enriquecimento
no sentido de vida que surpreende os literalismos
arraigados numa f fragilizada.
No estgio 3, definido como f sinttico-convencional, a
64
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
transformao fsica e a busca de identidade so elementos
que balizam o perodo. O adolescente busca descobrir quem
ele e o que quer ser. A crise de identidade , na verdade,
uma crise de autoridade, pois duvidam de si, dos pais, da
religio, de tudo o que lhe foi transmitido na infncia e
que, agora, j no lhe convm; est presente tambm a busca
do ser eu prprio, no algo emprestado ou reflexo de
outrem. Para Erikson (1972), os namoricos nessa fase so
uma forma de autoafirmao.
Fowler (1992) utiliza a simbologia do espelho quando
aborda o estgio da f-sinttico convencional. A metfora
do espelho utilizada pelo autor expressa que o adolescente
procura ver o outro vendo a si mesmo e vice-versa. Nessa
fase, o adolescente est preocupado com o que os outros
pensam ou acham dele, busca corresponder s expectativas
e ao juzo de outrem, vive muitas vezes em funo do que
os outros dizem e do que conveniente. Surge a necessidade
de sintetizar valores, informaes e crenas, de forma a
sustentar uma ideologia que d base para a identidade e as
perspectivas pessoais.
Para Fowler, desponta a capacidade de formar o mito
pessoal, o mito do prprio devir da pessoa em identidade e
f, incorporando o passado e o futuro previsto em uma
imagem do ambiente ltimo, unificada por caractersticas
de personalidade (FOWLER, 1992, p. 147). Esse estgio
considerado de transio, pois os valores obtidos nas relaes
pessoais so sintetizados. O indivduo convencional no
que se refere opinio de outros, sendo sua perspectiva
bastante dependente. O conceito de autoridade, est associado
s pessoas que exercem liderana institucional e legal; essa
autoridade quando atrelada de forma significativa a Deus,
viso do divino e autoimagem sadia, ser elemento
indispensvel formao da identidade.
Quando Deus um outro significativo nesta
miscelnea - e o divino sempre, em potencial, aquilo
que James Cone chamou de Outro Decisivo-, o
comprometimento com Deus e a auto-imagem (sic)
correlata podem exercer um poderoso efeito
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
65
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
ordenador sobre a identidade e a perspectiva de
valores do adolescente (FOWLER, 1992, p. 132).
Embora exista toda essa aproximao com o divino, o
adolescente apresenta limites no conhecimento de Deus,
permanecendo certo mistrio na opo de viver,
fundamentado em crenas e convices. Nesse estgio, a
busca de um relacionamento mais pessoal com Deus, em
uma perspectiva mais dialogal. Ele passa a ter uma viso de
algo misterioso, e Deus visto como guia, amigo e
companheiro sempre pronto a orientar e a apoiar. Estabelece
relacionamento profundo, no sentido da aspirao de
conhecimento do outro.
O estgio 4, considerado como f indutivo-reflexiva, se
d na vida adulta, apresentando variaes de idade devido s
experincias do indivduo no convvio social, o que difere
dos estgios anteriores. A f individuativo-reflexiva abrange
uma viso crtica dos valores dos quais a pessoa se apropriou
anteriormente. O conceito e a opinio sobre diferentes
assuntos sero mais autnomos, embora o grupo continue
tendo sua importncia. Amplia-se o senso de responsabilidade
pessoal mediante as escolhas e os compromissos assumidos.
A escolha por determinados valores e posicionamentos so
essenciais nessa fase do desenvolvimento da f. A definio
da f e da individualidade necessita ser amadurecida, levando
o indivduo a questionar de forma crtica a autoridade
externa, no no sentido de desrespeito, mas na busca desse
encontro e da prpria autoridade e identidade, livre de
influncias externas. Essa crtica tambm acontece
internamente em relao opinio dos demais perante suas
escolhas pessoais. Diante das ambiguidades da vida, a f
mais autnoma e demanda decises, o que contribuir para
o equilbrio e a estabilizao.
Quando no vivenciado adequadamente esse estgio, surge
o perigo de relativismo ou absolutismo exagerados. A crtica
torna-se extremista, podendo incidir na dificuldade de
relacionamento maduro com a realidade ou com as pessoas.
O sustentculo das crises na f individuativo-reflexiva pode
66
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
ser nutrido com abertura, partilha na comunidade ou grupo
a que pertence. necessrio dar suporte aos jovens nesse
estgio, para desencadear reflexes e aprofundamentos de
assuntos desafiadores de seu cotidiano.
No estgio 5, definido como f conjuntiva, a pessoa
comea a rever as imagens do eu, trazendo consigo o desafio
de ampliar sua vida sem se esquecer do passado, sem parar
no tempo, olhando para frente com esperana. O estgio da
f conjuntiva ultrapassa o sistema ideolgico especfico. Os
significados da f vo alm do que pode ser racionalmente
afirmado, e existe uma sntese vivencial dos opostos num
nvel mais profundo. A pessoa reconhece que no
possuidora da verdade, mas que a verdade pode ser
encontrada tambm no outro, de forma dialgica. O vnculo
com o smbolo sagrado no est fechado em si mesmo, mas
pode ser redimensionado. Os riscos desse estgio so a
passividade e a ociosidade, que afetam as relaes profundas,
adquiridas ao longo da vida, com as quais se compromete e
onde Deus est presente e a abertura ao mundo do outro, o
que implica saber lidar e respeitar as diferenas ideolgicas
que permeiam suas vidas. Acreditam que Deus est presente
em outras pessoas e que elas podem ensin-la a viver e a no
perder o sentido ltimo da existncia humana. medida que
se d o confronto do indivduo com seus prprios dilemas,
as supostas crises so um trampolim, impulsos para a
maturidade, instrumentos de aprendizagem.
Nessa fase, para Erikson (1976), a preocupao da pessoa
est em tudo o que pode ser gerado, como por exemplo
filhos, ideias e produtos. Gera e se dedica ao cuidado do que
gerou, fato perceptvel principalmente em relao
transmisso dos valores sociais de pai para filho. O ser
humano sente que sua personalidade foi enriquecida e no
alterada com tais ensinamentos, devido necessidade
intrnseca que existe no homem de transmitir, de ensinar.
Para Kolberg (1958 apud DUSKA; WHELAN, 1994),
os princpios universais de conscincia so referncias no
campo da moral nesse estgio. Se as normas no atendem
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
67
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
aos princpios ticos universais da liberdade, da justia e
do direito vida, devem ser mudadas e at mesmo
desobedecidas.
Para Fowler (1992), o estgio 6 definido como f
universalizante. Nele, a pessoa se entrega totalmente, com
desapegos surpreendentes, transformao da realidade
atual na direo de uma realidade transcendente. Dedicase ao amor e justia, afrontando os conceitos limitados e
reducionistas. Amplia a viso da vida, no mede esforos
na dedicao pelo ser. O princpio fundamental que rege a
vida humana nesse estgio o ser, conseguindo influenciar
outros, devido ao seu profetismo e a sua maneira utpica
de ver a vida, no sendo egosta. Sabe dialogar com o
diferente, busca aes em prol da justia, da tica e da
solidariedade, criam redes de apoio, possui grande
capacidade de socializao, exerce liderana baseada em
critrios universais. A pessoa apresenta certa indignao
diante da realidade e dos diversos contextos em que se nega
a existncia humana e todas as formas de violncia e de
desrespeito para com ela, possuindo grande capacidade de
interveno na sociedade e transformao da mesma devido
liderana que exercem. Os projetos humanos aqui se
convergem em valores que estimulam e fundamentam as
escolhas pessoais e comunitrias. As pessoas nesse estgio
apresentam facilidade em acolher o diferente, em reconhecer
a integridade do outro, mesmo partindo de concepes de
mundo bem distintas e em aceitar a morte e entend-la como
consolidao final (ERIKSON, 1976, p. 247).
Anlises dos dados
Referente identificao dos educadores na educao
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o
universo docente predominantemente feminino. Esse perfil
vai se modificando medida que se caminha da educao
infantil para o ensino mdio, ressaltando que os professores
de sexo masculino atuam predominantemente e apenas no
68
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
ensino fundamental II e ensino mdio. Referente ao tempo
de atuao na educao, este varia de seis meses a 30 anos;
na instituio pequisada, entre seis meses a 25 anos e como
professores de Ensino Religioso, est entre seis meses a 25
anos. Percebe-se que a maioria comeou atuar como
professor de Ensino Religioso ao principiar seu trabalho
na instituio.
Pode-se afirmar que o ser humano uma juno de
inmeros fatores psicolgicos associados a fatores fsicos
e espirituais. Apesar das diferenas individuais, culturais,
sociais e religiosas, todos os seres humanos refletem sobre
a existncia ou no de Deus, sobre o quanto Ele influencia
a vida em seus diversos mbitos. A busca se processa de
maneira individual e coletiva. O grupo de educadores
participantes da pesquisa pode ser considerado homogneo,
pois, em quase sua totalidade, todos so cristos do grupo
catlico, com exceo de uma professora pertencente ao
grupo evanglico. Quanto a participar ativamente ou no
de atividades religiosas, destaca-se que, para alguns, a
participao considerada ativa quando se est inserido
em pastorais, grupos e movimentos especficos; para outros,
a participao em atividades como missas, novenas, estudos
e celebraes religiosas semanal. Um pequeno grupo relata
no participar ativamente de tais atividades, e poucos no
responderam s questes. Nota-se que a maioria vivencia
sua religiosidade e sua f coletivamente em um grupo
religioso, por meio dos ritos e em comunidade.
Quanto formao dos professores pesquisados ,
constatou-se que eles entendem a formao continuada
como tempo de estudo e reflexo realizada por meio de
cursos, palestras e seminrios, troca de experincias e de
saberes, apoio e preparo profissional. A formao
continuada, para eles, promove situaes de desafios,
auxilia na mediao e na construo do conhecimento,
contribui para a atividade docente, renova, atualiza,
capacita e aperfeioa o indivduo, proporciona melhorias
na qualidade de ensino, contribui para a integrao teoria
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
69
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
e prtica, amplia continuamente o conhecimento, prepara
para a diversidade, reflete criticamente a prtica, leva
pesquisa e acontece durante a vida e no s no ensino formal.
Conforme descreve Tardif (2002, p. 36), o saber docente
um saber plural, formado pelo amlgama, mais ou menos
coerente, de saberes procedentes da formao profissional
e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais com
os quais os professores constituem diferentes relaes a
serem incorporadas prtica docente. Para Junqueira:
A prtica de todo professor, mesmo de forma
inconsciente, sempre pressupe uma concepo de
ensino e aprendizagem que determina sua
compreenso dos papis de professor e aluno, da
metodologia, da funo social da escola e dos
contedos a serem trabalhados. A discusso dessas
questes importante para que se explicitem os
pressupostos pedaggicos que subjazem atividade
de ensino, na busca de coerncia entre o que se
pensa estar fazendo e o que realmente se faz
(JUNQUEIRA, 2002, p. 110-111).
Na tentativa de compreender os relatos quanto
concepo de educao que orientou a formao dos
professores, percebeu-se, por meio de algumas respostas,
certa confuso em suas bases tericas, o que pode
comprometer a prtica pedaggica. Evidencia-se, pelos
dados apresentados, que eles necessitam de formao
continuada. Alm disso, solicitou-se exemplos da concepo
que os orientou em sua formao. Constatou-se um nmero
relativamente alto de professores que no responderam a
essa questo; houve tambm aqueles cujas respostas no
condizem com a concepo adotada. Refora-se aqui o que
foi percebido na questo anterior, referente falta de
clareza das concepes. Elas se complementam e precisam
permear o processo pedaggico, implicando a superao do
senso comum e a informao fragmentada, o que exige
responsabilidade e coerncia pedaggica. Para Freire (1988,
p. 44), a reflexo sobre a prtica de fundamental
importncia, pois pensando criticamente a prtica de
hoje ou de ontem que se pode melhorar a prxima prtica.
A falta de uma justificativa terica que sustente a prtica
70
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
leva o professor a agir de forma intuitiva e amadora,
reproduzindo modelos desvinculados da realidade.
Quantidade significativa de professores afirmam que as
concepes em seu perodo formativo foram perpassadas
pelos valores. Nota-se, cada vez mais, que as instituies
tentam aliar o ensino de contedos trabalhando os valores.
o que educadores chamam, atualmente, de temas
transversais, que perpassam as aulas de biologia,
portugus, artes, entre muitas outras. Solicitou-se aos
professores exemplos de conhecimentos obtidos em seu
curso de licenciatura que contriburam para a sua formao.
Por meio dos dados obtidos, percebe-se uma diversidade de
conhecimentos adquiridos pelos professores durante sua
formao profissional. Desse modo, afirmamos que, ao
pensar no educador como ser humano, levamos sua
formao o desafio de resgatar as dimenses culturais,
poltica, social e pedaggica; isto , resgatar os elementos
cruciais para que se possa redimensionar suas aes no e
para o mundo, trabalhando de forma integral.
Vale ressaltar que, para muitos professores, dos fatores
que contriburam para sua formao alguns se destacam:
o contato com as disciplinas na rea de humanas, as
experincias dos estgios, as metodologias e a didtica
utilizadas nas aulas. O estgio um grande meio para a
anlise reflexiva, permitindo a transposio dos saberes
prticos para as novas situaes e a aquisio de habilidades
de profissionais mais experientes.
Tendo presente as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Pedagogia (DCNCP) aprovadas pelo MEC em 2006,
a Resoluo n. 01/CNE/CP/2006 e considerando o Parecer
n. 5/CNE/CP/2005, que orienta a formao de professores
para atuar com a questo da diversidade, sabendo que uma
das finalidades desse curso a ateno especial diversidade
sociocultural e regional do pas, o questionrio aplicado
tambm contemplou, em uma das questes, a diversidade
cultural brasileira e o modo como foi abordada. A maioria
dos professores respondeu que tal aspecto foi trabalhado; a
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
71
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
minoria, que foi pouco trabalhado; outros, que no foi
trabalhado e alguns no responderam. Percebe-se que a
diversidade cultural um tema recente e ainda no
trabalhado de forma efetiva na formao de professores.
Trabalhar a diversidade cultural um grande desafio para
o professor, pois a cultura dinmica, est sempre em
movimento. A expresso utilizada por Tardif, mobilizao
de saberes, transmite uma ideia de movimento, de
construo, de constante renovao, de valorizao de todos
os saberes e no somente do cognitivo; revela a inteno da
viso da totalidade do ser professor, o que inclui a questo
da diversidade cultural.
Quanto formao acadmica dos professores
pesquisados, a rea de formao superior com maior nmero
de professores em relao ao total de docentes Pedagogia.
A maioria dos docentes apresentaram mais de uma rea de
formao em graduaes, ps-graduao e mestrado. Tardif
(2002) considera que o professor, ao desempenhar seu
trabalho, se apoia nos conhecimentos disciplinares, didticos
e pedaggicos adquiridos na escola de formao e nos
conhecimentos curriculares veiculados em programas e
livros didticos, mas considera ainda que eles so
provenientes tambm de sua cultura pessoal, de sua histria
de vida, de sua escolaridade anterior e em seu prprio saber
proveniente de experincias profissionais.
A religiosidade no ser humano
O ser humano um ser religioso e leva essa religiosidade
dentro de si. O homem religioso acredita que Deus o criou
e, portanto, sua origem provm de uma divindade. Esse
aspecto foi evidenciado analisando a questo sobre se j
ouviram falar de Deus. Todas as respostas foram
afirmativas. Fowler (1992) define religio como uma
tradio cumulativa e que pode ser manifestada em textos,
mitos, profecias, relatos, narrativas, smbolos visuais,
msica, dana, teologias, arquiteturas. a f, a experincia
72
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
mais profunda e pessoal, o jeito, a maneira como a pessoa
manifesta o valor transcendente.
Os entrevistados foram tambm interrogados sobre o que
sabiam de Deus. As respostas foram bem diversificadas. A
imagem que tm de Deus revela que tais respostas projetam
exatamente o que pensa o grupo religioso a que pertencem.
A meno de Deus com o nome de Pai, a linguagem da f
de seu grupo religioso, indica principalmente dois aspectos:
que Deus origem primeira de tudo e autoridade
transcendente e que, ao mesmo tempo, bondade e solicitude
de amor para todos os seus filhos. No Catecismo da Igreja
Catlica (IGREJA CATLICA, 1993, p. 238-248) afirma-se
ainda que Deus o Pai Todo Poderoso.
Questionados sobre como havia comeado o mundo,
reafirma-se o conceito acima. Para ratificar as fontes de
onde e como acreditam que comeou o mundo, indagamos
sobre como sabiam daquilo. Mais de uma fonte foram
citadas; todas foram consideradas, destacando-se como fonte
principal a Bblia, os ensinamentos recebidos na famlia e
os estudos religiosos realizados. Quando interrogados se
gostavam de Deus, os 104 entrevistados, unanimemente,
responderam que sim. Ao serem interrogados por que
gostavam de Deus, percebeu-se certo aceno da f mticoliteral, manifestada no estgio 2, embora seja caracterstica
da idade de escola primria - alguns adolescentes e adultos
podem permanecer nesse estgio. A relao de Deus com o
ser humano, nesse estgio, se baseia na reciprocidade, na
troca de favores e na proteo por boas aes (FOWLER,
1992). Nota-se tambm, em algumas respostas, que as
imagens de Deus tm caractersticas do estgio 3,
denominado f sinttico-convencional. Elas surgem quando
os entrevistados se referem a Deus como companheiro,
orientador, presena, amor, apoio e conforto nas horas
difceis. Outro sinal caracterstico do estgio 3 est na
afirmativa de que Deus mistrio. no estgio 3 que se d
incio construo das relaes sociais dos adolescentes
ou adultos, para alm dos contextos familiares, definindo
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
73
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
a identidade e a f pessoal. Esse estgio, alm de ajudar a
compreender o desenvolvimento da f em um adolescente,
tambm ocupa um lugar permanente de equilbrio para
muitos adultos (FOWLER, 1992, p. 146).
Em algumas respostas surgem tambm caractersticas
do estgio 4, f individuativo- reflexiva, que marca o incio
da idade adulta, pois o indivduo est em busca de
autenticidade, por meio da reflexo crtica sobre os valores
anteriormente recebidos, do ego executivo moldado.
Na questo sobre quais histrias sabem sobre Deus, a
maioria dos indagados conhece a existncia de Deus por
meio da Bblia. A Bblia, mais do que ensinar sobre Deus,
pressupe sua existncia e o testemunho escrito da sua
revelao na histria. O Deus da Bblia revelado. Ele age
na histria e na vida de seu povo escolhido, Israel, e na vida
da Igreja, formada por todos os que creem em Jesus Cristo
e o confessam como Senhor e Salvador. As demais respostas
esto relacionadas famlia, ao grupo religioso por meio
da catequese e aos estudos.
Quanto questo sobre a possibilidade da morte de Deus,
pode-se dizer que esse grupo de professores encontra-se nos
estgios 3 e 4. No tocante relao com Deus foi
questionado se os entrevistados falavam com Ele. Vrios
professores mencionaram mais de uma forma de falar com
Deus e a que prevaleceu foi a orao. A orao um colquio
ntimo e cordial com Deus, por quem sabemos ser amados.
O ser humano necessita de momentos de silncio, de
reflexo e de intimidade com o transcendente. Alguns
professores mantm seu contato com o transcendente por
meio dos ritos que facilitam essa sintonia.
Na questo sobre se j ouviram falar de Jesus Cristo,
todas as respostas foram afirmativas. Questionados sobre
o que sabem sobre Cristo, apresentaram mais que uma fonte
de informao. Contudo, a maioria enfatiza Jesus como
Salvador e como Filho de Deus nascido de Maria. A f crist
centrada em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altssimo que
trouxe a salvao. Assim, um educador cristo, em sua ao
74
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
educativa, necessita deixar transparecer as virtudes e os
valores vividos e ensinados por Cristo, assumindo, com
responsabilidade, sua misso de educar e promovendo o
respeito pela dignidade do ser humano em suas dimenses
afetiva, cognitiva, psquica, fsica, social e espiritual,
marcando positivamente a vida de seus educandos.
Questionados sobre pessoas que no passado ou no
presente tenham sido ou so significativas, no sentido de
moldar a perspectiva a respeito da vida, os pesquisados
trazem exemplos como Madre Tereza de Calcut, Martin
Luther King e Francisco de Assis, arqutipos do estgio 6,
descrito por Fowler (1992) como f universalizante. As
pessoas de f universalizante se identificam com as que
sofrem com as minorias, tomam suas dores, lutam de forma
no violenta pela vida ameaada, so comprometidas com
alguma causa, exercem liderana, marcam a histria e
influenciam outros por meio de seu exemplo. So capazes
de transformar a realidade e falam realidade. Ressalta-se
tambm nesse quesito a influncia da famlia, de amigos e
de professores. Questionados sobre experincias religiosas
importantes que tiveram ou esto vivenciando, a maioria
respondeu afirmativamente; ao exemplific-las, percebe-se
grande diversidade de fontes.
O saber religioso
Cabe escola instrumentalizar o educando, favorecendolhe o desenvolvimento integral, ou seja, contemplando todos
os aspectos da pessoa: fsico, mental, emocional, intuitivo,
espiritual, racional e social. Diante do mistrio do
transcendente, a perplexidade do educador necessita
antecipar do educando para que possa responder s
questes trazidas ou estimular outras. Sua sntese centrase na prpria experincia. No entanto, necessita apropriarse da sistematizao de outras experincias que permeiam
a diversidade cultural. Na cultura atual do descartvel,
percebe-se que pessoas de todas as idades vm perdendo o
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
75
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
sentido da vida e necessitam ser includas nesse novo mundo
que vai surgindo. Desse modo, a tarefa de educar contm
em si um grande desafio. O educador que no tem
conscincia desse desafio, com certeza, sentir que sua ao
vazia e sem sentido. Educar vai muito alm de ensinar e
fazer com que os educandos aprendam.
Quando questionados sobre os saberes que servem de base
ao ofcio de professor, os pesquisados apresentaram vrios
exemplos. Destacam-se os valores humanos e cristos, os
saberes profissionais e religiosos e o respeito diversidade.
Por exercerem seu ofcio como educadores em uma escola
confessional catlica e imbudos desse esprito, evidenciase, fortemente, nas entrelinhas das respostas, a tarefa
essencial da escola catlica, que a educao integral do
ser humano e o compromisso com a educao para os
valores. Portanto, de fundamental importncia que a
comunidade educativa esteja imbuda desses valores e
animada por um esprito evanglico de liberdade e caridade.
Interrogados sobre quais saberes acreditam ter
adquirido como professores de Ensino Religioso, os
pesquisados apresentaram diversos exemplos. De acordo
com as respostas, percebe-se a importncia da formao
continuada para que possam se atualizar constantemente.
Outros fatores evidenciados foram a vivncia e a
incorporao dos valores humanos e cristos vida pessoal,
o que, consequentemente, tem reflexos na ao pedaggica.
Por fim, pode-se afirmar que o professor de Ensino
Religioso precisa estar preparado, ser sensvel ao
pluralismo religioso e cultural, trabalhar a partir de um
ponto de partida mais universal para o ser humano, como
as perguntas sobre o sentido da vida, a busca pelo sagrado,
pelo transcendente. Foi a partir das perguntas sobre a
existncia e seu sentido que surgiram as religies, e por
meio delas que acontece o processo de aprendizagem. No
se pode separar o ser humano do ser religioso, pois formam
uma totalidade. No obstante, o professor de Ensino
Religioso no aquele que leva respostas prontas para as
76
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
perguntas dos educandos, mas aquele que os questiona e os
ajuda na construo de suas verdades de f, de suas crenas
e convices religiosas. quem os auxilia na construo
de um sentido para a vida. Atento ao processo do
desenvolvimento da f, respeita seus educandos nos estgios
em que se encontram. Tem conhecimento de que a razo
cientfica no a nica verdade; o mito, o smbolo, a poesia,
os rituais de f, pessoais e institucionais, tambm so
verdades e merecem ser estudados e compreendidos. So
linguagens diferentes que trazem significados profundos
para a vida humana; linguagens simblicas que geram
verdades existenciais.
Deve-se unir formao desse profissional o exerccio da
reflexo, articulado a uma prtica diria, garantindo sua
insero na realidade docente e discente. Consequentemente,
o professor deve estar atento ao seu entorno, respeitando as
diferentes necessidades discentes e, acima de tudo,
demonstrando comprometimento com o processo
educacional, alcanando e mobilizando conhecimentos para
s ento compreender os contextos, provocar discusses,
tornando o conhecimento cada vez mais dinmico e
significativo para o educando. Portanto, necessria, para
a formao e construo dos saberes dos professores de
Ensino Religioso, a pesquisa sistematizada que oferea
fundamentao slida, assegurando, assim, um ensino com
autoridade no saber e na vivncia, um ensino de qualidade.
Consideraes finais
Ao concluir este trabalho, percebe-se a importncia da
realizao de outros estudos nesta linha de investigao
devido complexidade do tema. A construo dos saberes
docentes adquiridos no desenvolvimento pessoal e
profissional do professor, bem como a importncia de
conhecer os estgios do desenvolvimento da f, vinculados
a uma ao pedaggica no que tange, especialmente, ao
respeito s singularidades presentes em sala de aula
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
77
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
promovem o entendimento e a assimilao dos contedos
tico-cristos de cada indivduo, partindo de seus interesses,
sem ferir suas crenas. Todos esses elementos se agregam
como influncia positiva na formao integral dos docentes.
importante incentivar novos ensaios diante da realidade
em que se encontra o Ensino Religioso em nosso pas. A f
se torna um pilar que sustenta no s a espiritualidade,
mas a dimenso pedaggica integral do ser humano.
Os autores aqui estudados auxiliam no estreito
relacionamento entre os saberes dos docentes e o
desenvolvimento da f, o desenvolvimento humano e sua
importncia para uma convivncia harmoniosa no ambiente
em que se est inserido. importante ressaltar que cada
estgio em Fowler retrata uma compreenso de f. Alm
disso, a teoria do desenvolvimento da f nos fornece uma
gama de subsdios para uma ao docente eficaz. Pode-se
assegurar que o professor de Ensino Religioso, tendo
conhecimento dos estgios institudos por Fowler (1992),
exerce influncia positiva no desenvolvimento da f de seus
educandos, bem como est apto a ajud-los na busca do
sentido da vida e na experincia com o transcendente,
contribuindo para sua maturidade. Conhecer a si mesmo e
seu processo pessoal para depois compreender o caminho
do outro e seu crescimento humano sero o constante
desafio do professor de Ensino Religioso.
78
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
Referncias
BENINC, E. O Ensino Religioso e a fenomenologia
religiosa. In: KLEIN, R.; WACHS, M. C.; FUCHS, H. L.
O ensino religioso e o pastorado escolar. So Leopoldo:
Sinodal, 2001.
BRASIL. Conselho Nacional de Educao. Parecer
CNE/CEB n. 39/2004. Aplicao do Decreto n. 5.154/
2004 na educao profissional tcnica de nvel mdio e
no ensino mdio. Disponvel em: <http://
portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico/
legisla_tecnico_parecer392004.pdf>. Acesso em: 10
abr. 2010.
______. Lei n. 11.301, de 10 de maio de 2006. Dirio
Oficial da Unio, 11 maio 2006. Disponvel em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/ 2006/
Lei/L11301.htm>. Acesso em: 10 jul. 2010.
______. Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera
a redao dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n. 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educao nacional, dispondo sobre a durao
de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com
matrcula obrigatria a partir dos 6 (seis) anos de
idade. Braslia/DF/BRA: Dirio Oficial da Unio, 06
fev. 2006. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/
CCIVIL/_Ato2004-2006/2006/ Lei/L11274.htm>.
Acesso em: 10 out. 2010.
CABANAS, J. M. Q. Teoria da Educao: concepo
antinmica da educao. Porto (Portugal): ASA, 2002.
DUBAR, C. A crise das identidades. A interpretao de
uma mutao. Porto (Portugal): Afrontamento, 2006.
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
79
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
DUSKA, R.; WHELAN, M. O desenvolvimento moral na
idade evolutiva: um guia a Piaget e Kohlberg. So Paulo:
Loyola, 1994.
ERIKSON, E. H. Identidade, juventude e crise. Rio de
Janeiro: Zahar, 1976.
______. Infncia e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
FIGUEIREDO, A. Ensino religioso, perspectivas
pedaggicas. Petrpolis: Vozes, 1995.
FOWLER, J. Estgios da f: a psicologia do
desenvolvimento humano e a busca de sentido. So
Leopoldo: Sinodal, 1992.
______. Teologia e psicologia no desenvolvimento da F.
Concilium, Petrpolis, v. 176, n. 6, 1982.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 9. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1998.
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios
prtica educativa. 8. ed. So Paulo: Paz e Terra, 1998.
______. Pedagogia da esperana: um reencontro com a
pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.
IGREJA CATLICA. Catecismo da Igreja Catlica. So
Paulo: Loyola, 1993.
JUNQUEIRA, S. R. A. O processo de escolarizao do
ensino religioso no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2002.
KOHLBERG, L. Essays on moral development. v. I: The
philosophy of moral development. New York: Harper and
Row, 1981.
80
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
O desenvolvimento religioso dos professores de Ensino Religioso
e sua influncia na ao pedaggica segundo James Fowler
KOHLBERG, L. Psicologa del desarrollo moral. Bilbao:
Descle de Brouwer, 1992.
LIBNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos, para qu? So
Paulo: Cortez, 1999.
PIAGET, J. Epistemologia gentica. So Paulo: M.
Fontes, 1990.
TARDIF, M. Saberes docentes e formao profissional. 9.
ed. Petrpolis: Vozes, 2008.
______. Saberes docentes e formao profissional.
Petrpolis: Vozes, 2002.
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
81
Ivani Ravasoli, Srgio Rogrio Azevedo Junqueira
Religious development of teachers of
religious education and their influence
on educational action by James Fowler
Abstract
This study aimed to identify the different knowledge of
teachers, understand the development of their faith; see the
influence of faith in the teaching strategies of teachers of
the discipline Religious Education. The field of research was
the various units of a private Education Institution of
humanistic nature, Christian Catholic confessional in the
states of Parana and Rio Grande do Sul. The theme was
analyzed based on data collected through the use of
questionnaires to teachers that teach in religious education
from kindergarten through high school. To achieve the
objectives, five points have been established for purposes of
discussion and analysis of results: (1) the teachers
identification concerning their age, sex, duration of action
in education and teacher performance in Religious Education,
(2) the teachers formation, their knowledge acquired
throughout their career and history, (3) the questions of
religion, faith development, religious experiences and
spirituality, (4) the question of religious knowledge, (5) an
analysis of the influence of faith in teaching strategies, as it
is believed that every teacher influences the lives and learning
of students, especially the teacher of Religious Education
since their practices are linked to what they believe. The
theoretical basis of this work is in Tardif (2002) who points
out the different teacher knowledge acquired in the course of
history and career, saying that through this, it is modeled
the profile of the educator, and James W. Fowler (1992) which
has six stages of faith development based on studies of Piaget
(1983), Kohlberg (1958), Erikson (1976).
Keywords: teacher knowledge; religious education; faith
development; educational action; teacher education.
Artigo recebido em: 14/8/2011
Aprovado para publicao em: 20/11/2011
82
Mal-Estar e Sociedade - Ano IV - n. 6 - Barbacena - janeiro/junho 2011 - p. 55-82
Você também pode gostar
- 10-Òsá Méjì PDFDocumento48 páginas10-Òsá Méjì PDFRafael Lopes100% (20)
- Exercicios de Madeiras (UFPR)Documento138 páginasExercicios de Madeiras (UFPR)haca_34100% (1)
- El Rod P ColorDocumento142 páginasEl Rod P ColorManuel KusminskyAinda não há avaliações
- Filosofia Da Ciência 02 Pensar A CienciaDocumento10 páginasFilosofia Da Ciência 02 Pensar A CienciaEnsino Médio Filosofia100% (4)
- Historia e Doutrina Do Martinismo PDFDocumento87 páginasHistoria e Doutrina Do Martinismo PDFDjair Paulo100% (1)
- Genesis1 PDFDocumento6 páginasGenesis1 PDFDjair PauloAinda não há avaliações
- Frutos Do Espírito PDFDocumento7 páginasFrutos Do Espírito PDFDjair PauloAinda não há avaliações
- Paulo Meksenas PDFDocumento177 páginasPaulo Meksenas PDFDjair PauloAinda não há avaliações
- 1deolindo e GenovevaDocumento8 páginas1deolindo e GenovevaDjair PauloAinda não há avaliações
- Matematica Ens - FundDocumento216 páginasMatematica Ens - FundLelehh-doorsAinda não há avaliações
- Multisim Aula4Documento49 páginasMultisim Aula4keilaesuelyAinda não há avaliações
- Curto09 ExerciciosDocumento5 páginasCurto09 ExerciciosCarllos Limma100% (1)
- Manual Orientador Quadros Elétricos e Entrada de EnergiaDocumento76 páginasManual Orientador Quadros Elétricos e Entrada de EnergiaÁureo Do Carmo Moura100% (1)
- 22maio Lista Revisão Geral de EletrostáticaDocumento4 páginas22maio Lista Revisão Geral de EletrostáticaIzabella MirandaAinda não há avaliações
- PORTFÓLIO 5º E 6º SEMESTRE EDUCAÇÃO FÍSICA 2022.2 - Desenvolver Um Olhar Amplo Das Potencialidades Que A Educação FísicaDocumento1 páginaPORTFÓLIO 5º E 6º SEMESTRE EDUCAÇÃO FÍSICA 2022.2 - Desenvolver Um Olhar Amplo Das Potencialidades Que A Educação FísicaAlex NascimentoAinda não há avaliações
- TOP 10 Enem - 2018 - Aula 07 - Ondulatória - Parte IIDocumento16 páginasTOP 10 Enem - 2018 - Aula 07 - Ondulatória - Parte IIRafael MartimAinda não há avaliações
- Plano Anual 2º Ciências Da Natureza GERAL 2023Documento7 páginasPlano Anual 2º Ciências Da Natureza GERAL 2023Daniely Dos SantosAinda não há avaliações
- SPRINT EEAR Fisica Caderno 1Documento59 páginasSPRINT EEAR Fisica Caderno 1Jão MendesAinda não há avaliações
- Instalações Elétricas Industriais v.20132Documento431 páginasInstalações Elétricas Industriais v.20132Denis Rogério da SilvaAinda não há avaliações
- Texto 5 - Piranha e Carneiro - 2009Documento9 páginasTexto 5 - Piranha e Carneiro - 2009Gg GAinda não há avaliações
- Caça PalacrasDocumento3 páginasCaça PalacrasLivia LirioAinda não há avaliações
- RESUMO Resistência Dos Materiais, Metalografia e Ensaios Mecânicos e MetalúrgicosDocumento8 páginasRESUMO Resistência Dos Materiais, Metalografia e Ensaios Mecânicos e MetalúrgicosWilton Marcos SilvaAinda não há avaliações
- Tabela Lubrificação CLPDocumento44 páginasTabela Lubrificação CLPVanessa Ferraz100% (1)
- Ressonancia Magnetica Principios BasicosDocumento9 páginasRessonancia Magnetica Principios BasicosBruno SorgiAinda não há avaliações
- Teste de Aptidão Física Relacionado Com A SaúdeDocumento21 páginasTeste de Aptidão Física Relacionado Com A SaúdeJoão Paulo AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Os Roteiros de Todas As Aulas de Físico-Química PDFDocumento36 páginasOs Roteiros de Todas As Aulas de Físico-Química PDFJoão LucasAinda não há avaliações
- Esquemas ElétricosDocumento25 páginasEsquemas Elétricosfpereira_macaeAinda não há avaliações
- Trabalho de E.TDocumento34 páginasTrabalho de E.TcrizangelAinda não há avaliações
- ANEEL NR 414 - Texto Atualizado Compacto (Rev 823 2018)Documento85 páginasANEEL NR 414 - Texto Atualizado Compacto (Rev 823 2018)FabianoAinda não há avaliações
- Relatório Física II - Equivalente Calor e EnergiaDocumento10 páginasRelatório Física II - Equivalente Calor e EnergiaMaay ChanAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa 3Documento9 páginasProjeto de Pesquisa 3Kamile Willemann AlbinoAinda não há avaliações
- Formulário de HidrologiaDocumento3 páginasFormulário de HidrologiaAlex Ribas CezarAinda não há avaliações
- Metafísica Fenomenológica: A Afetividade No Pensamento de Paul GilbertDocumento13 páginasMetafísica Fenomenológica: A Afetividade No Pensamento de Paul GilbertmarcelaAinda não há avaliações
- Tarefa 1 - 20 PontosDocumento6 páginasTarefa 1 - 20 PontosMaria100% (1)
- Vol. 2Documento377 páginasVol. 2vitor britoAinda não há avaliações
- LaminaçãoDocumento8 páginasLaminaçãoadricvegaAinda não há avaliações