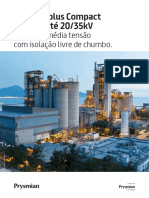Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Solos
Apostila Solos
Enviado por
Ana Carolina MotaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Solos
Apostila Solos
Enviado por
Ana Carolina MotaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FAUPE
MECNICA DE SOLOS
Prof. Glaucione Feitosa
Prof. Glaucione Feitosa
FAUPE
MECNICA DE SOLOS
MDULO 1 CONCEITO, ORIGEM E FORMAO DOS SOLOS
Conceito, origem, formao e estrutura de solos
Conceito de Solos:
O solo constitudo por um conjunto de partculas slidas, formando entre si poros, que podero
estar total ou parcialmente preenchidos pela gua. , pois, no caso mais geral, um sistema disperso
formado por trs fases: slida, lquida e gasosa.
Partculas Slidas
Poros preenchidos
por gua e ar
Amostra de solo
1) Fase Lquida e Gasosa nos Solos:
Embora seja difcil separar os diferentes estados em que a gua se apresenta nos solos, de
interesse estabelecer uma distino entre os mesmos.
A gua contida nos solos pode ser classificada em:
a) gua de constituio: Faz parte da estrutura molecular da partcula slida;
b) gua adsorvida: aquela pelcula de gua que envolve e adere fortemente partcula slida;
c) gua livre: a que se encontra preenchendo seus vazios, e seu estudo regido pelas leis da
hidrulica;
d) gua higroscpica: a que ainda se encontra em solo seco ao ar livre;
e) gua capilar: a que nos solos finos sobe pelos interstcios capilares deixados pelas partculas
slidas, alm da superfcie livre da gua.
gua Adsorvida
Partcula de Argila
gua Higroscpica
gua Capilar
gua Adsorvida
gua Capilar
gua Livre
Mecnica de Solos Conceito, Origem e Formao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
As guas livre, higroscpica e capilar so as que podem ser totalmente evaporadas pelo efeito do
calor, a uma temperatura maior que 100 oC.
Quanto fase gasosa, que preenche os vazios das demais fases, constituda por ar, vapor dgua
e carbono combinado.
2) Mecnica de Solos:
Definio: Cincia que estuda as propriedades e o comportamento dos solos; tais estudos tm
aplicao prtica na Engenharia de fundaes, na construo de barragens, estradas, viadutos,
tneis, aeroportos, etc.
Constitui requisito prvio para o projeto de qualquer obra, sobretudo se de vulto (barragem,
tnel, obra de arte, corte, aterro), o conhecimento da formao geolgica local, estudo das
rochas, solos, minerais que o compem, bem como a influncia da presena de gua sobre ou sob
a superfcie da crosta.
verdade conhecida que, em se tratando de solos e rochas, a heterogeneidade a regra, a
homogeneidade a exceo.
Tais estudos so, de fato, indispensveis, para se alcanar a boa engenharia, isto , aquela que
garante a necessria condio de segurana e, tambm, de economia.
Assim, alm da Mecnica dos Solos, tornam-se necessrios, para o atendimento desses requisitos
bsicos, os estudos referentes s demais cincias que compem as chamadas Cincias da Terra e
que so:
a) Mineralogia: Estudo dos Minerais. De particular interesse para o engenheiro o estudo dos
minerais arglicos;
b) Petrologia: Estuda detalhadamente as Rochas;
c) Geologia Estrutural ou Tectnica: Estuda as dobras e falhas da estrutura da crosta terrestre.
De fundamental importncia nas questes relativas a cortes, tneis e fundaes de barragens
e obras de terra;
d) Geomorfologia: Estuda as formas da superfcie terrestre e as foras que as originam;
e) Geofsica: Consiste na aplicao dos mtodos da Fsica ao estudo das propriedades dos
macios rochosos e terrosos. So de grande importncia os mtodos geofsicos de
prospeco da crosta terrestre;
f) Pedologia: Estuda as camadas superficiais da crosta terrestre, em particular sua formao e
classificao, levando em conta a ao de agentes climatolgicos. Particularmente no que se
refere ao estudo da umidade dos solos, os conhecimentos pedolgicos vo se mostrando de
interesse nos problemas de pavimentao;
g) Mecnica das Rochas: Prope-se a sistematizar o estudo das propriedades tecnolgicas das
rochas e o comportamento dos macios rochosos, segundo os mtodos da Mecnica dos
Solos;
h) Hidrologia: Cincia que se ocupa do estudo das guas superficiais e subterrneas.
3) Origem e Formao dos Solos:
Os solos so materiais que resultam do intemperismo ou meteorizao das rochas, por
desintegrao mecnica ou decomposio qumica.
Mecnica de Solos Conceito, Origem e Formao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
Por desintegrao mecnica, atravs de seus agentes, formam-se os pedregulhos e areias (solos
de partculas grossas) e at mesmo os siltes (partculas intermedirias), e, somente em condies
especiais, as argilas (partculas finas).
a) Agentes da desintegrao mecnica:
I. Variao de temperatura: Pelos quais os materiais desintegrados nas regies ridas, em
virtude da absoro do calor dos raios solares, durante o dia, a temperatura das rochas
chega a alcanar de 60o a 70 oC, at a temperatura local entre 35o a 40oC, essas variaes
de temperaturas afetam as rochas que tem seus minerais, ora em estado de expanso,
ora em estado de contrao. Esses fenmenos causam nas rochas pequenas fraturas que
vo se alargando por se desintegrar;
II. Congelamento de gua: A gua ao se congelar, aumenta seu volume em 10%, exercendo
certa presso. Assim, se as fendas e as aberturas de uma rocha estiverem preenchidas
com gua, esta, ao se congelar, forar suas paredes;
III. Cristalizao de sais: Certas guas circulantes quem contm em soluo sais dissolvidos,
podem se infiltrar nas rochas. Com a evaporao, os sais se precipitam formando slidos,
cristalizando-se, ou seja, obtendo sua forma cbica, hexagonal, etc. Dessa forma,
aumenta o seu volume e exerce certa presso, que pode desagregar as rochas;
IV. Ao fsica de vegetais: Muitas rochas podem desagregar-se pelo crescimento de razes
ao longo de suas fraturas.
V. Vento;
Por decomposio qumica entende-se o processo em que h modificao qumica ou
mineralgica das rochas de origem. O principal agente a gua. As argilas representam o ltimo
produto do processo de decomposio.
b) Agentes da decomposio qumica:
I. Hidrlise: o mais importante agente qumico. Os minerais so dotados de finssimos
capilares. A gua penetra nesses capilares e combinando com ons do mineral, forma
novas substncias;
II. Hidratao: Certos minerais podem adicionar molculas de gua a sua composio,
formando novos compostos. Na hidratao, os minerais tm seus volumes aumentados,
tensionando-se mutuamente, diminuindo a coeso e causando a decomposio das
rochas;
III. Oxidao: Os minerais de decompem pela ao oxidante de O2 e CO2, dissolvidos em
gua, formando hidratos, xidos, carbonatos, etc.;
IV. Carbonatao: Formao de cido carbnico pela presena de CO2 contido na gua;
V. Ao qumica dos organismos e matria orgnica: O produto de decomposio
microbiana e qumica dos detritos orgnicos o Hmus que se transforma dando cido
hmico que, como outros cidos, aceleram grandemente a decomposio das rochas e
solos.
Normalmente esses processos atuam simultaneamente; em determinados locais e condies
climticas, um deles pode ter predominncia sobre o outro. O solo , assim, uma funo da rochamater e dos diferentes agentes de alterao. Os que mantm uma ntida macroestrutura herdada
da rocha da origem so designados por solos saprolticos.
4) Estrutura dos Solos:
Chama-se estrutura ao arranjo ou disposio das partculas constituintes do solo. Conquanto,
ultimamente, tenham surgido novas concepes acerca dos processos de estruturao dos solos,
Mecnica de Solos Conceito, Origem e Formao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
bem como novos tipos de estrutura tenham sido introduzidos, tradicionalmente consideram-se os
seguintes tipos principais:
a) Estrutura granular simples: caracterstica dos pedregulhos e areias, predominando as foras
de gravidade na disposio das partculas, que se apiam diretamente umas sobre as outras;
b) Estrutura alveolar ou em favo de abelha: o tipo de estrutura
comum nos siltes mais finos e em algumas areias. Quando da
formao de um solo sedimentar, um gro cai sobre o
sedimento j formado, devido predominncia da atrao
molecular sobre o seu peso, ele ficar na posio em que se der
o primeiro contato, dispondo-se assim em forma de arcos;
c) Estrutura Floculenta: Nesse tipo de estrutura, que s possvel em solos cujas partculas
componentes sejam todas muito pequenas, as partculas, ao se sedimentarem, dispem-se em
arcos, os quais, por sua vez, formam outros arcos. Trata-se, pois,
de uma estrutura de ordem dupla. Na formao de tais
estruturas, desempenham uma funo importante as aes
eltricas que se desenvolvem entre as partculas, as quais, por
sua vez, so influenciadas pela natureza dos ons presentes no
meio onde se processa a sedimentao. Em geral a estrutura
molecular desses solos aberta, isto , uma das molculas tem
como que uma carga eltrica ainda disponvel, possibilitando,
assim, a formao dessas estruturas;
d) Estrutura em esqueleto: Nos solos
onde, alm de gros finos, h gros
grossos, estes se dispem de maneira
tal a formar um esqueleto, cujos
interstcios so parcialmente ocupados
por uma estrutura de gros mais finos.
o caso das complexas estruturas das
argilas marinhas.
Prof. Glaucione Feitosa
FAUPE
MECNICA DE SOLOS
MDULO 2 NDICES FSICOS
ndices Fsicos
Num solo, s parte do volume total ocupado pelas partculas slidas que se acomodam
formando uma estrutura. O volume restante costuma ser chamado de vazios, embora esteja ocupado
por gua ou ar. Deve-se reconhecer que o solo constitudo de trs fases: partculas slidas, gua e
ar.
O comportamento de um solo depende da quantidade relativa de cada uma das trs fases.
Diversas relaes so empregadas para expressar as propores entre elas. Na figura abaixo, esto
representadas, simplificadamente, as trs fases que normalmente ocorrem nos solos, ainda que, em
alguns casos, todos os vazios possam estar ocupados pela gua. Ainda na figura em questo, as trs
fases esto separadas proporcionalmente aos volumes que ocupam, facilitando a definio e a
determinao das relaes entre elas. Os volumes de cada fase so apresentados esquerda e os
pesos direita.
Va
Ar
Pa
Vw
Lquido
Pw
Vv
Vt
Pt
Vs
Ps
Slidos
Figura 1 - Solo em seu estado natural e separado em volume e peso
Em princpio, as quantidades de gua e ar podem variar. A evaporao pode fazer diminuir a
quantidade de gua, substituindo-a por ar, e a compresso do solo pode provocar a sada de gua e
ar, reduzindo o volume de vazios. O solo, no que se refere s partculas que o constituem, permanece
o mesmo, mas seu estado se altera. As diversas propriedades do solo dependem do estado em que
se encontra. Quando diminui o volume de vazios, por exemplo, a resistncia aumenta.
Para identificar o estado do solo, empregam-se ndices que correlacionam os pesos e os volumes
das trs fases. Estes ndices so os seguintes:
1. Umidade Relao entre o peso da gua e o peso dos slidos, em percentual. representado
pela letra w ou h. Para a sua determinao, pesa-se o solo no seu estado natural, seca-se em
estufa a 105 C at constncia de peso e pesa-se novamente. Tendo-se os pesos nas duas fases, a
umidade calculada. a operao mais freqente em um laboratrio de solos. Os teores de
umidade dependem do tipo de solo e situam-se geralmente entre 10 e 40%, podendo ocorrer
valores muito baixos (solos secos) ou muito altos (150% ou mais).
w (%) =
2.
P
P
100
Onde w (%) =Umidade em percentual; Pw = Peso da gua; Ps = Peso dos slidos;
ndice de Vazios Relao entre o volume de vazios e o volume das partculas slidas. expresso
pela letra e. No pode ser determinado diretamente, mas calculado a partir dos outros ndices.
1
MECNICA DE SOLOS ndices Fsicos
Prof. Glaucione Feitosa
Costuma se situar entre 0,5 e 1,5, mas argilas orgnicas podem ocorrer com ndices de vazios
superiores a 3 (volume de vazios, no caso com gua, superior a e vezes o volume de partculas
slidas).
e= V v
3.
Onde e = ndice de vazios; Vv = Volume de vazios; Vs = Volume das partculas slidas;
Porosidade Relao entre o volume de vazios e o volume total, em percentual. Indica a mesma
coisa que o ndice de vazios. expresso pela letra n. Valores geralmente entre 30% e 70%.
n (%) = V v 100
4.
Onde n (%) = Porosidade; Vv = Volume de vazios; Vt = Volume total;
Grau de Saturao Relao entre o volume de gua e o volume de vazios. Expresso pela letra S.
No determinado diretamente, mas calculado. Varia de 0 (solo seco) a 100% (solo saturado)
S (%) = V w 100
5.
P
V
( w 0)
Onde n = Peso especfico natural; Pt = Peso total; Vt = Volume total;
Peso especfico aparente seco Relao entre o peso dos slidos e o volume total. Corresponde
ao peso especfico que o solo teria se viesse a ficar seco, se isto pudesse ocorrer sem que
houvesse variao de volume. Expresso pelo smbolo d. No determinado diretamente em
laboratrio, mas calculado a partir do peso especfico natural e da umidade. Situa-se entre 13 a
19 kN/m (5 a 7 kN/m no caso de argilas orgnicas moles).
7.
Onde S (%) = Grau de Saturao; Vv = Volume de vazios; Vw = Volume de gua;
Peso especfico natural Relao entre o peso total do solo e seu volume total. expresso pelo
smbolo n. A expresso peso especfico natural , algumas vezes, substituda s por peso
especfico do solo. Tratando-se de compactao do solo, o peso especfico natural
denominado peso especfico mido.
Para sua determinao, molda-se um cilindro do solo cujas dimenses conhecidas permitem
calcular o volume. O peso total dividido pelo volume o peso especfico natural.
O peso especfico natural no varia muito entre os diferentes solos. Situa-se em torno de 19 a 20
kN/m e, por isto, quando no conhecido, estimado como igual a 20 kN/m. Pode ser um pouco
maior (21 kN/m) ou um pouco menor (17kN/m). Casos especiais, como as argilas orgnicas
moles, podem apresentar pesos especficos de 14kN/ m.
6.
P
V
( w = 0)
Onde d = Peso especfico aparente seco; Ps = Peso dos slidos; Vt = Volume total;
Peso especfico aparente saturado Peso especfico do solo se viesse a ficar saturado e se isto
ocorresse sem variao de volume. de pouca aplicao prtica, servindo para a programao
de ensaios ou a anlise de depsitos de areia que possam vir a se saturar. Expresso pelo smbolo
sat, da ordem de 20 kN/m.
sat
P
V
( S = 100%)
Onde sat= Peso especfico aparente saturado; Pt = Peso total; Vt = Volume total;
2
MECNICA DE SOLOS ndices Fsicos
Prof. Glaucione Feitosa
8.
Peso especfico dos slidos uma caracterstica dos slidos. Relao entre o peso das
partculas slidas e o seu volume. expresso pelo smbolo s. determinado em laboratrio para
cada solo.
O peso especfico dos gros dos solos varia pouco de solo para solo e, por si, no permite
identificar o solo em questo, mas necessrio para clculo e outros ndices. Os valores situamse em torno de 27 kN/m, sendo este valor adotado quando no se dispe do valor especfico
para o solo em estudo.
=P ;
s
Onde s = Peso especfico dos solos; Ps = Peso dos slidos; Vs = Volume dos slidos;
9. Peso especfico da gua Embora varie um pouco com a temperatura, adota-se sempre como
igual a 10 kN/m, a no ser em certos procedimentos de laboratrio. expresso pelo smbolo w.
10. Densidade relativa dos gros Relao entre o peso especfico dos slidos e o peso especfico
da gua. expresso pelo smbolo .
= ;
s
Onde = Densidade relativa dos gros; w=Peso especfico da gua; s = Peso especfico dos solos;
11. Peso especfico submerso o peso especfico efetivo do solo quando submerso. Serve para
clculos de tenses efetivas. igual ao peso especfico natural menos o peso especfico da gua,
portanto com valores da ordem de 10 kN/m. expresso pelo smbolo sub.
sub
=
n
Onde sub= Peso especfico submerso; n=Peso especfico natural; w= Peso especfico da gua;
Relao entre os ndices fsicos
Dos ndices vistos acima, apenas trs deles so determinados diretamente em laboratrio: a
umidade, o peso especfico dos gros e o peso especfico natural. Um adotado: o peso especfico da
gua. Os demais so calculados a partir dos determinados.
Tomando a representao hipottica de um solo e seus elementos constituintes e considerando o
volume de slidos como em uma unidade, segue abaixo as relaes entre os ndices fsicos listados
acima:
Conceitualmente, de acordo com a Figura1, tem-se: = + +
, ou seja, V t = V s + V V (1)
V V V142V43
t
ar
VV
Bem como
Ps + Pw + Par ,ou seja ,
= Ps + P w
(2)
a) Relao entre o Vt (Volume Total) e o e (ndice de Vazios)
Se adotar V s = 1 , tem-se que e = V v = V V e =
e dessa forma Vt = Vs + Vv
= 1 + e (3)
b) Relao entre o Pt (Peso Total) e os seguintes ndices: S (Grau de Saturao), e (ndice de
Vazios), w (Peso Especfico da gua) e s (Peso Especfico dos Slidos).
Como P t = P s + P w , podem-se encontrar os valores de Ps e Pw pelas seguintes relaes:
Segundo o conceito do Peso Especfico dos Slidos (s) e considerando que Vs = 1,
tem-se: = P s = Ps = s (4)
s
J para encontrar o Pw (Peso de gua) usa-se o conceito:
Peso=Volume X Peso Especfico, ou seja,
P =V
w
MECNICA DE SOLOS ndices Fsicos
Prof. Glaucione Feitosa
Encontrando Vw :
J que e=Vv e S = V w , tem-se que
S = V w V w = S V v
Inserindo o valor de Vw na frmula
P =V
w
Enfim,
c)
(5)
= S e
P =V
w
, encontra-se
= S e (6)
w
P =P +P
P =
+ S e
(7)
Relao envolvendo o ndice de Vazios (e) e a Porosidade (n):
Segundo o conceito de porosidade, deduz-se a 8 relao
n= V v
Se
e =V v ,
= 1+ e
e substituindo na equao de porosidade, tem-se:
n=
e
1+ e
(8)
d) Relao envolvendo o Peso Especfico Aparente Seco (d), Peso Especfico dos Slidos (s) e o
ndice de Vazios (e):
Segundo o conceito do Peso Especfico Aparente Seco = P s .
d
Se for substitudo na frmula acima o valor da relao 4, Ps = ,e a relao 3, V t = 1 + e , tems
se:
P
V
s
t
1+ e
(9)
e) Outras Relaes:
Assim como nas relaes acima, ou seja, fazendo uso do conceito de ndices fsicos e algumas
dedues, seguem abaixo algumas relaes complementares:
(10)
(11)
sat
(12)
(16)
sub
+ e
1+ w
s
1+ e
S=
(15)
(1 + w)
1+ e
(13) e =
(14)
1+ e
sat
* Relao de medidas: 1KN/m=100Kgf.
Prof. Glaucione Feitosa
FAUPE
MECNICA DE SOLOS
MDULO 3 CARACTERIZAO DOS SOLOS
Caracterizao dos Solos:
1) Composio qumica e mineralgica dos solos
Os minerais encontrados nos solos so os mesmos das rochas de origem (minerais primrios), alm de
outros que se formam da decomposio (minerais secundrios).
Quanto composio qumica dos principais minerais componentes dos solos grossos, grupamo-los em:
a. Silicatos: Feldspato, Mica, Quartzo, Serpentina, Clorita, Talco;
b. xidos: Hematita, Magnetita, Limonita;
c. Carbonatos: Calcita, Dolomita;
d. Sulfatos: Gesso, Anidrita.
Nos solos grossos predominam fragmentos dos minerais sublinhados acima, ou seja, Feldspato, Mica e
Quartzo, conferindo aos solos caractersticas especficas:
a. Quartzo So facilmente identificveis macroscopicamente. Devido a sua estabilidade qumica e
dureza, um dos minerais mais resistentes aos habituais agentes de intemperismo, tais como gua e a
variao de temperaturas; por isso, passa quase inclume da rocha aos solos;
b. Feldspato Sofre decomposio relativamente acentuada pelos agentes da natureza; pela ao da
gua carregada de CO2 caracterstica a alterao em argila branca, denominada caulim.
c. Mica Distinguem-se imediatamente por suas delgadas lminas flexveis e por sua clivagem
(propriedade vetorial dos minerais, que consiste na sua capacidade de se fragmentar segundo planos
paralelos entre si) extremamente fcil.
Entre os solos finos, as argilas apresentam uma complexa constituio qumica, envolvendo a Slica,
Alumnio e Ferro.
As argilas so formadas de pequenssimos minerais cristalinos, chamados de minerais arglicos, dentre os
quais se distinguem trs grupos principais: caolinitas, montmorilonitas e ilitas.
As estruturas dos minerais arglicos compem-se do agrupamento de duas unidades cristalogrficas
fundamentais: a primeira composta por um tomo de Silcio eqidistante de 04 tomos de Oxignio e a
segunda com um tomo de Alumnio no centro envolvido por seis de Oxignio. A forma de associao dessas
02 unidades cristalogrficas que d origem as espcies de minerais arglicos.
a. Caolinitas: So formadas por unidades de Silcio e Alumnio, que se unem alternadamente, conferindolhes uma estrutura rgida. Em conseqncia, as argilas caolinticas so relativamente estveis em
presena de gua.
b. Montmorilonitas: So formadas por uma unidade de Alumnio entre duas unidades de Silcio. A ligao
entre essas unidades, no sendo suficientemente firme para impedir a passagem de molculas de
gua, torna as argilas montmorilonticas muito expansivas e, portanto, instveis em presena de gua.
c. Ilitas: So estruturalmente anlogas as Montmorilonitas, sendo, porm menos expansivas.
Superfcie Especfica: a soma das superfcies de todas as partculas contidas na unidade de volume (ou de
peso) do solo.
Desse modo, pode-se concluir que quanto mais fino o solo, maior a sua superfcie especfica, o que
constitui uma das razes da diferena entre as propriedades fsicas dos solos arenosos e argilosos.
2) Estado das Areias Compacidade:
O estado em que se encontra uma areia pode ser expresso pelo seu ndice de vazios. Este dado isolado,
entretanto, fornece pouca informao sobre o comportamento da areia, pois, com o mesmo ndice de
vazios, uma areia pode estar compacta e outra fofa. necessrio analisar o ndice de vazios natural de uma
areia em confronto com os ndices de vazios mximo e mnimo em que ela pode se encontrar.
MECNICA DE SOLOS Caracterizao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
Se uma areia pura, no estado seco, for colocada cuidadosamente em um recipiente, vertida atravs de um
funil com pequena altura de queda, por exemplo, ela ficar no seu estado mais fofo possvel. Pode-se, ento,
determinar seu peso especfico e dele calcular o ndice de vazios mximo.
Vibrando-se uma areia dentro de um molde, ela ficar no seu estado mais compacto possvel. A ele
corresponde o ndice de vazios mnimo.
Os ndices de vazios mximos e mnimos dependem das caractersticas da areia. Valores tpicos esto
indicados na tabela abaixo.
Tabela 1-Valores tpicos de ndices de vazios de areias.
Descrio da Areia
Areia uniforme de gros angulares
Areia bem graduada de gros angulares
Areia uniforme de gros arredondados
Areia bem graduada de gros arredondados
emin
0,70
0,45
0,45
0,35
emax
1,10
0,75
0,75
0,65
O estado de uma areia, ou sua compacidade, pode ser expresso pelo ndice de vazios em que ela se
encontra, em relao a estes valores extremos, pelo ndice de compacidade relativa
CR = emax enatural ;
emax emin
Onde CR= ndice de compacidade relativa; emax=ndice de vazios mximo; emin=ndice de vazios mnimo;
enatural=ndice de vazios natural;
Tabela 2-Classificao das areias segundo a compacidade.
Classificao
Areia fofa
Areia de compacidade mdia
Areia compacta
CR
Abaixo de 0,33
Entre 0,33 e 0,66
Acima de 0,66
Em geral, as areias compactas apresentam maior resistncia e menor deformabilidade. Estas
caractersticas, entre as diversas areias, dependem tambm de outros fatores, como a distribuio
granulomtrica e o formato dos gros. Entretanto, a compacidade um fator importante.
3) Estado das Argilas Consistncia:
O comportamento de uma argila pode variar muito em funo de seu teor de umidade.
Uma argila extremamente seca no moldvel; se, entretanto, for adicionado pequenas quantidades de
gua, ela vai se tornando mais suscetvel deformao.
A partir de certo teor de umidade h1, o material torna-se plstico, permitindo a moldagem sob formas
diversas, sem variao de volume. Se continuar a adicionar gua, o corpo vai se tornando cada vez mais mole,
at que ao atingir um teor de umidade h2, passar a atuar como lquido viscoso.
Esses so, portanto, os estados de consistncia do solo e que podem ser representados em um sistema
linear, como mostra a figura abaixo.
Tenso
Ideal
Real
Deformao
Tenso
Ideal
Real
Deformao
Tenso
Ideal
Real
Deformao
MECNICA DE SOLOS Caracterizao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
Os limites h1 e h2 que indicam justamente as mudanas dos estados de consistncia foram introduzidos na
Mecnica dos Solos por Atterberg, onde h1 o Limite de Plasticidade e h2, o Limite de Liquidez.
Estados de Consistncia:
a. Estado Lquido: O solo tem aparncia e propriedades de uma suspenso ou de um fluido viscoso;
b. Estado Plstico: O solo se comporta plasticamente;
c. Estado Semi-Slido: O solo tem uma aparncia de um slido, mas ainda diminui de volume ao perder
umidade;
d. Estado Slido: O solo no diminui de volume ao perder umidade.
ESTADO LQUIDO
ESTADO PLSTICO
ESTADO SEMI-SLIDO
ESTADO SLIDO
h (%)
LL
(LIMITE DE LIQUIDEZ)
LP
(LIMITE DE PLASTICIDADE)
IC
(LIMITE DE CONSISTNCIA)
Consistncia das Argilas:
Quando se manuseia uma argila, percebe-se certa consistncia, ao contrrio das areias que se desmancham
facilmente. Por esta razo, o estado em que se encontra uma argila costuma ser indicado pela resistncia que
ela apresenta.
A consistncia das argilas pode ser quantificada por meio de um ensaio a compresso simples, que consiste
na ruptura por compresso de um corpo de prova de argila, geralmente cilndrico. A carga que leva o corpo de
prova ruptura, dividida pela rea deste corpo denominada resistncia compresso simples da argila.
Em funo da resistncia compresso simples, a consistncia das argilas expressa pelos termos
apresentados na tabela abaixo.
Tabela 3-Consistncia em funo da resistncia compresso
Consistncia
Resistncia, em kPa
Muito Mole
< 25
Mole
25 a 50
Mdia
50 a 100
Rija
100 a 200
Muito rija
200 a 400
Dura
> 400
ndice de Consistncia:
Quando uma argila se encontra remoldada, o seu estado pode ser expresso por seu ndice de vazios.
Entretanto, como muito comum que as argilas se encontrem saturadas, e neste caso o ndice de vazios
depende diretamente da umidade, o estado em que a argila se encontra costuma ser expresso pelo teor de
umidade. At porque a umidade da argila determinada diretamente e o seu ndice de vazios calculado a
partir desta, variando linearmente com ela.
Da mesma maneira como o ndice de vazios, por si s, no indica a compacidade das areias, o teor de
umidade, por si s, no indica o estado das argilas. necessrio analis-lo em relao aos teores de umidade
correspondentes a comportamentos semelhantes. Estes teores so os limites de consistncia.
Quando se manuseia uma argila e se avalia sua umidade, o que se percebe no propriamente o teor de
umidade, mas a umidade relativa.
Para indicar a posio relativa da umidade aos limites de mudana de estado, Terzaghi props o ndice de
consistncia, com a seguinte expresso:
LL w
IC =
;
LL LP
Onde IC= ndice de consistncia; LL=Limite de Liquidez; w=umidade;
LP=Limite de Plasticidade;
Quando o teor de umidade igual ao LL, IC=0. medida que o teor de umidade diminui, o IC aumenta,
ficando maior do que 1 quando a umidade fica menor do que o LP.
3
MECNICA DE SOLOS Caracterizao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
O ndice de consistncia especialmente representativo do comportamento de solos sedimentares.
Quando estes solos se formam, o teor de umidade muito elevado e a resistncia muito reduzida. medida
que novas camadas se depositam sobre as primeiras, o peso deste material provoca a expulso da gua dos
vazios do solo, com a conseqente reduo do ndice de vazios e o ganho de resistncia. Da mesma forma,
quando uma amostra de argila seca lentamente, nota-se que ela ganha resistncia progressivamente.
Tem sido proposto que a consistncia das argilas seja estimada por meio do ndice de consistncia,
conforme tabela abaixo. Esta tabela apresenta valores aproximados e aplicvel a solos remoldados e
saturados.
Tabela 4-Estimativa da consistncia pelo ndice de consistncia
Consistncia
ndice de Consistncia
Mole
< 0,5
Mdia
0,5 a 0,75
Rija
0,75 a 1,0
Dura
> 1,0
O ndice de consistncia no tem significado quando aplicado a solos no saturados, pois eles podem estar
com elevado ndice de vazios e baixa resistncia e sua umidade se baixa, o que indicaria um ndice de
consistncia alto.
4) Identificao ttil-visual dos solos:
Com muita freqncia, seja porque o projeto no justifica economicamente a realizao de ensaios de
laboratrio, seja porque se est em fase preliminar de estudo, em que ensaios de laboratrio no so
disponveis, necessrio descrever um solo sem dispor de resultados de ensaios. O tipo de solo e o seu
estado tm de ser estimados. Isto feito por meio de uma identificao ttil-visual, manuseando-se o solo
e sentindo sua reao ao manuseio.
Cada profissional deve desenvolver sua prpria habilidade para identificar os solos. S a experincia
pessoal e o confronto com resultados de laboratrio permitiro o desenvolvimento desta habilidade.
O primeiro aspecto a considerar a provvel quantidade de grossos (areia e pedregulho) existente no solo.
Gros de pedregulho so bem distintos, mas gros de areia, ainda que visveis individualmente a olho nu, pois
tm dimetros superiores a cerca de um dcimo de milmetro, podem se encontrar envoltos por partculas
mais finas. Neste caso, podem ser confundidos com agregaes de partculas argilo-siltosas.
Para que se possa sentir nos dedos a existncia de gros de areia, necessrio que o solo seja umedecido,
de forma que os torres de argila se desmanchem. Os gros de areia, mesmo que menores, podem ser
sentidos pelo tato no manuseio.
Se a amostra de solo estiver seca, a proporo de finos e grossos pode se estimada esfregando-se uma
pequena poro do solo sobre a folha de papel. As partculas finas (siltes e argilas) se impregnam no papel,
ficando isoladas as partculas arenosas.
Definido se o solo uma areia ou um solo fino, resta estimar se os finos apresentam caractersticas de siltes
ou de argilas. Alguns procedimentos para esta estimativa so descritos a seguir:
a. Resistncia a seco: Umedecendo-se uma argila, moldando-se uma pequena pelota irregular (dimenses
da ordem de 2 cm) e deixando-a secar ao ar, esta pelota ficar muito dura e, quando quebrada, se
dividir em pedaos bem distintos. Ao contrrio, pelotas semelhantes de siltes so menos resistentes e
se pulverizam quando quebradas;
b. Sharking Test: Formando-se uma pasta mida (saturada) de silte na palma da mo, quando se bate
esta mo contra a outra, nota-se o surgimento de gua na superfcie. Apertando-se o torro com os
dedos polegar e indicador da outra mo, a gua reflue para o interior da pasta ( semelhante aparente
secagem da areia da praia, no entorno do p, quando nela se pisa no trecho saturado bem junto ao
mar). No caso de argilas, o impacto das mos no provoca o aparecimento de gua;
c. Ductilidade: Tentando moldar um solo com umidade em torno do limite de plasticidade nas prprias
mos, nota-se que as argilas apresentam-se mais resistentes quando nesta umidade do que nos siltes;
MECNICA DE SOLOS Caracterizao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
d. Velocidade de secagem: A umidade que se sente de um solo uma indicao relativa ao LL e LP do solo.
Secar um solo na mo do LL at o LP, por exemplo, tanto mais rpido quanto menor o intervalo entre
os dois limites, ou seja, o IP do solo.
informao relativa ao tipo de solo deve-se acrescentar a estimativa de seu estado. A consistncia de
argilas mais fcil de ser avaliada pela resistncia que uma poro do solo apresenta ao manuseio. A
compacidade das areias e de mais difcil avaliao, pois as amostras mudam de compacidade com o
manuseio. necessrio que se desenvolva uma maneira indireta de estimar a resistncia da areia no seu
estado natural. Estes parmetros geralmente so determinados pela resistncia que o solo apresenta ao
ser amostrado pelo procedimento padronizado nas sondagens.
Prof. Glaucione Feitosa
FAUPE
MECNICA DE SOLOS
MDULO 4 CLASSIFICAO DOS SOLOS
Classificao dos Solos:
Como material da natureza que , o solo necessita de ser identificado e classificado a fim de ser objeto de
pesquisa e aplicao em projetos. Todo problema de solos inicia-se, portanto, com o enquadramento, dentro
de uma classificao escolhida do solo ou solos em questo. Aps isso que o problema se define, e ento
possvel levar-se adiante a sua formulao e soluo. Os clculos de qualquer projeto de engenharia
envolvendo solos sero baseados nas propriedades especficas da classe a que pertence. Compreende-se da a
importncia da classificao do material em Mecnica dos Solos.
At 1950, o problema da classificao dos solos era muito controvertido devido a diferenas de mtodos
utilizados, existindo por isso vrias classificaes. Isto motivou a reunio da ASTM e nela foram confrontados
os diferentes mtodos, sugerindo a partir desta data uma tendncia de uso de um sistema americano (Bureau
of Public Roads) e a classificao de Casagrande que atualmente j mais conhecida como classificao
unificada (Bureau of Reclamation).
O conhecimento das classificaes de solos, incluindo as propriedades tpicas dos diversos grupos,
fundamental para os responsveis pela prospeco, quer de fundaes de estruturas, quer de emprstimos de
terras para a construo.
Sendo a classificao de solos baseada em alguns coeficientes, ela ser til nos problemas em que aqueles
coeficientes assumam importncia especial para o projeto, o importante conhecer o comportamento do
solo, no devendo uma classificao pretender, por si s substituir os estudos que indicaro aquele
comportamento.
So abordadas algumas classificaes e suas aplicaes a seguir.
1) Classificao quanto estrutura
a. Estrutura Granular Simples: caracterstica das areias e pedregulhos, predominncia das foras de
gravidade na disposio das partculas, que se apiam diretamente uma sobre as outras;
b. Alveolar ou Em Favo de Abelha: o tipo da estrutura comum a siltes mais finos e em algumas areias,
predominncia da atrao molecular, dispondo-se em forma de arco;
c. Floculenta: Nesse tipo de estrutura, que s possvel em solos cujas partculas componentes sejam
todas muito pequenas, as partculas ao sedimentarem tomam forma de arcos;
d. Em esqueleto: Nos solos onde, alm de gros finos, h gros grossos, estes se dispem de tal maneira a
formar um esqueleto, cujos interstcios so parcialmente ocupados por uma estrutura de gros mais
finos.
2) Classificao Granulomtrica
Com vrias finalidades, inclusive as de agricultura, costuma-se classificar o solo simplesmente por
granulometria, o que insuficiente para Mecnica dos Solos. Ela suficiente somente para aqueles solos cujo
tamanho de gros to grande que impede o aparecimento de propriedades correlacionadas com a
plasticidade (solos grossos).
Para a classificao granulomtrica utilizam-se as prprias curvas granulomtricas indicando a finura do
solo e a forma da curva ou ento se recorre aos diagramas triangulares, muito teis para fins de agricultura,
mas pouco til para Mecnica dos Solos.
A classificao granulomtrica requer o conhecimento das escalas granulomtricas. As mais utilizadas so a
da ABNT e a escala internacional.
ABNT
Pedregulho Conjunto de partculas cujas dimenses (dimetros equivalentes) esto compreendidos entre
76 e 4,8 mm;
Areia - Conjunto de partculas cujas dimenses (dimetros equivalentes) esto compreendidos entre 4,8 e
0,05 mm;
MECNICA DE SOLOSSOLOS- Classificao dos Solos
CARACTERSTICA
Prof. Glaucione Feitosa
Silte - Conjunto de partculas cujas dimenses (dimetros equivalentes) esto compreendidos entre 0,05 e
0,005 mm;
Argila - Conjunto de partculas cujas dimenses (dimetros equivalentes) so inferiores a 0,005;
A anlise granulomtrica, ou seja, a determinao das dimenses das partculas do solo e das propores
relativas em que elas se encontram, representada, graficamente, pela curva granulomtrica. Esta curva
traada por pontos em um diagrama semi-logartmico, no qual, sobre o eixo das abscissas, so marcados os
logaritmos das dimenses das partculas e sobre o eixo das ordenadas as porcentagens, em peso, de material
que tem dimenso mdia menor que a dimenso considerada.
O diagrama adotado, alm de representar melhor a parte do solo de granulao fina, tal que a forma da
curva a mesma para os solos que tm composio granulomtrica semelhante, ainda que as dimenses das
partculas difiram.
Segundo a forma da curva podemos distinguir os diferentes tipos de granulometria. Assim, tem-se
granulometria contnua (CURVA A) ou descontnua (CURVA B); uniforme (CURVA C); bem graduada (CURVA A)
ou mal graduada, conforme apresente, ou no, o predomnio das fraes grossas e suficiente porcentagem das
fraes finas.
3) Classificao Unificada dos Solos
Em 1952, o Bureau of Reclamation e o Corps of Engineers, com o professor A. Casagrande como
consultor, elaboraram uma classificao de solos, baseada numa anterior de autoria de A. Casagrande, a que
chamaram Classificao Unificada dos Solos. Esta classificao bastante utilizada. uma classificao
descritiva e de fcil aplicao, leva em considerao as propriedades dos solos, e tem a flexibilidade de poder
ser adaptvel quer ensaios de campo quer a de laboratrio.
A sua grande vantagem reside no fato de ser um exame visual e manual simples e poder permitir a
classificao com eventual colaborao da anlise laboratorial.
A Classificao Unificada dos Solos baseada no tamanho das partculas e suas quantidades, e nas
caractersticas da frao fina. Em linhas gerais, os solos so classificados neste sistema em trs grandes grupos:
a. SOLOS GROSSOS: Aqueles cujo dimetro da maioria absoluta dos gros maior que 0,05 mm (mais que
50% em peso dos gros so retidos na peneira no 200);
b. SOLOS FINOS: Aqueles cujo dimetro da maioria absoluta dos gros menor que 0,05 mm;
c. TURFAS: Solos altamente orgnicos geralmente fibrilares e extremamente compressveis.
Neste sistema, todos os solos so identificados pelo conjunto de duas letras, como apresentado na tabela
abaixo: A primeira letra indica o tipo principal do solo e a segunda corresponde a dados complementares dos
solos.
Ex:
SW Areia bem graduada;
CH Argila de alta compressibilidade.
Encontra-se os Pedregulhos, as areias e os solos pedregulhosos ou arenosos com
pequenas quantidades de finos (silte ou argila)
SOLOS
G Pedregulho
GROSSOS
S Areia
W Bem Graduado
P Mal Graduado
Encontram-se os solos finos: siltosos ou argilosos de baixa compressibilidade (LL<50) ou
alta compressibilidade (LL>50)
C Argila
SOLOS
M Silte
FINOS
O Orgnico
L Baixa Compressibilidade
H Alta Compressibilidade
Solos altamente orgnicos
TURFAS
Pt - Turfas
Como roteiro para classificar o solo dessa forma, segue esquema em anexo.
2
MECNICA DE SOLOSSOLOS- Classificao dos Solos
Prof. Glaucione Feitosa
4) Classificao do HRB
A classificao do HRB (Highway Research Board), originria da classificao do Public Administration muito usada pelos engenheiros rodovirios, classifica os solos em oito grupos com alguns subgrupos, em
funo da granulometria, plasticidade e do ndice de Grupo IG. Os solos so designados pelos smbolos A-1 a A8.
CLASSES A-1 a A-3;
a. Solos Grossos Quando P200 <35%
CLASSES A-4 a A-7;
b. Solos Finos Quando P200 >35%
c. Solos Orgnicos ou Turfosos Constitudos de solos finos com matria orgnica, cor preta ou fibrosa,
constitudas por matrias carbonosas e combustveis quando secos
CLASSE A-8.
A-1 Solo grosso com uma ligeira proporo de finos, suficiente apenas para preencher parcialmente os
vazios entre os gros de areia e cimentar os gros entre si, porm muito pequena para induzir mudana de
volume na massa do solo, como conseqncia das variaes do teor de umidade;
A-2 So semelhantes aos solos A-1, porm menos granulados, de modo que ou no so to bem
cimentados, ou so mais suscetveis as variaes de volume decorrentes de mudanas no teor de umidade;
A-3 Solos constitudos de areias e pedregulhos sem finos, capazes de ciment-los;
A-4 Solos formados por siltes e argilas com graus variveis de plasticidade;
A-8 So formados por turfas altamente compressveis e argilas com um alto teor de matria orgnica.
PONTOS CHAVES PARA A CLASSIFICAO
P10 Porcentagem passando na peneira no 10;
P40 Porcentagem passando na peneira no 40;
P200 Porcentagem passando na peneira no 200;
LL Limite de Liquidez;
IP ndice de Plasticidade;
IG ndice de Grupo (nmero inteiro variando de 0 a 20, definidor da capacidade de suporte do terreno de
fundao de um pavimento.
SISTEMA DE CLASSIFICAO DO H.R.B
Classificao
Geral
Grupos
Subgrupos
P10
P40
P200
LL
IP
ndice de
Grupo (IG)
Tipos de
Material
Classificao
como
subleito
A-1
Solos Granulares
(P200 < 35%)
A-3
A-2
A-2-4 A-2-5 A-2-6
A-1-a
< 50
< 30
< 15
A-1-b
< 50
< 25
>50
< 10
<6
0
<6
0
NP
0
Fragmentos de
pedras,
pedregulho e
areia
Areia
Fina
< 35
< 40
< 10
0
< 35
> 40
< 10
0
< 35
< 40
> 10
<4
A-4
A-2-7
< 35
> 40
> 10
<4
Pedregulhos e areias siltosas
ou argilosas
EXCELENTE A BOM
Solos Silto-Argilosos
(P200 > 35%)
A-5
A-6
A-7
A-7-5; A-7-6
> 35
< 40
< 10
<8
> 35
> 40
< 10
< 12
Solos siltosos
> 35
< 40
> 10
< 16
> 35
> 40
> 10
< 20
Solos argilosos
REGULAR A MAU
Prof. Glaucione Feitosa
FAUPE
MECNICA DE SOLOS
MDULO 5 PROSPECO DE SUBSOLO
Prospeco de Subsolo:
Para os projetos de engenharia, deve ser feito um reconhecimento dos solos envolvidos para a sua
identificao, avaliao de seu estado e, eventualmente, para amostragem visando realizao de ensaios
especiais.
1. Sondagem de Simples Reconhecimento
O mtodo mais comum de reconhecimento do subsolo a Sondagem de Simples Reconhecimento, que
objeto de uma Norma Brasileira, a NBR-6484.
A sondagem consiste essencialmente em dois tipos de operao: perfurao e amostragem.
a. Perfurao acima do nvel dgua
A perfurao do terreno iniciada com trado tipo cavadeira, com 10 cm de dimetro. Repetidas
operaes vo aprofundando o furo e o material recolhido vai sendo classificado quanto sua
composio. O esforo requerido para a penetrao do trado d uma primeira indicao da consistncia
ou compacidade do solo, mas uma melhor informao sobre este aspecto ser obtida com a
amostragem que costuma ser feita de metro em metro de perfurao, ou sempre que ocorre mudana
de material.
Atingida certa profundidade, introduz-se um tubo de revestimento, com duas e meia polegadas de
dimetro, que cravado com o martelo que ser tambm usado para a amostragem. Por dentro deste
tubo, a penetrao progride com trado espiral.
b. Determinao do nvel dgua
A perfurao com trado mantida at ser atingido o nvel dgua, ou seja, at que se perceba o
surgimento de gua no interior da perfurao ou no tubo de revestimento. Quando isto ocorre, registrase a cota do nvel dgua e interrompe-se a operao, aguardando-se para determinar se o nvel se
mantm na cota atingida ou se ele se eleva no tubo de revestimento. Se isto ocorrer, indicao de que
a gua estava sob presso. Aguarda-se o nvel dgua ficar em equilbrio e registra-se nova cota. A
diferena entre esta e a cota em que foi encontrada a gua indica a presso a que est submetido o
lenol.
c. Perfurao abaixo do nvel dgua
Depois de atingido o nvel dgua, a perfurao pode prosseguir com a tcnica de circulao de gua,
tambm conhecida como percusso e lavagem. Uma bomba dgua motorizada injeta a gua na
extremidade inferior do furo, atravs de uma haste de menor dimetro, por dentro do tubo de
revestimento. Na extremidade deste, existe um trpano com ponta afiada e com dois orifcios pelos
quais a gua sai com presso.
A haste interna repetidamente levantada e deixada cair de cerca de 30 cm. A sua queda
acompanhada de um movimento de rotao imprimido manualmente pelo operador. Estas aes
provocam o destorroamento do solo no fundo da perfurao. Simultaneamente, a gua injetada pelos
orifcios do trpano ajuda a desagregao e, ao retornar superfcie, pelo espao entre a haste interna e
o tubo de revestimento, transporta as partculas do solo que foram desagregadas.
De metro em metro, ou sempre que se detectar alterao do solo pelos detritos carreados pela gua de
circulao, a operao suspensa e realiza-se uma amostragem. O material em suspenso trazido pela
lavagem no permite boa classificao do solo, mas mudanas acentuadas do tipo de solos so
detectveis.
A perfurao por lavagem mais rpida do que pelo trado. Ela s pode ser empregada abaixo do nvel
dgua porque acima dele estaria alterando a umidade do solo e, conseqentemente, as condies de
amostragem.
MECNICA DE SOLOS Prospeco de Subsolo
Subsolo
Prof. Glaucione Feitosa
d. Amostragem
Para amostragem, utiliza-se um amostrador padro, que constitudo de um tudo com 50,8 mm (duas
polegadas) de dimetro externo e 34,9 mm de dimetro interno, com a extremidade cortante biselada.
A outra extremidade, que fixada haste que a leva at o fundo da perfurao, deve ter dois orifcios
laterais para a sada de gua e ar, e uma vlvula constituda por uma esfera de ao.
O amostrador conectado haste e apoiado no fundo da perfurao. A seguir, cravado pela ao de
uma massa de ferro fundido (martelo) de 65 kg. Para a cravao, o martelo elevado a uma altura de 75
cm e deixado cair livremente. O alteamento do martelo feito manualmente ou por meio de
equipamento mecnico, atravs de uma corda flexvel que passa por uma roldana existente na parte
superior do trip. A cravao do amostrador no solo obtida por quedas sucessivas do martelo, at a
penetrao de 45 cm.
A amostra colhida submetida a exame ttil-visual e suas caractersticas principais so anotadas. Estas
amostras so, ento, guardadas em recipientes impermeveis para anlises posteriores.
MECNICA DE SOLOS Prospeco de Subsolo
Subsolo
Prof. Glaucione Feitosa
e. Resistncia a penetrao SPT
Durante a amostragem, so anotados os nmeros de golpes do martelo necessrios para cravar cada
trecho de 15 cm do amostrador. Desprezam-se os dados referentes ao primeiro trecho de 15 cm e
defini-se a resistncia penetrao como sendo o nmero de golpes necessrios para cravar 30 cm do
amostrador, aps aqueles primeiros 15 cm.
A resistncia penetrao tambm referida como o nmero N do SPT ou simplesmente, como SPT do
solo, sendo SPT as iniciais de Standard Penetration Test.
Quando o solo to fraco que a aplicao do primeiro golpe do martelo leva a uma penetrao superior
a 45 cm, o resultado da cravao deve ser expresso pela relao deste golpe com a respectiva
penetrao.
Em funo da resistncia penetrao, o estado do solo classificado pela compacidade, quando areia
ou silte arenoso, ou pela consistncia, quando argila ou silte argiloso. As classificaes, fruto da
experincia acumulada, dependem da energia efetivamente aplicada ao barrilete amostrador,
conseqente da maneira como o martelo acionado.
Resistncia penetrao (SPT)
0a4
5a8
9 a 18
18 a 40
Acima de 40
Compacidade da areia
Muito fofa
Fofa
Compacidade mdia
Compacta
Muito compacta
Resistncia a penetrao (SPT)
<2
3a5
6 a 10
11 19
>19
Consistncia da argila
Muito mole
Mole
Consistncia mdia
Rija
Dura
f. Apresentao de resultados
Os resultados so apresentados em perfis do subsolo, onde so apresentadas as descries de cada solo
encontrado, as cotas correspondentes a cada camada, a posio do nvel dgua (ou nveis) e sua
eventual presso, a data em que foi determinado o nvel dgua e os valores da resistncia penetrao
do amostrador. Quando no ocorre penetrao de todo o amostrador, registra-se o SPT em forma de
frao (ex.: 30/14 para cada 30 golpes houve penetrao de 14 cm).
Sondagens feitas com proximidade permitem o traado de sees do subsolo, em que se ligam as cotas
de materiais semelhantes na hiptese de que as camadas sejam contnuas.
MECNICA DE SOLOS Prospeco de Subsolo
Subsolo
Prof. Glaucione Feitosa
Você também pode gostar
- Questoes Com Respostas Metodo de Ensino de QuimicaDocumento4 páginasQuestoes Com Respostas Metodo de Ensino de Quimicalaiza100% (2)
- MV 004 01 PT Ecoplus CompactDocumento8 páginasMV 004 01 PT Ecoplus CompactjoaoAinda não há avaliações
- Recursos Minerais Industriais e Energéticos ProvaDocumento26 páginasRecursos Minerais Industriais e Energéticos ProvaClaudio dos Reis Siqueira100% (1)
- 3 AULA - Dureza RockwellDocumento12 páginas3 AULA - Dureza RockwellAnderson TallesAinda não há avaliações
- Treinemanto SMT ProcessoDocumento12 páginasTreinemanto SMT ProcessoDavis GarciaAinda não há avaliações
- Aula Ligas Metálicas Uma Visão GeralDocumento110 páginasAula Ligas Metálicas Uma Visão GeralFelipe RufattoAinda não há avaliações
- Estudo Da Prova de Ciências 6º Ano Mater Março de 2024Documento4 páginasEstudo Da Prova de Ciências 6º Ano Mater Março de 2024andreapedagogauepb59Ainda não há avaliações
- Gerenciamento de Resíduos SólidosDocumento42 páginasGerenciamento de Resíduos SólidosGuilherme Saad100% (1)
- Resolucao Da Lista de Exercicios 5 - Pureza e Rendimento - 1 Bimestre 2013 - 2 SeriesDocumento4 páginasResolucao Da Lista de Exercicios 5 - Pureza e Rendimento - 1 Bimestre 2013 - 2 SeriesPaula MenezesAinda não há avaliações
- API 650 Proj Tanque de Soda DiluidaDocumento15 páginasAPI 650 Proj Tanque de Soda Diluidabraviross_418157489100% (4)
- Manual Aquecedores de Agua A Gas GWH160250e325Documento12 páginasManual Aquecedores de Agua A Gas GWH160250e325Luiz Magri0% (1)
- ÂncorasDocumento9 páginasÂncorasEvandro Machado100% (1)
- 7.0 - Cap. 07 - Conf. Plástica e RecristalizaçãoDocumento67 páginas7.0 - Cap. 07 - Conf. Plástica e RecristalizaçãoPedro ViniciusAinda não há avaliações
- VINSQ Apresentacao 05 2023 1Documento9 páginasVINSQ Apresentacao 05 2023 1Pedro OliveiraAinda não há avaliações
- Avaliação de Ricos Indústrias Na Cidade Da Matola-Zebedeu SiquelaDocumento10 páginasAvaliação de Ricos Indústrias Na Cidade Da Matola-Zebedeu SiquelaZebedeu SiquelaAinda não há avaliações
- Aula03-Lista de Equipamentos e MA3veis - Restaurante PopularDocumento35 páginasAula03-Lista de Equipamentos e MA3veis - Restaurante PopularMatheus BenderAinda não há avaliações
- FT - 98.00 - Fleet Color EpoxiDocumento1 páginaFT - 98.00 - Fleet Color EpoxiPhilippe Harsady100% (1)
- Icp OesDocumento19 páginasIcp OesMaria Clara de Oliveira100% (1)
- Sayerlack - FL.6264.883H - Primer Pu Off White PDFDocumento14 páginasSayerlack - FL.6264.883H - Primer Pu Off White PDFDiêgo SouzaAinda não há avaliações
- Aço 9250Documento61 páginasAço 9250-Ainda não há avaliações
- FLEXUS 9211-ptBR-ASTMDocumento1 páginaFLEXUS 9211-ptBR-ASTMAlexandre OliveiraAinda não há avaliações
- CFG Quimica 2016 2017Documento4 páginasCFG Quimica 2016 2017OliviaAinda não há avaliações
- 6 Dobras e FalhasDocumento37 páginas6 Dobras e FalhasSandra CardosoAinda não há avaliações
- Slides Materiais de ConstruçãoDocumento34 páginasSlides Materiais de ConstruçãoSarah SaidAinda não há avaliações
- Rima CTDR de GuarabiraDocumento70 páginasRima CTDR de GuarabiraMatheus RochaAinda não há avaliações
- Dokumen - Tips Komatsueo15w40Documento7 páginasDokumen - Tips Komatsueo15w40Winkler JoséAinda não há avaliações
- Projeto e Cálculo de Pontes de Concreto Armado - IME - Cap II - Parte BDocumento70 páginasProjeto e Cálculo de Pontes de Concreto Armado - IME - Cap II - Parte Bdigo_msfloresAinda não há avaliações
- AV 2º Bimestre Química 1° AnoDocumento2 páginasAV 2º Bimestre Química 1° AnoValessaAinda não há avaliações
- Procedimentos Teste de Cabo - CristalDocumento11 páginasProcedimentos Teste de Cabo - CristalCharles GenerosoAinda não há avaliações
- Pré LabDocumento7 páginasPré LabDaianne ArrudaAinda não há avaliações