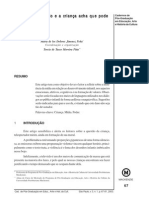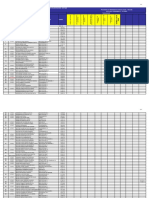Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Historia Da Crianca
A Historia Da Crianca
Enviado por
Ana Karina V. FerreiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Historia Da Crianca
A Historia Da Crianca
Enviado por
Ana Karina V. FerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A HISTRIA DA CRIANA - DA IDADE MDIA AOS TEMPOS MODERNOS O SURGIMENTO DO SENTIMENTO DA INFNCIA
Marcelo Uchoa
Sentimento da infncia particularidade infantil .
corresponde
uma
conscincia
da
Este texto apresenta as idias desenvolvidas por Aris sobre a concepo da infncia ao longo dos tempos. Partindo da Idade Mdia, o autor analisa como a criana era vista pela sociedade medieval que a ignorava enquanto criana e o surgimento e posterior desenvolvimento de certos sentimentos em relao a criana pequena. Aris aprofunda-se no estudo das sociedades e mostra-nos o surgimento dos mecanismos que conduziram a mudanas de atitude com relao a criana e o posterior surgimento do que pode si chamar de sentimento da infncia. Na Idade Mdia esse sentimento no existia. Quando a criana no precisava mais do apoio constante da me ou da ama, ela j ingressava na vida adulta, isto , passava a conviver com os adultos em suas reunies e festas. Essa infncia muito curta fazia com que as crianas ao completarem cinco ou sete anos j ingressasse no mundo dos adultos sem absolutamente nenhuma transio. Ela era considerada um adulto em pequeno tamanho, pois executava as mesmas atividades dos mais velhos. Era como se a criana pequena no existisse. A infncia, nesta poca, era vista como um estado de transio para a vida adulta. O indivduo s passava a existir quando podia se misturar e participar da vida adulta. No se dispensava um tratamento especial para as crianas, o que tornava sua sobrevivncia difcil. Segundo Molire, grande gnio do teatro, contemporneo daquela poca, a criana muito pequena, demasiado frgil ainda para se misturar vida dos adultos, no contava, porque podia desaparecer. A morte de crianas era encarada com naturalidade. perdi dois filhos pequenos, no sem tristeza, mais sem desespero, afirmava Montaigne. Todas as criana, a partir dos sete anos de idade, independente de sua condio social, eram colocadas em famlias estranhas para aprenderem os servios domsticos. Os trabalhos domsticos no eram considerados degradantes e constituam uma forma comum de educao tanto para os ricos como para os pobre. O primeiro sentimento que surge em relao a infncia a paparicao. Ele surge no meio familiar, na companhia das crianas pequenas. As pessoas no hesitam mais em admitir o prazer provocado pelas maneiras das crianas pequenas, o prazer que sentem em paparic-las. Com o tempo esse hbito expandiu-se e no s mais entre os bem-nascidos mais, tambm, j junto ao povo ele pde ser observado. A criana por sua ingenuidade, gentileza e graa, se torna uma fonte de distrao e de relaxamento para os adultos. Esse hbito provoca reaes crticas as mais diversas. No fim do sculo XVI e sobretudo no sculo XVII, alguns considervel insuportvel a ateno que se dispensava ento s crianas. Exasperavam-se com a maneira como paparicavam as crianas. Esse sentimento de exasperao era to novo quanto a prpria paparicao.
O segundo sentimento da infncia a surgir e desenvolver-se foi a tomada de conscincia da inocncia e da fraqueza da infncia. Este veio de uma fonte exterior a famlia. Foram os eclesisticos, os homens da lei e os moralistas do sculo XVII que primeiro deram-se conta da necessidade de uma ateno especial a infncia. Eles recusavam-se a considerar as crianas como brinquedos encantadores. Viam nelas, frgeis criaturas de Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar. Esse sentimento depois passa para a famlia. No sculo XVIII a famlia passa a reunir os dois elementos antigos associados a um terceiro e novo elemento: a preocupao com a higiene e a sade fsica. Esta aproximao pais-crianas, gerou um sentimento de famlia e de infncia que outrora no existia, e a criana tornou-se o centro das atenes, pois a famlia comeou a se organizar em torno dela. No incio do sculo XVII, foram multiplicadas as escolas com a finalidade de aproxim-las das famlias, impedindo desse modo, o afastamento pais-criana. Neste sculo tambm foi criando para a criana um traje especial que a distinguia dos adultos. A afetividade, a especializao de um traje para os meninos e a incorporao de castigos corporais entre as crianas formaram os primeiros sentimentos de infncia e introduziram os primeiros mecanismos de distino entre a criana e o adulto, levando ao incio do reconhecimento da infncia como um estgio de desenvolvimento merecedor de tratamento especial. Nos sculos XVI e XVII os escolares eram vistos como pertencentes ao mesmo mundo picaresco dos soldados, criados, e de um modo geral, dos mendigos. Foi necessrio a presso dos educadores para separar o escolar do adulto bomio. A noo de criana bem educada no existia no sculo XVI, formou-se no sculo XVII atravs de vises reformadoras dessa elite de pensadores e moralistas que ocupavam funes eclesisticas ou governamentais. Com essa preocupao a criana bem educada seria preservada das rudezas e da imoralidade, que se tornariam traos especficos das camadas populares e dos moleques. Os moralistas e educadores conseguiram impor seu sentimento grave de uma infncia longa graas ao sucesso das instituies escolares e as prticas de educao que eles orientaram e disciplinaram. Os verdadeiros inovadores foram os reformadores escolsticos do sculo XV, o cardeal dEstouteville, Gerson, os organizadores dos colgios e pedagogias e, finalmente, acima de tudo, os jesutas, oratorianos e os jansenistas do sculo XVII. Durante muito tempo a escola ficou alheia a repartio e distino das idades. Seu objetivo essencial no era a educao da infncia. Ela era uma espcie de escola tcnica destinada a instruo dos clrigos, jovens ou velhos. Era comum ver-se adultos e, at mesmo ancio, junto com crianas pequenas formando uma s turma. A partir do sculo XV, e sobretudo nos sculos XVI e XVII, apesar da persistncia da atitude medieval de indiferena idade, o colgio iria dedicar-se essencialmente educao e a formao da juventude, inspirado-se em elementos de psicologia (Cordier, na Ratio dos jesutas e na literatura pedaggica de PortRoyal).
Percebemos que a disciplina escolar teve sua origem na disciplina eclesistica ou religiosa. Essa caracterstica, a introduo da disciplina, a diferena essencial entre a escola da Idade Mdia e o colgio dos tempos Modernos. A partir do sculo XVIII, a escola nica foi substituda por um sistema de ensino duplo, em que cada ramo correspondia no a uma idade, mas a uma condio social: O liceu ou o colgio para os burgueses (secundrio) e a escola para o povo (primrio).
BIBLIOGRAFIA: ARIS, Philippe. Histria social da criana e da famlia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1981. FAZOLO, Eliane; CARVALHO, Maria Cristina; LEITE, Maria Isabel; KRAMER, Sonia. Histria e poltica da educao infantil. Sonimar C. de Faria; in: Educao infantil em curso. Rio de Janeiro: Editora Ravil, 1997. (p. 09 a 37).
Você também pode gostar
- Avatares Cosmicos - Micah Sananda Jesus - Rodrigo Romo - 1Documento130 páginasAvatares Cosmicos - Micah Sananda Jesus - Rodrigo Romo - 1Adriana Jussara100% (12)
- Hierarquia Do Inferno PDFDocumento260 páginasHierarquia Do Inferno PDFJanaina Leal50% (4)
- O Desdobramento Da Consciência - Joel Goldsmith - Trad G SDocumento147 páginasO Desdobramento Da Consciência - Joel Goldsmith - Trad G SHelena100% (2)
- Introdução Ao Direito Do Consumidor MODULO VIDocumento10 páginasIntrodução Ao Direito Do Consumidor MODULO VIAdriana Carvalho de Lima100% (1)
- Sao CiprianoDocumento53 páginasSao CiprianoFilipe AraújoAinda não há avaliações
- Batalha Espiritual Guerra Contra Os Santos Tomo 1 Jessie Penn Lewis1Documento53 páginasBatalha Espiritual Guerra Contra Os Santos Tomo 1 Jessie Penn Lewis1Magda GomesAinda não há avaliações
- Apresentação Da Obra "Catequese de Adultos de Inspiração Catecumenal"Documento8 páginasApresentação Da Obra "Catequese de Adultos de Inspiração Catecumenal"Correia1234Ainda não há avaliações
- A Midia Pode Tudo e A Crianca Acha Que PodeDocumento15 páginasA Midia Pode Tudo e A Crianca Acha Que PodeSebastião AlmeidaAinda não há avaliações
- Colecao 6V - Bernoulli Resolve - Filosofia - Volume 1 PDFDocumento12 páginasColecao 6V - Bernoulli Resolve - Filosofia - Volume 1 PDFgeanmail9845Ainda não há avaliações
- 20 Dicas para Mediuns de UmbandaDocumento46 páginas20 Dicas para Mediuns de Umbandananda_fj100% (4)
- Epistemologia Idealismo AlemaoDocumento17 páginasEpistemologia Idealismo AlemaoMarcus Vinicios P da SilvaAinda não há avaliações
- GÓRGIAS - Elogia de HelenaDocumento14 páginasGÓRGIAS - Elogia de HelenaAlvaro CruzAinda não há avaliações
- As Heresias Medievais - ApresentaçãoDocumento31 páginasAs Heresias Medievais - ApresentaçãoDiêmersom Bento de AraújoAinda não há avaliações
- Os Navios Dos DescobrimentosDocumento22 páginasOs Navios Dos Descobrimentospedropedro1954100% (1)
- RENASCIMENTO REFORMA EsquemaDocumento7 páginasRENASCIMENTO REFORMA EsquemaOazinguito FerreiraAinda não há avaliações
- Jerusalém Celeste - Fabio ThainesDocumento5 páginasJerusalém Celeste - Fabio ThainesFabio ThainesAinda não há avaliações
- Casamento JudaicoDocumento11 páginasCasamento Judaicoppjonas100% (2)
- Oracoes Preparatorias 2016Documento5 páginasOracoes Preparatorias 2016Schell MariaAinda não há avaliações
- Cante de Coração para Jeová - Sem PautaDocumento193 páginasCante de Coração para Jeová - Sem PautaJOCIEL DE OLIVEIRA PEREIRAAinda não há avaliações
- A Farsa Do ComunismoDocumento1 páginaA Farsa Do Comunismoamjr1001Ainda não há avaliações
- Divaldo - Celeiro de Bencaos-Joanna de AngelisDocumento129 páginasDivaldo - Celeiro de Bencaos-Joanna de Angeliszfrneves100% (1)
- Índice Por Nomes Dos Cânticos PDFDocumento108 páginasÍndice Por Nomes Dos Cânticos PDFAnonymous mJFiqHzgdAinda não há avaliações
- O Evangelho de NicodemosDocumento31 páginasO Evangelho de NicodemosMichael OliveiraAinda não há avaliações
- Guia de Novos Animes de Outubro 2021 - IntoxiAnimeDocumento4 páginasGuia de Novos Animes de Outubro 2021 - IntoxiAnimeIgor BeirigoAinda não há avaliações
- História Metodismo Buyers PDFDocumento265 páginasHistória Metodismo Buyers PDFRicksantamartaAinda não há avaliações
- Treinamentos RECICLAGEMDocumento11 páginasTreinamentos RECICLAGEMAdailson LimaAinda não há avaliações
- Tabela Classes GramaticaisDocumento1 páginaTabela Classes Gramaticaislorenaspinto25Ainda não há avaliações
- 7 Principios Do Sucesso - Will SmithDocumento2 páginas7 Principios Do Sucesso - Will SmithRafael MotaAinda não há avaliações
- Gênesis 1 - ACF - Almeida Corrigida Fiel - Bíblia OnlineDocumento5 páginasGênesis 1 - ACF - Almeida Corrigida Fiel - Bíblia OnlinePedro Luiz Dias da RosaAinda não há avaliações
- Magia ElementalDocumento113 páginasMagia ElementalPepêAinda não há avaliações