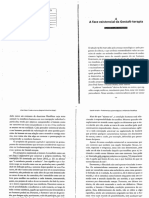Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Epicurismo e Estoicismo
Epicurismo e Estoicismo
Enviado por
Catarina VazTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Epicurismo e Estoicismo
Epicurismo e Estoicismo
Enviado por
Catarina VazDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HELENSTICA
Uma tima oportunidade de confirmar o valor de verdade da expresso historicidade da filosofia, tomar contato com o perodo de transio da filosofia antiga e clssica grega para o pensamento filosfico da poca helenstica. Podemos constatar o quanto o ambiente humano cultural pode participar da construo dos modelos de verdade, para que nele o homem se apie, dando segurana e sentido sua prpria existncia. O movimento do pensamento auto-gerador. Na mesma proporo que gera alterao no ambiente cultural mais amplo, recebe de volta o motivo da auto-reflexo e reformula novamente o sentido para seu mundo fsico e espiritual. Fluxo e refluxo que pulsa a energia humana gerando o movimento histrico-cultural do qual a filosofia participa como a ferramenta eficiente e, no mundo a partir dos pr-socrticos,mais necessria. O grande evento histrico da transformao ocorrida na grcia clssica e que marca a transio para a poca helenstica foi a expedio de Alexandre Magno no perodo de 334 a 323 a.C. Foram radicais mudanas em todo o esprito do mundo grego por desfazerem uma das maiores realizaes, no s entre os gregos mas, de toda a humanidade: a criao e o estabelecimento da Polis como o espao pblico para o exerccio da cidadania, na qual o homem livre cumpria sua obrigao de decidir os rumos do seu estado. Como para o grego da poca clssica sua vida privada se confundia com sua condio de cidado, a totalidade de sua existncia transcorria no exerccio da cidadania; na plis. Toda a const ruo de um ideal se desfazia sob um outro que se impunha pela fora. As antigas concepes, fundamentais para o antigo modelo de vida, alicerada na espiritualidade da moral refletida pela tica, que culminava no pensamento de Plato e Aristteles, desaparecia deixando em seu lugar o vazio que o novo habitante, j nem tanto cidado, deveria preecher. As novas monarquias helensticas, nascidas da dissoluo do imprio de Alexandre, so instveis; mas as mudanas ocorridas com a perda de importncia da plis, no causaram reaes por parte dos indivduos sob o novo regime. No houve uma troca de instituies e, aos gregos de agora, o status de sdito substitue o de cidado no sentido clssico. Seu querer est ausente dos interesses do estado e as novas virtudes so de ordem tcnica, desenvolvida por habilidades especficas profissionais e no de contedos ticos das virtudes civis do passado. A administrao pblica foi profissionalizada e emprega o funcionrio, o soldado ou o mercenrio. Entre o funcionrio pblico e o tcnico est aquele que no estando numa posio, nem noutra, vive uma atitude de desinteresse e at de averso pelas coisas do estado. Assim, por necessidade, novos pensamentos despontam do novo meio para repor o homem em um novo trajeto traado por ele mesmo. As novas filosofias vo refletir as novas condies de existncia pondo o estado e a poltica entre as coisas indiferentes e at evitveis. Em 146 a.C.; a grcia torna-se uma provncia romana. O pensamento grego volta-se para o ideal de cosmopolitismo abandonando definitivamente sua relao com a plis. Sem a plis onde se praticava a democracia, o novo homem se descobre como indivduo. A nova identidade trz ao indivduo sua p opria forma de moldar seu perfil moral, com a implicao que isso pode trazer num regime individualista. Os excessos pelo egosmo so o fruto da separao entre a tica e a poltica. interessante notar que, entre os gregos, at em Aristteles sobreviveu a idia de denominao de brbaros para os estrangeiros. Considerados incapazes de cultura, eram julgados inferiores e sem qualificaes para atividades livres. Mas na difuso da cultura grega
por outros povos e raas a cultura helnica torna-se helenstica; o contato com outras culturas, como sempre observvel, traz assimilaes de elementos externos para a cultura helnica. Esse movimento de assimilao cultural vai participar muito intimamente das novas formulaes filosficas, surgindo o fenmeno do ecletismo. No contato com a diversidade cultural dos vrios povos, percebe-se o que existe de comum a todos: o problema moral. Grandes respostas aos problemas humanos sero criadas nessa poca e se tornaro paradigmas espirituais da humanidade para sempre. Entre as escolas dessa fase da histria da filosofia esto o Epicurismo e o Estoicismo.
EPICURISMO
O epicurismo foi uma das respostas dadas pelas escolas filosficas, ao momento histrico em que vivia a grcia da poca helenstica. A primeira em ordem cronolgica, surgiu em Atenas por volta do fim do sculo IV a.C. Seu fundador, Epicuro, nasceu em Samos em 341 a.C. Tendo ensinado em Clofon, Mitilene e Lmpsaco transferiu sua escola para Atenas. Os sucessores de Plato na Academia e de Aristteles no Liceu, estavam deturpando os ensinamentos de seus mestres, oque no passou despercebido por Epicuro, que sabia ter algo novo pra dizer. Embora o passado de importncia das escolas de Plato e Aristteles estavam prximas no tempo, estavam distantes do esprito dos novos eventos. Uma possibilidade de revoluo espiritual para Epicuro. A novidade revolucionria, que acompanhava o pensamento de Epicuro, comeava pelo espao dedicado escola: um prdio com um jardim nos subrbios de Atenas. Longe do barulho da cidade, o silncio do campo se adequava melhor mensa gem do filsofo.
Proposies gerais do filsofo do jardim: a) A realidade perfeitamente penetrvel e cognoscvel pela inteligncia do homem. b) Nas dimenses do real existe espao para a felicidade do homem. c) A felicidade falta de dor e perturbao. d) Para atingir essa paz e esse felicidade, o homem s precisa de si mesmo. e) No lhe servem absolutamente a cidade, as instituies, a nobresa, as riquezas, todas as coisas e nem mesmo os deuses: o homem perfeitamente autrquico. Como escreve Giovanni Reale: no contexto desta mensagem, todos os homens so iguais, porque todos aspiram paz de esprito, todos tm direito a ela e todos podem atingi la, se quiserem. Em consequncia disso,para nobres ou no, livres ou no, homens ou mulheres e at prostitutas em busca de redeno, os jardins esto de portas abertas. O movimento epicurista no era de cunho intelectualista mas, um modo de vida fundamentado na razo. partir dos jardins, irradiava um movimento comparado ao missionrio pois, a casa funcionava como um centro de propaganda da filosofia epicreia. Se movermos o movimento do epicurismo para o campo da f, poderemos dizer que a f epicreia uma f ligada dimenso do mundo natural e fsico, que nega toda
transcendncia, a metafsica da segunda navegao de Plato e todo desenvolvimento Aristotlico. A tripartio da filosofia em lgica, fsica e tica adotada por Epicuro, em que a lgica estabelece as leis segundo as quais reconhecemos a verdade; a fsica estuda a constituio da realidade; a tica estuda a felicidade e os meios para alcan-la. A existncia das duas primeiras d-se em funo da terceira. Para Epicuro os sentidos eram os mensageiros do ser e, s os sentidos podiam captar toda a verdade do ser de modo infalvel. Temia que se descobrise uma nica sensao metirosa, por tornar todas elas iguais. Apresentava os seguintes argumentos para a veracidade absoluta de todas as sensaes: 1.A sensao uma alterao e, em consequncia, passiva; produzida por alguma c oisa da qual o efeito correspondente e adequado. 2.A sensao objetiva e verdadeira, porque produzida e garantida pela prpria estrutura atmica da realidade. As coisas emanam de si complexos de tomos que constituem imagens ou simulacros, as sensaes so exatamente esses simulacros penetrando em ns. 3.A sensao a-racional, incapaz de retirar ou acrescentar qualquer coisa a si mesma sendo, por isso, objetiva. O segundo critrio de verdade para Epicuro so as prolpses, antecipaes ou pr noes, as imagens mentais que as coisas deixam registradas nas mente, como memria da experincia com o objeto que exterior. Na futura presena do objeto ou, at mesmo na sua ausncia, a sensao participa com a impressa deixada em nossa mente por o casio da primeira experincia; a prolpse. Prazer e dor so o terceiro critrio de verdade pelas mesmas razes que so as sensaes. Por ser critrio de distino entre ser e no-ser, verdadeiro e falso, tambm critrio de escolha entre bem e mal e, portanto, critrio de ao tica. A evidncia imediata do valor de verdade pelas sensaes, prolpses e sentimenos de prazer e dor, so possibilidades de excluso de enganos pelos nosso sentidos por qu as sensaes no podem nos enganar. As coisas no podem mostrar oque no tm, nem acrescentar ou retirar algo de si mesmas. Mas o raciocnio no pode ir direto ao ser porque uma operao mediada pelos sentidos, assim pode ocorrer o engano da opinio que nasce dessa mediao. Para distinguir as opinies verdadeiras das falsas, Epicuro determina que so verdadeiras as opinies que:: 1.Recebem testemunho comprobatrio, confirmado pela experincia e evidncia. 2.No recebem testemunho contrrio, no recebem desmentido da experincia e da evidncia. So falsas as opines que: 1.Recebem testemunho contrrio. 2.No rcebem testemunho probante.
A fsica epicreia
Para Epicuro a evidncia o parmetro de reconhecimento da verdade. Trata da evidncia -se emprica do ser, e no como este aparece razo. Mas essa evidncia insuficiente e inadequada para corroborar os conceitos bsicos da fsica epicreia. tomos, vazio e queda dos corpos no so evidentes por si s, por no serem sensorialmente perceptveis. Mas Epicuro tenta contornar o problema argumentando que essas coisas so opinadas e supostas para explicar os fenmenos por estarem de acordo com eles. Porm muitos outros f enmenos poderiam se beneficiar da falta de testemunhos contrrios. A resposta no tem, pois, validade lgica. Diz Epicuro: Se no nos perturbasse o pavor dos fenmenos celeste e da morte, algo que nos toca de perto, e se no perturbasse o desconhecimento dos limites dos prazeres e das dores, no teramos necessidade da cincia da natureza. Essa viso do objetivo das cincias naturais estabelece a necessidade da fundamentao da tica. Essa a finalidade da fsica. Epicuro procura uma viso geral da realidade e seus princpios. No cria uma nova ontologia. Busca nos pr-socrticos as figuras teorticas necessrias sua proposta materislista. A Fsica epicreia se fundamenta em: a) Nada nasce no no-ser; pois tudo poderia gerar-se partir do nada. Nada se dissolve no nada; pois tudo poderia se reduzir ao nada, As duas proposies negadas seriam um absurdo. b) A totalidade da realidade constituda essencialmente por dois componentes: os corpos e o vazio. A existncia dos corpos provada pelos prprios sentidos. O espao intudo partir dos corpos. O espao no um absoluto no-ser mas, propriamente espao. Nada existe fora das duas possibilidades. c) Opondo-se a Plato e Aristteles, Epicuro concebe a realidade como infinita. Totalidade infinita de corpos e vazio. d) Alguns corpos so compostos, outros so simples e indivisveis. A soluo atmica necessria, pois do contrrio, levaria admisso da divisibilidade dos corpos ao infinito e dissoluo ao no-ser que para Epicuro uma absurdo.
Difrerenas entre as concepes de tomos dos antigos atomistas e Epicuro: 1.Na concepo dos antigos as cractersticads fundamentais do tomo eram a figura, a ordem e a posio. Para Epicuro as caractersticas so a figura, o peso e a grandeza. As diferentes formas atmicas explicam as diversas qualidades fenomnicas. A grandeza dos tomos tambm participam na diversidade. 2.Para Epicuro todos os tomos so indivisveis fsica e ontologicamente. No entanto, pelo fato de serem corpos dotados de figura, portanto de extenso e grandezas diversas, implicam que eles tenham partes. Mas no so partes separveis entre si ontologicamente, mas lgica e idealmente por serem indivisveis. Mesmo a grandeza das partes atmicas so limitadamente redutveis para no contrariarem o princpio da reduo ao nada. A esse limite de redutibilidade Epicuro chama de mnimo, que a unidade de medida do tomo, do espao, do tempo, do movimento e da queda dos corpos. Unidade de medida analgica. 3.A terceira diferena do modelo atmico epicreio em relao ao movimento e exige
imaginao para visualiza-lo. Esse movimento se d de cima para baixo; um movimento de queda no infinito devido ao peso dos tomos, sem que a diferena de peso implique na velocidade que se equipara do pensamento. Epicuro introduz a teoria da declinao dos tomos ( clinmem) para explicar que os tomos podem se desviar a qualquer momento e em qualquer ponto do espao para encontrar outros tomos.
Epicuro precisa ajustar toda sua proposta de forma que no fira o conceito de liberdade. No mundo materialista anterior, tudo era definitivamente estabelecido pela necessidade unversal. Mas num mundo onde se pretende que a vontade humana deva ser dirigida pela tica e a moral, a teoria do destino no pode se firmar. No h lugar para tamanha contradio por serem excludentes. Se h uma, no pode existir a outra. Mas no mundo moral de Epicuro o sbio se faz na liberdade da vontade prpria. Mas a contradio em Epicuro no est ausente de todo. A queda dos tomos nesta teoria, sugere que eles so gerados no no ser, oque contradiz a base da filosofia epicreia, que predica que, do nada,nada procede. Logo o mundo fsico de Epicuro um mundo de casualidade, pois no est vinculado a leis; e a liberdade s pode ser encontrada no mundo superior do espiritual e no no mundo fsico. Existe infinitos mundos pois, infinitos so os princpios atmicos. Nessa infinidade de mundos h mundos iguais e diferentes deste nosso. Essa infinidade de mundos acontece na infinidade dos tempos infinitos. Todos nascem e dissolvem-se lenta ou rapidamente. Como so infinitas as possibilidades neste munfo infinito, todas elas so presentes e o mundo em si, permanece sempre o mesmo com todos os seus componentes. Mas nenhuma inteligncia ou finalidade est presente neste configurao do universo, pois o mesmo o resultado do fenmeno do clinmen, fortuito e casual. A alma um agregado de tomos. Esses so em parte gneos, aeriformes e ventosos que constituem a parte irracional e lgica da alma, a outra parte de tomos diversos, sem nome especfico e constituem a parte racional. A alma no eterna, mas mortal. Consequncia do materialismo do sistema. Para Epicuro os deuses so reais, mas no se ocupam dos homens. Vivem nos intermundos, falam uma lngua parecida ao grego, que lngua de sbios. So numerosos e transcorrem a vida em alegria, nutridos por suas sabedorias e companhias. Para o filsofo, os conhecimento que temos dos deuses evidente e incontestvel, possudo por todos, em todos os tempos e lugares e, produzidos por eflvios e simulacros que provm deles como conhecimento objetivo. Na filosofia epicreia h problemas sem soluo lgica. As dificuldades esto nas bases dessa proposio filosfica. Para Epicuro existem os corpos e o vazio mas, os deuses, que so imortais, no podem estar sujeitos corrupo dos corpos e, no entanto, no podem tambm pertencer ao no-ser, que em Epicuro o vazio propriamente. A soluo est em pr os deuses numa situao mdia entre as duas possibilidades. Os deuses passam a ser quase corpos e quase almas. uma soluo precria, para justificar o materialismo da teoria. O estatuto diferenciado dos deuses leva em considerao a condio especial da quase matria dos compostos dos deuses. Epicuro justifica a condio imortal divina como o movimento eterno dos eflvios nos deuses. Assim os tomosespeciais que preenchem o campo ou simulacro de um deus so eternamente substitudos por outros. Isso de forma alguma contorna o problema e, muito menos o resolve.
A tica epicuria
Para Epicuro, se no h intermedirios entre os corpos e o vazio, o bem deve ser, necessariamente, material. O pazer est entre as duas extremidades de uma escala de excessos: entre a dor e a euforia; na quietude. As dores psquicas so superiores s fsicas pois, mais durveis nas ressonncias interiores. Entre a (aponia) dor no corpo e a (ataraxia) perturbao da alma, est o verdadeiro bem, que deve ser buscado pelo homem. A natureza o bem imediato a ele e, nela que ele deve encontrar o seu bem, que o seu prazer. Esta uma opo refletida pela razo humana que se apia numa tica racional e exige a liberdade da aa verdadeiramente moral. As antecedncias do prazer epicreio, no cam inho de busca do bem, so uma vida exercida sob os princpios do comedimento. O prazer no est nas festas orgisticas e nos excessos de todo tipo mas, na sobriedade que perscruta as consequncias de cada ao e decide pela melhor escolha. A melhor escolha a que expulsa as falsas opinies que levam ao sofrimento da alma; no elege o gozo em detrimento da sabedoria que evita a dor. Portanto mais que na liberdade, est na responsabilidade de guiar a vontade para atingir o bem.
Para atingir a aponia e a ataraxia Epicuro distingue: 1.Prazeres naturais e necessrios. - entre esses prazeres esto includos apenas aqueles que so nescessrios conservao da vida, que so os nicos verdadeiramente vlidos. Incluem-se neles: comer quasndo se tem fome, beber quando se tem sede e, repousar quando se est cansado.O desejo e o prazer do amor so fontes de perturbao da alma e portanto, esta fora do grupo. 2.Prazeres naturais e no necessrios. - neste grupo se encontram as variaes suprfluas dos prazeres que c onservam a vida como:comer bem, beber com refinamento, vestir-se com elegncia etc. 3.Prazeres no naturais e no necessrios. - neste grupo se encontram os prazeres que so totalmente dispensveis s nescessidades da conservao da vida como riqueza, poder, honra etc. Os prazeres do primeiro grupo so os nicos que podem ser satisfeitos, pois tm por natureza um preciso limite e consiste na eliminao da dor. Os do segundo grupo consistem no grau de prazer que podem oferecer e justamente por isso, podem causar danos e dor. Os do terceiro grupo so totalmente dispensveis para a vida e outra coisa no oferecem que no seja a dependncia e a dor psicolgica. Toda a necessidade humana est em satisfazer a dor imediata que causa a fome, a sede e a falta de abrigo. A felicidade pois, est em refrearmos nossos apetites e desejos do suprfluos dispensveis porque bastamos -nos a ns mesmos e nisso se encontra a maior riqueza e felicidade.
Os males: Fsicos se so leves, so suportveis e no interferam de todo em nossa possibilidade de felicidade. Se agudo, passa logo. Se agudssimo, conduz logo morte, o que elimina toda a dor. Psquicos so erros e produtos de opinies falazes da mente. A observncia de uma vida nos princpios da moral epicuria o remdio para os males da alma.
Morte a morte s um mal quando nutrimos falsas opinies sobre ela.A morte no mais que a dissoluo dos compostos alma e corpo. Os compostos fsicos se degradam no ambiente e toda conscincia cessa, no restando nada do homem. No restando nada do homem, nada pode estar no seu alm, assim nenhuma expectativa legtima. Nada a vida leva do homem, pois nada ele teve de eterno e nem ele eterno.
Poltica
A poltica nada trs ao homem que no seja dor para alma, atravs das iluses de riqueza e poder. no crcere dos desejos e das ambies que o homem aprisiona sua vida quando se submete poltica e compromete a aponia e a ataraxia. O bem no est na coroa real mas, na ausncia das perturbaes e dores que o homem pode e deve evitar, se retirando para dentro de si mesmo. A justia deve ser um valor til para Epicuro. O estado,agora tutor dos valores vitais, no deve existir seno em funo da sua utilidade para a vida comum. Portanto no tem um valor absoluto e no mais o que fora no passado em que o homem no se separava da sua condio de cidado. Sua interpretao para a lei, justia e direito, est em anttese com a filosofia clssica grega e as teses de Plato e Aristteles em que o estado era guardio dos valores morais. A Amizade encontra em Epicuro seu justificador. O nico lao admitido entre os homens a amizade. Lao livre que unem pessoas com interesses e objetivos comuns. Na amizade o indivduo encontra seu outro eu, igual a si mesmo, e se encontra. De todas as coisas que a sabedoria busca, em vista de uma vida feliz, o maior bem a amizade; A amizade anda pela terra anunciando a todos que devemos acordar para dar alegria uns aos outros.
Os quatro remdios e o ideal do sbio
1.So vos os temores em relao aos deuses e ao alm. 2.O pavor em relao morte absurdo, pois ela no nada. 3.Se entendemos corretamente o prazer, ele est disposio de todos. 4.O mal dura pouco ou facilmente suportvel. Epicuro mostrou aos homens do seu tempo, necessitados pelas condies gerais histricas, que possvel encontrar a felicidade. Que ela deve ser buscada onde pode ser encontrada: no interior da prpria pessoa. Para aquele tempo ou para esse, Epicuro mostrou uma resposta que no deve ser ignorada. A razo pode e deve ser uma ferramenta de construo da felicidade.
ESTOICISMO
Zena, nascido em Ctio, na ilha de Chipre por volta de 333 a.C. o fundador da mais famosa escola da poca helenstica no fim do sculo IV a.C. em Atenas. Conhecida como Esto ou Jardim, por ocupar um prtico pois, Zeno no era cidado ateniense e no podia portanto, ter propriedades em atenas. Seus seguidores foram chamados de os da Esto, os do Prtico ou de Esticos. Conhecia os antigos fsicos e absorveu conceitos de Herclito. Para Zeno a filosofia era a arte de viver, como em Epicuro. Fundamentava-se num universal materialismo e dispensava qualquer transcendncia. Mas embora compartilhasse alguns conceitos com Epicuro, no aceitava algumas solues epicreias. Tornando-se um ferrenho opositor dos dogmas da escola. No aceitava por exemplo, a reduo do mundo material, incluindo nele o homem, a um modelo acsico de concentrao de matria, nem a idia da reduo do bem ao prazer. Foi, juntamente com sua escola, quem derrubou muitas teses epicuristas. Apesar das diferenas, as duas escolas se moviam no mesmo plano de negao da transcendncia e no em planos filosficos diferentes. Admitia a discussa crtica dos dogmas dos fundadores e isso promoveu considervel evoluo nas escola; ao contrrio do ocorrido na escola epicuria. So identificados trs perodos na histria da Esto: 1.Antiga Esto - fins do sculo IV a todo o sculo III a.C. No qual a filosofia da escola foi desenvolvida e sistematizada pela trade: Zena, Cleato de Assos e Crsipo de Solis, o qual, fixou a doutrina deste primeiro estgio da escola. 2.Mdia Esto - Desenvolve-se entre o sculo II e I a.C. E se cracteriza por infiltrao ecltica na doutrina. 3.Nova Esto - conhecida tambm por Esto romana, j na era crist, na qual a doutrina faz-se essencialmente meditao moral com tons religiosos, acompanhando o esprito dos novos tempos.
A lgica estica
Tanto o fundador, como sua escola, aceitam a tripartio da filosofia estabelecida pela Academia. Comparam-na a um pomar, no qual a lgica o muro que o circunda, representando sua delimitao e defesa. As rvores, sendo a razo de sua existncia, e como que sua estrutura, representam a fsica. Os frutos so a finalidade do conjunto e representam a tica. A lgica e a fsica existem para a tica. Como em epicuro, os esticos concebem que lgica compete o fornecimento do critrio de verdade. A sensao, que impresso dos objetos impressa em nossos rgos se nsoriais, a base do conhecimento. As sensaes, transmitidas pelos rgos alma, gera nela a representao. Mas nossa alma, atravs do logos que a habita, deve assentir e no apenas sentir a representao. A representao no uma escolha voluntria porm, uma ao independente da coisa sobre nossos sentidos. No entanto, estamos livres para tomar posio
diante das impresses e representaes, dando-lhes ou no, assentimento (synkatthesis) do nosso logos. S quando damos nosso assentimento que temo a apreenso (katlepsis). A s apreenso que recebe nosso assentimento representao compreensiva ou cataltica, sendo o nico critrio ou garantia de verdade. Para os esticos o logos teria uma certa autonomia em relao s sensaes. E a representao cataltica seria um reconhecimento pelo logos da evidncia e realidade do objeto pelas sensaes. Mas a liberdade de assentimento apenas um reconhecimento do esprito sobre o objeto e sua opo pelo sim ou pelo no sua evidncia objetiva. Ainda nest a direo do pensamento estico, o objeto atravs da representao cataltica, exerce uma ao material e corprea sobre nossa alma; por sua vez, a mesma ao exercida pela alma sobre o objeto. Disso resulta que a prpria verdade seria material. Mas os esticos admitem que passaramos da representao cataltica para a formulao de conceitual, inteleco. O ser no estoicismo corpreo e individual mas, como o universo no pode ser corpreo, ento incorpreo no sentido de realidade vazia de ser.
A fsica estica
No estoicismo antigo a fsica uma forma de materialismo monista e panteista. O ser aquilo que tem capacidade de agir e de sofrer. Ser e corpo so idnticos. As virtudes, os vcios, o bem e a verdade tambm so corpreos. No universo h dois princpios: um passivo e outro ativo. Matria e forma, ou propriamente um princpio enformante. So princpios inseparveis. O princpio enformante ativo, a Razo divina, o Logos ou Deus. A matria a substncia sem qualidade. Deus eterno o princpio que penetra toda realidade sendo inteligncia, alma e natureza. O fogo artfice identificado com o Deus-physis-logos, com o heracliano raio que tudo governa ou o pneuma, que sopro ardente, ar dotado de calor. O fogo sendo o princpio que tudo penetra, o calor imprescindvel de todo nascimento, crescimento e toda forma de vida. Deus (corpreo), penetra toda realidade( corprea), atravs do dogma da mescla total dos corpos. Admitem a divisibilidade dos corpos ao infinito, de modo que seja possvel dois corpos fundirem-se num s. Tese que coincide com a penetrabilidade dos corpos. As razes seminais so as razes do logos, considerado como o smem de todas as coisas, formados pelos logi spermatoki. Todas as razes vm de Deus, fogo artfice, que procede a gerao do cosmo e possui todas as razes seminais que gera todas as coisas, segundo o fado divino. O Logos nico e opera no interior de tudo como smens criativos e fora germinativa no interior da matria. O universo um nico organismo em que todas as partes se harmonizam entre si e com o todo. Teoria da simpatia universal. Sendo a matria inseparvel da forma e, sendo Deus o princpio ativo na matria, Deus est em tudo e tudo. Deus o cosmos. Se tudo produzido pelo princpio imanente do Logos que divino. Tudo racional e como deve ser e no pode ser de outra forma. O conjunto perfeito e no pode deixar de s -lo. As coisas, em si mesmas imperfeitas, esto no conjunto perfeito. A (Pronoia) providncia estica, devido ao finalismo universal, faz com que cada coisa seja como deve ser. Essa providncia coincide com o artfice imanente, a alma do mundo. Essa idia leva a previdncia
estica Necessidade, Fado, Destino do mundo. Mas os esticos entendiam esse destino como ordem irreversvel, natural e necessria de todas as coisas. Necessidade segundo a razo. Como o logos imanente, tudo necessrio e tambm perfeito. Ao contrrio de Epicuro, os esticos concebem tudo como necessrio. Diante de toda causa definida e definitiva do mundo a liberdade se torna possvel ajustando-se ao que necessrio. Se tudo racional, perfeito e necessrio, o melhor para a liberdade humana adequar ao logos imanente ao -se mundo.
A tica do estoicismo
A mais significativa produo filosofica dos esticos est no campo da tica. Por mais de quinhentos anos o mundo soube ouvir a mensagem eficaz do estoicismo. Para a escola, como para o epicurismo, a felicidade est em viver segundo os princpios da natureza. A observao dos seres vivos nos mostra que todos tendem a auto-conservao; evitando o que contrrio sua sobrevivncia e assimilando o favorvel sua conservao. Ao inconsciente nos vegetais e plantas, impulsivo e instintivo nos animais, e consciente no homem, no qual interfere a racionalidade. Desse princpio, deve ser deduzida a tica. O viver uma vida tica para o homem um viver conciliado com a natureza, a qual porta o logos divino, imanente toda matria. Portanto o viver humano um viver conciliado com a razo plena. Posto que toda vida persegue o melhor para si mesma, considerando sua auto -conservao,e isto originalmente primrio no ser vivo, bem aquilo que conserva e incrementa nosso ser e,ao contrrio, malaquilo que o danifica e o diminui. Como o homem se diferencia dos outros animais por manifestar-se nele o logos, h nele duas conservaes a serem realizadas: uma promove e incrementa a vida animal e outra conserva e promove a vida racional. Para o homem s a virtude o bem moral por que incrementa o logos e o mal aquilo que lhe causa danos. As coisas relativas ao corpo sa consideradas indiferentes. O Homem impulsionado pela natureza a conservar o prprio ser e amar a si mesmo. Este impulso direcionando para alm de si mesmo e atinge sua famlia e a sociedade toda. A natureza impulsiona o indivduo a se relacionar e ser til aos outros. Saindo de sua exclusiva interioridade na lei epicuria o homem no estoicismo encontra a comunidade e nela, a possibilidade de realizao da vida tica e a felicidade. Colocaram, os esticos, com base nos conceitos de physis e logos, em crise os antigos mitos da nobreza de sangue e da superioridade da raa, e a instituio da escravido. Os novos conceitos de liberdade e escravido ligam-se sabedoria e a ignorncia. Livre o sbio, e escravo o tolo. Cuidando de viver uma vida na retido tica, o sbio evitar toda paixo. A felicidade apatia e impassibilidade. A apatia extrema nos esticos e piedade,compaixo e misericrdia so coisas a evitar pois, so paixes. O estico no tem diante da vida uma posio propriamente entusiasta como os epicuristas. Silvino R dos Santos Texto para trabalho de concluso de disciplina
Você também pode gostar
- Os Arcanos Maiores Do Tarô - G. O. MebesDocumento278 páginasOs Arcanos Maiores Do Tarô - G. O. MebesNicole Sigaud100% (7)
- Safira Verde Do Arcanjo Rafael - Acesso GratuitoDocumento8 páginasSafira Verde Do Arcanjo Rafael - Acesso GratuitoDemetrius GracianoAinda não há avaliações
- Resumo - Morte e Vida de Grandes Cidades Jane JacobsDocumento92 páginasResumo - Morte e Vida de Grandes Cidades Jane JacobsInes Pozza100% (2)
- Fanfiction - Toda Minha - Versão Gideon CrossDocumento243 páginasFanfiction - Toda Minha - Versão Gideon CrossRosana Barbosa67% (3)
- LANGDON, Jean. A Doença Como Experiência. Construção Da Doença e Seu Desafio para A Prática Médica.Documento14 páginasLANGDON, Jean. A Doença Como Experiência. Construção Da Doença e Seu Desafio para A Prática Médica.Vinícius Mauricio100% (1)
- Psicologia Comperve Caderno de Revisão - Professor 2Documento89 páginasPsicologia Comperve Caderno de Revisão - Professor 2Alyson BarrosAinda não há avaliações
- Narradores de JavéDocumento5 páginasNarradores de JavéValeska Paiva100% (1)
- SARLO, Beatriz. Tempo Passado (Resumo)Documento9 páginasSARLO, Beatriz. Tempo Passado (Resumo)Ni Ramalho83% (6)
- Atividades CidadaniaDocumento8 páginasAtividades CidadaniaAnna Neres BurtetAinda não há avaliações
- Ensaio FilosóficoDocumento4 páginasEnsaio FilosóficoMara Sochas100% (4)
- Eduardo Oliveira - Epistemologia Da AncestralidadeDocumento10 páginasEduardo Oliveira - Epistemologia Da AncestralidadewandersonnAinda não há avaliações
- Mensagem Mais Um Novo DiaDocumento1 páginaMensagem Mais Um Novo DiaCláudia RodriguesAinda não há avaliações
- FICHAMENTO em AndamentoDocumento10 páginasFICHAMENTO em AndamentoFilipe RodriguesAinda não há avaliações
- Segawaarquiteturasnobrasil2 170427190137Documento215 páginasSegawaarquiteturasnobrasil2 170427190137LarryAndelmoAinda não há avaliações
- Projeto Integrador Relatório FinalDocumento23 páginasProjeto Integrador Relatório FinalMarcoAurelioSilvaCruzAinda não há avaliações
- RODOTÀ, Stefano. O Direito À VerdadeDocumento22 páginasRODOTÀ, Stefano. O Direito À VerdadeJonathas Ramos de Castro100% (1)
- Tzvetan TodorovDocumento3 páginasTzvetan TodorovElaine AlvesAinda não há avaliações
- Um Olhar Sobre o Amor No OcidenteDocumento9 páginasUm Olhar Sobre o Amor No OcidenteMarcia Pinheiro MarciaAinda não há avaliações
- As Pulsões e Seus DestinosDocumento4 páginasAs Pulsões e Seus DestinosViviane PapisAinda não há avaliações
- A Força Da Imaginação - MontaigneDocumento10 páginasA Força Da Imaginação - MontaigneMatheus Passos SilvaAinda não há avaliações
- Leia Este Poema de Carlos Queiroz TellesDocumento3 páginasLeia Este Poema de Carlos Queiroz TellesWilson CharlesAinda não há avaliações
- 6 - A Face Existencial Da Gestalt-TerapiaDocumento10 páginas6 - A Face Existencial Da Gestalt-Terapiakarinny gonçalvesAinda não há avaliações
- 50 Gestos Romanticos e EconomicosDocumento3 páginas50 Gestos Romanticos e EconomicosroseliverissimoAinda não há avaliações
- Como Pensam As Imagens PDFDocumento6 páginasComo Pensam As Imagens PDFDaniel De LuccaAinda não há avaliações
- Projeto IntegradorDocumento30 páginasProjeto IntegradorAna Cristina MesquitaAinda não há avaliações
- InfantilDocumento44 páginasInfantildanieleAinda não há avaliações
- Promessa de Casamento ResoluçãoDocumento2 páginasPromessa de Casamento ResoluçãomarciaAinda não há avaliações
- Coordenacao SubordinacaoDocumento3 páginasCoordenacao SubordinacaoanitabarbosaAinda não há avaliações
- Pesquisa OSMDocumento9 páginasPesquisa OSMcontabil096Ainda não há avaliações
- Agostinho o Doutor Da GraçaDocumento22 páginasAgostinho o Doutor Da GraçaEzequiasAinda não há avaliações