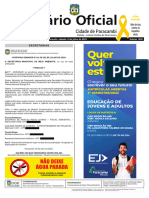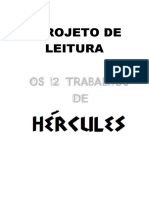Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CAP8
CAP8
Enviado por
jaimejtv1963Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CAP8
CAP8
Enviado por
jaimejtv1963Direitos autorais:
Formatos disponíveis
238
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
238
8.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.1 O prottipo Casa Alvorada: O projeto
8.2 O prottipo Casa Alvorada: avaliao do projeto
8.3 O prottipo Casa Alvorada: a construo
8.4 O prottipo Casa Alvorada: medies
e avaliaes in loco do prottipo
8.5 Esquadrias em madeira
8.6 Captao de gua de chuva
239
A Avaliao dos Resultados
8.
A avaliao dos resultados
8.1 O prottipo Casa Alvorada: o projeto
8.1.1 Caracterizao do prottipo Casa Alvorada
D
escreve-se a edicao implementada no campus da UFRGS, particularmente as modicaes nela
incorporadas, relativamente quelas unidades (Casa Alvorada) construdas no Centro Experimental
de Tecnologias Habitacionais Sustentveis (CETHS), e relatam-se as experincias de construo e
os resultados de monitoramento, assim como de diversos estudos nela desenvolvidas. Do projeto da edicao,
que foi desenvolvido com a participao de diversos alunos de mestrado (arquitetos, engenheiros civis e agr-
nomos), de turmas sucessivas, a partir de 1999, participaram mais de 30 prossionais.
Conforme divulgado na pgina do Programa Habitare (http://www.habitare.org.br/), a concepo e
construo de prottipos empregando materiais de baixo impacto ambiental e baixo custo, visam atender
necessidade bsica da habitao, integrando conceitos de desempenho, qualidade e conforto da habitao. O
prottipo ser usado como modelo de divulgao de uso de tecnologias no convencionais, e como elemento
240
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
para teste e vericao de metodologias de avaliao
de desempenho. Para construo do prottipo sero
empregados novos produtos desenvolvidos no mbi-
to dos projetos de pesquisa nanciados pela FINEP
Programa de Tecnologia da Habitao HABITARE.
O processo de desenvolvimento do prot-
tipo Casa Alvorada (PCA) teve incio com a anlise
das idias premiadas no Concurso Internacional de
Idias de Projeto, com o apoio da ANTAC e da Passive
and Low Energy Association (PLEA), que tinha por
ttulo Design Ideas Competition Sustainable Hou-
sing for Poor Concurso Internacional de Idias de
Projeto Habitaes Sustentveis para Popula-
es Carentes e que teve como objetivo discutir no-
vos parmetros para polticas habitacionais, segundo
princpios sustentveis. A partir das idias constantes
nas propostas premiadas no Concurso, uma equipe
composta de alunos e professores do NORIE passou
a desenvolver um projeto de habitao de baixo cus-
to e baixo impacto ambiental para a cidade de Alvo-
rada, para atender a uma demanda estabelecida em
um convnio rmado com a Prefeitura desse munic-
pio. Esse processo, posteriormente, passou a integrar
um trabalho maior, de desenvolvimento do projeto
de pesquisa CETHS, nanciado pela Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP) e pela Caixa Econ-
mica Federal (CAIXA), visando ao desenvolvimento
de um projeto executivo para um conjunto habita-
cional com objetivos demonstrativos e experimen-
tais, para ser implantado na cidade de Nova Hartz,
RS (SATTLER; SPERB, 2001a). A Casa Alvorada (Figura
160) seria uma das tipologias habitacionais a serem
implantadas no CETHS.
Figura 160 Imagens da Casa Alvorada, tal como concebido para o
municpio de Alvorada
241
A Avaliao dos Resultados
Os principais objetivos da Prefeitura de Alvo-
rada, com o desenvolvimento desse prottipo, foram
os de qualicar e regularizar as atividades locais de
construo de habitaes populares, atenuar o d-
cit habitacional, reduzir impactos ambientais e possi-
bilitar a gerao de renda, j que o Municpio tinha, e
continua tendo, um alto ndice de desemprego. Alm
desses objetivos predenidos, foram caracterizados
outros objetivos, como a qualidade do espao cons-
trudo diante de critrios de habitabilidade e acessi-
bilidade, a m de propiciar maior qualidade de vida
aos usurios da edicao.
Identica-se o PCA como aquele construdo no
campus da UFRGS, tendo recebido algumas peque-
nas modicaes relativamente Casa Alvorada (CA),
construda no CETHS, parcialmente implementado na
cidade de Nova Hartz, RS. Tal como no projeto do CE-
THS, para a construo do PCA o NORIE tambm con-
tou com recursos da CAIXA e da FINEP. A edicao
foi construda como parte de um conjunto de cinco
prottipos demonstrativos contemplados com recur-
sos pelo Programa Habitare.
O prottipo (Figura 161), tal como a CA, consiste
em uma residncia unifamiliar, com um programa de
necessidades tpico de uma habitao para uma fam-
lia pequena, incluindo dois dormitrios, sala e cozinha
conjugados, banheiro, rea de servio e rea de entrada,
totalizando 48,50 m de rea construda.
Figura 161 Imagens do PCA, tal como adaptado para o campus da UFRGS
242
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Considerando os objetivos a serem alcanados,
foram denidas diretrizes para o projeto do protti-
po de habitao, que representam fatores determi-
nantes do desempenho energtico dele, entre elas a
otimizao das condies de habitabilidade da edi-
cao e a escolha criteriosa dos materiais e sistemas
construtivos. Condies otimizadas de habitabilida-
de resultam de projetos minuciosos, que utilizaram
a forma da implantao e a composio das aber-
turas, bem como a escolha dos materiais em favor
do conforto do futuro usurio da edicao. Desse
modo, minimizam-se quaisquer inputs energticos,
tais como iluminao e ventilao articial. A escolha
dos materiais de construo, por outro lado, levou
em considerao o consumo energtico relacionado
extrao das matrias-primas, ao processamento
destas, montagem em obra, ao uso da edicao e
ao transporte necessrio entre as diversas etapas de
produo da edicao.
Tanto a Casa Alvorada como o prottipo Casa
Alvorada, derivado da primeira, so modelos de ha-
bitao destinados a populaes de baixa renda, am-
bos estando inseridos em um processo de busca de
desenvolvimento de referenciais mais sustentveis
para a produo da habitao e do ambiente urbano.
Nesse contexto, identicam-se ambos como habita-
es mais sustentveis por buscarem maior ecincia
nos uxos de matria e energia, utilizando tecnolo-
gias compatveis com objetivos sociais, econmicos
e ambientais das comunidades e potencializando as
aes de reeducao formal e informal. Tais habita-
es empregam estratgias passivas de aquecimento
e resfriamento, materiais de baixo impacto ambien-
tal, oferecem a possibilidade de autoconstruo e
buscam a gesto local de resduos slidos e lquidos,
o uso de fontes energticas sustentveis, a coleta e o
emprego de gua de chuva, assim como a produo
local de alimentos, atravs da incorporao de prin-
cpios de permacultura.
As atividades de construo do envelope do
prottipo Casa Alvorada foram desenvolvidas en-
tre outubro de 2001 e janeiro de 2003. Mesmo em
agosto de 2006 no se pde caracterizar o prottipo
como totalmente concludo, j que novas atividades
e metas so continuamente agregadas a ele. A seguir,
so apresentados vrios estudos realizados com o in-
tuito de aprofundar a caracterizao do PCA, ou de
projetos complementares, e assim melhor entender e
justicar o seu desempenho. As crticas contidas em
muitos desses estudos buscam contribuir no aper-
feioamento contnuo tanto do prottipo quanto de
outras edicaes de mesma natureza que vierem a
ser desenvolvidas.
8.1.2 O paisagismo no entorno do prottipo
Casa Alvorada
Este estudo (Figura 163) foi apresentado como
produto de um trabalho desenvolvido por um gru-
po de alunos do NORIE, da disciplina Comunidades
Sustentveis em Prtica (CHIARELLI; NERBAS; MA-
GRO, 2005), em continuidade a um trabalho anterior
(CARDOSO et al., 2003), desenvolvido na disciplina
de Paisagismo e Meio Ambiente, conduzida pela pro-
fessora Beatriz Fedrizzi (Figura 162).
243
A Avaliao dos Resultados
Figura 162 Proposta inicial de paisagismo para o entorno do prottipo desenvolvido por alunos da disciplina Paisagismo e Meio Ambiente
Fonte: Cardoso et al. (2003)
Os autores deste trabalho consideraram que, j
que o local onde se encontra o prottipo se tornar
uma rea de demonstrao de tecnologias habitacio-
nais sustentveis, caberia estender as preocupaes
envolvidas no projeto da habitao para as reas ex-
ternas que compem o entorno da casa, partindo do
princpio de que a casa e o jardim devem estar per-
feitamente integrados, a ponto de constiturem uma
unidade funcional, justicando-se uma proposta de
paisagismo para o local da implantao. O projeto,
em seu todo, constou de uma implantao do prot-
tipo, com seu entorno prximo, com a indicao das
plantas utilizadas e suas funes, alm de agregar o
projeto de uma pequena churrasqueira de tijolos.
244
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 163 Propostas adicionais de paisagismo para o entorno do prottipo Casa Alvorada
Fonte: Chiarelli, Nerbas e Magro (2005)
245
A Avaliao dos Resultados
8.1.2.1 Princpios e estratgias utilizados
Os autores buscaram inspirao na permacul-
tura (MOLLISON, 1998) para o estabelecimento da
proposta, incluindo:
a) paisagismo produtivo: utilizao de solu-
es como espiral de ervas, horta construda
com material reciclado, etc., para a produo
de alimentos, bem como com espcies que
pudessem auxiliar na reduo de despesas de
alimentao e/ou de gerao de renda, atravs
de espcies hortculas, ervas medicinais, mat-
ria-prima para a produo de artesanato, etc.;
b) paisagismo pedaggico: atravs da vege-
tao utilizada no projeto, demonstrar concei-
tos e tcnicas permaculturais, e sensibilizar o
visitante para o potencial ornamental e produ-
tivo da ora local;
c) paisagismo contribuinte para o confor-
to trmico: uso de trepadeiras caduciflias
em pergolados e outros tipos de vegetao,
que denam espaos sombreados no entorno
da edicao; e
d) paisagismo contribuinte para o confor-
to visual: agregando valor esttico ao paisagis-
mo produtivo e pedaggico.
Adicionalmente, a partir dos 253 padres pro-
postos por Alexander, Ishikawa e Silverstein (1977),
o grupo selecionou 21 deles, que entendeu serem os
mais adequados a espaos abertos coletivos e que
melhor se adequariam proposta do prottipo. Tais
padres, servindo de referencial para o projeto, ou
passveis de implementao posterior, foram:
Padro 22 - Nove por cento de estaciona-
mento: no permita que se use para estaciona-
mento mais do que nove por cento do solo, de
qualquer zona;
Padro 112 - Transio entrada: crie um es-
pao de transio entre a rua e a porta dianteira.
Leve o caminho que conecta a rua entrada, atra-
vs desse espao de transio, e marque-o com
trocas de luz, de som, de direo, de superfcie, de
nvel, etc.;
Padro 121 - A forma do caminho: alargue o
caminho pblico at o centro e estreite os extre-
mos, para que se forme um recinto apto a estar, e
no s para passar;
Padro 126 - Algo brusco no meio: coloque
algo que se destaque ao centro, entre os caminhos
naturais que atravessam a praa pblica, um ptio,
um pedao de terreno comum: uma fonte, uma
rvore, uma esttua, uma torre-relgio, com assen-
tos, um moinho de vento, um quiosque de msi-
ca. Tome as medidas necessrias para que a praa
tenha um pulso rme e vigoroso e que atraia as
pessoas at o centro. Deixe exatamente onde cair
entre os caminhos; resista ao impulso de situar
exatamente ao centro;
Padro 135 - Taipa de luz e sombra: crie reas
alternativas de luz e sombra em todo o edifcio, de
modo que as pessoas caminhem espontaneamen-
te at a luz, sempre que, ao faz-lo, se dirijam aos
lugares importantes: assentos, entradas, escadas,
corredores, stios de beleza especial, etc., e incre-
mente o contraste, escurecendo as demais reas;
246
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Padro 147 - Comer juntos: faa da comida em
comum um evento regular. E, em concreto, esta-
belea um almoo comum, em cada lugar de tra-
balho, de modo que a autntica comida em torno
a uma mesa coletiva (e no, tirando-a de caixas,
mquinas e bolsas) se converta em um aconteci-
mento dirio agradvel e importante nele e que
haja lugar para convidados;
Padro 161 - Lugar ensolarado: nos ptios
e jardins orientados ao sol, encontre um ponto
mais ensolarado, entre o edifcio e o exterior.
Desenvolva-o como um lugar ensolarado espe-
cial, faa dele um importante ambiente exterior,
um lugar para trabalhar ao sol, para se mexer
e cuidar de algumas plantas, para se banhar ao
sol. Cuide especialmente de situ-lo em um lu-
gar ensolarado, em uma posio protegida ao
vento. Um vento forte impedir de usar o mais
belo dos lugares;
Padro 170 - Pomares: plante pequenos hortos
de frutas em jardins e terrenos comuns, ao longo
dos caminhos e ruas, em parques e vizinhanas,
sempre que haja grupos bem estabelecidos e ca-
pazes de cuidar deles e colher as frutas;
Padro 171 - Lugares rvore: ao plantar rvo-
res, faa-o de acordo com sua natureza, formando
recintos, avenidas, praas, agrupados ou isolados,
quando tm a copa extensa e se situam no centro
de espaos abertos. Congure os edifcios prxi-
mos, em resposta s rvores, de modo que esses,
em si mesmo, e junto quelas, formem lugares uti-
lizveis pelas pessoas;
Padro 174 - Caminhos com prgolas: quan-
do os caminhos reclamarem uma proteo especial
ou quando se necessite um maior grau de intimi-
dade, cubra-os com uma prgola, embelezada com
plantas trepadeiras. Utilize uma tela para contribuir
para formar espaos exteriores de ambos os lados;
Padro 176 - Banco de jardim: crie no jardim
um lugar tranqilo, em recinto privado, com as-
sento cmodo, sol e vegetao densa. Escolha cui-
dadosamente o lugar do assento, para que oferea
intensa presena solar;
Padro 177 - Horta: reserve um pedao de terra
no jardim privado ou nos terrenos comuns e desti-
ne-os para a horta. Cada famlia de quatro membros
necessita, aproximadamente, de 400 m. Assegure-
se de que a horta est ensolarada e que ocupa uma
posio central em relao aos lugares que serve;
Padro 181 - O fogo: instale o fogo em um es-
pao comum, como um foco natural de conversa-
es, sonhos e pensamentos;
Padro 185 - Crculo de assentos: situe cada es-
pao de estar em uma posio protegida, no atra-
vessada por caminhos ou pelo movimento, aproxi-
madamente circular e de tal natureza que o espao
mesmo ajude a sugerir o crculo ainda que no ex-
clusivamente com os percursos e as atividades cir-
cundantes, de maneira que se gravite naturalmente,
at as cadeiras, quando exista o desejo de se sentar.
Distribua com exibilidade cadeiras e almofadas
nesse crculo e procure que haja algumas a mais;
247
A Avaliao dos Resultados
Padro 238 - Luz ltrada: ali onde a borda de
uma janela, ou parte saliente de um telhado se
recorte contra o cu, crie um rico e detalhado
tapete de luz e sombra, para decompor a luz e
suaviz-la;
Padro 241 - Pontos de sentar: escolher bons
pontos para os assentos ao ar livre muito mais
importante que construir bancos de fantasia. Na
realidade, se o lugar for bem escolhido, o mais
simples banco perfeito. Nos climas frios, situe os
bancos de frente para o sol e protegidos do vento;
nos climas de vero quente, situe-os sombra e
abertos s brisas de vero. Em ambos os casos, de
frente para alguma atividade;
Padro 242 - Banco na frente da porta: cons-
trua um banco especial na frente da porta de en-
trada, para se sentar comodamente durante horas,
para ver as pessoas passarem. Coloque o banco
denindo um domnio semiprivado, em frente
casa. Uma mureta, algumas plantas ou uma rvore
podem ajudar a criar esse domnio;
Padro 245 - Flores no alto: suavize as bordas
dos edifcios, os caminhos e as reas exteriores
com ores. Eleve seus leitos de modo que se pos-
sa tocar, perceber o odor ou que caiam nossa
altura, ao nos sentarmos. Construa-os com bordas
macias e grossas, para que seja possvel, tambm,
sentar-se entre as ores;
Padro 246 - Plantas trepadeiras: procure fa-
zer com que cresam plantas trepadeiras nos mu-
ros ensolarados, em torno aos ocos, janelas, por-
tas, trios, galerias e prgolas;
Padro 247 - Pavimento com fendas entre
as lajes: pavimente caminhos e terraos com lou-
sas que deixem, entre si, fendas de 2 cm a 3 cm,
em que cresam as ervas, o musgo e as orzinhas.
Coloque as lousas diretamente sobre a terra, e
no em um leito de argamassa, e no use cimento,
nem argamassa entre elas; e
Padro 253 - Os objetos de sua vida: no se
deixe enganar pela idia de que a decorao mo-
derna tem que ser rebuscada ou psicodlica, na-
tural ou arte moderna, plantas ou qualquer coisa
que reclamem os fazedores de gostos do momen-
to. mais belo quando nasce diretamente de sua
vida, das coisas que a voc importam, das coisas
que lhe dizem algo.
8.1.2.2 Proposio do projeto
Sinalizao
Junto entrada da rea foi prevista a coloca-
o de um painel informativo, para que os visitantes
possam ser orientados sobre o projeto do prottipo
Casa Alvorada e sobre os princpios envolvidos em seu
desenvolvimento. Esse painel dever conter um bre-
ve texto de apresentao do projeto e um esquema
da rea, em planta baixa, indicando os principais ele-
mentos utilizados nas reas externas, com nalidade
demonstrativa. Tambm podem ser acrescentadas ao
painel informaes sobre as principais espcies utiliza-
das, sua localizao no jardim e seu potencial de uso.
248
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 164 Sinalizao
Jardim de pedra
Junto fachada norte da casa prevista a cons-
truo de um pequeno jardim de pedras, onde sero
cultivadas espcies xertas. O jardim de pedras visa
evitar a eroso e a compactao do solo, em funo
da queda da gua da chuva (j que a face norte da co-
bertura no possui calha), e ainda demonstrar a pos-
sibilidade de construo de jardins utilizando plantas
suculentas, com nalidade medicinal e de produo
de alimentos.
Figura 165 Jardins de pedra Figura 166 Pergolados
Pergolados
Segundo o projeto original da habitao,
previsto o cultivo de trepadeiras caduciflias, em
pergolados nas fachadas norte e oeste da casa, a m
de melhorar o conforto trmico no interior dela
(uma vez que as espcies caduciflias permitem o
sombreamento no vero e a passagem dos raios so-
lares no inverno). Tambm previsto um terceiro
pergolado, prximo entrada da casa, com a na-
lidade de servir como uma rea de estar sombrea-
da, a ser utilizada, tambm, como sala de aula ao ar
livre, onde os visitantes podero ser recebidos e
orientados sobre os princpios envolvidos na con-
cepo do projeto da casa e do jardim. Os pergola-
dos permitem, tambm, a variao na paisagem, a
partir da luz ltrada, que varia durante as diferentes
horas do dia.
249
A Avaliao dos Resultados
Crculos de bananeiras
Tm a nalidade de demonstrar a utilizao de
uma estratgia permacultural, onde bananeiras so
plantadas em crculos, ao redor de covas de, aproxi-
madamente, 2 m de dimetro por 1 m de profundida-
de. Essa tcnica permite, alm da produo de frutos,
a produo de mulch e composto orgnico para os
cultivos do jardim. medida que as bananas vo sen-
do colhidas, suas folhas vo sendo cortadas e coloca-
das no interior do crculo, para serem compostadas
(tambm outros resduos orgnicos, provenientes do
jardim, ou da cozinha, podero ser compostados nes-
ses locais).
Cerca produtiva
Consiste no cultivo de espcies trepadeiras,
junto s cercas localizadas aos fundos da casa. Visa
demonstrar a possibilidade do cultivo vertical de
plantas medicinais e produtoras de alimentos, permi-
tindo um maior aproveitamento da rea disponvel
para o jardim.
Espiral de ervas
A espiral de ervas, j existente no local, prxi-
mo cozinha, baseia-se em uma tcnica permacul-
tural, onde ervas e temperos so cultivados em um
canteiro elevado, em forma de espiral. Essa estrutura
permite um maior aproveitamento do espao dispo-
nvel e uma disposio racional das espcies, de acor-
do com suas exigncias de insolao e drenagem do
solo. Na construo da espiral teve-se o cuidado de
utilizar materiais reaproveitados da obra da casa.
Figura 167 Espiral de ervas
Horta permacultural
prevista a ampliao da horta permacul-
tural, que j foi iniciada no local, construindo-se
mais dois canteiros semelhantes ao j existente. A
horta construda em canteiros elevados, usando-
se pneus velhos. O cultivo em canteiros elevados
permite maior facilidade de manejo e maior acessi-
bilidade para pessoas de idade mais avanada e/ou
que possuam diculdades para se abaixar. A dispo-
sio em ferradura dos canteiros facilita o mane-
jo da horta, uma vez que segue um design mais
racional dos cultivos, onde as espcies de menor
porte e maior exigncia de manuteno so plan-
tadas no interior da ferradura, enquanto as esp-
cies maiores e que requerem pouca manuteno
so dispostas do lado de fora da mesma. O projeto
prev, tambm, o cultivo de espcies repelentes
de insetos (citronela e cravo-de-defunto) junto
horta, a m de prevenir danos s demais espcies
cultivadas.
250
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 168 Horta permacultural
8.1.2.3 Outros aspectos considerados no projeto
O trabalho inclui, adicionalmente, o projeto de
um conjunto churrasqueira/rea de convvio, aqui
no incluso, e um conjunto de tabelas de vegetao
propostas para o paisagismo da rea do entorno do
prottipo.
8.1.2.4 Concluso
Os autores da proposta no pretenderam esgo-
tar as dimenses de sustentabilidade na explorao
da proposta e expressaram ter utilizado apenas dois
referenciais em sua proposio: Mollison (1998) e
Alexander, Ishikawa e Silverstein (1977). Alegam que
o paisagismo, em si, no est identicado com o con-
ceito de sustentabilidade e que o tema requer uma
abordagem interdisciplinar.
8.1.3 Projeto de um aquecedor multiso: forno
+ fogo + lareira + aquecedor dgua
8.1.3.1 Introduo
Outro produto da disciplina Comunidades Sus-
tentveis em Prtica foi o desenvolvimento de uma
proposta para um fogo para o prottipo, um equi-
pamento cuja necessidade j havia sido prevista no
projeto original do prottipo e mais tarde conrma-
da pelos estudos de desempenho trmico do prot-
tipo, realizados por Morello (2005). A proposta foi
desenvolvida por uma equipe que cursava a discipli-
na (KUHN; PROFES; ZANIN, 2005). Conforme descri-
to em documento ilustrativo da proposta, os alunos
buscaram desenvolver um equipamento compacto
e de simples construo, que aproveitasse ao mxi-
mo o calor gerado pela biomassa, sem negligenciar o
impacto esttico e o benefcio ldico da visualizao
do fogo em chama pelos moradores. Para tanto, fo-
ram agregadas diversas funes ao Aquecedor Mul-
tiso, entre elas: a de lareira, aquecendo o ambiente
interno durante o inverno, a de aquecedor de gua
para banho e as de forno e fogo.
Figura 169 O aquecedor multiso
251
A Avaliao dos Resultados
8.1.3.2 Descrio do funcionamento do aquece-
dor multiso
As atividades domsticas em torno do forno/
fogo e da lareira desenvolvem-se em faces laterais
opostas do aquecedor multiso, permitindo que ele
sirva, tambm, como um divisor de ambientes, j
que as restries econmicas impostas aos projetos
de habitaes populares induziram elaborao de
uma tipologia com um ambiente comum para sala
e cozinha. Apesar de ter sido desenvolvido para um
prottipo de habitao popular, o aquecedor apre-
senta inmeros benefcios, que justicam sua utiliza-
o em qualquer outra edicao, que durante certo
perodo do ano apresente temperaturas abaixo da
zona de conforto. Apresenta maior ecincia que as
lareiras tradicionais, aquece gua, incorpora materiais
reutilizados e impede a passagem de fumaa para o
interior do ambiente, atravs da implementao de
portas. Alm disso, h a vantagem de que se atribui
melhor paladar aos pratos preparados em foges le-
nha. Em sntese, ele soma s qualidades de um fogo
e forno lenha as de uma lareira eciente e de um
aquecedor de gua.
Um dos princpios fundamentais do projeto foi
a busca da ecincia, atravs da otimizao do calor
produzido. Assim, a primeira medida foi o fechamento
da boca da fornalha, com a utilizao de portas de fo-
ges, que pudessem ser adquiridas em ocinas de re-
ciclagem, e a criao de camadas laterais de ar, entre a
parede e as chamas, colocando-se uma chapa metlica
interna. Isso possibilitaria o aquecimento do recinto
por radiao e conveco. As lareiras tradicionais, sem
fechamento, alm de deixarem passar fumaa para
dentro do ambiente, apresentam uma grande perda
de calor. O acrscimo de portas aumenta em, no mni-
mo, 10% a ecincia do sistema (PAHL, 2003).
O ciclo de gerao de calor iniciado median-
te a combusto de lenha na lareira. A liberao desse
calor para o ambiente ocorre por trs formas. A pri-
meira pela radiao direta do calor, atravs da porta
envidraada do fogo. A segunda pela re-irradiao
do calor que tenha sido absorvido pelas superfcies
opacas, como as alvenarias, superfcies metlicas e
outros componentes do fogo. E, por ltimo, o fogo
aquece as chapas metlicas, que, por sua vez, esquen-
tam o ar da cmara, gerando uma circulao convec-
tiva (Figura 170) e estabelecendo-se trocas de calor
com o ambiente, com o ingresso de ar frio do recinto
pelas aberturas inferiores e liberao do ar aquecido
pelas superiores.
Figura 170 Distribuio de calor pelo aquecedor multiso
252
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Simultaneamente, o aquecimento do fogo se d,
diretamente, atravs do calor das chamas na chapa de
ferro fundido do fogo, e por meio do ar aquecido que
sobe pela chamin e daquele que circula pelas cma-
ras laterais, elevando a temperatura das chapas metli-
cas que circundam o forno, aquecendo seu interior.
Da mesma forma, a gua fria que circula pela
serpentina (tubos de cobre) aquecida ao passar
pelo interior do pirofuncional e, assim, sobe por gra-
vidade para o reservatrio, onde armazenada a gua
aquecida por um coletor solar.
8.1.3.3 Descrio dos componentes do produto
desenvolvido e de sua montagem
A seguir feita a descrio, em etapas, de cada um
dos componentes do fogo e sugerida uma seqncia
das etapas necessrias para a sua montagem.
Etapas de montagem
Etapa 1
As dimenses do fogo, em planta, so 83 cm x
82 cm, devendo ser instalado sobre uma rea plana.
Os tijolos devem ser assentados como ilustrado na
Figura 171, contraando-os at a quarta ada. O trao
da argamassa de cimento, cal e areia deve ser 1:3:8.
Aps o assentamento da quarta ada, duas barras me-
tlicas devem ser dispostas, como ilustrado na gura,
para funcionar como apoio para a gaveta de cinzas.
A seguir, deve-se assentar as adas seguintes,
at a sexta ada, para a colocao da laje inferior. A
laje inferior dever ser armada, conforme desenho
de armadura das lajes (Figura 184), e o trao do con-
creto (cimento, areia e brita zero) deve ser de 1:3:6.
Figura 171 Base para a laje inferior
Etapa 2
Aps a colocao da laje inferior, deve ser
assentada a stima ada de tijolos, observando que,
nas paredes laterais do fogo, devero ser deixados
furos para a entrada de ar, com a utilizao de tijo-
los cortados.
A laje dever ser revestida com tijolos refrat-
rios, conforme a Figura 172 (e planta baixa Figura
182), preferencialmente com argamassa refratria.
Figura 172 Entradas de ar
253
A Avaliao dos Resultados
Etapa 3
Aps essa etapa, prossegue-se com a constru-
o das paredes laterais e do fundo, at a 14 ada. Na
parede frontal, deixa-se a abertura frontal da lareira.
O trao da argamassa de assentamento de 1:3:8 (ci-
mento, cal e areia).
Na abertura, escora-se a verga para o assenta-
mento de duas barras de ferro com argamassa.
Figura 174 Base para a laje inferior
Etapa 5
Encaixa-se a estrutura de ao (conforme dese-
nhos 1 e 2 da Figura 192), com os tubos de cobre
(serpentina para circulao de gua).
Figura 173 Abertura frontal
Etapa 4
Assentam-se, ento, as plaquetas refratrias na
parede posterior interna e, em seguida, a 15 ada
de tijolos macios, sendo que na parede posterior
(abertura forno/fogo) assentam-se somente os tijo-
los cortados de 9 cm nas extremidades, para deixar a
abertura do forno.
Figura 175 Encaixe da estrutura de ao
254
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Etapa 6
Aps, encaixa-se a chapa de ferro fundido,
com duas bocas na estrutura metlica, conforme a
Figura 176 e a Figura 192, com a estrutura em ao e
o tubo de encaixe para a chamin.
Figura 176 Encaixe das bocas para o fogo
Etapa 7
Aps a montagem da estrutura interna, assen-
tam-se as adas 16 at 20, com argamassa de assen-
tamento 1:3:8 (cimento, cal e areia). A 21 ada deve
ser assentada da mesma maneira que a stima ada
de tijolos, observando que, nas paredes laterais do
fogo, sero criados os furos para sada de ar, atravs
do assentamento de tijolos cortados (observar planta
de adas).
Na parede posterior (abertura do forno/fogo),
assentam-se somente os tijolos cortados, de 9 cm, nas
extremidades.
A laje superior deve ser construda conforme
armadura (ver planta de detalhes), e o trao do con-
creto deve ser de 1:3:6, respectivamente: cimento,
areia e brita zero. Encaixam-se, ento, as grelhas de
forno na estrutura de ao.
Figura 177 Laje superior
Etapa 8
Por m, encaixa-se a gaveta, na abertura in-
ferior, sobre as barras, e parafusam-se as portas das
duas aberturas nos tijolos macios. Para nalizar a
montagem, encaixa-se o tubo para a chamin e o
tubo de cobre (serpentina), que ser conectado ao
reservatrio de gua.
255
A Avaliao dos Resultados
Figura 178 Vistas anterior e posterior do pirofuncional
8.1.3.4 Detalhes tcnicos de construo
Desenhos Tcnicos
Figura 179 Planta do fogo Figura 180 Planta da lareira
256
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 181 Fiadas pares
Observao: os tijolos marcados sofreram corte.
Figura 182 Fiadas com vazios
Desenhos Tcnicos
Figura 183 Planta laje superior
4 N1 d 6.3 79
6 N2 d 6.3 78
2 N3 d 6.3 35
Figura 184 Planta laje inferior
5 N4 d 6.3 79
4 N5 d 6.3 78
2 N6 d 6.3 28
257
A Avaliao dos Resultados
Figura 185 Corte 1
Desenhos Tcnicos
Figura 186 Corte 2 Figura 187 Corte 3
258
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Desenhos Tcnicos
Figura 188 Vista do fogo
Figura 191 Portas reutilizadas
Figura 189 Vista da lareira
Figura 190 Vista lateral
259
A Avaliao dos Resultados
Figura 192 Estrutura de ao interna
Ambientao do prottipo com a insero do pirofuncional
Figura 193 Planta prottipo layout Figura 194 Corte prottipo layout
260
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Tabela 12 Materiais utilizados e oramento do aquecedor multiso
261
A Avaliao dos Resultados
8.2 O prottipo Casa Alvorada: avaliao
do projeto
Diversos estudos foram realizados por alunos
do NORIE no sentido de estimar o provvel desem-
penho do prottipo. Alguns desses estudos zeram
uso de ferramentas de projeto, algumas recomen-
dadas em Normas Tcnicas, outras disponibilizadas
pelo meio tcnico (numricas ou grcas), e so
apresentados a seguir (MORELLO; BEVILACQUA;
GRIGOLETTI, 2004).
8.2.1 Relaes entre permetro, rea de piso,
envoltria e volume
Uma maneira de relacionar tipologias cons-
trutivas com desempenho, em termos de conforto
trmico ou ganhos energticos nas edicaes,
a utilizao do ndice de Compacidade. Esse n-
dice relaciona a rea do piso da edicao com o
permetro da envolvente dela. Considera-se como
parmetro de comparao o crculo, que a gura
geomtrica que encerra a maior rea com o menor
permetro possvel.
Tambm se podem utilizar outras relaes para
identicar vantagens ou desvantagens na questo
energtica relacionando o volume da edicao com
a superfcie do piso, ou com a rea do envelope da
edicao. A relao entre superfcie e volume (RSV)
se estabelece a partir da superfcie da envolvente ex-
terior do edifcio e do volume contido pela mesma.
Essa relao permite comparar distintas formas de
edifcios, no que se refere menor superfcie conten-
do o maior volume possvel.
Sabe-se que as trocas trmicas de um edifcio
com o exterior so proporcionais superfcie de sua
envoltria ou envelope. Como conseqncia, quan-
to mais compacto o edifcio (baixa RSV), menores
sero as trocas trmicas com o exterior, o que de-
sejvel tanto para uma situao de clima frio (ou de
inverno, com baixas temperaturas) como de clima
quente. Nessa relao (superfcie/volume), leva-se
em conta apenas a superfcie exterior, que est mais
exposta s variaes de temperatura e ventos, ou
seja, no se considera o piso.
A RSV expressa, por exemplo, a capacidade
de reteno de calor no interior do edifcio de for-
ma parcial, pois outros aspectos iro inuenciar a
reteno de calor no interior da edicao, como,
por exemplo, a resistncia trmica de paredes e
coberturas e a quantidade de aberturas ou superf-
cies envidraadas.
8.2.1.1 ndice de compacidade
A anlise do ndice de Compacidade busca
vericar aspectos econmicos ligados ao envelope
da edicao e sua rea. Da anlise qualitativa, obser-
va-se que os recortes no volume, que originaram os
alpendres frontal e lateral, no trouxeram nenhum
benefcio instrumental edicao.
O ndice de Compacidade um valor adimen-
sional que relaciona a rea de piso e o permetro
que dene esta rea, para a gura geomtrica (planta
baixa da edicao) que est sendo analisada, com a
rea e permetro de um crculo que contm a mesma
rea da gura geomtrica em questo. Quanto mais
prxima essa relao estiver da unidade, melhor ser
262
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
seu ndice de Compacidade, ou seja, tanto maior ser
a rea contida em determinado permetro (MASCA-
R, 1998). Quanto mais prximo tal valor estiver da
unidade, maior ser o volume contido por certa su-
perfcie externa. Do ponto de vista de economia em
rea de envolvente de edicao, isso certamente
desejvel, principalmente em se tratando de uma edi-
cao de interesse social, onde aspectos econmi-
cos tm grande relevncia.
No projeto original, o permetro formado pelas
paredes da Casa Prottipo Alvorada igual a 27,50 m
e contm uma rea igual a 41,89 m. Para conter essa
mesma rea seria necessrio um raio de:
J o permetro externo de um crculo (2pR)
com raio igual a 3,65 m igual a 22,93 m.
Dividindo-se esse valor pelo permetro do
prottipo, tem-se o ndice de compacidade da
edicao.
ndice de compacidade do prottipo original:
22,9327,50 = 0,83.
8.2.1.2 ndice de compacidade volumtrico
Na anlise do ndice de Compacidade Volum-
trico, considera-se como parmetro comparativo a
gura geomtrica da semi-esfera, a qual apresenta a
menor rea exposta para determinado volume.
No projeto original, o volume contido pelo en-
velope construtivo igual a 163,6 m, com uma super-
fcie exposta de paredes e telhado igual a 141,16 m.
Para conter esse mesmo volume em uma semi-esfera,
seria necessrio que ela possusse um raio igual a:
Com esse raio, uma semi-esfera teria uma rea
exposta igual a 114,56 m.
Dividindo-se esse valor pela rea exposta do
prottipo, tem-se o ndice de compacidade volu-
mtrico da edicao: 114,56 141,16 = 0,81.
8.2.1.3 Relao entre superfcie envolvente e
superfcie do piso RSSP
O ndice RSSP, que d uma idia da utilizao
do espao, atravs da relao da envolvente com a
rea do piso, indica a semi-esfera como o volume
mais eciente. No entanto, se for considerada a colo-
cao de um mezanino no prottipo Casa Alvorada,
dentro do mesmo espao, essa relao chega a 1,59,
portanto mais eciente que a situao da semi-esfera,
que tem a relao RSSP de 1,99.
Considerando o prottipo sem o mezanino, a
relao RSSP de 2,22, maior que a relao RSSP do
prottipo com o mezanino, de 1,59. Fica claro, pois,
nessa relao, a vantagem na ocupao do espao
(rea do piso) e sua envolvente.
Tambm, deve-se considerar que a funciona-
lidade e a ocupao do espao projetado, principal
objetivo da construo, so mais ecientes no prot-
tipo com o mezanino do que na semi-esfera. O Qua-
dro 30 mostra uma relao entre diferentes solues
construtivas e aquela adotada para o PCA.
263
A Avaliao dos Resultados
Quadro 30 Comparao entre diferentes
solues construtivas
264
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.2.1.4 Consideraes a respeito do ndice de
compacidade e RSSP
No estudo do ndice de Compacidade, o PCA
apresentou resultados satisfatrios. Isso j era espe-
rado, visto que a forma em planta e o volume do
projeto apresentam dimenses muito prximas do
quadrado e do cubo, respectivamente.
Tambm, devemos considerar que a funciona-
lidade e a ocupao do espao projetado, principal
objetivo da construo, mais eciente no prottipo
com o mezanino do que em uma construo com
formato de semi-esfera.
Conclui-se, portanto, que a incorporao do
mezanino no prottipo uma soluo vivel e van-
tajosa, com o aumento de rea til para a habitao
e com pequenos acrscimos construtivos. Ademais,
tambm observando as anlises efetuadas adiante,
verica-se que proporciona indicadores satisfatrios
em relao s reas construdas, volumes, envolven-
tes e desempenho trmico.
8.2.2 Anlise do dimensionamento das aberturas
de iluminao e ventilao do prottipo Casa
Alvorada
Diante da facilidade de consulta ao Cdigo de
Edicaes da Cidade de Santa Maria por parte de
alguns alunos do NORIE (MORELLO; BEVILACQUA;
GRIGOLETTI, 2004), foi realizada uma comparao
entre as dimenses dos compartimentos existentes
no Prottipo Casa Alvorada, bem como entre as di-
menses das respectivas janelas e aquelas constan-
tes nesse Cdigo. A discusso a respeito apresen-
tada a seguir.
8.2.2.1 Padres para vos de ventilao
e iluminao
O artigo 91 do Cdigo de Edicaes de Santa
Maria estabelece que a rea total dos vos voltados
para o exterior, destinados iluminao e ventilao
dos compartimentos, no dever ser inferior a uma
frao da rea de piso, conforme se segue. Para a ilumi-
nao dos compartimentos de uma edicao de uso
residencial, so estabelecidos vos equivalentes a 1/6
da rea do piso e, para ventilao, a 1/12 do piso.
Realizando a comparao com os vos do pro-
ttipo, obtm-se:
Dormitrio da frente (janelas na face norte)
Dimenses da janela inferior 1,13 m x 1,13 m
rea = 1,27 m
Dimenses da janela superior 1,47 m x 0,43 m
rea = 0,63 m
rea total, superior + inferior = 1,90 m
rea exigida pelo Cdigo de Edicaes: 1/6
da rea do piso (8,10 m)
rea exigida = 1,35 m
Portanto, (1,90 m > 1,35 m) satisfaz o
Cdigo de Edicaes de Santa Maria.
Dormitrio dos fundos (janela na face leste)
Dimenses da janela 1,07 m x 1,12 m
rea = 1,19 m
rea exigida pelo Cdigo de Edicaes: 1/6
da rea do piso de 8,10 m
265
A Avaliao dos Resultados
rea exigida = 1,35 m
Portanto, (1,19 m < 1,35 m) no satisfaz
o Cdigo de Edicaes de Santa Maria.
Sala de estar e cozinha (janelas nas faces norte
e oeste)
Dimenses da janela inferior 1,13 m x 1,13 m
rea = 1,27 m
Dimenses da janela superior 1,47 m x 0,43 m
rea = 0,63 m
Dimenses da janela da cozinha 1,09 m x
0,88 m
rea = 0,95 m
rea total, inferior + superior + cozinha =
2,85 m
rea exigida pelo Cdigo de Edicaes: 1/6
da rea do piso de 15,90 m
rea exigida = 2,65 m
Portanto, (2,85 m > 2,65 m) satisfaz o
Cdigo de Edicaes de Santa Maria.
Banheiro (janela na face oeste)
Dimenses da janela inferior 0,75 m x 0,35 m
rea = 0,26 m
rea exigida pelo Cdigo de Edicaes: 1/12
da rea do piso de 4,52 m
rea exigida = 0,37 m
Portanto, (0,26 m < 0,37 m) no satisfaz
o Cdigo de Edicaes de Santa Maria.
Segundo o Cdigo de Edicaes da Cidade
de Pelotas, a rea mnima exigida para esse tipo de
ambiente deve ser de 0,40 m. Dessa forma, as dimen-
ses dessa abertura deveriam ser aumentadas para
satisfazer as condies mnimas exigidas pelos Cdi-
gos de Edicaes.
Outras exigncias, em relao aos dispositivos
de iluminao e ventilao natural, so a colocao de
dispositivos de proteo trmica e luminosa nos com-
partimentos principais, quando com rea superior a
40% da parede onde estiverem localizados e, obrigato-
riamente, nos espaos destinados a dormitrios.
Na habitao analisada, essa exigncia no se
faz necessria, uma vez que a dimenso dos vos
so inferiores a 40% da dimenso das paredes. No
entanto, deve-se considerar, tambm, que apenas o
dormitrio dos fundos est equipado com veneziana
para proteo trmica e luminosa. No dormitrio da
frente, as janelas no possuem proteo efetiva, satis-
fazendo apenas parcialmente a exigncia do Cdigo
de Edicaes.
Com relao ao posicionamento das vergas
dos vos, o Cdigo estabelece uma altura mxima de
1/7 do p-direito. Nesse caso, todas as vergas, com
exceo das aberturas superiores, esto em desacor-
do com o Cdigo. No caso do prottipo, em que o
p-direito tem altura varivel, crescente, as aberturas
deveriam ter altura superior s dimenses mnimas
exigidas para iluminao e ventilao. O objetivo
maior no posicionamento da verga a possibilidade
de melhor ventilao das partes altas do comparti-
mento. Essa alternativa est presente no projeto do
266
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
prottipo, pois a diferena de p-direito e a colocao
de aberturas na parte mais elevada da parede frontal
tinham como objetivo proporcionar uma ventilao
mais eciente.
8.2.2.2 Consideraes finais sobre a avaliao
das dimenses das esquadrias do prottipo Casa
Alvorada
As dimenses mnimas exigidas pelo Cdigo
de Edicaes de Santa Maria no resultam de estu-
dos locais mais acurados. Nesse sentido, sabido que
grande parte dos Cdigos de Edicaes de nossos
municpios so resultados de cpias de outros Cdi-
gos, no estando embasados em pesquisa do ambien-
te e em especicidades locais.
Deve-se assinalar, tambm, que o prottipo no
teve estudos mais aprofundados no dimensionamen-
to das aberturas externas e buscou se adequar s
dimenses oferecidas por um dos poucos fabrican-
tes de esquadrias que utilizava madeiras de reores-
tamento no Rio Grande do Sul (uma das estratgias
perseguidas na construo do PCA). Isso acabou de-
terminando uma congurao que prejudica a eci-
ncia de iluminao e ventilao.
8.2.3 Incidncia de radiao solar direta e condi-
es de sombreamento das superfcies externas
da edificao
A anlise de incidncia da radiao solar direta
e condies de sombreamento das diferentes super-
fcies da edicao foi realizada (MORELLO; BEVILA-
CQUA; GRIGOLETTI, 2004) a partir de dados obtidos
com simulao, atravs do programa Luz do Sol. O
programa Luz do Sol gera grcos com radiaes sola-
res diretas horrias e tabelas com tais dados, para cada
uma das quatro orientaes, para datas escolhidas a
partir da latitude do local. Os mesmos autores criaram
uma maquete tridimensional do prottipo, atravs dos
programas AutoCAD 14 e 3DStudio R4. Aps, os mode-
los foram exportados para o programa SketchUp, no
qual foram realizadas as simulaes para a vericao
do sombreamento de aberturas e fachadas da edica-
o, em diferentes pocas do ano e horrios do dia,
com o objetivo de vericar a ecincia dos elementos
projetados para esse m (beirais, pergolados, etc.).
Foram simuladas quatro datas: solstcios de
vero e inverno (21 de dezembro e 21 de junho),
equincios de primavera e outono (21 de setembro
e 21 de maro), para a latitude de Porto Alegre (apro-
ximadamente 30 sul). As simulaes foram realiza-
das considerando dias de cu claro e para as quatro
orientaes norte, leste, sul e oeste e planos ho-
rizontais, correspondentes s orientaes dos fecha-
mentos laterais e cobertura, da edicao analisada.
So apresentados, a seguir, os resultados dessas simu-
laes bem como comentrios e observaes a res-
peito de cada uma.
8.2.3.1 Condies de insolao e sombreamento
no prottipo para o solstcio de vero
A Figura 195 mostra a radiao solar ou energia
radiante incidente sobre as quatro orientaes de pa-
redes da edicao e para o plano horizontal, em di-
ferentes horrios do dia, para o solstcio de vero (21
de dezembro). Na Tabela, 0 corresponde ao norte,
90 corresponde ao leste, e assim sucessivamente.
267
A Avaliao dos Resultados
Figura 195 Valores de radiao solar, em Wh/m, segundo o programa Luz do Dia, para as quatro orientaes, para a data de 21 de dezembro
A Figura 195, esquerda, mostra os dados em
forma de grco. Dos dados apresentados, observa-se
que a maior incidncia de irradiao, no dia de 21 de
dezembro, extensvel aos meses quentes do ano (de-
zembro a maro, incluindo o dia 21 de maro, cujos re-
sultados so mostrados adiante), ocorre sobre os planos
verticais orientados a leste e oeste, nos perodos manh
e tarde, respectivamente, e sobre o plano horizontal. Na
gura, 000,00 corresponde ao Norte, 090,00 corres-
ponde ao leste, e assim sucessivamente.
Comentrios
Ganhos trmicos O controle do ganho tr-
mico pelas paredes da edicao foi parcialmente
contemplado atravs do sombreamento da parede
oeste, com o uso de prgola, com vegetao de folhas
caducas e com a orientao das guas da cobertura a
norte e sul, com a maior delas orientada para o sul. O
uso de prgola com vegetao de folhas caducas po-
deria ser estendido, tambm, fachada leste (quando
houver espao para tal), que contm as paredes dos
dormitrios, uma vez que tais ambientes podem ser
usados pela manh. O fato de haver incidncia de
radiao solar direta sobre tais fechamentos pode
tornar o uso de tais compartimentos desconfortveis
no perodo de vero.
Iluminao natural Do ponto de vista da
iluminao natural, a fachada norte ser a que me-
lhor contribuio trar para a captao da luz, permi-
tindo, ainda, um fcil controle da incidncia direta do
268
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
sol, se forem acrescidos elementos horizontais apostos
fachada. Tais controles permitiriam que ambientes
orientados para o norte possam ter mltiplas funes,
tais como descanso, leitura, atividades manuais, etc. J
as fachadas leste e oeste exigiro o uso de protees
verticais, paralelas fachada, nos perodos da manh
e tarde, respectivamente, para o controle de ganhos
trmicos, o que inuenciar negativamente na dispo-
nibilidade de luz natural no interior da edicao. A fa-
chada sul, por estar voltada para uma orientao onde
a distribuio de luz natural a mais uniforme no de-
correr do dia, adapta-se bem a atividades que exijam
disponibilidade de luz natural, sem incidncia direta
do sol, na maior parte do dia, tais como atividades de
leitura e trabalhos manuais. No entanto, tal orientao
pode gerar desconforto trmico no perodo de inver-
no, por ser a orientao de onde provm os ventos
frios dessa estao (UBER, 1992, p. 84).
Na Figura 196 so apresentadas as imagens
do prottipo Casa Alvorada, geradas pelo programa
SketchUp, para o solstcio de vero em Porto Alegre.
Observa-se que o sol nasce a sudeste e se pe
a sudoeste. Dessa forma, a fachada norte recebe inso-
lao somente a partir das 10h00 da manh. Perce-
be-se, tambm, que os beirais de 80 cm sombreiam
praticamente toda a superfcie da parede norte e, por
conseguinte, suas esquadrias. Esse resultado j era
esperado, visto que os beirais foram dimensionados
para impedir a incidncia direta de raios solares, no
perodo de vero.
A nica janela do prottipo Casa Alvorada volta-
da para leste est localizada no dormitrio dos fundos
e possui venezianas para o controle da incidncia solar.
Entretanto, durante o vero, caber ao usurio do pro-
ttipo controlar esse mecanismo, de forma a permitir
a entrada de um mnimo de iluminao, bloqueando a
entrada de radiao solar no perodo da manh.
A janela da fachada oeste recebe a maior parte
da radiao solar do perodo da tarde. O pergolado,
sem as parreiras, no representa um elemento de
sombreamento efetivo, devido sua esbelteza.
A fachada sul recebe insolao at s 9h00, du-
rante o perodo da manh, e das 16h00 em diante,
no perodo da tarde. No entanto, como no existem
janelas voltadas para essa orientao no se faz ne-
cessria a adoo de elementos de sombreamento.
8.2.3.2 Condies de insolao e sombreamento
no prottipo para o solstcio de inverno
A Figura 197 mostra a radiao solar incidente
sobre as paredes da edicao, para cada uma das
quatro orientaes, em diferentes horrios do dia,
para o solstcio de inverno (21 de junho).
Comentrios
Ganhos trmicos Para a situao simulada,
que representa o perodo do ano mais frio (entre abril
e setembro aproximadamente, incluindo o dia 21 de
setembro, cujos resultados so mostrados ao nal),
verica-se que a maior incidncia de radiao ocorre
sobre as superfcies voltadas para norte e sobre a ho-
rizontal. Neste perodo, desejvel a captao da ra-
diao solar, para proporcionar o aquecimento inter-
no da edicao. Aberturas maiores para a orientao
norte, com possibilidade de sombreamento no vero
(o que pode ser facilmente conseguido atravs do bei-
269
A Avaliao dos Resultados
Figura 196 Simulao do sombreamento
das fachadas no prottipo (21/12)
270
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
ral da cobertura) e com possibilidade de fechamento
ou obscurecimento noite (com o uso de gelosias, ve-
nezianas, etc.), para evitar perdas neste perodo do dia,
contribuiriam para o bom desempenho da edicao,
no que diz respeito a aspectos trmicos.
Iluminao natural Em relao ilumina-
o natural, nota-se, novamente, que a fachada sul
a que menos recebe radiao solar direta, tornando
esta fachada fria, porm adequada para o desenvol-
vimento de tarefas visuais, que exijam uniformida-
de de iluminao no decorrer do dia. J as fachadas
leste e oeste, da mesma forma que para condies
de vero, sero banhadas pelo sol, na parte da ma-
nh e na parte da tarde, respectivamente. Isso faz
com que o interior de ambientes com aberturas
voltadas para tais fachadas recebam luz direta do
sol, o que, a depender das atividades a serem desen-
Figura 197 Valores de radiao solar, em Wh/m, nas quatro orientaes, em 21 de junho
volvidas no interior de tais compartimentos, pode-
r no ser confortvel.
Na Figura 198, podem ser visualizadas as ima-
gens geradas para o solstcio de inverno em Porto
Alegre, com a fachada frontal voltada para o norte.
As vistas apresentadas mostram as fachadas norte e
oeste. Deve-se ressaltar que no foram consideradas
as obstrues externas existentes no terreno da im-
plantao (rvores ou outras edicaes), podendo
estas se constituir em signicativos elementos de
sombreamento das fachadas.
Nas imagens da Figura 198 possvel vericar
que, para o solstcio de inverno, o perodo de insola-
o das janelas localizadas na fachada norte inicia-se
entre as 7h00 e as 8h00 da manh e se prolonga at
pouco antes das 18h00. Durante a tarde, a janela da
sala/cozinha passa a receber insolao a partir das
271
A Avaliao dos Resultados
Figura 198 Simulao do sombreamento
das fachadas no prottipo (dia 21/06)
13h00 e ca apenas parcialmente sombreada pelo
pergolado de troncos da fachada oeste.
Para o perodo de inverno, considerou-se
como caracterstica desejvel a entrada de sol pe-
las superfcies envidraadas da construo. Com
isso, podem ser obtidos ganhos trmicos durante
a estao mais fria do ano. No entanto, o dormi-
trio da frente comea a receber insolao antes
das 8h00, representando um inconveniente para
os usurios em dias nos quais se deseja despertar
mais tarde (essa situao ir se repetir em todas as
outras simulaes).
272
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 199 Grfico mostrando os valores de radiao solar, em Wh/m, para as quatro orientaes, para a data de 21 de maro
Figura 200 Grfico mostrando os valores de radiao solar, em Wh/m, para as quatro orientaes, para a data de 21 de setembro
273
A Avaliao dos Resultados
8.2.3.3 Condies de insolao e sombreamento
no prottipo para o equincio
As demais guras mostram a radiao solar ou
energia radiante incidente sobre as paredes da edi-
cao, para cada uma das quatro orientaes, em di-
ferentes horrios do dia, para os equincios de outo-
no (21 de maro) e de primavera (21 de setembro).
Na Figura 201 so apresentadas as imagens ge-
radas para o equincio, a partir do mesmo ngulo
da cmera da Figura 198. Assim como na simulao
anterior, no foram consideradas as obstrues exter-
nas existentes no terreno da implantao.
Figura 201 Simulao do sombreamento
das fachadas no prottipo (21/09)
274
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Observa-se que aproximadamente 50% da su-
perfcie das janelas da fachada norte cam sombre-
adas ao longo do dia. Entre as 17h00 e as 18h00, o
sol passa a incidir quase que perpendicularmente
fachada oeste. Entre as 13h00 e as 14h00, a janela da
sala/cozinha comea a receber insolao direta, sendo
sombreada parcialmente pelo pergolado de troncos.
8.2.3.4 Avaliao das condies de sombrea-
mento das superfcies externas do prottipo
Casa Alvorada
Consideraes a respeito do estudo de sombrea-
mento das esquadrias
Fachada norte
Durante o perodo do inverno as janelas rece-
bem insolao direta, que alcana o seu maior valor
no dia do solstcio. No perodo do equincio, as es-
quadrias cam parcialmente sombreadas (pratica-
mente 50% de sua superfcie), o que demonstra que,
no perodo subseqente, cada vez menos radiao
solar entrar no interior do prottipo. O contrrio
acontece durante o solstcio de vero, quando o sol
alcana sua altura mxima e totalmente obstrudo
pelo beiral. A partir desse dia, sua inclinao (altura)
comea a diminuir, chegando ao equincio do outo-
no com as esquadrias parcialmente sombreadas, da
mesma forma que no equincio da primavera.
Uma alterao importante, que poderia ser
introduzida no projeto do PCA, seria a de uma des-
continuidade na inclinao do telhado, a partir do
seu alinhamento com a superfcie externa da pare-
de norte, determinando o seu caimento para a parte
frontal da edicao. Isso resultaria em uma maior
proteo da fachada norte, inclusive do prprio te-
lhado, contra as intempries. Essa mudana tambm
poderia melhorar as condies de sombreamento
das janelas altas, durante as estaes da primavera
e do outono.
Fachada leste
Ao longo do ano a esquadria localizada nesta
fachada recebe insolao direta durante o perodo da
manh. O beiral no representa um elemento efetivo
de sombreamento, visto que sua forma horizontal e
posio elevada no so ecientes para barrar o sol,
que est muito baixo no horizonte, durante essas ho-
ras do dia. Embora, a veneziana se mostre ecaz para
barrar a radiao solar, pode representar um obst-
culo iluminao natural, principalmente no vero,
quando o sol nasce ao sudeste e a janela dever car
praticamente fechada durante toda a manh (se o ob-
jetivo for bloquear toda a radiao solar direta).
Fachada oeste
A janela posicionada nesta fachada no possui
veneziana, o que pode representar um ganho indesej-
vel de radiao solar no vero. O pergolado de troncos
poder se tornar mais efetivo em sua funo de som-
breamento desta fachada com o crescimento das par-
reiras. Sem as parreiras, essa abertura dever se cons-
tituir em uma das principais responsveis pelo ganho
de calor no interior da edicao durante o vero.
Avaliao do sombreamento das fachadas no
prottipo
Segundo Dutra (1994), se a proporo de rea
275
A Avaliao dos Resultados
envidraada da parede externa voltada para norte
for pequena (em torno de 25%), deve-se permitir o
acesso do sol, garantindo fatores solares acima de
0,7 no inverno e menores ou iguais a 0,2 no vero.
Como os fatores solares baixos pressupem um alto
ndice de sombreamento, deve-se tambm equacio-
nar a questo da necessidade lumnica do ambiente.
Para evitar a insolao no perodo mais quente, su-
gere-se a adoo de um brise xo horizontal, o qual
resolve facilmente o problema. Com isso, durante
o inverno, com o sol mais baixo, ca garantida a
incidncia solar no ambiente (e o ganho de calor
atravs da radiao de onda curta entrante).
Para a fachada leste, Dutra (1994) sugere um
fator solar entre 0,7 e 0,8, para propores de aber-
tura menores que 25% da parede. Dutra tambm su-
gere que seja evitada, sempre que possvel, a distri-
buio de ambientes mais nobres para as fachadas
oeste e que, talvez, a melhor soluo de sombrea-
mento para essa fachada sejam os brises mveis ou,
ento, o uso de rvores com folhas caduciflias.
Na fase de concepo do projeto do prot-
tipo Casa Alvorada foram calculadas as dimenses
dos beirais para sombrear as esquadrias da facha-
da norte durante o vero, e permitir a entrada de
sol desejvel no inverno. Tambm foi projetado um
pergolado, junto fachada oeste, para sombrear
essa face da edicao durante as tardes do vero.
Concomitante a isso foi previsto o plantio de trepa-
deiras caduciflias junto aos troncos do pergolado,
para tornar mais efetivo o sombreamento no vero
e permitir ganhos trmicos no inverno (parreiras).
8.2.4 Avaliao das condies de iluminao
natural mediante simulaes com o programa
Daylight
Esse procedimento de avaliao de ilumina-
o natural foi descrito em Morello, Bevilacqua e
Grigoletti (2004), e empregou as estimativas do
programa Daylight, o qual fornece, a partir da geo-
metria do ambiente e dimenses e localizao das
aberturas, a distribuio de iluminncias no interior
do ambiente, apresentando o ndice Fator de Luz
do Dia. Este representa a percentagem disponvel
de iluminncia naquele ponto medido em relao
quela disponvel no exterior. Para ns de anlise,
considerou-se uma iluminncia externa disponvel
de 10.000 lux.
A seguir, so apresentadas as simulaes reali-
zadas no programa Daylight, para cada um dos com-
partimentos do prottipo Casa Alvorada.
8.2.4.1 Banheiro
No banheiro do Prottipo Alvorada foram
vericadas as piores condies de iluminao na-
tural. Em qualquer hora do dia, faz-se necessrio
complementar o nvel de iluminao com o uso
de lmpadas. Para a simulao foram adotados os
valores apresentados no Quadro 31, a seguir.
Na Figura 202 pode-se vericar o resultado
obtido com a simulao no programa Daylight
para a distribuio da luminosidade nesse compar-
timento.
276
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 31 Banheiro: valores utilizados na simulao
com o programa Daylight
Figura 202 Distribuio da iluminao natural
no interior do banheiro
Percebe-se, pela observao dos contornos
dos nveis de iluminao, que o valor mximo no
ultrapassa 0,3% da iluminao externa. Esse valor
conrmado pelas medies efetuadas no dia 27 de
outubro de 2003, quando foi registrado, para o ponto
central do compartimento, no mais do que 10 lux.
O programa Daylight aponta os seguintes valo-
res para as condies simuladas.
Essas condies se devem principalmente ao
diminuto tamanho da janela, ao grande beiral forma-
do pela reentrncia da rea de servio e baixa ree-
tncia do forro e das paredes. Quadro 32 Resultados da simulao
277
A Avaliao dos Resultados
Sabe-se que as esquadrias representam um cus-
to signicativo no cmputo geral dos materiais de
construo utilizados em uma habitao de interesse
social. Em funo disso, na proposta de alterao do
projeto, sugere-se um pequeno aumento na rea da
superfcie da janela do banheiro, visto que esse com-
partimento foi o que demonstrou o pior desempe-
nho sob esse aspecto. Mas, como principal alterao,
para melhorar as condies de iluminao natural
interna, prope-se a pintura das superfcies das pare-
des e do forro com cores claras ou branco.
Quadro 33 Banheiro: valores utilizados na nova simulao
com o programa Daylight
A partir dessas alteraes, novamente foram
simuladas as condies do novo projeto. Foram
consideradas as seguintes dimenses e coecien-
tes para a simulao.
Na Figura 203 se verica que, apesar dos
percentuais de iluminao ainda no serem muito
altos, houve uma melhora signicativa na utiliza-
o da iluminao natural.
Figura 203 Simulao da distribuio da
iluminao natural no interior do banheiro no
projeto proposto
278
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Os seguintes valores foram registrados pelo
programa.
Nota-se que tanto o valor mnimo como a
mdia tiveram seus valores quintuplicados, fazendo
com que a uniformidade permanecesse inalterada.
Quadro 34 Resultados da nova simulao
Quadro 35 Banheiro: valores utilizados na simulao com o programa Daylight
8.2.4.2 Dormitrio dos fundos
Na Figura 204 pode-se vericar o resultado obti-
do com a simulao no programa Daylight para a dis-
tribuio da luminosidade no dormitrio dos fundos.
Para a simulao foram adotados os valores
apresentados abaixo.
279
A Avaliao dos Resultados
Figura 204 Simulao da distribuio da iluminao
natural no interior do dormitrio dos fundos atual
Observando a Figura 204, percebe-se que em
determinados pontos do ambiente existe pouca lu-
minosidade. Isso vericado tambm pelos dados
numricos registrados pelo programa.
Quadro 36 Resultados da simulao
Para melhorar as condies de luminosidade
optou-se por sugerir o aumento da reetncia das pa-
redes atravs da pintura delas com a cor branca. Tam-
bm se sugeriu a adoo de esquadrias com um fator
de caixilho menor (mesmo em madeira possvel
chegar a 70% da superfcie envidraada). Alm disso,
para esse e para os demais compartimentos, buscou-
se adotar no projeto novo as dimenses mnimas exi-
gidas pelo Cdigo de Edicaes da Cidade de Santa
Maria (com a rea de janela igual ou superior a 1/6
da rea de piso). Com isso a janela do dormitrio dos
fundos, no novo projeto, passar a ter 1,20 m x 1,20
m (1,44 m de rea).
8.2.4.3 Dormitrio da frente (janela para norte)
Na Figura 205 pode-se vericar o resultado obti-
do com a simulao no programa Daylight para a dis-
tribuio da luminosidade no dormitrio da frente.
280
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 205 Simulao da distribuio da iluminao
natural no interior do dormitrio da frente
Quadro 37 Dormitrio da frente: valores utilizados na simulao com o programa Daylight
Para a simulao foram adotados os valores abaixo.
Observando a Figura 205, percebe-se que em
determinados pontos do ambiente existe pouca lu-
minosidade. Isso vericado tambm pelos dados
numricos registrados pelo programa.
Quadro 38 Valores fornecidos pelo programa Daylight para o
dormitrio da frente
281
A Avaliao dos Resultados
8.2.4.4 Sala/cozinha
Na Figura 206 pode-se vericar o resultado obti-
do com a simulao no programa Daylight para a dis-
tribuio da luminosidade na sala/cozinha atual. Foi
necessrio fazer duas simulaes separadamente para
esse compartimento devido posio da janela alta.
Figura 206 Simulao da
distribuio da iluminao
natural no interior da sala/
cozinha (somente janelas
baixas)
Para as simulaes 1 e 2 foram adotados os va-
lores constantes no quadro que se segue.
Quadro 39 Sala/cozinha: valores utilizados
na simulao com o programa Daylight
282
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 207 Simulao da distribuio da iluminao
natural no interior da sala/cozinha (somente janela alta)
Quadro 40 Valores fornecidos pelo programa Daylight para a
sala/cozinha
Segundo Szokolay (1980), a iluminncia de
uma superfcie de vrias fontes a simples soma das
iluminncias produzidas por cada uma das fontes.
Dessa forma, como no caso acima, podem ser soma-
Observando as Figuras 206 e 207, percebe-se
que em determinados pontos do ambiente existe
pouca luminosidade. Observa-se que a janela alta
contribui muito pouco para a iluminao do ambien-
te (no chega a 0,2% nos pontos de maior contribui-
o). Isso facilmente vericado pelos dados num-
ricos registrados pelo programa.
das as contribuies das janelas baixas com a da ja-
nela alta (obviamente isso no vale para o percentual
da mdia, nem para o ndice de uniformidade).
8.2.4.5 Consideraes a respeito da iluminao
natural
No projeto do PCA ocorrem muitas zonas es-
curas, em um patamar entre 1% e 2%. O aumento das
dimenses das janelas poderia ser vericado em ter-
mos de custos, para tentar viabilizar a sua execuo
em futuras edicaes similares. Especial ateno
deve ser dada ao banheiro, onde foram vericados os
piores resultados em relao iluminao natural. A
diminuio do fator de caixilho tambm poder con-
tribuir para aumentar os nveis de iluminao interna
sem elevar o custo das esquadrias.
8.2.5 Anlise crtica qualitativa do projeto do
prottipo Casa Alvorada
A seguir so apresentados e discutidos aspec-
tos negativos observados atravs da anlise qualitati-
va feita a partir de plantas, cortes, fachadas e obser-
283
A Avaliao dos Resultados
vao in loco efetuada no prottipo construdo no
campus do Vale da UFRGS (MORELLO; BEVILACQUA;
GRIGOLETTI, 2004).
8.2.5.1 Ventilao
Atravs do estudo em planta e cortes verica-
se que a ventilao cruzada no prottipo no efe-
tiva, uma vez que as entradas e sadas de ar (janelas
e portas) no permitem uma circulao entre as fa-
chadas externas da edicao localizadas em pare-
des opostas, tendo presente que os ventos predomi-
nantes de vero em Porto Alegre vm do quadrante
leste/sudeste (UBER, 1992).
Com a mudana da porta da rea de servio, da
face oeste da edicao para a face sul, haveria uma
ventilao cruzada mais efetiva, admitindo-se que a
entrada de ar ocorresse pela abertura do dormitrio
dos fundos e pela porta voltada a sul, e a sada de
vento pela face voltada a norte e oeste.
A janela alta (dormitrio e sala de estar/cozi-
nha), cujo objetivo principal era o de proporcionar a
exausto do ar quente formado no interior do prot-
tipo, no est cumprindo a funo programada devi-
do diculdade de operao da abertura.
8.2.5.2 Iluminao natural
No atual projeto, no existe nenhum elemento
de sombreamento e obscurecimento das esquadrias
do dormitrio da frente e sala/cozinha, havendo ne-
cessidade de serem acrescidos tais dispositivos nes-
sas aberturas (venezianas iguais quela adotada no
dormitrio dos fundos, por exemplo).
Vericou-se, no presente trabalho, que, em m-
dia, aproximadamente 50% da rea da rea nominal
das aberturas instaladas no prottipo Alvorada obs-
truda pelos caixilhos. O estudo de aberturas visa me-
lhorar aspectos de ventilao e iluminao naturais,
no contemplados pela tipologia adotada pelo proje-
to. Considerando-se esquadrias de madeira, seria pos-
svel chegar a valores em torno de 70% de vidro em
relao rea total da esquadria, ou seja, mesmo que
se privilegie a adoo de madeira para as esquadrias,
possvel aumentar a rea efetiva para iluminao.
Tambm foi identicado que os acabamentos
(reetncias) das superfcies internas no otimizam
o aproveitamento da luz natural. Prope-se o uso de
cores claras para superfcies internas (paredes e for-
ros) a m de aproveitar melhor a luz natural. Esse
procedimento pode ser feito diretamente sobre a al-
venaria, dispensando o reboco, que poderia aumen-
tar custos da construo do prottipo.
8.2.5.3 Aspectos construtivos
Em relao funcionalidade das aberturas su-
periores (janelas altas), estas so muito pequenas e
com diculdade de acionamento pelos usurios (di-
fcil acesso para abertura e fechamento delas). Para
uma situao em que no se construir o mezanino
junto a essas janelas, prope-se o uso de um sistema
antigo de corrente e contrapeso, de fcil manuseio e
manuteno por parte do usurio da edicao.
Na parte mais alta do telhado, ocorre um enve-
lhecimento acelerado do fechamento norte do forro
ventilado. Isso se d devido sua exposio ao sol du-
rante todo o dia e sua forma, que o torna vulnervel
284
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
ao escorrimento da gua da chuva. Sugere-se que o
beiral no continue ascendendo, aps passar pelo ali-
nhamento da parede norte, mas que caia para a frente
da edicao, protegendo um pouco mais a parede
norte e, principalmente, suas esquadrias (Figura 208).
8.2.5.4 Diviso dos compartimentos e fluxos
Em relao diviso dos compartimentos e
posio de aberturas, o grande nmero de portas
que abrem para o ambiente de estar e cozinha cria
uma circulao perdulria, diminuindo a rea til do
recinto. Alteraes no posicionamento de tais portas
poderiam otimizar o uso desse compartimento. Alm
disso, a excessiva rea do banheiro acaba diminuindo
a rea da sala/cozinha. Embora o banheiro tenha sido
projetado para permitir o acesso de uma cadeira de
rodas, entende-se que tal situao a exceo, e no
a regra, constituindo uma alternativa para quando
isso se zer necessrio.
Ainda fazendo uma anlise do aproveitamento
de reas na edicao, nota-se que os alpendres fron-
tal e lateral pouco contribuem para o conforto da
residncia, devido sua pequena dimenso. No caso
do alpendre frontal, alm da pequena rea, no co-
berto, pouco contribuindo para o conforto do usu-
rio que desejar usar esse espao. J o alpendre lateral,
devido sua pequena largura, torna desconfortvel
e mesmo impossibilita o uso do tanque destinado
lavagem de roupas. Uma proposta de alterao inte-
graria tais reas ao interior da edicao, criando um
alpendre plugado na face norte da edicao. Com
isso, a rea interna passaria de 38 m para 42 m, per-
mitindo a ampliao da rea da sala/cozinha, alm
de melhorar os uxos e possibilidades de distribui-
o de mobilirio. Essa mudana contempla um dos
principais anseios dos moradores do assentamento
de Nova Hartz, onde foram construdas seis edica-
es baseadas no projeto arquitetnico do prottipo
Alvorada (MORELLO et al., 2003).
Figura 208 Visualizao da nova proposta, com o deslocamento
do alpendre lateral para a fachada norte e modificao no telhado
Outro aspecto negativo vericado foi o p-di-
reito elevado, que no utilizado em todo o seu po-
tencial. Alteraes poderiam ser feitas explorando-se a
possibilidade de uso do p-direito duplo com um me-
zanino, para aumento da rea til da edicao (apro-
ximadamente 12 m). Duas propostas poderiam ser
exploradas: uma com escada convencional passando
pelo dormitrio da frente; e outra com uma escada do
tipo Santos Dumont, dentro da sala, com degraus al-
ternados. Em ambas as situaes, poderiam ser propos-
tos usos para o espao criado embaixo dessas escadas
(estantes ou armrios), evitando perdas demasiadas de
superfcie de piso com circulao vertical.
Verica-se, tambm, que as paredes internas
de alvenaria no permitem exibilidade no uso dos
285
A Avaliao dos Resultados
ambientes (perda de rea til interna devido espes-
sura das paredes). Para melhorar esse aspecto, pode-
riam ser utilizadas divisrias leves. que poderiam ser
facilmente adaptadas segundo as necessidades dos
usurios. Em um clculo expedito, observou-se que
a rea de alvenaria seria reduzida em quase 14 m,
tornando desnecessria a construo de fundaes
sob as mesmas (j contabilizado o aumento de pare-
des externas em funo do aumento da altura). Com
isso, a rea til de piso interno aumentaria 1,08 m
(ganhar-se-ia a rea necessria para a circulao em
frente ao banheiro).
Outro aspecto pertinente seria a possibilidade
de expanso da moradia, uma vez que essa uma das
necessidades mencionadas com maior freqncia
por parte dos moradores do assentamento de Nova
Hartz (MORELLO et al., 2003). Para no se perderem
as benesses proporcionadas pelas estratgias adota-
das no projeto original, como o telhado ventilado e
a orientao de sua superfcie para o sul, poderia ser
criada uma alternativa com a possibilidade de expan-
so para o fundo do lote.
8.3 O prottipo Casa Alvorada: a construo
8.3.1 A construo do prottipo
8.3.1.1 Introduo
A construo do prottipo Casa Alvorada en-
volveu mais de 15 estudantes de ps-graduao e
de graduao, alm de professores, com vinculao
permanente ou temporria ao NORIE. Um dos ob-
jetivos do envolvimento de alunos foi o de procurar
demonstrar a viabilidade de sua construo por mo-
de-obra pouco qualicada, como provavelmente se-
ria a dos futuros usurios, populaes de baixa ren-
da. A iniciativa de autoconstruo foi, inclusive, dos
prprios alunos, que demonstraram entusiasmo em
eles prprios construir o prottipo. Como poucos ti-
nham experincia de obra mesmo os que tinham,
era apenas em aspectos particulares da construo ,
programou-se um curso de qualicao para aqueles
que se dispunham a participar. Foram feitos, inclusi-
ve, contatos com o Servio Nacional de Aprendizado
Industrial (SENAI/RS), particularmente ao seu setor
ligado construo civil, que qualica jovens para
trabalhar em construo civil, para ministrar o cur-
so, buscando realiz-lo no prprio local onde seria
erguido o prottipo. No entanto, como os recursos
de que se dispunha eram escassos e haveria custos
no considerveis, mas tambm no disponveis
para esse m especco , resolveu-se desenvolver
um curso bsico de qualicao com o auxlio de
diversos professores da UFRGS, atuando na rea de
construo e geotecnia. Assim, a equipe disposta a
se envolver na construo recebeu uma orientao
especca, abrangendo conhecimentos sobre execu-
o de fundaes (que depois se revelaria de extre-
ma importncia diante das condies limitadas de
suporte do solo local), materiais de construo e de
gesto da construo.
Inicialmente, pensava-se que seria possvel
envolver os estudantes em quase todas as etapas de
construo, que, estimava-se, requereria de quatro a
seis meses, no mximo. No entanto, vrios fatores con-
triburam para que isso, depois, no viesse a se efetivar:
286
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
o tempo de negociaes requerido, dentro da univer-
sidade, para obter um local onde erguer a edicao
(foi necessria a formalizao de um processo admi-
nistrativo e vrias etapas de negociao com o depar-
tamento usurio da rea); as condies precrias do
solo, demandando a execuo de fundaes especiais;
a demora em contar com equipamentos de escavao,
graciosamente cedidos pela prefeitura universitria; a
poca de incio das obras (nal de novembro), logo se-
guido de perodo de frias (e conseqente diminuio
da equipe de trabalho); e, a seguir, o envolvimento dos
estudantes em atividades acadmicas (em sua maioria,
de ps-graduao), bastante demandantes de tempo.
Isso resultou na contratao de um prossional (pe-
dreiro) com experincia, a partir de fevereiro de 2002,
para a execuo de componentes especcos e para
uma conduo ininterrupta dos servios de constru-
o; e de um servente, a partir de maio de 2002. Uma
estudante de ensino mdio cujo pai era pedreiro e
residente em uma vila prxima ao campus recebeu
uma bolsa do projeto para apontar a movimentao
de materiais e mo-de-obra envolvida na obra e servir
de intermediria entre a equipe de coordenao do
projeto e a equipe de campo.
8.3.1.2 Ilustraes relativas ao desenvolvimento
da construo
Tanto em razo da falta de recursos como pela
indenio quanto s solues a serem encaminhadas
quanto s instalaes eltricas e hidrulicas (se conven-
cional ou fotovoltaica, qual tipo de coletores solares
para o aquecimento dgua, aproveitar ou no as guas
de chuva no vaso sanitrio e na irrigao), estas no ha-
viam sido concludas at o nal de 2006. Tais instalaes
estavam sendo ultimadas no incio de 2007 pela equipe
do Laboratrio de Energia Solar, da Engenharia Mecni-
ca da UFRGS, responsvel pela rea onde foi construdo
o prottipo, para viabilizar o uso do prottipo por estu-
dantes de ps-graduao desse laboratrio.
A documentao fotogrca apresentada a se-
guir ilustra o histrico dos trabalhos no canteiro de
obras, desde a marcao da obra at o estgio de con-
cluso do envelope da edicao.
Figura 209 Marcao da
obra, em 28/11/01
287
A Avaliao dos Resultados
Figura 210 Escavao das fundaes, em 19/12/01
Figura 211 Materiais reusados
para as fundaes ( esquerda,
materiais descartados na substi-
tuio de pavimentos do
campus Central da UFRGS:
direita, restos de demolio de
construo preexistente ao lado
do lote destinado ao prottipo),
em 02/01/02
Figura 212 Preparao do
bero para as fundaes, em
04/02/02
288
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 214 Execuo das formas
para as vigas de fundao, em
20/03/02
Figura 213 Construo dos alicerces sobre o bero, em 02/03/02
Figura 215 Construo do piso,
em 04/05/02
289
A Avaliao dos Resultados
Figura 216 Elevao das paredes,
em 06/06/02
Figura 217 Execuo das vigas
de coroamento das paredes, em
13/06/02
290
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 218 Vigas de coroamento (telhado sul, inferior), em 14/06/02
Figura 219 Execuo das caixas de gordura e filtros, em 18/07/02
291
A Avaliao dos Resultados
Figura 220 Fachada norte
(parte superior), com janelas
superiores, em 18/07/02
Figura 221 Edificao pela primeira vez coberta, em
31/10/02
292
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 222 Vistas externas e internas, em 05/11/02
293
A Avaliao dos Resultados
Figura 223 Banheiro e seu
revestimento (recebido em doao),
em 05/11/02
Figura 224 Detalhes construtivos
do telhado, em 26/11/02
294
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 226 Prottipo com janelas instaladas, em 28/01/03
Figura 225 Pergolado em construo,
em 15/12/02
295
A Avaliao dos Resultados
Figura 227 Prottipo em detalhes, em 15/04/03
296
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.3.2 Implantao de um sistema modular de
gesto de guas residurias
8.3.2.1 Introduo
Em uma dissertao de mestrado desenvolvida
no NORIE (ERCOLE, 2002), so apresentados vrios
exemplos de aplicao de um sistema de tratamen-
to de guas residurias proposto pelo seu autor. Um
desses sistemas foi implantado junto ao prottipo
Casa Alvorada.
Figura 228 Implantao do sistema de tratamento de guas
residurias do prottipo Casa Alvorada (vista a partir do leito
de evapotranspirao, em execuo)
dgua, para polimento do euente nal.
Todas as tubulaes do sistema de tratamento
de guas residurias so de cermica (evitam o uso de
PVC). As caixas de passagem e caixas sifonadas tambm
so de alvenaria de tijolos cermicos, revestidos com
argamassa de cimento e areia (Figura 229). Dentro do
mesmo esprito, os sifes dessas caixas foram execu-
tados com tubulaes cermicas, convenientemente
cortadas e unidas com argamassa de cimento e areia
(Figura 229).
As guas cinzas (da cozinha, rea de servio
e banheiro chuveiro e lavabo) passam por decan-
tadores (Figuras 229 e 230) e caixa de mistura dos
euentes cinzas (guas cinzas), antes de se combina-
rem com o euente do vaso sanitrio (guas negras),
preliminarmente tratado no reator anaerbio.
O reator para o prottipo, em fase de constru-
o, est detalhado nas Figuras 232 e 233, tendo sido
dimensionado para uma famlia de at cinco pessoas.
Na Figura 231, observa-se o compartilhamento das
paredes dos equipamentos, em uma proposta alter-
nativa (no implementada no prottipo), que busca-
ria a reduo de seu custo.
As paredes do reator foram executadas com
tijolos cermicos macios, revestidos com argamas-
sa de cimento e areia. O fundo de concreto, com
espessura de 5 cm. A cobertura, ou tampa do reator,
feita com laje de concreto pr-moldado, com tampas
para limpeza de concreto armado, com malha de ao
de bitola de 4,2 mm, com espaamento de 50 mm.
Essas tampas tm dimenso de 0,30 m x 0,30 m e
espessura de 5 cm. Todas as conexes desse reator
so compostas de tubulaes de cermica.
8.3.2.2 Descrio ilustrada do sistema modular
implantado junto ao prottipo
O sistema modular implantado junto ao pro-
ttipo prope a separao das guas cinzas e negras,
um leito de evapotranspirao (tambm conhecido
como canteiro de evapotranspirao ou leito de ra-
zes ou reed bed) e, complementarmente, um espelho
297
A Avaliao dos Resultados
Figura 229 Sifo ( esquerda) e decantadores do sistema de tratamento
Figura 230 Modelo de decantador utilizado no prottipo Casa Alvorada
298
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 231 Modelo de sistema modular, com separao de guas negras e cinzas, utilizado no prottipo Casa Alvorada
299
A Avaliao dos Resultados
Figura 232 Sistema modular, com separao de guas negras e cinzas, no prottipo Casa Alvorada.
Na extremidade superior da foto esquerda, a caixa de mistura de guas cinzas (oriundas do banhei-
ro e cozinha), precedida de uma caixa de gordura (para as guas da cozinha)
Figura 233 Sistema modular, em construo,
mostrando, esquerda, os seus dois compartimen-
tos (acima, digestor; abaixo, o filtro). direita,
o sistema modular sendo coberto por laje, onde
tambm se observa o filtro (abaixo), executado
com o uso de blocos de 6 furos
300
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
O euente desse reator, aps agregar as guas
cinzas e negras, pr-tratadas, conduzido para um
leito de evapotranspirao, conforme a Figura 234. O
leito de evapotranspirao impermeabilizado, em
sua base, com um lenol de polietileno de alta densi-
dade. O objetivo dessa impermeabilizao no per-
mitir a inltrao das guas tratadas atravs do fundo
do leito, j que o lenol fretico se encontra elevado,
mas realizar o polimento do euente do leito atravs
de um tratamento complementar, com um pequeno
espelho dgua, que recebe um sistema vivo, com-
posto de plantas e fauna aquticas. O fundo desse es-
pelho dgua no impermeabilizado, possibilitando
que um eventual excedente lquido, adequadamente
depurado, possa ser conduzido para um crrego (as
nascentes do Arroio Dilvio) que corre prximo ao
local onde se encontra o prottipo.
Figura 234 Construo do leito de evapotranspirao, com impermeabilizao ao fundo (esquerda) e
leito filtrante, construdo com a utilizao de entulhos resultantes da obra (direita)
301
A Avaliao dos Resultados
8.3.2.3 Consideraes finais
Nas concluses nais de seu trabalho, Ercole
(2002) arma que
o sistema modular, com separao de guas
cinzas, , na realidade, a associao de vrios siste-
mas de tratamento de esgotos, utilizados h muito
tempo, acrescidos de alguns detalhes construtivos
resultantes dos avanos obtidos pelos estudos de
microbiologia nas trs ltimas dcadas, princi-
palmente, como, por exemplo, o lanamento do
auente prximo ao fundo do reator, onde a con-
centrao de microorganismos maior, o que torna
a digesto do esgoto mais rpida.
Adiciona que um sistema de construo sim-
ples, que utiliza materiais comuns, requer pouqussi-
ma manuteno e no necessita de energia externa
para o seu funcionamento. Embora de concepo e
funcionamento simplicados, esse sistema modular
apresenta ecincia de tratamento muito superior ao
de sistemas convencionais, alm de constituir uma
alternativa mais sustentvel de tratamento local de
euentes lquidos, que substitui as solues tradi-
cionalmente adotadas, principalmente em empreen-
dimentos habitacionais de interesse social, de trata-
mento de m de tubo.
8.3.3 Coletor solar de baixo custo
8.3.3.1 Introduo
Um terceiro produto da disciplina Comunida-
des Sustentveis em Prtica, j referida anteriormen-
te, foi o desenvolvimento de estudos para projetar e
construir um coletor solar de placas planas de bai-
xo custo, concebido para ser utilizado no prottipo
Casa Alvorada ou em outras habitaes de interesse
social (MUSSKOPF, 2005).
8.3.3.2 Dados de embasamento do projeto
A temperatura de gua fria foi estimada a partir
do valor da temperatura mdia mnima do ar, que cor-
responde ao valor adotado quando existem reservat-
rios elevados como parte do sistema de calefao.
No h normas brasileiras que estimem con-
sumo de gua quente, por pessoa, para sistemas de
aquecimento de gua por energia solar. Sendo esse
um valor relativo aos costumes e usos da populao,
estimou-se um consumo de gua quente, para banho,
da mesma forma com que o fazem as empresas de
aquecedores de gua: 40 L/dia por pessoa. Sendo a
composio da famlia mdia no Rio Grande do Sul
de cinco membros, dois adultos e trs crianas, o
consumo de gua quente totaliza 200 L/dia.
Na Tabela 13 possvel observar uma estima-
tiva de aquecimento de 200 L de gua e a economia
(em reais), para uma superfcie de 1 m, e ecincia
de 20%, entre a radiao incidente e o aquecimen-
to de gua. Os dados da tabela foram utilizados para
confeccionar a Figura 235.
8.3.3.3 Prottipo experimental do coletor solar
O objetivo principal substituir e/ou amenizar
a utilizao da ducha eltrica, usada por mais de 70%
da populao brasileira e responsvel por grande
parte do consumo de energia eltrica no horrio de
pico, utilizando a energia solar abundante e limpa.
O equipamento foi construdo com refugos da cons-
302
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Tabela 13 Dados climticos de Porto Alegre, dados de consumo e temperatura da gua, estimativa de economia. Fonte: Azoztegui (1987)
truo civil, sucatas e materiais reaproveitados, redu-
zindo bastante o seu custo (R$ 135,74 em maro de
2005), alm de dar um destino mais nobre ao lixo.
O processo de montagem e instalao simples e
executvel por pessoas com baixo nvel de instru-
o. A estimativa que o equipamento amortize seu
custo em um ano.
O critrio (e desao) do projeto foi o de utili-
zar materiais reciclados, de descarte e de baixo im-
pacto ambiental para a construo do sistema de
captao de energia e de armazenamento de gua.
Tambm foram substitudos ou eliminados os com-
ponentes caros dos sistemas tradicionais. A monta-
gem do sistema foi simplicada, para que no exi-
gisse mo-de-obra especializada para a montagem e
instalao do sistema.
303
A Avaliao dos Resultados
Figura 235 Curva estimativa de temperatura da gua fria e quente, e temperatura do ar
Material, preparo, montagem e instalao
A lista de todos os produtos utilizados com
suas quantidades e preos se encontra na Tabela 14.
O tanque acumulador (Figura 236) um tonel de
transporte de leo metlico, de 220 L, comprado em
ferro-velho. Aps a lavagem com gua e remoo de
ferrugem com lixa, recebeu trs demos de zarco.
As instalaes hidrulicas so similares a de uma cai-
xa dgua de coletor solar tradicional. importante
observar que no h peas no mercado propcias
para a construo de coletores solares, tendo, assim,
que ser adaptadas. A entrada de gua fria provida
de torneira bia comum, de descarga. A sada de
gua quente, na parte inferior da caixa, foi executa-
da com conexes de PVC, compatveis com dutos
de polipropileno, e as duas comunicaes com a
placa coletora (superior e inferior), com parafusos
Figura 236 Tanque armazenador de gua
de luminria, cmara de pneu de bicicleta e cola de
silicone (Figuras 239, 240 e 241). Para aumentar o
isolamento do tonel, previu-se o seu revestimento
com um cobertor (Figura 242).
304
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 237 Placa
coletora com lona
plstica
Figura 241 Conexo
com a placa coletora
Figura 238 Suporte
para o tanque
Figura 242 Isolante
trmico
Figura 239 Torneira
bia
Figura 240 Conexo
de PVC
305
A Avaliao dos Resultados
Figura 244 Fixao da mangueira
Figura 243 O prottipo Alvorada
A placa coletora (Figura 237) foi executada ten-
do como base meia chapa de compensado naval, re-
fugo da construo civil. Sobre ela foram xadas, com
pregos, duas chapas de off-set (chapas de alumnio
descartadas por indstrias grcas) e com braadei-
ras de nylon, 20 m de tubo de cobre (3/8), dispostos
em serpentina. Embora seja perfeitamente possvel
de ser executado mo, foi utilizado um curvador de
canos de cobre, para a execuo da serpentina, pois
facilita o trabalho e melhora a esttica da placa a car
exposta no prottipo Casa Alvorada. As placas de off-
set e os tubos de cobre foram pintados de preto, com
sobras de tinta esmalte. Para aumentar a ecincia
do sistema, foi xada uma lona plstica transparente,
de estufa, cobrindo o sistema e afastada por meio de
ripas de madeira dos componentes inferiores. As par-
tes de madeira que caram expostas foram pintadas
para aumentar a vida til da placa. A placa coletora
dever ser xada na parte externa da casa, na facha-
da norte (Figura 243), com uma inclinao de 45,
306
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
atravs de dobradias metlicas e parafusos. O tan-
que armazenador deve car no interior da edicao,
dando preferncia maior proximidade com o cole-
tor, em vez do banheiro, uma vez que a tubulao hi-
drulica da casa de material isolante. Para x-lo, foi
construdo um suporte que permite sua instalao
em uma parede alta. Para a conexo da placa coletora
no tanque armazenador, foi utilizada uma mangueira
para uidos, de alta presso (facilmente, porm, subs-
tituvel por mangueira de jardim). Ela foi conectada
placa coletora e ao tonel com braadeiras.
Custos de montagem e instalao
O custo de montagem e instalao do aquece-
dor solar de baixo custo consta na Tabela 14. Como
a inteno do experimento foi o uso de materiais
reciclados, a grande maioria resultou do reso de
materiais, j possudos pelo autor, o que resultou
em um custo total de R$ 135,74. Caso todas as pe-
as desse mesmo coletor fossem compradas, o cus-
to seria de R$ 256,54.
O custo do coletor solar simula a possibilida-
de de sua aquisio e montagem por uma famlia
de baixa renda. Porm, o mais importante a redu-
o do consumo do chuveiro eltrico. Ele respon-
svel pelo consumo de 600 Kwh/ano por famlia e
representa um investimento mdio de US$ 600,00,
para gerar e distribuir a energia consumida, de cada
nova ducha.
Estimativa de aquecimento
Estimou-se, de forma simplicada, o aqueci-
mento de gua pelo sistema, considerando a radia-
o solar em um plano a 45, a rea de 1 m da placa
coletora e uma ecincia de 20% nas trocas trmicas.
Os resultados esto expressos na Tabela 13. pos-
svel observar que, mesmo quando utilizamos baixa
ecincia, o sistema apresenta uma boa economia e
permite sua amortizao em 1 ano.
8.3.3.4 Recomendaes quanto construo do
coletor solar
Sugere-se o uso de tubulaes rgidas para a
execuo da serpentina da placa coletora e grande
cuidado na execuo das dobras, para evitar o risco
de rompimento. Uma dobra mal executada ou com
material exvel poder acarretar em surgimento de
bolhas, o que prejudicaria o uxo do sistema.
O plstico, correntemente utilizado em estufas
(polietileno), pode ser substitudo, com muitas van-
tagens, por vidro (que tambm poder ser reciclado).
Alm de apresentar pior isolamento, o plstico dilata
e se degrada facilmente com a exposio radiao
solar e acaba entrando em contato com os tubos, pre-
judicando o efeito de cmara de ar. A sua durabilida-
de, portanto, tende a ser baixa.
No h necessidade de se executarem todos
os aquecedores solares com os materiais aqui ilus-
trados. O ideal a utilizao de materiais dispon-
veis localmente e usualmente descartados. Apenas
como ilustrao, a simples colocao de caixas de
gua de brocimento (devidamente tampadas) no
exterior da edicao, em um local bastante en-
solarado, j suciente para aquecer a gua em
vrios graus.
307
A Avaliao dos Resultados
Tabela 14 Lista de materiais
e custos para a montagem e
instalao do coletor solar
308
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.4 O prottipo Casa Alvorada: medies e
avaliaes in loco do prottipo
8.4.1. Avaliao das condies de iluminao
natural mediante medies e simulaes
Na manh do dia 27 de outubro de 2003, entre
9h30min e 10h30min, um grupo de alunos do NO-
RIE realizou medies dos nveis de iluminao no
interior do prottipo Casa Alvorada com o auxlio de
um luxmetro. As medies visaram vericar as con-
dies de iluminao natural em pontos internos da
edicao, avaliando a necessidade de complementa-
o com iluminao articial nos diversos comparti-
mentos, assim como apresentar propostas de corre-
o para os problemas de projeto vericados.
Foi observado que, junto s aberturas, a 80 cm
do piso, o aparelho chegou a marcar valores entre
500 e 1.000 lux. No entanto, no centro dos compar-
timentos os valores medidos no passaram dos 300
lux (com exceo do dormitrio dos fundos, voltado
para leste, que estava recebendo insolao direta-
mente sobre o piso). Isso demonstra a falta de ho-
mogeneidade da distribuio da iluminao natural
proveniente do exterior (como poder ser percebi-
do nas simulaes adiante realizadas).
Segundo Lamberts, Pereira e Dutra (1997, p. 45),
o emprego preferencial da luz natural permite s pes-
soas maior tolerncia variao do nvel de ilumina-
o. Tambm arma que, quanto mais complexa a tare-
fa a ser desenvolvida e quanto maior a idade da pessoa,
maior tambm dever ser o nvel de iluminao. A ilu-
minao insuciente pode causar cansao, dores de
cabea e irritao, alm de provocar acidentes.
No Brasil, a Associao Brasileira de Normas
Tcnicas (ABNT) xa as iluminncias mnimas a se-
Quadro 41 Classificao dos nveis de iluminao, segundo o tipo de tarefa a ser desenvolvida
309
A Avaliao dos Resultados
rem atingidas em funo do tipo de tarefa visual, atra-
vs da NB 57.
De maneira simplicada, Lamberts, Pereira e
Dutra (1997) apresentam um quadro com valores do
nvel de iluminao necessrios em um ambiente, de
acordo com a tarefa a ser desenvolvida. No entan-
to, observa-se que para uma vericao mais precisa
devem ser seguidos os procedimentos constantes na
NBR 5413, apresentados no Quadro 41.
Para melhor entender o desempenho lumnico
do PCA e buscando identicar um mtodo de simula-
o que melhor explicasse os valores medidos, fez-se
uso de trs mtodos preditivos de iluminao natural no
interior de edicaes, com medies concomitantes.
O primeiro procedimento de clculo utili-
zado foi o Mtodo de Fluxo Dividido, constante no
Projeto de Norma do Comit Brasileiro de Constru-
o Civil (1988). Buscou-se com ele estimar a dispo-
nibilidade de luz natural em quatro pontos no inte-
rior do Prottipo Alvorada, para o mesmo dia e hora
do levantamento.
O segundo procedimento de clculo utiliza-
do foi o Mtodo do Grco de Fator de Luz Diurna
(EVANS; SCHILER, 1989). Este foi utilizado para esti-
mar a disponibilidade de luz natural em cinco pontos
no interior do prottipo, para o mesmo dia e hora do
levantamento. Os resultados foram comparados com
medies realizadas no interior do prottipo no dia
27 de outubro de 2003.
Esses dois procedimentos foram descritos em
um dos documentos produzidos pelos alunos (MO-
RELLO; BEVILACQUA; GRIGOLETTI, 2004).
Para associar os valores obtidos com as dimen-
ses das esquadrias existentes no prottipo, foram
usadas as especicaes da legislao constante no
Cdigo de Edicaes da cidade de Santa Maria, RS.
Assim, na avaliao dos vos de iluminao e venti-
lao, segundo o Cdigo de Edicaes, foram ob-
servadas as dimenses das aberturas em relao s
respectivas superfcies de pisos dos compartimentos
avaliados. Tambm foram consideradas as protees
das janelas.
Posteriormente, um novo trabalho foi desen-
volvido no local e apresentado por Tavares e Baltar
(2005). Esse trabalho buscou avaliar se a iluminao
incidente no interior do prottipo correspondia aos
requisitos desejveis e estabelecidos pela NBR 5413,
bem como se o nvel de iluminamento era suciente
para as atividades propostas. O estudo tambm en-
volveu a medio de iluminncias internas, em um
dia parcialmente encoberto (9 de novembro de 2005,
entre 15h00 e 16h40) e comparou os resultados ob-
tidos com aqueles simulados no software ECOTECT,
constituindo este o terceiro procedimento de cl-
culo. Adicionalmente, esse trabalho simulou algumas
possibilidades de alterao das aberturas.
Os resultados obtidos so apresentados a se-
guir, assim como as diculdades e limitaes de cada
mtodo e sua adequao s situaes do estudo.
8.4.1.1 Avaliao das condies de iluminao
natural mediante o Mtodo de Fluxo Dividido
O Mtodo de Fluxo Dividido para predio de
iluminao natural disponvel no interior das edica-
es, descrito no Projeto de Norma do Comit Bra-
310
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
sileiro de Construo Civil (1988)
1
, foi utilizado para
estimar a disponibilidade de luz natural em quatro
pontos no interior do prottipo, para 27 de outubro,
s 8h30 (hora solar).
Valores encontrados para as simulaes
Para o Prottipo Alvorada, foram simulados
quatro pontos: dormitrio fundos (P1), dormitrio
frente (P2), cozinha e sala (dois pontos: P3 e P4). Para
os dormitrios, esses pontos foram tomados a uma
mesma distncia das paredes contendo janela e so-
bre o eixo delas (no centro do compartimento). Para
a sala e cozinha, afastados 1,5 m das paredes norte
e sul, que delimitam tal ambiente. Foram simuladas
duas situaes de cu: cu claro, com altitude solar
de 45, correspondendo, aproximadamente, altitu-
de solar das 9h30 da manh do dia 27 de outubro
(prximo ao horrio em que foi efetuada a medio);
e cu encoberto. O Quadro 42, a seguir, apresenta os
valores que foram adotados para a simulao.
Quadro 42 Condies adotadas para a simulao atravs do Mtodo do Fluxo Dividido
Concomitante aos valores adotados acima, con-
sideraram-se as obstrues de cu devido prgola,
sobre aberturas do dormitrio da frente e sala/cozi-
nha, como integrante da CRI.
No Quadro 43 so apresentados os valores en-
contrados com a aplicao do mtodo (CIN e nveis
de iluminncia, em lux), para cu encoberto e cu
claro, bem como os valores obtidos atravs das medi-
es in loco (em lux).
1
Para mais informaes, ver Parte 1, Parte 2 e Parte 3 do Projeto de Norma de Iluminao Natural.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
311
A Avaliao dos Resultados
Quadro 43 Comparao dos resultados encontrados pelo Mtodo do Fluxo Dividido e medies in loco
Consideraes sobre o Mtodo do Fluxo Dividido
Embora tenham sido adotados valores um pou-
co diferentes, referentes hora da medio (9h30, e
no 8h30), e altura do ponto de simulao (85 cm, e
no 80 cm, como no levantamento), os valores apre-
sentados no Quadro 43, para a simulao com o Mto-
do do Fluxo Dividido, mostram-se bastante diferentes
daqueles medidos in loco para os pontos P2, P3 e P4.
Essa diferena, inicialmente, foi atribuda a um poss-
vel erro na escala do luxmetro no momento da medi-
o, porm essa hiptese foi descartada a partir de um
segundo levantamento, realizado no nal do ms de
novembro. Observou-se, nesse segundo levantamento,
que, para a mesma hora da manh, os valores encon-
trados caram muito prximos dos primeiros.
Com isso, conclui-se que, para o presente es-
tudo de caso, o Mtodo do Fluxo Dividido superesti-
mou os valores de iluminao natural obtida no inte-
rior dos compartimentos.
8.4.1.2 Avaliao das condies de iluminao
natural mediante o grfico de fator de luz diurna
(mtodo dos pontos)
Na avaliao foi utilizada uma tabela com va-
lores de iluminncia (Klux) para Porto Alegre, em
condies de cu parcialmente encoberto, e um
grco com pontos, a partir do qual so contabili-
zados os percentuais de contribuio de luz, prove-
niente da abboda celeste, da reexo externa e da
reexo interna.
Valores encontrados para as simulaes
O mtodo prope uma classicao qualitativa
das zonas, segundo os valores encontrados para o Fa-
tor de Luz Diurna (Quadro 44).
312
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 44 Classificao qualitativa de zonas, segundo o valor do
Fator de Luz Diurna
Quadro 45 Comparao dos resultados encontrados para o Mtodo do Grfico de Fator de Luz Diurna
A seguir, no Quadro 45, so apresentados os
valores encontrados com a aplicao do mtodo
para cu encoberto, bem como os valores obtidos
atravs das medies in loco (em lux). O valor en-
contrado um percentual da luminosidade exterior
ou a relao entre a iluminncia medida, dentro e
fora do local, no mesmo instante, mesma altura,
sob um cu coberto uniforme.
Consideraes sobre o mtodo do grfico de
Fator de Luz Diurna
O mtodo apresenta algumas limitaes no
que se refere, por exemplo, ao clculo de iluminao
durante um dia de cu claro, j que seus valores so
dados apenas para cu encoberto (e, portanto, com
uma contribuio de iluminao externa mais homo-
gnea). No dormitrio dos fundos, deve-se considerar
que, no momento da medio, ocorria a incidncia
de raios solares diretamente no ambiente, acarretan-
do um nvel de iluminncia mais alto que aquele cal-
culado por esse mtodo. De qualquer forma, mesmo
com esses limitantes, os valores apresentados na si-
mulao caram muito prximos dos valores encon-
trados nas medies in loco, demonstrando que esse
mtodo apresentou resultados bastante coerentes
para esse estudo de caso.
De acordo com o Quadro 45, percebe-se que
o nvel de iluminao de todos os compartimentos
do prottipo Casa Alvorada esto enquadrados nas
faixas abaixo dos 3% da iluminao externa, ou seja,
escuros ou muito escuros. Entretanto, em outras
medies realizadas no prottipo Casa Alvorada, ob-
servou-se que junto s aberturas, a 80 cm do piso, o
aparelho chegou a marcar valores entre 500 e 1.000
lux, demonstrando um nvel de iluminao bom para
313
A Avaliao dos Resultados
tarefas que exigem certa acuidade visual (leitura, por
exemplo). Como soluo paliativa, atravs do posi-
cionamento do mobilirio de forma racional, pode-se
induzir o usurio a desenvolver tais atividades (como
leitura ou atividades manuais) nas zonas prximas
s janelas. De qualquer forma, em projetos futuros,
deve-se buscar uma distribuio mais homognea da
iluminao em todos os pontos dos ambientes.
Consideraes finais sobre os dois mtodos
Embora os Cdigos de Edicaes no apre-
sentem estudos especcos mais apurados para a
determinao das dimenses mnimas das aberturas
de iluminao e ventilao, so eles que norteiam as
decises dos projetistas de edicaes (alm, claro,
dos aspectos estticos). Uma das limitaes dos C-
digos de Edicaes o de estabelecer a rea mni-
ma da superfcie da abertura sem especicar a rea
mnima das superfcies transparentes. Vericou-se
que, em mdia, aproximadamente 50% da rea das
janelas instaladas no prottipo Casa Alvorada cons-
tituda de caixilhos. Para os vos encontrados, utili-
zando-se esquadrias de madeira, poderia se chegar
a um percentual mximo de superfcie transparente
igual a 70% (estudo realizado concomitantemente a
esse trabalho).
Deve-se destacar, no entanto, que, segundo a
anlise realizada, o prottipo apresentou problemas,
principalmente no que se refere ausncia de pro-
teo contra luminosidade e radiao nas janelas do
dormitrio voltado para norte. Alm disso, tambm
se observou que as janelas do banheiro e do dormi-
trio sul no possuem a rea mnima recomendada
pelo Cdigo de Edicaes de Santa Maria. Isso
vericado visualmente no banheiro, onde, mesmo
durante o dia, os nveis de iluminao medidos mos-
traram-se muito baixos (10 lux, s 9h00 da manh),
exigindo iluminao articial para a sua utilizao. J
o dormitrio sul, embora sua janela (com orientao
leste) no possua a rea exigida pelo Cdigo de Edi-
caes, apresentou-se como o compartimento mais
iluminado do prottipo nas condies e horrio da
medio (em seu ponto central, a 80 cm de altura
em relao ao piso, no dia 27 de outubro de 2003,
s 9h00 da manh). Isso ocorreu devido entrada
de luz solar diretamente sobre o piso do comparti-
mento, aumentando signicativamente seu nvel de
iluminao. Provavelmente, se fosse realizada uma
nova medio durante o perodo da tarde, os nveis
de iluminao seriam mais baixos.
Com relao aos nveis de iluminao calcula-
dos atravs da simulao pelo Mtodo do Fluxo Di-
vidido, observou-se uma diferena signicativa entre
os valores simulados e os valores medidos in loco.
Conforme j referido, uma das possveis causas para
essa diferena pode ter sido a adoo de valores um
pouco diferentes, referentes para a hora da medio
(9h30, e no 8h30), para a altura do ponto de simu-
lao (85 cm, e no 80 cm) e para a reetncia das
superfcies internas (0,30, e no 0,20). No entanto, o
valor encontrado por esse mtodo para o ponto lo-
calizado no dormitrio dos fundos mostrou-se mais
prximo daquele medido com o luxmetro.
Por m, os nveis de iluminao calculados atra-
vs da simulao pelo Mtodo de Fator de Luz Diur-
314
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
na se mostraram bastante prximos queles medidos
in loco. Apesar das consideraes e ressalvas feitas
no nal do captulo anterior, esse mtodo mostrou-se
muito coerente para condies de cu encoberto.
De qualquer maneira, os nveis de iluminao,
medidos ou simulados, foram muito baixos para
todos os compartimentos do prottipo Casa Al-
vorada (considerando apenas o ponto central cal-
culado, e no os pontos prximos s janelas). Para
melhorar essas condies, poder-se-ia pintar as su-
perfcies do forro com cores claras, para aumentar
o fator de reexo e distribuir a luz de forma mais
uniforme. Com o mesmo objetivo, as paredes po-
deriam ser pintadas ou rebocadas, para melhorar a
distribuio da iluminao natural, atravs da ree-
xo interna.
Adicionalmente, poderiam ser empregadas
esquadrias com menos caixilhos (ou com maior
superfcie envidraada) e, conforme citado ante-
riormente, dever-se-ia aumentar as dimenses da
esquadria do banheiro, para que esta satisfaa as es-
pecicaes do Cdigo de Edicaes e proporcio-
ne um melhor nvel de iluminamento no banheiro
durante o dia.
8.4.1.3 Medio das condies de iluminao
natural e comparao com valores simulados
atravs do software ECOTECT
A medio dos nveis de iluminamento natu-
ral interno ocorreu em um nico dia, de cu par-
cialmente encoberto (TAVARES; BALTAR, 2005). A
iluminncia medida no exterior foi de 18.600 lux, s
16h10 (horrio de vero). Esse nvel relativamente
freqente para a latitude de Porto Alegre (30), pois,
de acordo com o grco da CIE, de disponibilidade
de luz natural, com cu homogneo, a probabilidade
de se dispor de um dia com 15.000 lux de 82%.
(a)
(b)
Figura 245 Fotografias do cu no dia e horrio em foram
feitas as medies
315
A Avaliao dos Resultados
O nmero de pontos de medio foi determi-
nado de acordo com o sugerido pela ABNT (2003),
obtendo-se 16 pontos para os dormitrios e para o
estar/cozinha, e 9 pontos para o banheiro. Os pontos
analisados foram distribudos conforme consta na Fi-
gura 246. As medies foram realizadas com um lu-
xmetro de preciso, da marca Instrutherm, modelo
LDR-380. Os pontos 4 e 13, do dormitrio 1, e os pon-
tos 4 e 8, do dormitrio 2, no puderam ser medidos
devido sua inacessibilidade.
Figura 246 Distribuio dos pontos medidos
Comparao entre os valores medidos e os exigi-
dos pela NBR 5413
A NBR 5413 estabelece os valores mximos,
mdios e mnimos, para diversas classes de tarefas
visuais e atividades, incluindo-se aquelas ocorrentes
em residncias. Os valores mximos devem ser utiliza-
dos como referncia para atividades que ocorram em
condies de reetncias e contrastes baixos, quando
erros forem de difcil correo, quando o trabalho vi-
sual for crtico, quando alta produtividade ou preciso
forem de grande importncia ou quando a capacidade
visual do observador estiver abaixo da mdia.
Os valores mnimos podem ser utilizados
quando as reetncias ou contrastes forem relativa-
mente altos, quando a velocidade e/ou preciso no
forem importantes ou quando a tarefa for executa-
da ocasionalmente.
Na avaliao do prottipo foram utilizadas as
iluminncias mdias (geral e local) estabelecidas pela
NBR, j que esta sugere que elas sejam utilizadas para
todos os casos no excepcionais, como os descritos
acima. O Quadro 46 apresenta os resultados obtidos
no local.
Discusso dos resultados
Os pontos 4 e 13 do dormitrio 1 e os pontos
4 e 8 do dormitrio 2 no puderam ser medidos de-
vido sua inacessibilidade.
- Quociente de uniformidade
O quociente de uniformidade varia entre 0 e
1, e quanto mais prximo de 1, mais uniforme a
distribuio de luminosidade no ambiente.
316
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 46 Valores de iluminncia medidos no local e os exigidos pela NBR 5413
Nota: Os valores assinalados com (*) esto com valores abaixo do mnimo exigido pela NBR 5413.
317
A Avaliao dos Resultados
Para os ambientes analisados foram encontra-
dos os valores a seguir.
Quadro 47 Quocientes de uniformidade para os ambientes
avaliados
- Proposta de modificao para os ambientes
mal iluminados
De acordo com a NBR 5413, na cozinha dever
haver iluminao local para a pia e para o fogo. A ilu-
minao natural correspondeu, no horrio medido, a
484 lux e 584 lux para os locais previstos para a pia
e para o fogo, respectivamente. Dessa forma, a ilu-
minao natural incidente no horrio e condio de
cu presente nessa data supriu as necessidades, no
requerendo, sob tais condies, o uso de iluminao
articial durante o dia.
O dormitrio 2, com janela voltada para o les-
te, apresentou apenas um ponto entre os medidos em
que a iluminao no atende aos valores estabelecidos
pela NBR 5413. J o dormitrio 1, com janelas voltadas
para o norte, menos iluminado, tendo apresentado,
no horrio medido, 8 dos 14 pontos medidos com va-
lores abaixo do exigido. interessante observar que o
dormitrio 2 mais bem iluminado que o dormitrio
1 (que apresenta uma pequena janela superior), ape-
sar de apresentar rea de vidros menor.
(a)
(b)
(c)
Figura 247 Simulaes feitas com o software ECOTECT: situa-
o existente (a), proposta de utilizao de elemento translcido
rasgando a parede sul em toda sua extenso (b), proposta de
utilizao de elemento translcido rasgando a parede sul, sem a
rea do box (c)
318
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
O banheiro apresenta carncia de iluminao
natural. A rea de abertura pequena, e o vidro trans-
lcido, mas no transparente, o que reduz a lumino-
sidade do ambiente. Prope-se para esse dormitrio
o acrscimo de um vo adicional de iluminao, que
poderia resultar da construo parcial, na parede sul,
de uma rea com tijolos de vidro. Atravs do software
ECOTECT foram feitas simulaes de possibilidades
de alteraes, conforme indicado na Figura 247.
De acordo com a NBR 5413, a situao original
(a) est inadequada. A situao (c), com uma linha
de tijolos cobrindo metade do vo da parede sul do
banheiro, j proporcionaria a iluminncia mnima, de
150 lux. A situao (b), com uma linha de tijolos de
vidro cobrindo todo o vo da parede sul (o que im-
plicaria estend-la atravs da rea de box), apresenta-
ria resultados ainda melhores.
8.4.1.4 Concluso
De forma geral, os valores de iluminncia me-
didos so inferiores ao exigido pela Norma. Isso se
deve tanto ao tamanho como aos materiais de re-
vestimento interno utilizados. Como o interior dos
ambientes apresenta a alvenaria aparente de tijolos
vermelhos, exceto pelo dormitrio 2, que possui
duas paredes rebocadas, e o dormitrio 1, com uma
parede revestida, h baixa reetncia, o que gera os
baixos nveis de iluminamento medidos. A existncia
de duas paredes rebocadas no dormitrio 2, apesar
de ter rea de janelas menor que o outro dormitrio,
suciente para determinar maior reetncia.
De acordo com os resultados de clculo de
uniformidade dos ambientes, conclui-se que a sala/
cozinha e o banheiro no possuem uma distribui-
o de iluminamento adequada, o que poder ge-
rar ofuscamento e desconforto visual. Os ndices
dos dormitrios tambm so baixos em relao
aos desejveis.
Com exceo do banheiro, os demais compar-
timentos apresentaram nveis de iluminamento satis-
fatrios, apesar de alguns pontos no atingirem os
valores da Norma. A decincia mais marcada na
distribuio do que nos nveis encontrados no hor-
rio examinado.
8.4.2 Monitoramento do desempenho trmico
8.4.2.1 Introduo
Em novembro de 2002, com a aquisio de um
equipamento para medies de variveis higrotr-
micas, o grupo de pesquisas em sustentabilidade e
conforto ambiental de edicaes do NORIE/UFRGS
passou a ter condies de realizar monitoramentos
em ambientes internos. Com a instalao das esqua-
drias no incio de 2003, surgiu a oportunidade de
avaliar o comportamento trmico do Prottipo Casa
Alvorada, cujos resultados parciais so apresentados
neste trabalho os trabalhos integrais podem ser
encontrados na dissertao de mestrado de Morello
(2005) e na tese de doutorado de Grigoletti (2007).
O prottipo habitacional Alvorada possui uma
rea construda de, aproximadamente, 48 m, na qual
esto contemplados os seguintes compartimentos:
dois dormitrios, uma sala de estar integrada cozi-
nha, um banheiro, uma varanda e uma pequena rea
de servio aberta (Figura 248).
319
A Avaliao dos Resultados
Figura 248 Planta baixa do prottipo Casa Alvorada
As paredes da edicao foram construdas
com tijolos macios de 11 cm de espessura, e as pa-
redes leste e norte no possuem revestimento. J na
parede oeste, foi aplicado um revestimento externo
de argamassa, para aumentar a resistncia trmica e a
reetividade ante os raios solares incidentes durante
o perodo da tarde. Na parede sul, foi aplicado o mes-
mo revestimento de argamassa nas superfcies exter-
na e interna, para reduzir perdas trmicas durante o
inverno e evitar a ocorrncia de patologias associa-
das umidade, j que essa face a mais exposta
ao das intempries.
Considera-se importante ressaltar alguns as-
pectos de implantao propostos e executados de
forma a beneciar a edicao com as tcnicas pas-
sivas de controle trmico. Entre elas, destacam-se a
orientao solar da edicao, em que as janelas das
reas de permanncia prolongada so voltadas para
o norte ou leste, e a manuteno da vegetao exis-
tente no entorno, para sombrear e proteger a fachada
oeste, que a face que soma a incidncia de radiao
solar com as mais elevadas temperaturas externas.
Junto a essa fachada foi construdo um pergolado
com troncos de eucalipto, cuja estrutura foi proje-
tada para servir de sustentao para o reservatrio
superior e dar sustentao a plantas que contribuam
para o seu sombreamento.
Todas as esquadrias do prottipo foram con-
feccionadas em madeira de eucalipto. Os vidros so
do tipo plano, liso, com 3 mm de espessura. A super-
fcie envidraada das janelas corresponde, em mdia,
a 50% da rea total da esquadria. As fotograas da Fi-
gura 249 mostram as fachadas leste, norte e oeste da
habitao, com suas esquadrias.
Pode ser vericado na Figura 249 que a cober-
tura composta de duas guas, onde a maior super-
fcie est voltada para a orientao sul, com a nali-
dade de reduo da densidade de radiao solar. A
estrutura da cobertura constituda por cinco cama-
das: telha cermica, camada de ar, placa metlica re-
ciclada (alumnio), camada de ar e forro de madeira.
A placa metlica determina uma barreira radiao
trmica, que contribui para reduzir a transmisso de
calor pela cobertura. Adicionalmente, foi projetado
um sistema de ventilao da cobertura (Figura 250),
320
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
atravs criao de aberturas de fcil operao, no
beiral do lado sul e de aberturas permanentemen-
te descerradas, no ponto mais alto do beiral da face
Figura 249 Fotografias do prottipo Alvorada
norte da edicao, que tem por objetivo a extrao
de ar quente durante o perodo de vero (atravs de
ventilao convectiva).
Figura 250 Detalhes da ventilao de telhado (esquerda: placa metlica; centro: beiral superior; esquerda: beiral inferior)
321
A Avaliao dos Resultados
Tabela 15 Caractersticas fsicas das parties internas e fechamentos externos dos cmodos do prottipo Alvorada e sua respectiva efusivi-
dade trmica do ambiente ef
amb
A Tabela 15 apresenta um grupo de parme-
tros trmicos que caracterizam as propriedades tr-
micas dos fechamentos ou componentes da edica-
o (GRIGOLETTI, 2007).
322
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Tabela 15 Continuao
8.4.2.2 Materiais e mtodos
Definio dos limites de conforto
Com a nalidade de avaliar o conforto trmico
proporcionado pela edicao estudada, foram utili-
zados os limites da zona de conforto para pases em
desenvolvimento e de clima quente (GIVONI, 1992).
Os limites de temperatura e umidade, considerados
confortveis por Givoni (1992), so traados sobre
uma carta psicromtrica (ver Figura 251). Em con-
dies de baixa velocidade do ar (0,15 m/s para o
inverno, e 0,25 m/s para o vero), o autor recomenda,
para o interior das edicaes, temperaturas varian-
do entre 18 C e 29 C, conforme a estao do ano.
admissvel uma umidade variando de 4 g/kg a 15
g/kg de contedo de umidade no inverno, e de 4 g/
kg a 17 g/kg no vero, nunca ultrapassando 80% de
umidade relativa do ar.
Na Figura 251 apresentada a zona de confor-
to de Givoni (1992), com a sua proposta de limites
de temperatura e umidade relativa do ar, para pa-
ses em desenvolvimento e de clima quente. Tambm
sobre a carta psicromtrica, so identicadas outras
oito zonas de estratgias, que orientam possibilida-
des de melhorias nas condies de conforto trmico
e de reduo no consumo de energia (L, Pereira e
Dutra, 1997).
323
A Avaliao dos Resultados
Figura 251 Diagrama bioclimtico proposto por Givoni (1992)
Bogo et al. (1994) realizaram um estudo no
qual foram analisadas metodologias de avaliao de
conforto, de vrios autores, entre eles Watson e Labs,
Olgyay, Givoni e Szokolay. Com base nesse estudo, os
autores sugerem a adoo da Carta Bioclimtica para
Edifcios de Givoni, por entenderem que ela a que
melhor se adapta s condies brasileiras.
Lamberts, Pereira e Dutra (1997) propem o
lanamento dos valores horrios de umidade relati-
va e temperatura do ar, do ano climtico de refern-
cia (TRY), sobre a carta bioclimtica, obtendo-se um
conjunto de estratgias adequadas a cada perodo do
ano. Tais autores aplicaram a proposta cidade de
Porto Alegre, tendo sido vericada uma ampla varia-
o climtica ao longo do ano. Constatou-se, tambm,
que um percentual signicativo das horas de descon-
forto decorrente da alta umidade relativa (acima de
80%) e das baixas temperaturas (menores que 18 C).
Ao se extrair da carta os percentuais relativos a cada
zona, observa-se que, em apenas 22,4% das horas do
ano, haver conforto trmico. No restante (77,5%),
o desconforto se divide em 25,9% provocado pelo
calor, e 51,6%, pelo frio.
Equipamento de medio
Para as medies in loco foi utilizado um anali-
sador de ambientes interiores, da linha instrumental
Babuc. Este compreende um conjunto de instrumen-
tos, sensores, acessrios e programas para aquisio,
visualizao e memorizao, que permite a deduo
de uma variedade de grandezas fsicas. As sondas co-
nectadas ao Babuc/A foram calibradas na fbrica, em
324
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
conformidade com a norma ISO 7726 (1996). O equi-
pamento foi recebido em novembro de 2002, e as me-
dies se iniciaram no primeiro semestre de 2003.
8.4.2.3 Medies in loco e variveis de uso
O equipamento de medio foi instalado no
centro da sala/cozinha, sobre um trip, sendo os sen-
sores posicionados a, aproximadamente, 1,10 m de
altura em relao ao piso da edicao. As sondas fo-
ram programadas para registrar valores em intervalos
horrios, durante todo o perodo de estudo.
Devido ao grande risco de roubo do equipamen-
to, decorrente da inexistncia de guardas ou seguran-
as no local, optou-se por manter as janelas fechadas
durante todo o perodo de medio. Com relao s
portas internas, elas permaneceram abertas, permitin-
do a livre circulao do ar entre os compartimentos.
As portinholas de ventilao existentes no bei-
ral sul da cobertura foram abertas no dia 11 de no-
vembro de 2003, quando se observou uma elevao
sensvel da temperatura do ar externo (neste dia a
temperatura do ar interno ultrapassou os 28 C pela
primeira vez). Durante os seis meses seguintes as por-
tinholas foram mantidas abertas, assim permanecen-
do at o dia 11 de maio de 2004, quando, novamente,
foram fechadas at o nal do perodo de medies.
Salienta-se que a edicao foi monitorada sem
que houvesse nenhum ocupante em seu interior.
Sempre que ocorriam visitas ao prottipo, a seqn-
cia de dados, no perodo em que os visitantes esta-
vam no interior do prottipo e nas horas subseqen-
tes, era desconsiderada. O prottipo no dispunha
de nenhum aparelho eltrico, lmpada ou qualquer
outro tipo de equipamento que pudesse caracterizar
uma fonte geradora de calor em seu interior (a no
ser o prprio equipamento de medio). Observa-se
que, em uma situao real de uso, esses equipamen-
tos podem elevar signicativamente a temperatura
interna (LITTLER; THOMAS, 1984).
Dados externos
As medies externas foram realizadas em uma
estao meteorolgica localizada a, aproximadamen-
te, 500 m do local onde est construdo o prottipo.
O equipamento efetuou o registro de dados, a cada
15 minutos, durante as 24 horas do dia. A coleta foi
realizada, mensalmente, pelo Instituto de Pesquisas
Hidrulicas (IPH), da UFRGS.
Os dados fornecidos pela estao meteorol-
gica da UFRGS incluam: temperatura do ar; tempera-
tura de orvalho; radiao solar; velocidade e direo
do vento; umidade relativa do ar; e precipitao, entre
outros. Nesta seo, so apresentados apenas os dados
referentes temperatura do ar e umidade relativa.
Tratamento dos dados
Os dados externos e internos foram organi-
zados em planilhas do software Excel, nas quais
tambm foram quanticadas as horas de conforto e
desconforto, e gerados histogramas. Tambm foi uti-
lizado o programa Analysis Bio 2.1.1, desenvolvido
pela equipe do Laboratrio de Ecincia Energtica
em Edicaes, da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, para plotar os valores de umidade relativa e
temperatura do ar sobre a carta psicromtrica.
325
A Avaliao dos Resultados
8.4.2.4 Resultados
O perodo de medies, considerado neste es-
tudo, teve inicio s 12h do dia 12 de maio de 2003
e prosseguiu at as 11h do dia 12 de maio de 2004.
Esse intervalo corresponde a um total de 366 dias
de medies (o ano 2004 foi bissexto), ou 8.784 re-
gistros horrios. Entretanto, devido a uma falha no
equipamento de armazenamento de dados da esta-
o meteorolgica do IPH, foram perdidas 352 horas
de medio, compreendidas entre 29 de outubro e
13 de novembro de 2003.
No que concerne aos dados internos, em 336
horas do perodo de medio, deixou-se de registrar
ou se desconsideraram os dados de temperatura do
ar (seja devido presena de visitantes no prottipo,
a paralisaes de manuteno ou a falhas de leitura).
Pelos mesmos motivos, s que por um perodo de
579 horas, no foram registrados dados de umidade
relativa do ar.
Com isso, para cada varivel ambiental exter-
na, foram registrados 8.432 dados, enquanto nas me-
dies internas foram registrados 8.448 valores de
temperatura de bulbo seco e 8.205 valores de umi-
dade relativa do ar. Deve-se salientar que as falhas na
leitura da temperatura de bulbo seco foram sempre
simultneas s interrupes das medies de umida-
de relativa do ar.
Resposta da edificao s variaes de tempera-
tura externa
No trabalho de doutorado de Grigoletti (2007),
a autora realiza uma anlise detalhada da resposta tr-
mica da edicao s variaes externas de tempera-
tura, considerando as diferentes estaes do ano e as
diversas seqncias de temperatura do ar externo.
- Seqncias de dias consecutivos com amplitu-
des de temperatura do ar externo superiores a
10,0 K
Nos trs perodos identicados pelas Figuras
252 a 254 ocorreram dias com variaes de amplitu-
de de temperatura do ar externo superiores a 10,0 K,
podendo se observar que a temperatura do ar inter-
no, na maior parte dos perodos, mantm-se prxima
das mximas registradas no meio exterior.
Observa-se, porm, que, medida que a tem-
peratura do ar externo t
e
aumenta, a temperatura
mxima do ar interno se afasta da mxima registrada
no meio exterior. A temperatura mdia mnima do ar
externo de 10,7 C (correspondente ao dia 26 de
maio), enquanto a temperatura mdia mnima do ar
interno de 15,3 C. A amplitude mxima de onda de
temperatura do ar externo de 17,2 K, enquanto a
amplitude mxima de onda de temperatura do ar in-
terno de 6,8 K para o mesmo dia (correspondente
ao dia 30 de maio). Para os dias 28 e 29 de maio, h
amplitudes de onda de temperatura do ar externo de
15,7 K e de 16,1 K, enquanto no meio interior a am-
plitude atinge 5,8 K. Comportamento similar veri-
cado nas seqncias ilustradas nas Figuras 253 a 256.
No caso da seqncia apresentada na Figura
253, a temperatura mdia mnima do ar externo de
11,6 C (31 de julho), enquanto a temperatura mdia
mnima do ar interno de 16,1 C (1 de agosto).
A amplitude mxima de onda de temperatura do ar
326
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 252 Comportamento trmico do prottipo Alvorada, entre 26 de maio e 1 de junho de 2003, conforme dados de Morello (2005)
327
A Avaliao dos Resultados
Figura 253 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 28 de julho e 3 de agosto de 2003, conforme dados de Morello (2005)
328
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
externo de 17,0 K, enquanto a amplitude mxima
de onda de temperatura do ar interno de 7,6 K
para o mesmo dia (2 de agosto). A temperatura do ar
externo t
e
sofre uma queda a partir do terceiro dia
da seqncia (dia 30 de julho). A temperatura mxi-
ma do ar interno praticamente igual temperatura
mxima do ar externo no terceiro e quarto dias da
seqncia (19,6 C e 20,4 C, 19,6 C e 19,9 C, res-
pectivamente), indicando um coeciente de amor-
tecimento maior para as temperaturas mnimas do
que para as temperaturas mximas do ar externo. A
temperatura mxima do ar interno, no quinto dia (1
de agosto), se afasta da temperatura mxima do ar
externo em decorrncia da queda registrada para as
temperaturas mnimas do ar externo e um aumento
da amplitude de onda de temperatura do ar externo
(de 13,0 K para 16,1 K nos dias 31 de julho e 1 de
agosto, respectivamente).
Na Figura 254, verica-se uma temperatura m-
dia mxima do ar externo de 26,0 C (7 de janeiro). A
temperatura mdia mxima do ar interno de 27,8
C (8 de janeiro). A amplitude mxima de onda de
temperatura do ar externo de 16,7 K (6 de janei-
ro), enquanto a amplitude mxima do ar interno
de 6,1 K (5 de janeiro). Para essa seqncia de dias
considerados quentes, a temperatura do ar interno t
i
se mantm praticamente dentro do intervalo de tem-
peraturas da zona de conforto de Givoni (1992).
- Seqncias de dias consecutivos com tempera-
turas do ar externo t
e
variando de menos de 18,0
C a mais de 29,0 C
A seguir, so apresentadas seqncias de dias em
que a temperatura do ar externo t
e
varia de um valor
mximo superior a 29,0 C a um valor mnimo inferior
a 18,0 C, ou seja, h, em um dia, condies de tempe-
ratura do ar externo acima e abaixo dos limites supe-
rior e inferior da zona de conforto de Givoni (1992),
respectivamente. So apresentadas duas seqncias de
dias com essas caractersticas: 1 de setembro de 2003
a 8 de setembro de 2003 e 8 de outubro de 2003 a 19
de outubro de 2003. Para essas seqncias, considera-
do um conjunto de, no mnimo, oito dias consecutivos,
embora no tenham se vericado as variaes acima
descritas em todos os dias selecionados. No entanto,
em pelo menos dois dias consecutivos se vericam mu-
danas dirias de temperatura como as descritas.
A seqncia mostrada na Figura 255 identica
um aumento contnuo de temperatura mdia do ar
externo de 10,6 C, at alcanar 22,4 C, no stimo
dia do perodo, para, a partir de ento, cair no stimo
e oitavo dias para 19,5 C e 21,4 C, respectivamente.
A temperatura mdia do ar interno varia de 13,9 C
a 22,7 C ao alcanar o quinto dia, caindo para 21,5
C nos dois dias subseqentes. Segundo dados ilustra-
dos na Figura 255, inicialmente a temperatura do ar
interno t
i
se mantm prxima temperatura mxima
do ar externo no incio da seqncia (condio de
frio), gradualmente se aproximando da temperatura
mnima do ar externo nos trs ltimos dias da mes-
ma (condio de calor). A menor temperatura mni-
ma do ar externo para essa seqncia 3,6 C, em
2 de setembro, e a maior temperatura mnima do ar
externo 18,1 C, em 8 de setembro. Para o meio in-
terior, tm-se, respectivamente, 11,0 C e 20,8 C. As
amplitudes mximas de onda de temperatura do ar
329
A Avaliao dos Resultados
Figura 254 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 3 de janeiro e 14 de janeiro de 2004, conforme dados de Morello (2005)
330
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 255 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 1 de setembro e 8 de setembro de 2003, conforme Morello (2005)
331
A Avaliao dos Resultados
externo e do ar interno ocorrem no mesmo dia (6 de
setembro), sendo de 21,4 K e 7,7 K, respectivamente.
A temperatura mnima do ar interno se mantm en-
tre 11,0 C e 19,5 C entre os dias 1 a 7 de setembro,
apresentado-se por seis dias consecutivos abaixo de
18,0 C, mesmo com a temperatura mxima do ar
externo atingindo valores de 30 C em trs dias con-
secutivos da seqncia (4 a 6 de setembro). A grande
capacidade de amortecimento de amplitude de onda
de temperatura do ar externo vericada para todo
o conjunto de seqncias analisadas, com valores en-
tre 0,33 e 0,35.
A seqncia mostrada na Figura 256 carac-
terizada por um aumento contnuo de temperatu-
ra mdia do ar externo a partir do dia 12 de ou-
tubro, variando de 11,4 C at 23,5 C, no dia 18
de outubro, no dcimo primeiro dia da seqncia.
A temperatura mdia do ar interno varia de 15,8
C, no dia 12 de outubro, a 23,3 C, no dia 19 de
outubro. De acordo com a Figura 256, inicialmente
a temperatura do ar interno t
i
se mantm prxima
temperatura mxima do ar externo no incio da
seqncia, aproximando-se da temperatura mnima
do ar externo nos dias 17 e 18 de outubro. A me-
nor temperatura mnima do ar externo para essa
seqncia de 4,9 C, em 13 de outubro, e a maior
temperatura mnima do ar externo de 17,9 C, em
19 de outubro. Para o meio interior, tm-se, respecti-
vamente, 12,9 C e 22,1 C. A amplitude mxima de
onda de temperatura do ar externo de 21,3 K (17
e 18 de outubro), enquanto a amplitude mxima de
onda de temperatura do ar interno de 7,4 K (18
de outubro).
- Seqncias de dias caracterizados por ondas de
frio ou de calor
As seqncias que se seguem mostram a respos-
ta da edicao ante as ondas de frio ou de calor. A
Figura 257 se refere seqncia de dias consecutivos
de 10 de abril a 21 de abril de 2004 (onda de frio); a
Figura 257, seqncia de 14 de agosto a 28 de agosto
de 2003 (onda de calor, seguida de onda de frio); a Fi-
gura 259, seqncia de 28 de agosto a 7 de setembro
de 2003 (onda de calor); a Figura 260, seqncia de
5 de setembro a 11 de setembro de 2003 (onda de
frio); a Figura 261 correspondente seqncia de 19
de outubro a 26 de outubro de 2003; e a Figura 262
correspondente seqncia de 16 de novembro a 23
de novembro de 2003. Essas guras ilustram, pois, que-
das bruscas nas temperaturas mnimas do ar externo e
complementam a anlise do comportamento trmico
do prottipo Alvorada.
Aps cinco dias consecutivos considerados
quentes (12 a 16 de abril), a partir do dia 17 de abril,
h uma queda da temperatura mxima do ar externo,
mantendo-se a temperatura mnima do ar externo
aproximadamente estvel. A partir do dcimo pri-
meiro dia, a temperatura mnima do ar externo sofre
uma queda de 10,1 K, enquanto a temperatura mxi-
ma se mantm relativamente estvel. A temperatura
do ar interno t
i
, por sua vez, se mantm prxima das
temperaturas mximas externas, assumindo um valor
mnimo de 17,2 C, em 20 de abril. Essa seqncia
de dias caracterizada por amplitudes de onda de
temperatura do ar externo signicativas, atingindo o
valor de 16,4 K em 16 de abril e de 17,8 K em 21
de abril. A amplitude de onda de temperatura do ar
332
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 256 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 8 de outubro e 19 de outubro de 2003, conforme dados de Morello (2005)
333
A Avaliao dos Resultados
Figura 257 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 10 de abril e 21 de abril de 2004, conforme dados de Morello (2005)
334
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
interno atinge, para esses dias, 6,3 K e 7,3 K, respecti-
vamente. Em 24 horas h uma queda na temperatura
mxima do ar externo de 32,4 C para 25,4 C (16 e
17 de abril) e queda de temperatura mnima do ar
externo de 17,6 C para 7,2 C (19 a 20 de abril). H
uma resposta rpida da edicao queda de tempe-
ratura. A queda da temperatura mnima do ar exter-
no s se verica a partir do quarto dia aps o incio
do fenmeno de onda de frio. A partir desse dia, h
quedas da temperatura do ar interno t
i
, com tempera-
turas mnimas atingindo valores abaixo dos 10,0 C. As
temperaturas mdias do ar externo variam de 24,4 C,
em 16 de abril, para 15,2 C, em 20 de abril. As tempe-
raturas mdias do ar interno variam de 27,0 C, em 16
de abril, para 20,4 C, em 20 de abril.
A seqncia de dias apresentada na Figura 258
se caracteriza por uma elevao gradual da temperatu-
ra mdia do ar externo por cerca de cinco dias (17 a 21
de agosto), seguida de uma queda de temperatura m-
dia do ar externo por aproximadamente seis dias con-
secutivos (22 a 27 de agosto). Nessa seqncia de dias,
a temperatura mnima do ar externo atinge valores de
2,6 C e 1,8 C nos ltimos trs dias da seqncia (26,
27 e 28 de agosto). No dia 21 de agosto, a temperatura
mxima do ar externo atinge o valor de 31,9 C, e a
temperatura mnima do ar externo de 8,4 C, com
uma amplitude de onda de temperatura do ar externo
de 23,5 K. Valores superiores a 20,0 K de amplitude de
onda de temperatura do ar externo tambm ser veri-
cam para os dias 18, 19 e 20 de agosto. A temperatura
mnima do ar interno atinge um valor mnimo de 9,4
C em 27 de agosto e uma amplitude mxima de onda
de temperatura do ar interno de 8,0 K em 19 de agos-
to. A temperatura mxima do ar interno assume um va-
lor mximo de 22,4 C em 21 de agosto. A temperatura
diria mdia do ar interno se mantm sempre acima da
temperatura diria mdia do ar externo.
A partir do dia 18 de agosto h uma elevao
contnua da temperatura do ar externo t
e
, mnima e
mxima. Devido grande amplitude de onda de tem-
peratura do ar externo dos dias 18, 19, 20 e 21 de
agosto, com reduo das temperaturas mnimas do
ar externo aps 17 de agosto, a temperatura do ar
interno t
i
no se eleva de maneira signicativa (man-
tm-se, em boa parte dos horrios, abaixo dos 18,0
C, para 18 e 19 de agosto) e apresenta temperatura
mdia inferior temperatura mdia do ar externo.
Em 24 horas, ocorre uma queda de tempera-
tura mxima do ar externo de 31,9 C para 18,1 C
(dias 21 e 22 de agosto). A partir do dia 24 de agosto,
h uma queda contnua da temperatura do ar exter-
no, de aproximadamente 18 C (s 3 horas) a 10 C
(s 23 horas). A temperatura do ar interno tambm
decresce, no entanto a diferena entre esta e a tem-
peratura do ar externo aumenta medida que se ve-
rica a reduo desta ltima (a diferena cresce de
0,5 K, s 3 horas, para 4,5 K, s 23 horas). A queda
da temperatura mnima do ar externo se verica a
partir do quarto dia aps o incio do fenmeno de
onda de frio. A partir desse dia, h quedas da tem-
peratura do ar interno t
i
, com temperaturas mnimas
atingindo valores abaixo dos 10,0 C, em 27 de agos-
to. As temperaturas mdias do ar externo variam de
18,1 C, em 21 de agosto, a 10,8 C, em 25 de agosto.
As temperaturas mdias do ar interno variam de 18,6
C, em 21 de agosto, a 14,8 C, em 25 de agosto.
335
A Avaliao dos Resultados
Figura 258 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 14 de agosto e 28 de agosto de 2003, conforme dados de Morello (2005)
336
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
A Figura 259 permite uma anlise de uma
onda de calor, onde a temperatura mdia do ar ex-
terno varia de 9,1 C a 22,4 C, e com a temperatura
mxima do ar externo variando de 13,4 C (28 de
agosto) a 33,7 C (6 de setembro), acompanhada da
variao da temperatura mnima do ar externo, de
2,6 C (28 de agosto) a 13,7 C (7 de setembro). A
temperatura mdia do ar interno varia de 12,8 C a
22,7 C, alcanando a temperatura mxima do ar in-
terno de 25,9 C, em 7 de setembro, e temperatura
mnima do ar interno de 10,4 C, em 28 de agosto.
A amplitude de onda de temperatura do ar externo
atinge valores superiores a 20,0 K em quatro dias
consecutivos: 3, 4, 5 e 6 de setembro. A tempera-
tura do ar interno t
i
se mantm abaixo dos 18,0 C
por seis dias consecutivos. Apesar da reduo das
temperaturas mnimas do ar externo registradas, a
partir de 31 de agosto, a temperatura do ar inter-
no se mantm mais prxima das mximas do que
das mnimas. Mas, medida que a temperatura do
ar externo aumenta, a temperatura do ar interno se
afasta das mximas registradas no meio exterior.
A Figura 260 apresenta uma seqncia de dias
com temperaturas mximas do ar externo de 33,7
C, seguidas de uma queda de temperatura por trs
dias consecutivos (8 a 10 de setembro), com tempe-
raturas mximas atingindo o valor de 14,3 C (9 de
setembro) e temperaturas mnimas caindo a 3,8 C
(11 de setembro). A temperatura mnima do ar inter-
no registrada nessa seqncia de dias de 11,0 C,
para o dia 11 de setembro, e a temperatura mxima
do ar interno de 25,9 C, para o dia 7 de setembro.
A temperatura mdia do ar externo varia de 22,4 C,
em 7 de setembro, a 13,7 C, em 10 de setembro. A
temperatura mdia do ar interno varia de 22,7 C a
14,2 C nos dois dias citados. A temperatura do ar
interno, nos dias 8, 9 e 10 de setembro se mantm
acima dos valores registrados pela temperatura do ar
externo em praticamente todos os horrios. Em 24
horas, h uma queda de temperatura do ar externo
t
e
de 33,2 C para 22,3 C (dias 7 e 8 de setembro). A
temperatura do ar interno t
i
, aps a queda de tempe-
ratura do ar externo t
e
, se mantm praticamente sem-
pre acima desta segunda, embora abaixo dos 18,0 C
nos trs ltimos dias da seqncia.
Figura 258 Continuao
337
A Avaliao dos Resultados
Figura 259 Comportamento trmico do prottipo Alvorada, entre 28 de agosto e 7 de setembro de 2003, conforme dados de Morello (2005)
338
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 260 Temperatura do ar externo t
e
e temperatura do ar interno t
i
entre 5 de setembro de 2003 e 11 de setembro de 2003, conforme
dados obtidos de Morello (2005)
339
A Avaliao dos Resultados
A Figura 261 apresenta uma seqncia de
dias em que ocorre elevao de temperatura do ar
externo t
e
, que varia de um valor de 21,3 C (20 de
outubro) a 31,6 C (24 de outubro), com aumento
signicativo da amplitude de onda de temperatura
do ar externo de aproximadamente 6 K a 20 K. A am-
plitude de onda de temperatura do ar interno varia,
aproximadamente, de 2 K a 8 K. Tambm se verica
uma variao signicativa entre as temperaturas m-
nimas do ar externo, que variam em 9,8 C do dia 22
de outubro ao dia 23 de outubro.
A seqncia apresentada na Figura 262 se ca-
racteriza por uma queda de temperatura mnima do
ar externo, vericada entre os dias 19 de novembro
e 21 de novembro, que cai de 17,9 C a 6,7 C, com
uma variao de 11,2 K. O mesmo no acontece com
a temperatura mxima do ar externo, que sofre pe-
quena variao entre os dias 19 e 21 de novembro.
A temperatura do ar interno, t
i
, mantm-se prxima
das mximas temperaturas registradas no meio ex-
terior, atingindo um valor mnimo de 16,5 C no dia
21 de novembro e um valor mximo de 23,0 C nos
dias 20 e 21 de novembro. A amplitude de onda de
temperatura do ar externo atinge um valor mximo
de 20,0 K (22 de novembro), enquanto, para o meio
interior, a amplitude atinge o mximo de 9,6 K para
o mesmo dia.
- Comparao entre a temperatura do ar interno
e a temperatura de globo
Morello (2005) realizou a anlise comparativa
entre a temperatura do ar interno, t
i
, e a temperatura
de globo, t
globo
, para o cmodo sala e cozinha, para os
quatro perodos em que dividiu o ano das medies
in loco: inverno, primavera, vero e outono. Para o
inverno, a diferena mxima entre a temperatura de
globo, t
globo
, e a temperatura do ar interno, t
i
, de 1,2
K, com o ar apresentando uma temperatura mdia
de 16,3 C e o termmetro de globo registrando uma
temperatura mdia de 16,7 C. Para a primavera, a
diferena mxima entre a temperatura de globo, t
globo
,
e a temperatura do ar interno, t
i
, de 1,0 K, com a
temperatura de globo, t
globo
, sempre superior tem-
peratura do ar interno, t
i
, com o ar apresentando uma
temperatura mdia de 21,5 C e o termmetro de
globo registrando uma temperatura mdia de 21,8 C.
Para o vero, a diferena mxima entre a temperatura
de globo, t
globo
, e a temperatura do ar interno, t
i
, de
1,0 K, com o ar apresentando uma temperatura m-
dia de 25,0 C e o termmetro de globo registrando
uma temperatura mdia de 25,3 C. Para o outono, a
diferena mxima entre a temperatura de globo, t
globo
,
e a temperatura do ar interno, t
i
, de 1,1 K, com o ar
apresentando uma temperatura mdia de 20,8 C e o
termmetro de globo registrando uma temperatura
mdia de 21,3 C. Como as aberturas do prottipo
Alvorada estiveram fechadas durante todo o perodo
das medies (MORELLO, 2005, p. 79), pode-se supor
que a velocidade do ar interno nula, ou prxima
disto, com a temperatura de globo, t
globo
, podendo ser
considerada aproximadamente igual temperatura
radiante mdia, T
rm
.
A Figura 263 apresenta os valores de tempe-
ratura de globo, t
globo
, e temperatura do ar interno,
t
i
, para o prottipo Alvorada para o intervalo de dias
entre 15 a 19 de maro. A temperatura de globo, t
globo
,
levemente superior temperatura do ar interno, t
i
,
nunca atingindo uma diferena superior a 0,6 K.
340
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 261 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 19 de outubro e 26 de outubro de 2003, conforme dados de Morello (2005)
341
A Avaliao dos Resultados
Figura 262 Comportamento trmico do prottipo Alvorada entre 16 de novembro e 23 de novembro de 2003, conforme Morello (2005)
342
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 263 Temperatura do ar externo, t
e
, temperatura do ar interno, ti, e temperatura de globo, t
globo
, para sala e cozinha do prottipo
Alvorada, entre 15 de maro e 19 de maro de 2004, conforme Morello (2005)
As Figuras 264, 265 e 266 apresentam valores
de temperatura de globo, t
globo
, e temperatura do ar in-
terno, t
i
, para seqncias de dias em que a diferena
entre a temperatura de globo, t
globo
, e a temperatura
do limite inferior de conforto (18,0 C) ou do limite
superior de conforto (29,0 C) so as maiores veri-
cadas no conjunto de dados levantados por Morello
(2005), correspondendo s seqncias de dias entre
9 de julho a 18 de julho, 6 de maro a 10 de maro e
13 de abril a 16 de abril.
343
A Avaliao dos Resultados
Figura 264 Temperatura do ar externo, t
e
, temperatura do ar interno, t
i
, e temperatura de globo, t
globo
, para sala e cozinha do prottipo
Alvorada, entre 9 de julho e 18 de julho de 2003, conforme Morello (2005)
De acordo com os dados apresentados na Fi-
gura 264, a temperatura de globo, t
globo
, esteve duran-
te dez dias consecutivos abaixo da temperatura do
ar do limite inferior da zona de conforto de Givo-
ni (1992), exceo de algumas horas no dia 15 de
julho (com provvel exceo de alguns pontos no
registrados). A temperatura do ar interno, t
i
, acompa-
nhou o comportamento da temperatura de globo,
t
globo
. A diferena entre a temperatura de globo e a do
ar exterior atinge o valor de 8,0 K para o dia 10 de
julho, s 7 horas, e para o dia 11 de julho, s 7 horas;
8,9 K, para o dia 12 de julho, s 7 horas; 9,1 K, para o
dia 13 de julho, s 9 horas.
344
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 265 Temperatura do ar interno, t
i
, e temperatura de globo, t
globo
, para sala e cozinha do prottipo Alvorada, entre 6 de maro e 10
de maro de 2004, conforme Morello (2005)
Para as condies de calor, no se vericam di-
ferenas signicativas entre a temperatura de globo,
t
globo
, e a temperatura do limite superior da zona de
conforto de Givoni (1992). As seqncias de dias indi-
cadas nas Figuras 265 e 266 so aquelas identicadas
dentro do conjunto total de dados em que ocorrem
dias consecutivos (acima de trs) com temperaturas
de globo, t
globo
, em alguns horrios do dia acima de
29,0 C. A diferena mxima vericada atinge 3,1 K
para o dia 14 de abril, s 17 horas, 2,5 K, para o dia 15
de abril, s 16 horas, e 2,4 K, para os dias 13 e 16 de
abril, s 17 horas.
345
A Avaliao dos Resultados
Figura 266 Temperatura do ar externo, t
e
, temperatura do ar interno, t
i
, e temperatura de globo, t
globo
, para sala e cozinha do prottipo
Alvorada, entre 13 de abril e 16 de abril de 2004, conforme Morello (2005)
Morello (2005, p. 106, 120, 133, 146) se refere
ao atraso trmico e ao coeciente de amortecimen-
to do prottipo Alvorada. Segundo o autor, a edi-
cao apresenta um atraso trmico variando de 1
a 2 horas em mdia. Em relao ao coeciente de
amortecimento, este maior para as temperaturas
mnimas do que para as mximas. O coeciente de
amortecimento no inferior a 0,35, em mdia. O
autor conclui que o coeciente de amortecimento
apresentado pela congurao do prottipo Alvora-
da considervel, o que tambm pode ser constata-
do analisando-se as seqncias de dias apresentadas
neste estudo. Os coecientes de amortecimento
calculados para os fechamentos do prottipo Alvo-
rada so maiores do que aqueles vericados a partir
das medies in loco.
346
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 267 Temperatura do ar externo, t
e
, e temperatura do ar interno, t
i
, entre 24 de abril e 30 de abril de 2004 para o prottipo Alvorada,
de acordo com Morello (2005)
347
A Avaliao dos Resultados
Para complementar a anlise encaminhada para
o prottipo Alvorada, includa uma seqncia de
dias em que a temperatura mnima do ar externo, t
e
,
esteve prxima aos 7,5 C, temperatura mnima do ar
externo adotada para ns de clculo. A seqncia de
dias corresponde ao intervalo que se estende de 24 de
abril de 2004 a 30 de abril de 2004, contendo valores
de temperatura do ar externo e do ar interno, t
e
e t
i
,
conforme dados obtidos de Morello (2005).
De acordo com a Figura 267, a temperatura do
ar interno, t
i
, atinge valores mnimos de 16,8 C, 14,8
C e 15,3 C, para valores mnimos de temperatura
do ar externo, t
e
, de 8,0 C, 6,6 C e 7,2 C, respecti-
vamente, para os dias 25, 26 e 27 de abril. A tempera-
tura do ar interno, t
i
, se manteve a aproximadamente
8,0 K, no mnimo, acima da temperatura do ar exter-
no, t
e
.
Distribuio dos valores de temperatura do ar no
ano estudado
Os histogramas das Figuras 268 e 269 per-
mitem a visualizao da distribuio dos valores
de temperatura ao longo do ano considerado nes-
te estudo.
Nota-se, no histograma da Figura 268, a per-
ceptvel concentrao de valores de temperatura no
intervalo que vai dos 13 C aos 23 C, com mais de
400 horas em cada faixa de temperatura. Percebe-se,
tambm, que o desconforto por frio mais freqente
que o desconforto por calor.
Figura 268 Histograma anual das temperaturas externas (em cinza, as temperaturas de conforto)
348
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Para a confeco do histograma das tempera-
turas internas, foram considerados os 8.448 valores
de temperatura de bulbo seco (Figura 269). Nota-se
que, em relao ao histograma de dados externos, os
valores inferiores a 18 C foram reduzidos, mas ain-
da representam um nmero signicativo de registros.
Certamente, com a edicao em uso e a conseqente
gerao de calor no interior da edicao, as tempera-
turas internas devero se elevar, reduzindo o nmero
de horas de desconforto por frio. Em contrapartida,
pela mesma razo, os valores mais elevados de tempe-
ratura interior devero extrapolar o limite dos 29 C,
entrando na zona de desconforto por calor.
Cartas bioclimticas
Para a confeco das cartas bioclimticas cor-
respondentes ao perodo completo, os limites de
conforto foram simplicados de acordo com a forma
de apresentao do programa Analysis Bio, ou seja,
com limites de temperatura entre 18 C e 29 C, sem
diferenciao entre as estaes de inverno e vero.
A carta bioclimtica da Figura 270 apresenta
os 8.432 valores de temperatura e umidade relativa
do ar externo durante o perodo estudado.
Figura 269 Histograma anual das temperaturas interiores
349
A Avaliao dos Resultados
Figura 270 Carta bioclimtica com os valores exteriores para o perodo estudado
A Tabela 16 mostra o resultado do relatrio dos
dados externos gerado pelo programa Analysis Bio,
com as recomendaes das principais estratgias
para alcanar o conforto trmico em um projeto bio-
climtico. O programa considera como geradoras de
desconforto por calor as situaes em que a umida-
de relativa superior aos limites da zona de conforto
e quando a temperatura se encontra na faixa dos 20
C aos 29 C. J os valores com umidade superior a
80% e temperatura entre 18 C e 20 C, assim como
valores inferiores a 18C, so interpretados pelo pro-
grama como geradores de desconforto por frio.
Tabela 16 Resumo do relatrio gerado pelo programa Analysis Bio, para os valores externos, no perodo estudado
350
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
A carta bioclimtica baseada no ano climtico
de referncia (TRY) para Porto Alegre (LAMBERTS;
PEREIRA; DUTRA, 1997) aponta um percentual de
conforto de 22,4%, enquanto, no ano estudado, ape-
nas 19,5% das horas medidas no campus da UFRGS
apresentaram valores dentro da zona de conforto. O
percentual de horas de frio intenso, com a tempera-
tura externa inferior a 10,5 C, tambm mostrou um
percentual maior nos valores medidos em relao
queles da TRY de Porto Alegre, passando de 6% para
9,8%. Durante essas horas, a condio de conforto
trmico s seria alcanada por meio de aquecimento
articial, visto que as estratgias de massa trmica
para aquecimento e o aquecimento solar passivo no
sero sucientes para proporcionar o conforto inter-
no. Nota-se, ainda, que, em 0,237% das horas, o des-
conforto por calor somente ser atenuado com a uti-
lizao de refrigerao articial (ar condicionado).
Deve ser destacado que os dados lanados nas
Figuras 268 e 270 representam os elementos clim-
ticos tal como medidos na estao meteorolgica da
UFRGS, ou seja, sob uma condio de exposio ao
clima ambiental externo. Para que se tenha uma ava-
liao do efeito de ltro trmico determinado pelo
envelope da edicao, importante comparar tais
dados com aqueles representativos das condies
ambientais no interior da edicao. Tais condi-
es so ilustradas nas Figuras 269 e 271.
Para a confeco da carta bioclimtica retra-
tando as condies interiores, foram utilizados ape-
nas os registros simultneos de umidade relativa e
temperatura do ar, ou seja, a Figura 271 apresenta a
distribuio de 8.205 valores horrios, medidos en-
tre maio de 2003 e maio de 2004.
Figura 271 Carta bioclimtica, com os valores internos, para o
perodo estudado
Os percentuais de conforto e desconforto in-
ternos, extrados dos relatrios do programa Analysis
Bio, so apresentados na Tabela 17.
Tabela 17 Resumo do relatrio gerado pelo programa Analysis
Bio, para os valores interiores
Os dados horrios e os percentuais calculados
para os valores internos e externos so comparados
na Tabela 18. Assim como foi estabelecido para a con-
feco das cartas bioclimticas, no clculo dos percen-
tuais internos foram considerados apenas os valores
de temperatura que identicam a leitura simultnea
da umidade relativa do ar (8.205 registros).
Observou-se que em 6,4% do tempo (523 regis-
tros horrios), embora a temperatura do ar interno te-
nha apresentado valores entre 18 C e 29 C, a umida-
de relativa apresentou valores superiores aos limites
da zona de conforto, ou seja, acima de 80%. Salienta-se
que o percentual de conforto interno foi triplicado
em relao ao do ambiente externo. No interior do
prottipo Alvorada, o desconforto por frio foi reduzi-
351
A Avaliao dos Resultados
do quase pela metade, enquanto o desconforto por
calor apresentou uma reduo superior a 75% em re-
lao s horas de desconforto vericadas no exterior.
8.4.2.5 Discusso dos resultados e concluses
As medies indicam que a temperatura do ar
externo, t
e
, no perodo de vero (meses de dezembro,
janeiro e fevereiro), se mantm relativamente estvel
no que tange sua variao diria. J para o restan-
te do ano, existem grande variaes de temperatura,
com perodos de calor seguidos por perodos de frio,
muitas das mudanas ocorrendo repentinamente, ou
seja, a edicao parece ser mais exigida para con-
dies de outono, inverno e primavera, por estas se
apresentarem altamente mutveis, do que para condi-
es de vero. Torna-se difcil encontrar uma soluo
arquitetnica que responda a tamanha instabilidade
de condies climticas em curto espao de tempo.
Se no vero h necessidade de uma edicao prote-
gida da radiao solar, com entorno arborizado para
diminuir a temperatura do ar externo, t
e
, antes de ela
penetrar na edicao, no inverno desejvel o m-
Tabela 18 Resumo dos valores horrios e percentuais associados, no perodo estudado
ximo aproveitamento da radiao solar, inclusive a
captao por vias indiretas (absoro atravs de su-
perfcies externas e a posterior emisso por radiao
de onda longa).
Segundo as medies in loco efetuadas, o pro-
ttipo Alvorada apresenta um comportamento tr-
mico mais desfavorvel para a situao de inverno
do que para a situao de vero. Vericou-se que, em
9,8% das horas do perodo analisado, as temperaturas
exteriores foram inferiores a 10,5 C, identicando,
segundo Givoni (1992), uma condio de frio inten-
so, o que requer um projeto mais efetivo da envol-
vente construtiva. A correo desse comportamento,
sem comprometer o bom comportamento trmico
vericado para a situao de vero, implica aumen-
tar ganhos de calor atravs da radiao solar direta
sobre fechamentos e parties internas no inverno, e
proteger tais fechamentos e parties no vero. Essa
estratgia prevista no projeto do prottipo pelo
sombreamento da parede voltada a oeste com o uso
de uma prgula e beirais mais amplos na orientao
norte. Assim, sem essa envolvente atenuadora do frio
352
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
exterior, ou seja, em condies de exposio direta
a tais temperaturas, seria necessria a utilizao de
aquecimento articial em 827 horas (zona 9). Alm
disso, em 0,2% do perodo considerado (20 horas),
seria necessria a utilizao de ar-condicionado para
refrigerao. De acordo com as medies in loco,
h um signicativo coeciente de amortecimento
de amplitude de onda de temperatura do ar externo
apresentado pelo prottipo Alvorada, que pode estar
associado ao fato de ele ser mantido fechado durante
as medies e sua geometria compacta, que aumen-
ta sua inrcia trmica. O bom desempenho apresen-
tado pelo prottipo Alvorada, em relao ao amorte-
cimento da amplitude de onda de temperatura do ar
externo, indica que ele pode ser usado como uma
referncia para avaliao de outras solues.
Deve-se lembrar que o conforto trmico de-
terminado por fatores ambientais (temperatura,
umidade relativa, velocidade relativa do ar, radiao,
etc.) e fatores humanos (nvel de vestimenta e
nvel de atividade), e que diagramas bioclimticos,
como os das Figuras 269 e 271, so construdos so-
bre cartas psicromtricas que pressupem parme-
tros ambientais preestabelecidos (no caso, taxas de
ventilao xas, de 0,15 m/s para o inverno e de 0,25
m/s para o vero, temperaturas entre 18 C e 29 C,
e contedo de umidade entre 4 g/kg e 17 g/kg de ar
seco), assim como nveis de atividade e de vestimen-
ta tambm xos. claro que no interior do prottipo
Casa Alvorada, em uma condio de frio, o usurio
tambm poderia alcanar uma condio de conforto
por meio de uma atividade que ativasse o seu meta-
bolismo, ou por um maior nvel de vestimenta.
Desse modo, se atentarmos para as condies
ambientais do interior da edicao e, em particular,
para as temperaturas ali registradas, observa-se que,
das 2.148 horas em que a temperatura do ar interno
apresentou valores inferiores a 18 C, 823 desses re-
gistros ocorreram entre a meia-noite e s 6h, isto ,
em horrio durante o qual os usurios tm grande
chance de estar dormindo e com um nvel de vesti-
menta maior, portanto menos diretamente expostos
ao frio ocorrente no interior da casa.
Considera-se muito importante, no entanto, a
construo de um fogo lenha (previsto no pro-
jeto original da Casa Alvorada), para proporcionar o
aporte de calor necessrio durante as horas de frio
mais intenso. Com isso, certamente haver um abran-
damento signicativo das condies de desconforto
por frio no s no perodo mais frio, mas tambm
durante as horas subseqentes.
Deve-se frisar que, para as condies de frio,
outros ganhos internos de calor (lmpadas, eletro-
domsticos, calor humano) podero proporcionar
um aumento signicativo das horas de conforto no
interior do prottipo. No entanto, com a ocupao
da edicao, as condies de desconforto por ca-
lor, no vero, devero ser acentuadas, considerando
tanto o aumento da temperatura interior como do
contedo de vapor interno, assim ultrapassando os
valores mximos estabelecidos na zona de conforto.
Para melhor entender ambas as situaes, pois, sero
necessrios estudos experimentais que envolvam o
uso da edicao, para melhor estimar a sua resposta
a diferentes condies de uso.
353
A Avaliao dos Resultados
8.4.3 Avaliao do desempenho acstico
8.4.3.1 Introduo
O isolamento sonoro das fachadas e elemen-
tos divisrios internos de edicaes resultado de
todos os elementos de fachada (portas externas e ja-
nelas) e de acesso aos ambientes (portas internas),
assim como do modo com que esses elementos es-
to ligados entre si. sabido que existe uma grande
diferenciao de componentes em uma edicao e
que diferentes componentes, normalmente, apresen-
tam diferenas em sua capacidade de isolamento. No
caso do isolamento sonoro das fachadas, por exem-
plo, sabido que a janela (vidro e caixilharia) o
ponto mais fraco. Buscando aprofundar o desempe-
nho ambiental do prottipo Casa Alvorada, Nabinger
(2006) realizou um estudo com o intuito de vericar
in situ o desempenho acstico do prottipo.
A anlise buscou caracterizar as perdas de
transmisso acstica das paredes internas entre am-
bientes e aquelas determinadas pelas paredes exter-
nas. Foram analisadas alvenarias com e sem aberturas.
Ao todo, foram efetuadas quatro medies acsticas,
sendo em duas vericado o desempenho de facha-
das e em outras duas o desempenho das paredes di-
visrias entre ambientes, no interior da casa (Figura
272). O autor vericou os componentes a seguir.
Paredes divisrias (internas):
Parede A, entre dormitrios (tijolo vista,
rebocada no lado do dormitrio 01)
Parede B, entre dormitrio 01 e sala de estar
(tijolo vista, sem reboco, com porta)
Paredes de fachada (externas):
Parede D, do dormitrio 01, com uma janela,
mantida fechada (parede de tijolo vista, sem
reboco)
Parede C, do dormitrio 01, sem aberturas
(parede de tijolo vista, sem reboco)
Figura 272 Divisrias avaliadas e reas teis internas
8.4.3.2 Medies acsticas
Equipamento
As medies foram realizadas utilizando-se um
analisador de som, em tempo real, e um calibrador
externo de preciso, todos do tipo 1 (atende s nor-
mas IEC 651/804, IEC 942 e ANSI S.1.4). Instalou-se,
354
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 273 Sistema utilizado,
Investigator, da empresa B&K
no medidor acstico, a aplicao BZ7204, verso 2.0,
da Brel & Kjaer, para efetuar as medies, conforme
as normas ISO 140-4 (CEN, 1998a) e ISO 717 (CEN,
1996), indicadas pela ABNT, projeto 02:136.01-001/1
(2005). Assim, para efetuar as medies, foram utili-
zados os equipamentos que se seguem, todos da em-
presa Brel & Kjaer.
Investigator Type 2260 D (Software BZ
7204 de Acstica de Construes);
Investigator Type 2260 G (Software BZ
7207 de Acstica de Salas);
Observer Type 2260 J (Software BZ 7220
de Tempo de Reverberao);
Amplicador de Potncia Type 2716;
Fonte Sonora, Dodecadrica, OmniPower
Tipo 4296;
Calibrador externo Type 4231; e
Software Qualier Type 7830. Figura 274 Software 7830 utilizado, da B&K
Para a visualizao e anlise dos resultados
obtidos nas medies acsticas, foi utilizado o pro-
grama Qualier, type 7830, tambm da B&K (2003).
A Figura 274 mostra a janela do programa utilizado,
com uma medio de Tempo de Reverberao (TR),
efetuada dentro do dormitrio 01. Nesse estudo fo-
ram realizadas 96 medies acsticas.
355
A Avaliao dos Resultados
Registros efetuados
Para cada uma das quatro paredes analisadas
(A, B, C e D) foram efetuados os seguintes registros,
seguindo metodologia semelhante ilustrada no cro-
qui abaixo, conforme indicaes da ISO 140-4 (CEN,
1998a) e ISO 140-5 (CEN, 1998b), para anlise de ru-
dos areos (Figura 275):
a) rudos gerados internamente: nveis de rudo
L1, em sala da fonte (source room), com um
total de seis registros por sala, sendo o analisador
posicionado em trs distintos locais da sala e a
fonte, em dois diferentes locais da mesma sala;
b) rudos gerados no exterior: nveis L1, a 2 m da
fonte sonora, com um total de trs registros, em
trs pontos distintos;
c) nveis de rudo L2, nas salas receptoras (recei-
ving room), com um total de seis registros por
sala, posicionando o microfone em trs distintos
locais da sala de recepo, para cada posio da
fonte sonora, na sala da fonte, e posicionando o
microfone em trs pontos, quando os rudos so
gerados pela fonte sonora no exterior.
d) nveis de B2, para rudo de fundo, em uma sala
de recepo, com um total de seis registros por
sala (para o rudo gerado no interior) e trs regis-
tros por sala (para rudos gerados externamente),
com o microfone posicionado em trs distintos
locais da mesma sala;
e) nveis de T2, para tempo de reverberao (TR),
em cada sala, com a fonte sonora posicionada den-
tro da mesma sala, em dois locais distintos, com
um total de trs registros por ponto de medio,
num total de 18 medies de TR.
Figura 275 Identificao dos diferentes parmetros medidos, na anlise da transmisso interna
356
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Local das medies
Em todas as medies realizadas, o analisador
de som B&K 2260 foi colocado sobre um trip xo e
posicionado a 1,2 m do solo e a uma distncia mni-
ma de 0,6 m de qualquer objeto. A fonte sonora dode-
cadrica foi colocada sobre um trip e posicionada
a 1,6 m do solo. Todas as medies foram efetuadas
com as janelas e portas fechadas, sem a presena do
operador dentro do recinto.
As guras seguintes identicam os locais onde
foram medidos os diferentes parmetros (L1, L2, B2 e
T2) para cada parede (A, B, C e D) avaliada. Para cada
parmetro avaliado foram determinados:
a) trs distintos pontos, em cada sala, para a
colocao do microfone;
b) dois distintos pontos para a colocao da
fonte sonora interna; e
c) um ponto, para a fonte sonora externa.
Assim, para cada parmetro, foram feitos trs re-
gistros, um em cada ponto de microfone e com a fonte
em um ponto xo. Posteriormente, a fonte sonora foi
deslocada para um segundo ponto. Novamente, o mi-
crofone fez um registro em cada um dos trs pontos
determinados para colocao do microfone, porm
com a fonte sonora colocada nesse segundo ponto.
Assim foram obtidas seis diferentes medies acsti-
cas para as paredes A e B e trs diferentes medies
acsticas para as paredes C e D, para cada parmetro.
Parede interna A
Figura 276 Esboo das medies para avaliao de transmisso
atravs das paredes externas
Figura 277 Localizao dos diferentes parmetros
medidos e fonte sonora, para a parede A
357
A Avaliao dos Resultados
Parede interna B
Figura 278 Localizao dos diferentes parmetros medidos e
fonte sonora, para a parede B
Parede externa C
Figura 279 Localizao dos diferentes parmetros medidos e
fonte sonora, para a parede C
358
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Parede externa D
Figura 280 Localizao dos diferentes parmetros
medidos e fonte sonora, para a parede D
8.4.3.3 Metodologia
ISO 140-4: Paredes internas
Parede A: ISO 140-4 (CEN, 1998a)
Parede B: ISO 140-4 (CEN, 1998a)
ndices empregados
DnT,w ndice de isolamento sonoro norma-
lizado, entre dois locais 1 e 2 (dormitrio 01 e dormi-
trio 02), obtido a partir de um diagrama do tipo Dn
= a f, onde, para cada banda de freqncias f:
Analogamente, nessa expresso, L1 e L2 repre-
sentam, respectivamente, os nveis de presso sonora
medidos nos compartimentos 1 e 2 (emisso e re-
cepo), T o tempo de reverberao do espao de re-
cepo, e To o tempo de reverberao de referncia,
tomado igual a 0,5 s.
ISO 140-5: Paredes externas
Parede C: ISO 140-5 (CEN, 1998b)
Parede D: ISO 140-5 (CEN, 1998b)
ndices empregados
Dls,2m,nT,w (fachada) - ndice de isolamen-
to sonoro de fachada, obtido a partir de um diagra-
ma do tipo Dn = f, onde, para cada banda de fre-
qncias f:
Nesta expresso, L1,2m representa o nvel de
presso sonora medido com a fonte sonora a 2 m da
fachada, e L2, o nvel de presso sonora medido no
interior, quando o rudo utilizado para a medio for
produzido por uma fonte sonora (loudspeaker).
359
A Avaliao dos Resultados
Correes
C: Rudo Rosa
Ctr: Rudo de trfego urbano
O termo C ou Ctr representa um termo de cor-
reo que deve ser aplicado ao ndice de Reduo
Sonora Aparente R, obtendo-se o ndice corrigido
Rw. O ndice C ou Ctr depende exclusivamente da
fonte sonora utilizada na medio efetuada in situ.
Assim, emprega-se C quando da utilizao de uma
fonte sonora gerando um rudo rosa ou branco. Utili-
za-se Ctr quando a fonte sonora a ser considerada o
rudo proveniente de trco urbano. Neste trabalho
as correes foram efetuadas com a curva de refe-
rncia C, devido ao uso de uma fonte sonora in situ,
gerando um rudo rosa.
Os ndices de isolamento sonoro, correspon-
dentes aos nveis de presso sonora, no domnio da
freqncia, foram obtidos em conformidade com os
procedimentos descritos nas normas acima referidas.
So determinados por comparao com a descrio
convencional de referncia, constante na norma ISO
717-1 (1996), abrangendo as freqncias em teros
de oitavas, compreendidas entre 100 e 3.150 Hz.
Figura 281 Espectros de rudo rosa e de rudo de trfego rodovirio em tecido urbano, ponderados em A
360
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.4.3.4 Resultados
L1 - Parede interna A
Figura 282 Nveis L1 medidos e curva mdia, para a parede A
L2 - Parede interna A
Figura 283 Nveis L2 medidos e curva mdia, para a parede A
361
A Avaliao dos Resultados
B2 - Parede interna A
Figura 284 Nveis medidos de rudo de fundo, B2, e curva mdia, para a parede A
Figura 285 Tempos de reverberao medidos, T2, e curva mdia, para a parede A
T2 - Parede interna A
362
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
NDICE Rw - Parede interna A
Figura 286 Resultados da parede A, conforme a ISO 717-1
363
A Avaliao dos Resultados
L1 - Parede interna B
Figura 287 Nveis L1 medidos e curva mdia, para a parede B
L2 - Parede interna B
Figura 288 Nveis L2 medidos e curva mdia, para a parede B
364
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
B2 - Parede interna B
Figura 289 Nveis medidos de rudo de fundo, B2, e curva mdia, para a parede B
T2 - Parede interna B
Figura 290 Tempos de reverberao medidos, T2, e curva mdia, para a parede B
365
A Avaliao dos Resultados
NDICE Rw - Parede interna B
Figura 291 Resultados da parede B, conforme a ISO 717-1
366
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
L1 - Parede externa C
Figura 292 Nveis L1 medidos e curva mdia, para a parede C
L2 - Parede externa C
Figura 293 Nveis L2 medidos e curva mdia, para a parede C
367
A Avaliao dos Resultados
B2 - Parede externa C
Figura 294 Nveis medidos de rudo de fundo, B2, e curva mdia, para a parede C
T2 - Parede externa C
Figura 295 Tempos de reverberao medidos, T2, e curva mdia, para a parede C
368
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
NDICE Rw - Parede externa C
Figura 296 Resultados da parede C, conforme a ISO 717-1
369
A Avaliao dos Resultados
L1 - Parede externa D
Figura 297 Nveis L1 medidos e curva mdia, para a parede D
L2 - Parede externa D
Figura 298 Nveis L2 medidos e curva mdia, para a parede D
370
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
B2 - Parede externa D
Figura 299 Nveis medidos de rudo de fundo, B2, e curva mdia, para a parede D
T2 - Parede externa D
Figura 300 Tempos de reverberao medidos, T2, e curva mdia, para a parede D
371
A Avaliao dos Resultados
NDICE Rw - Parede externa D
Figura 301 Resultados da parede D, conforme a ISO 717-1
372
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.4.3.4.1 Resumo dos resultados
Figura 302 Resumo comparativo dos resultados obtidos para cada parede
Quadro 48 ndices de Reduo Sonora, DnTw
373
A Avaliao dos Resultados
8.4.3.5 Avaliao conforme a ABNT (projeto
02:136.01-001/1)
Paredes internas
O Quadro 49 apresenta, conforme a norma
ABNT (2005), projeto 02:136.01-001/1, em fase de
aprovao poca de realizao do presente estu-
do, a classicao dos nveis de desempenho (M-
nimo - M, Intermedirio - I e Satisfatrio - S), para
paredes internas de edicaes de at cinco pa-
vimentos. Assim, pode-se classicar os resultados
obtidos para as paredes internas A e B:
Parede A: DnTw = 30 dB Nvel de Desem-
penho - Intermedirio; e
Parede B: DnTw = 21 dB Nvel de Desem-
penho - Insuciente (4 dB abaixo do nvel
mnimo de desempenho estipulado na norma
citada).
Quadro 49 Nveis DnTw, segundo a norma ABNT, para paredes internas
Paredes externas
O Quadro 50 apresenta, conforme a norma da
ABNT (2005), projeto 02:136.01-001/1 a classica-
o dos nveis de desempenho (Mnimo - M, Interme-
dirio - I e Satisfatrio - S), para fachadas mais cober-
turas de edicaes de at cinco pavimentos. Assim,
pode-se classicar os resultados obtidos para as pare-
des internas C e D. Nessa tabela utilizou-se a coluna
(D2m,nT,w), e no a coluna (D2m,nT,w+5), visto que
a segunda deve ser utilizada no caso de habitaes
localizadas junto a vias de trfego intenso (rodovi-
rio, ferrovirio ou areo), o que no foi o caso.
Parede C: D2m,nT,w = 26 dB Nvel de De-
sempenho - Insuciente (4 dB abaixo do n-
vel mnimo de desempenho estipulado na nor-
ma citada).
Parede D: D2m,nT,w = 13 dB Nvel de De-
sempenho - Insuciente (7 dB abaixo do n-
vel mnimo de desempenho estipulado na nor-
ma citada).
374
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 50 Nveis D2m,nT,w, segundo a
norma ABNT, para paredes externas
8.4.3.6 Avaliao conforme a NBR 10152 (ABNT,
2000a): nveis de rudo para conforto acstico
A NBR 10152:2000 xa os valores de rudo
compatveis com o conforto acstico, em dB(A)
e curvas NC, em ambientes diversos. O Quadro 51
apresenta o valor inferior da faixa representando o
nvel sonoro para conforto acstico, em ambientes
residenciais, enquanto o valor superior signica o n-
vel sonoro aceitvel para a nalidade. Os nveis supe-
riores aos estabelecidos so considerados de descon-
forto, sem necessariamente implicar riscos sade.
A Figura 303 apresenta o desempenho dos am-
bientes internos do prottipo, diante dos valores de
rudo de fundo, comparando-os com as Curvas NC,
segundo a Norma NBR 10152.
Dormitrio 01: NC 30 (proporciona con-
forto, conforme a norma NBR 10152)
Dormitrio 02: NC 35 (proporciona con-
forto, conforme a norma NBR 10152)
Sala de estar: NC 25 (proporciona confor-
to, conforme a norma NBR 10152)
8.4.3.7 Concluses
Conforme a nova norma de desempenho (pro-
jeto 02:136.01-001/1), o PCA apresenta dcit de
isolamento em suas alvenarias voltadas para a rua
(fachada). O desempenho insuciente, no quesito
isolamento acstico, deveria proporcionar descon-
forto aos usurios do PCA. Ao ser vericado o rudo
de fundo, dentro dos ambientes internos, conforme a
norma NBR 10152 (ABNT, 2000a), constatou-se que
os ambientes atingem o conforto acstico necess-
rio. Logicamente, a implantao de uma residncia
em local afastado de trnsito urbano, como o caso
do Prottipo Casa Alvorada, no campus da UFRGS,
necessita de menores ndices de desempenho de
isolamento acstico de fachadas do que os ndices
estipulados na nova norma de desempenho propos-
ta (projeto 02:136.01-001/1); no entanto, em outras
condies de implantao, h que se observar suas li-
mitaes e necessidade de melhorias, principalmente
por meio da reduo de frestas em suas esquadrias.
Quadro 51 Nveis de rudo para conforto acstico, segundo a NBR
10152
375
A Avaliao dos Resultados
Figura 303 Comparao entre os
nveis de rudo de fundo e as curvas NC
Quanto s paredes internas do PCA, identi-
cou-se um desempenho diferenciado para as duas
paredes analisadas. A parede que separa os dormi-
trios (parede A) atingiu um desempenho interme-
dirio, conforme o estipulado na norma (projeto
02:136.01-001/1). A parede que separa o dormitrio
da sala (parede B) no atingiu o desempenho mnimo
requerido no mesmo projeto de norma. A diferena
construtiva entre as duas paredes que uma rebo-
cada de um lado e no apresenta nenhuma abertura
diretamente voltada para o dormitrio onde foi ava-
liada a recepo de rudo, enquanto a outra parede
(B) no possui reboco em nenhuma das faces. Alm
da falta de reboco, o dormitrio possui uma porta
que o liga com a sala de estar. Vericou-se que a porta
se apresenta com frestas, junto aos batentes, sendo
essa semi-oca e leve. Assim, pode-se admitir que esse
elemento juntamente com a falta de reboco em uma
das faces sejam itens determinantes do baixo desem-
penho da parede B.
Nabinger (2006) sugere que todas as alvenarias
internas, que separam ambientes, sejam rebocadas
em, pelo menos, uma de suas faces, e que as aberturas
sejam trocadas (portas e janelas) por aberturas com
melhor desempenho de isolamento acstico, garan-
tindo, assim, a privacidade acstica necessria entre
ambientes de uma mesma unidade habitacional.
Enquanto o rudo de fundo (RF), no exterior da
residncia, permanecer com baixos nveis sonoros,
as alvenarias externas podero permanecer do modo
que se encontram, visto que, no interior do PCA, o
conforto acstico alcanado, conforme os parme-
tros estabelecidos pela NBR 10152.
376
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.4.4 Avaliao de desempenho ambiental
8.4.4.1 Introduo
Considerando-se que o Prottipo Casa Alvora-
da foi concebido e construdo segundo princpios da
sustentabilidade, este estudo, resultado do trabalho
de pesquisa de Kuhn (2006), busca avaliar a edica-
o como um todo, atravs da caracterizao e an-
lise dos principais impactos ambientais relacionados
aos seus subsistemas e materiais. Para a elaborao
da metodologia, buscou-se, atravs da reviso biblio-
grca, embasamento nos sistemas de avaliao am-
biental existentes. A estrutura de avaliao aplicada
foi composta de critrios ambientais, e os resultados
apontam os benefcios e as desvantagens das solu-
es adotadas, permitindo tanto a identicao das
alternativas mais adequadas como daquelas que po-
dem ser aprimoradas. Os resultados obtidos com a
avaliao do Prottipo Casa Alvorada estabelecem
um referencial de comparao para novas propos-
tas de habitaes de interesse social que busquem
maior sustentabilidade.
8.4.4.2 Metodologia
Objeto de estudo
O PCA se caracteriza por apresentar uma tipo-
logia de edicao trrea e isolada, com 50,51 m
de rea construda, de planta aproximadamente qua-
drada e com cobertura voltada predominantemente
para o sul (Figura 304). No foram considerados no
estudo os subsistemas de instalaes eltricas e hi-
drulicas, por no haver, at a realizao dele, projeto
denitivo para os mesmos. Logo, os subsistemas ava-
liados correspondem queles construdos at a data
de realizao deste estudo, que foram subdivididos e
nomeados da maneira a seguir.
1. Fundaes: executadas em pedras de grani-
to (parcialmente originrias de sobras de subs-
tituio de pavimentos do campus Central da
UFRGS e da demolio de uma pequena edi-
cao, em desuso, no Laboratrio de Energia
Solar da UFRGS), sobre camada compactada de
solo cimento e coroadas por vigas de concreto,
que foram impermeabilizadas com emulso as-
fltica elastomrica.
2. Pisos: a este subsistema correspondem,
alm dos pisos propriamente ditos, o lastro de
pedra britada e o contrapiso assentado sobre
eles. As placas cermicas esmaltadas, aplicadas
no banheiro, foram assentadas com argamassa
adesiva pr-fabricada, e aquelas no esmalta-
das, aplicadas no restante da habitao, com
argamassa de cimento e areia. A argamassa de
rejuntamento foi produzida in loco.
3. Alvenarias: constitudas por adas simples
de tijolos macios de cermica vermelha, com
espessura total de 11 cm. quelas externas,
orientadas a sul e a oeste, foram aplicados cha-
pisco e massa nica, como forma de aumen-
tar a resistncia trmica e a durabilidade das
fachadas, que se encontram em situao mais
crtica de exposio.
4. Esquadrias: de madeira de eucalipto, de di-
versas espcies, construdas segundo os mode-
los de fbrica, porm com dimenses e alguns
377
A Avaliao dos Resultados
detalhes especcos. Totalizam 7 janelas e 5
portas, com um volume til de madeira aproxi-
mado de 0,60 m. Para preservao da madeira
das esquadrias foi testado um tratamento alter-
nativo, composto de dois tipos de mistura.
5. Cobertura: a estrutura de sustentao
composta de vigas de concreto e caibros de
madeira de cedrinho e pnus. Um incremento
no isolamento trmico do subsistema propor-
cionado por folhas de alumnio, reaproveitadas
do processo de off-set de indstrias grcas. As
telhas de recobrimento so cermicas, no es-
maltadas, e o forro constitudo por lambris
de cedrinho.
6. Pergolados: so dois os pergolados presen-
tes na habitao: um orientado a norte, e outro,
a oeste da edicao. So de troncos rolios
de eucalipto, no tratados, de duas espcies
(Eucalyptus saligna e Eucalyptus grandis). As
peas apoiadas sobre o piso fazem-no atravs
de paraleleppedos de granito, em parte reu-
tilizados, e pequenos blocos de fundao, em
concreto, que os mantm distanciados do solo,
para restringir o acesso pela umidade do solo.
Mais informaes sobre o prottipo Casa Al-
vorada podem ser encontradas nas dissertaes de
Fernandes (2004), Morello (2005) e Oliveira (2005),
e nos trabalhos publicados por Rosa, Sedrez e Sattler
(2001) e Costa Filho, Bonin e Sattler (2000).
Sntese dos procedimentos adotados
A reviso bibliogrca foi o principal instrumen-
to para o desenvolvimento deste trabalho. Atravs dela
se procurou compreender os principais mecanismos
ambientais geradores de impactos ao longo do ciclo
Figura 304 Vista norte e planta baixa do prottipo Casa Alvorada
378
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
de vida das edicaes e obter fontes de dados espec-
cas para a avaliao. Para a elaborao da metodolo-
gia tambm se buscou, na literatura, embasamento nas
ferramentas de avaliao ambiental existentes. A es-
trutura de avaliao resultante, aplicada, foi composta
de critrios ambientais, e os procedimentos adotados,
desde a seleo at sua caracterizao nal, so sin-
teticamente descritos a seguir. A autora destacou que
no foi inteno de seu trabalho, atravs da denio
dos procedimentos de caracterizao de impactos
ambientais, criar um mtodo reaplicvel.
- Seleo preliminar de critrios ambientais de
avaliao
Atravs da anlise das principais ferramentas
de avaliao ambiental de edicaes existentes, le-
vantou-se uma lista preliminar de critrios ambientais,
pertinentes avaliao ambiental de uma habitao
de interesse social no contexto brasileiro. A possibili-
dade e a forma de caracterizao de cada critrio se-
lecionado passaram, ento, a ser avaliadas no decorrer
da etapa seguinte de levantamento de dados. Isso
ocorreu porque se partiu do pressuposto de que a
estrutura de avaliao deveria ser baseada em dados
disponveis, fazendo com que a coleta de dados e a
denio dos critrios e forma de caracterizao dos
mesmos ocorressem como processos interativos.
- Levantamento de dados e clculos de consumo
de materiais
O levantamento de dados no ocorreu em um
nico perodo, e sim ao longo de todo o trabalho.
medida que era vericada a existncia de dados rele-
vantes, considerava-se a adequao desses aos critrios
previamente selecionados. Os dados levantados per-
tencem a duas categorias distintas. Na primeira catego-
ria se inserem as informaes especcas relativas ao
prottipo Alvorada; na segunda, esto aquelas sobre as
caractersticas e propriedades dos materiais utilizados
e seus processos de manufatura, no contexto nacional.
a. Relativos habitao
O levantamento de dados da edicao incluiu
a identicao e a quanticao dos subsistemas e
materiais que a compem. A caracterizao fsica
foi realizada a partir de dados do projeto (tais como
plantas baixas, cortes e elevaes) e levantamentos
no local. Isso permitiu identicar as alteraes do
edifcio construdo em relao ao projeto original. J
as informaes referentes etapa de construo fo-
ram obtidas mediante entrevistas com os construto-
res, documentos, relatrios e planilhas de construo,
tais como fotos e planilhas de controle de materiais
adquiridos e de identicao de fornecedores.
A partir da identicao da composio dos
subsistemas, partiu-se para o clculo das quantidades
teis dos materiais incorporados. Aos consumos teis
ou de referncia, calculados para os diferentes mate-
riais, agregaram-se valores relativos a perdas. Esses va-
lores foram obtidos por meio de comparaes entre
os quantitativos de referncia calculados e o consumo
real de materiais, registrado nas planilhas de controle
de compras, durante a etapa de construo.
b. Relativos a caractersticas dos materiais e seus
processos de manufatura, no contexto brasileiro
A limitada disponibilidade desse tipo de fonte
de informao foi determinante para a denio da
379
A Avaliao dos Resultados
possibilidade de caracterizao dos critrios de ava-
liao levantados inicialmente. Foram utilizados da-
dos genricos e especcos, obtidos de diversas fon-
tes na literatura. Por isso, freqentemente, no foram
representativos dos setores de produo como um
todo, nem apresentavam, originalmente, padroniza-
o da comunicao das informaes. Esses aspectos
conferem imprecises avaliao, mas essa forma
de obteno de dados foi aquela identicada como
possvel quando da realizao do trabalho, conside-
rando-se as limitaes de recursos nanceiros e de
tempo ento existentes.
- Definio dos critrios de avaliao e caracteri-
zao dos impactos ambientais
Os critrios de caracterizao denidos busca-
ram abranger todas as etapas do ciclo de vida que pu-
dessem ser quanticadas ou qualicadas. Os critrios
xados esto classicados em dois grupos: primeiro,
o consumo de recursos; e segundo, as emisses e
gerao de resduos, de acordo com o tipo de carga
ambiental exercida. No so contemplados critrios
relativos ao conforto do ambiente interno, uma vez
que esses aspectos de desempenho j foram bem ex-
plorados em outros dois trabalhos focados no prot-
tipo Alvorada. Os resultados de todos os critrios esti-
pulados correspondem a impactos negativos ao meio
ambiente, e a forma de caracterizao para cada um
deles explicitada individualmente.
a. Emisso de resduos txicos
A caracterizao desse critrio se baseia na
identicao dos materiais incorporados nos subsis-
temas, cujos processos de manufatura, uso ou dispo-
sio nal possam emitir resduos txicos. No so
quanticados, especicamente, os resduos txicos
emitidos, mas apenas as massas dos materiais que os
emitem, em alguma dessas etapas do ciclo de vida.
Tambm no especicado o grau de periculosidade
das diferentes emisses.
b. Consumo de energia e emisses de CO
2
rela-
cionadas a transportes
Para a caracterizao do consumo de energia e
emisses relacionadas a transportes foram adotados
os mesmos procedimentos denidos nos trabalhos
de Sperb (2000) e Oliveira (2005). O clculo da ener-
gia consumida foi feito atravs do produto da massa
do material, pelo ndice energtico para transporte
e pela distncia transportada. Ao resultado, em MJ,
se aplica o ndice de emisses de CO
2
gerado pela
queima de leo diesel em veculos europeus pesa-
dos, de transporte de carga, que, segundo o Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPPC, 1996),
corresponde a 74 g/MJ. As distncias transportadas
correspondem quelas entre as cidades produtoras
dos materiais e Porto Alegre. Foram extradas do por-
tal MSN Maps & Directions (2005) e considerados os
percursos mais diretos entre os centros das cidades.
c. Consumo de energia para processos
O clculo do consumo de energia para proces-
sos realizado a partir do produto dos ndices ener-
gticos dos diferentes materiais, pelas suas respec-
tivas massas. Os ndices energticos adotados no
correspondem queles especcos s indstrias de
origem dos materiais empregados. Foram obtidos na
literatura, o que confere certa limitao caracteriza-
380
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
o desse critrio, j que, muitas vezes, os ndices dis-
ponveis se referem a grupos pequenos de indstrias
ou, at mesmo, a uma nica indstria, no represen-
tando o desempenho do setor como um todo.
d. Incorporao de recursos no reaproveitados
Esse critrio caracteriza a quantidade de recur-
sos reaproveitados em relao de recursos novos, in-
corporados na edicao. Foi feita uma distino dos
materiais em funo do tipo de reaproveitamento de
recursos empregados. Materiais residuais oriundos de
outros processos ou da demolio de edicaes, que
no sofrem nenhum novo processo para serem incorpo-
rados edicao, so denominados reutilizados. Esses
materiais tm 100% da sua massa caracterizada como
recursos reaproveitados. Materiais com contedo reci-
clado, em contraste, freqentemente apresentam ape-
nas parte de sua composio formada por recursos re-
aproveitados; alm disso, caracterizam-se por exigirem
novos processos de manufatura. Esses materiais so
identicados como aqueles cujos processos de fabrica-
o adotam, como prtica corrente, a incorporao de
resduos gerados por outros processos produtivos. Tais
prticas foram identicadas a partir de informaes dis-
ponibilizadas pelos fabricantes ou por trabalhos espec-
cos sobre materiais. Salienta-se, no entanto, que no foi
estimada quantitativamente a massa de resduos incor-
porados; o critrio se baseia, apenas, na quanticao
das massas de materiais que no foram reutilizados ou
que no possuam insumos reciclados.
e. Incorporao de recursos sem potencial de
reaproveitamento
Esse critrio se fundamenta na identicao
dos materiais incorporados na edicao que apre-
sentem baixo potencial para reutilizao ou restri-
es para reciclagem. A caracterizao feita me-
diante a quanticao das massas de materiais que
possuam baixo ou nulo potencial para reaproveita-
mento em relao queles que apresentem mdio ou
alto potencial.
f. Perdas de recursos
A caracterizao desse critrio feita atravs
da relao entre o consumo de referncia (ou til)
calculado e o consumo real de recursos, determi-
nados por meio das planilhas de controle de com-
pras de materiais, durante a etapa de construo.
considerado como perda o consumo de recursos
excedentes aos valores de referncia, incluindo tan-
to aqueles que se converteram em resduos quanto
aqueles incorporados edicao, durante a etapa
de construo, ou devido no-otimizao de proje-
tos especcos.
g. Uso de madeira nativa no certificada
A caracterizao desse critrio est atrelada
considerao de que, at o presente momento, h
disponibilidade restrita de madeira nativa brasileira
certicada no mercado nacional. Alm disso, como
algumas espcies tradicionalmente utilizadas na
construo civil encontram-se ameaadas, considera-
se, neste trabalho, um impacto ambiental negativo o
uso da madeira proveniente de orestas nativas. As-
sim, como alternativa, prope-se o uso de madeira de
reorestamento, de espcies no nativas, e caracteri-
za-se esse critrio atravs da relao entre as massas
de madeiras nativas e no nativas empregadas na edi-
381
A Avaliao dos Resultados
cao. Salienta-se que foram quanticadas, alm das
madeiras incorporadas, tambm aquelas utilizadas
para a confeco das formas para concreto.
8.4.4.3 Anlise dos resultados
Optou-se por estabelecer uma forma de visua-
lizao dos resultados atravs de grcos que carac-
terizassem os impactos da edicao em duas esca-
las: global e por subsistema. O Quadro 52 sintetiza
os quantitativos gerais (em massa) de materiais in-
corporados nos subsistemas. Os resultados da carac-
terizao de impactos ambientais esto resumidos
no item seguinte. Consideraes gerais so feitas na
seo 8.4.4.4.
Quadro 52 Quantitativos gerais de materiais incorporados no PCA, discriminados por subsistema
Aplicao dos critrios ambientais
Os nicos materiais responsveis por emis-
ses txicas so o ao e a essncia de terebentina
(utilizada na preservao das esquadrias e pergola-
dos). A quantidade de ao utilizada nas vigas de co-
roamento e de baldrame foi responsvel pelo desem-
penho signicativamente inferior aos dos demais
subsistemas (Figura 305) obtido pelos subsistemas
de cobertura e fundaes. O ao, no entanto, res-
ponsvel por emisses apenas durante o processo de
fabricao. Quanto a emisses no ambiente interno,
a essncia de terebentina, utilizada para diluir o leo
de linhaa, usada no tratamento alternativo para ma-
deira das esquadrias, foi a nica substncia identi-
cada. A esse respeito, deve-se fazer uma anlise mais
profunda da periculosidade de seus efeitos, compa-
rando-os com aqueles resultantes de alternativas tra-
dicionais de tratamento da madeira.
382
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 305 Emisso de resduos txicos
Os resultados dos critrios de consumo de
energia e emisses de CO
2
relacionados ao transpor-
te (Figuras 306 e 307) esto diretamente vinculados
entre si. O subsistema de cobertura foi o que atingiu o
pior desempenho em ambos os critrios, j que 90,5%
do consumo de energia e das emisses associados a
este subsistema so decorrentes do emprego da ma-
deira de cedrinho, que proveniente do Mato Grosso
do Sul. Esta madeira foi utilizada tanto na estrutura de
cobertura como na confeco de formas para vigas de
concreto. Esse material de construo aquele cuja ori-
gem de produo a mais distante da cidade de Porto
Alegre, e o nico, alm do vidro (utilizado em pequena
quantidade), no fabricado no Estado do Rio Grande
do Sul. Ainda assim, esses valores de consumo podem
ser considerados baixos, se comparados aos obtidos
por Sperb (2000), na caracterizao dos gastos energ-
ticos para transportes dos subsistemas de cobertura e
paredes de cinco tipologias de habitaes de interesse
social implantadas na Vila Tecnolgica de Porto Alegre.
Figura 306 Consumo de energia para transportes
383
A Avaliao dos Resultados
Figura 307 Emisses de CO
2
relacionadas a transportes
Quanto ao consumo de energia para pro-
cessos de fabricao, o valor total corresponde
energia operacional acumulada despendida ao longo
de 18 anos de uso de uma edicao de mesmo pa-
dro, segundo dados do estudo de Hansen (2000).
Destacam-se os impactos gerados pelos subsistemas
de alvenarias e cobertura (Figura 308). O consumo
de energia das primeiras, por metro quadrado de
rea construda, embora no explicitado no grco,
correspondeu a 1.104,90 MJ; enquanto o da segunda,
a 811,56 MJ. Esses valores so um pouco elevados,
se comparados aos obtidos por Sperb (2000), e in-
termedirios, se comparados aos obtidos por Krger
e Dumke (2001), que realizaram caracterizaes de
gastos energticos para esses dois tipos de subsiste-
mas em estudos nas Vilas Tecnolgicas, respectiva-
mente, de Porto Alegre e de Curitiba.
Figura 308 Consumo de energia para processos de fabricao de materiais
384
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Os resultados obtidos no critrio de incorpo-
rao de recursos no reaproveitados (Figura
309) indicam que apenas um pequeno percentual
dos materiais incorporados no PCA oriundo de
reaproveitamentos. No entanto, no sendo prtica
corrente no Brasil a reutilizao de estruturas pree-
xistentes ou de materiais residuais de demolies de
edicaes, o mrito dessa iniciativa est na demons-
trao das vantagens de sua adoo.
Figura 309 Incorporao de recursos no reaproveitados
Ocorre, para o critrio de incorporao de
recursos sem potencial de reaproveitamento
(Figura 310), que os subsistemas com desempenho
inferiores so aqueles que apresentam maiores mas-
sas de recursos incorporados, embora esses tambm
contenham grande massa de recursos com alto po-
tencial de reaproveitamento. Subsistemas com gran-
des quantidades de concreto e de argamassas ten-
dem a apresentar potenciais de reaproveitamento
inferiores.
Verica-se, atravs do critrio de caracteriza-
o de perdas, que essas esto entre as mdias cons-
tatadas em estudos da rea. No entanto, para muitos
materiais, as quantidades consumidas ultrapassaram
as quantidades calculadas teis, ou de referncia, de-
vido falta de planejamento e controle na compra de
materiais, durante a execuo da obra, o que resultou
na aquisio de materiais excedentes, no utilizados.
No critrio consumo de madeira nativa no
certicada, o subsistema de cobertura apresentou
desempenho negativo, contrastante em relao aos
demais (Figura 312), devido ao consumo da madeira
de cedrinho. Alm disso, pode-se considerar que mes-
mo o uso de madeira no nativa de reorestamento
poderia ter sido reduzido. Embora parte das tbuas
utilizadas para a confeco das formas das vigas de
concreto da cobertura tenha sido reutilizada como
caibros, as demais madeiras destinadas s formas para
concretos no foram reaproveitadas, o que, se tivesse
sido feito, reduziria o consumo delas metade.
385
A Avaliao dos Resultados
Figura 310 Incorporao de recursos sem potencial de reaproveitamento
Figura 311 Perdas de recursos
Figura 312 Consumo de madeira nativa no certificada
386
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.4.4.4 Consideraes gerais
Uma anlise geral do processo e das dicul-
dades encontradas no desenvolvimento do trabalho
permite, tambm, que sejam feitas certas considera-
es, no expressas diretamente nos resultados ob-
tidos. Constatou-se o que tambm j foi apontado
em outros trabalhos desenvolvidos na rea (OLIVEI-
RA, 2005; SILVA, 2003; SPERB, 2000) uma carncia
de dados atuais e precisos relativos a materiais de
construo no contexto nacional, o que traz impreci-
ses ou exige o dispndio de considerveis recursos
nanceiros e de tempo para a realizao de avalia-
es de edicaes como essas.
No entanto, vericou-se aqui que, para a rea-
lidade brasileira, a soluo desse problema no est
apenas relacionada criao de banco de dados ge-
nricos, representativos de setores como um todo.
As indstrias brasileiras apresentam uma heteroge-
neidade de processos produtivos, que se reete na
gerao de impactos ambientais muitos diferentes
para a fabricao de produtos similares. Assim, a se-
leo de fornecedores se torna um aspecto crtico
para o desempenho ambiental da edicao como
um todo. Essa questo, que foi priorizada na etapa
de projeto e construo do Prottipo Alvorada, aca-
bou por ter seus benefcios diludos nesta avaliao,
devido necessidade de utilizao de dados no es-
peccos. Igualmente crtica foi a obteno de dados
de referncia para comparao dos resultados de de-
sempenho do PCA. Vericou-se a indisponibilidade
de estudos no Brasil relacionados avaliao ambien-
tal de habitaes de interesse social como um todo.
Os trabalhos encontrados se limitam anlise de sub-
sistemas isolados, e alguns avaliam apenas aspectos
relacionados ao consumo de energia.
Apesar das limitaes apontadas, os resulta-
dos obtidos permitiram identicar quais subsistemas
apresentam pior desempenho ambiental e, por sua
vez, quais os pontos ambientalmente crticos neles,
determinantes para essa condio. Essas informaes
podem ser referenciais para o desenvolvimento de
novas propostas para habitaes mais sustentveis
de interesse social. Adicionalmente, fornecem dados
para comparaes com novas avaliaes ambientais
a serem desenvolvidas e permitem que comecem a
ser estabelecidos valores de referncia quanto ao de-
sempenho de habitaes desse gnero.
8.4.5 Avaliao de custos associados s solues
construtivas
8.4.5.1 Introduo
Este estudo, tambm resultado do trabalho de
pesquisa de Kuhn (2006), realiza uma anlise dos
custos dos materiais empregados na construo do
prottipo Casa Alvorada, comparando-os aos de ou-
tros sistemas construtivos regionalmente emprega-
dos para o atendimento da demanda por habitaes
de baixo custo. Como o prottipo foi concebido para
ser construdo pelos prprios usurios, e contou com
a participao de vrios alunos e professores em sua
construo, no foram especicados os gastos refe-
rentes mo-de-obra. A metodologia de pesquisa in-
cluiu o levantamento de dados e identicao dos
materiais constituintes da edicao; organizao
dos dados e clculo das quantidades teis de mate-
riais para a construo de cada subsistema; quanti-
387
A Avaliao dos Resultados
cao das perdas, com base nas planilhas de obra e
notas de compra; levantamento dos custos unitrios
de mercado para os materiais de construo empre-
gados; e comparao de seu custo com o de sistemas
construtivos tradicionais.
Figura 313 Vista norte do prottipo Alvorada
O estudo no considerou os custos dos subsis-
temas de instalaes eltricas e hidrulicas, pois, at
a concluso do trabalho de Kuhn, tais subsistemas
ainda no haviam sido implementados.
8.4.5.2 Sntese dos procedimentos adotados
A metodologia da pesquisa incluiu o levanta-
mento de dados e identicao dos materiais consti-
tuintes da edicao; organizao dos dados e clculo
das quantidades teis de materiais para a construo
de cada subsistema; quanticao das perdas de ma-
teriais; levantamento dos custos unitrios atualizados
para materiais; e quanticao dos custos totais. Os
procedimentos adotados so sinteticamente descri-
tos nos itens a seguir, em ordem cronolgica.
Levantamento de dados e identificao dos ma-
teriais constituintes da edificao
O levantamento de dados da edicao foi a pri-
meira atividade realizada e contemplou a identicao
dos subsistemas e materiais que a compem. A caracte-
rizao fsica foi realizada a partir de dados do projeto
(tais como plantas baixas, cortes e elevaes) e levanta-
mento no local, o que permitiu identicar as alteraes
do edifcio construdo em relao ao projeto original.
J as informaes referentes etapa de construo fo-
ram obtidas atravs de entrevistas com os construto-
res, documentos, relatrios e planilhas de construo,
tais como fotos e planilhas de controle de materiais
adquiridos e de identicao de fornecedores.
Organizao dos dados e clculo das quantida-
des teis de materiais
A partir da identicao da composio dos
subsistemas, efetuou-se o clculo das quantidades
teis, ou de referncia, dos materiais incorporados.
Para argamassas e concretos, de posse dos traos
(em volume) utilizados, o clculo dos diferentes in-
sumos foi feito atravs de frmula que permite cal-
cular o consumo terico de cimento, conforme Alves
(1987). Para tijolos, telhas e placas cermicas, a massa
til consumida foi estimada por meio das frmulas
apresentadas em Tabelas de Composies de Preos
para Oramentos (TCPO 12, 2003), alm de observa-
es no local. Aditivos modicadores de argamassas
e concretos, impermeabilizantes e produtos para tra-
388
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
tamento e proteo de materiais, em geral, tiveram
seu consumo calculado a partir das indicaes de uso
apontadas pelos respectivos fabricantes. Os demais
materiais, tais como madeiras, blocos de granito e ao,
foram quanticados a partir das informaes de pro-
jeto, fotos de execuo e observaes no local.
Quantificao das perdas
s quantidades teis, ou de referncia, calcula-
das para os diferentes materiais, agregaram-se valores
relativos a perdas. Esses valores foram obtidos atravs
de comparaes entre os quantitativos de referncia
calculados e o consumo real de materiais, registrado
nas planilhas de controle de compras, durante a eta-
pa de construo e notas de aquisio de materiais.
Atualizao dos custos unitrios para materiais
individuais e quantificao dos custos totais
As notas e planilhas de compra de materiais,
utilizadas para a quanticao do consumo, apresen-
tam preos correspondentes ao perodo de constru-
o do PCA, ou seja, a diversos perodos entre os anos
de 2001 e 2002. A atualizao desses valores, para
este artigo, considerou custos unitrios de materiais
referentes a janeiro de 2006. Optou-se por atualizar
os preos atravs de contato direto com os fornece-
dores. Desconsiderou-se a possibilidade de conver-
so pelo Custo Unitrio Bsico da Construo Civil
(CUB), devido s imprecises intrnsecas ao proce-
dimento. Optou-se, tambm, por contatar os forne-
cedores especcos de cada material, j que alguns
destes no so tradicionalmente encontrados no
mercado, como, por exemplo, a madeira de eucalipto
sem tratamento. Alm disso, do ponto de vista do de-
sempenho ambiental, a seleo dos produtores um
aspecto crtico e foi priorizada na etapa de projeto
e construo do prottipo Casa Alvorada. De posse
dos custos unitrios e das quantidades de materiais
consumidos, foram quanticados, individualmente,
os custos relacionados a cada subsistema.
8.4.5.3 Anlise dos resultados
A Tabela 19 sintetiza os custos totais de mate-
riais incorporados em cada um dos subsistemas e na
edicao como um todo. Implicaes econmicas
das solues construtivas e prticas adotadas so re-
sumidamente analisadas no item seguinte, alm de
serem feitas comparaes com custos de outras ha-
bitaes do mesmo gnero, construdas no mesmo
perodo. Posteriormente, consideraes gerais so
apresentadas no item 8.4.5.4.
Repercusses das solues e prticas adotadas
nos custos
Foram identicadas solues construtivas e
prticas adotadas durante a etapa de execuo do
prottipo, nas quais poderia ter sido evitado o con-
sumo de recursos desnecessrios. Falhas de plane-
jamento e controle na aquisio de materiais, du-
rante alguns perodos da execuo da obra, foram
alguns desses aspectos observados. Para muitos
materiais, as quantidades adquiridas ultrapassaram
signicativamente as quantidades teis calculadas,
ou de referncia, resultando na compra de mate-
riais excedentes, no utilizados. So exemplos dis-
so as peas em madeira de cedrinho, para o roda-
forro, cuja compra excedeu em 30% a quantidade
de referncia calculada.
389
A Avaliao dos Resultados
Ainda, quanto possibilidades de economia de
recursos, embora parte das tbuas utilizadas para con-
feco das formas das vigas de concreto da cobertura
tenha sido reutilizada como caibros, as demais ma-
deiras destinadas a formas no foram reaproveitadas,
sendo, segundo as Tabelas de Composies de Preos
para Oramentos (TCPO 12, 2003), possvel reapro-
veit-las at quatro vezes. Considera-se que, embora
esse nmero de reaproveitamentos apontado por
TCPO 12 (2003) no pudesse ser realizado na cons-
truo de uma nica habitao, o reaproveitamento
das formas, uma vez, seria tecnicamente vivel e con-
tribuiria signicativamente para a reduo do custo
total delas, j que este foi expressivo em relao ao
todo (correspondendo a 6,29% do custo global do
prottipo), como se pode observar na Tabela 19.
Em contrapartida, aponta-se como sendo positiva,
do ponto de vista econmico, a prtica de reaproveita-
mento de materiais, tanto provenientes da reutilizao
de estruturas preexistentes no terreno como da incor-
porao de resduos de processos de outros setores. No
prottipo Casa Alvorada, constituem exemplos dessas
prticas a incorporao de pedras de granito, residuais
de uma edicao demolida e de substituio de pavi-
mentos no campus Central da UFRGS, nas fundaes,
assim como de chapas de off-set, material residual de
grcas, para o isolamento trmico da cobertura. A
economia obtida, ao todo, correspondeu a R$ 656,38,
desconsiderando-se os investimentos que seriam ne-
cessrios para a substituio do off-set por outro ma-
terial isolante, com o mesmo desempenho. Tambm h
que considerar que a calia, resultante das perdas no
processo de construo das alvenarias, foi empregada
na construo do leito ltrante do sistema de tratamen-
to de esgotos (leito de razes), implantado para aten-
der ao prottipo, em substituio brita, usualmente
utilizada. Esse procedimento possibilitou, alm da mini-
mizao dos resduos gerados, a economia de recursos
Tabela 19 Custos de materiais incorporados no PA discriminados por subsistema
390
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
para construo do sistema. No entanto, o valor dessa
economia no foi contabilizado, pois o referido sistema
no foi includo entre aqueles considerados como inte-
grando o custo de construo do prottipo.
Quanto participao de cada subsistema no
consumo de recursos nanceiros, pode ser observa-
do na Tabela 19 que o subsistema de cobertura foi
aquele que demandou maiores investimentos, repre-
sentando 31,95% do custo total do prottipo. Entre
os materiais com maior contribuio esto o forro de
madeira, de cedrinho, e as formas para concretagem
das vigas de concreto, com custos correspondentes a
R$ 1.283,10 e R$ 866,38, respectivamente.
O segundo subsistema, em termos de custo, foi
o de fundaes, cujo custo foi prximo ao das alvena-
rias. A execuo das fundaes demandou um consumo
de materiais e, conseqentemente, de investimentos -
nanceiros signicativamente elevados, se comparados
queles de outras habitaes, de porte semelhante, im-
plantadas em outras localidades. Isso, no entanto, pode
ser explicado se considerarmos as caractersticas do
solo local, de baixa capacidade de suporte. Como refe-
rncia de custos correntes, pode-se citar aqueles ora-
dos para modelos semelhantes ao PCA, construdos no
Municpio de Nova Hartz, onde o solo apresentou ca-
ractersticas mais favorveis. Os custos estimados para
tais fundaes corresponderam a R$ 2.284,72, ou seja,
apenas 67% do total de recursos despendidos para a
execuo das fundaes do prottipo em estudo.
Quanto s paredes, 71,18% dos custos esto re-
lacionados s alvenarias propriamente ditas, enquanto
28,82%, aos revestimentos delas. O material de custo
mais signicativo foi o tijolo cermico, responsvel
por mais da metade dos investimentos nanceiros
consumidos para a construo desse subsistema.
Com relao ao subsistema de pisos, h que se
considerar que a maior parte dos recursos econmi-
cos despendido est associada s placas cermicas de
revestimento. Ressalta-se que estas so de fabricao
artesanal e, por isso, apresentaram custos bastante ele-
vados, se comparados a outras, comumente encontra-
das no mercado. Assim, sua utilizao s foi possvel
porque esse material foi doado pela indstria produto-
ra. Optou-se, aqui, por considerar o custo de mercado
das placas utilizadas, o que aumentou substancialmen-
te o custo do subsistema como um todo.
Tabela 20 Custos de materiais incorporados em cinco tipologias
construdas na Vila Tecnolgica de Curitiba
Para que pudessem ser estabelecidos referen-
ciais, foram levantadas informaes sobre custos de
materiais para construo de habitaes de interesse
social, construdas durante o mesmo perodo de cons-
truo do prottipo, ou seja, entre 2001 e 2002. No
contexto nacional, Krger e Dumke (2001) realizaram
um estudo de cinco tipologias habitacionais implanta-
das na Vila Tecnolgica de Curitiba. Os aspectos prio-
rizados no estudo foram o contedo energtico dos
391
A Avaliao dos Resultados
materiais e o desempenho trmico das habitaes,
mas, adicionalmente, tambm foi feita uma avaliao
de custos. Embora no seja possvel se estabelecer
uma comparao detalhada com os custos do protti-
po, pois o estudo da Vila Tecnolgica de Curitiba no
apresenta valores discriminados para cada subsistema,
podem ser feitas algumas constataes quanto aos
custos despendidos para ambos. Observa-se, atravs
da Tabela 20, que, exceo da tipologia 5, todas as
alternativas apresentam custos sensivelmente mais
baixos que o do prottipo Casa Alvorada. As tipologias
1 e 2, embora apresentem custos por metro quadrado
de rea construda bastante semelhantes s do protti-
po, contemplam, tambm, aqueles referentes s insta-
laes hidrulicas e eltricas, o que signica que, con-
siderando-se o todo, so alternativas de menor custo.
Especicamente em Porto Alegre, entre os anos
de 2001 e 2002, dois modelos padro de habitaes
de interesse social eram implantados pelo Departa-
mento Municipal de Habitao (DEMHAB)
2
da Prefei-
tura Municipal de Porto Alegre. Os modelos apresen-
tam materiais e tcnicas construtivas comuns, porm
se diferenciam signicativamente em relao rea
construda. Aquele de maior rea, aqui denominado
Modelo A, foi concebido com 40,40 m, para abrigar
quatro moradores. Aquele denominado Modelo B
apresenta rea de 23,37 m e possui apenas 1 dormi-
trio, tendo sido projetado para ocupao por duas
pessoas. Os custos totais, convertidos para o CUB de
janeiro de 2006, incluindo mo-de-obra, movimentos
de terra e todas as instalaes necessrias, representa-
ram, respectivamente, R$ 24.650,63 e R$ 19.643,08,
e os custos apenas de materiais, discriminados por
subsistema, esto apresentados na Tabela 21.
2
Informao oral obtida no dia 7 de fevereiro de 2006 de engenheiro civil do DEMHAB.
A Avaliao dos Resultados
Tabela 21 Custos de materiais, discriminados por subsistema, incorporados em habitaes padro construdas pelo DEMHAB, em Porto
Alegre, entre os anos de 2001 e 2002
392
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Verica-se que o custo total do prottipo Al-
vorada superior ao de ambas as alternativas apre-
sentadas. No entanto, o custo atingido por metro
quadrado de rea construda, correspondente a R$
345,67, intermedirio queles obtidos pelos dois
modelos do DEMHAB. Enquanto o modelo A apre-
senta um custo por metro quadrado de rea cons-
truda 12% inferior ao do prottipo, o modelo B
apresenta um custo 18% superior.
Os subsistemas de fundaes e pisos do pro-
ttipo apresentaram custos bastante elevados, se
comparados aos das habitaes construdas pela
Prefeitura de Porto Alegre. Pode-se dizer que essas
discrepncias esto relacionadas a dois fatores j
apontados. Para as fundaes, essas diferenas se
devem s caractersticas do solo local, e para os pi-
sos, s placas cermicas empregadas.
Uma anlise comparativa individual, para os
demais subsistemas, mostra que apenas as alvena-
rias e esquadrias das habitaes do DEMHAB apre-
sentaram custos mais elevados que aqueles do pro-
ttipo. Os custos dos materiais de assentamento das
alvenarias resultaram equivalentes, fazendo com
que a diferena constatada entre os subsistemas de
alvenarias estivesse relacionada, principalmente,
aplicao de revestimentos. Enquanto todas as pa-
redes do prottipo foram executadas em adas sim-
ples de tijolos macios, as habitaes do DEMHAB
utilizaram blocos cermicos de 21 furos, com pa-
redes externas duplas e internas, simples. Quanto
s caractersticas de acabamento, as primeiras rece-
beram revestimento apenas naquelas fachadas cujas
condies de exposio eram mais severas, enquan-
to as segundas exigiram a aplicao de reboco e
pintura em todas as superfcies.
Quanto s esquadrias, deduz-se que as dife-
renas de custos se devam ao material empregado,
j que, inclusive, um nmero maior de aberturas foi
empregado no prottipo Casa Alvorada. Tanto as
portas como as janelas externas presentes nas habi-
taes do DEMHAB so de ao e exigiram, comple-
mentarmente, a aplicao de pintura. As esquadrias
do prottipo, em contraste, so de madeira de euca-
lipto, de diversas espcies, e receberam apenas um
tratamento alternativo de proteo.
8.4.5.4 Consideraes gerais
Os resultados obtidos permitiram identicar os
recursos nanceiros associados aos diversos subsiste-
mas. Vericou-se que, em geral, as solues adotadas
na etapa de projeto, para aumentar o desempenho
ambiental e de conforto da edicao, no represen-
taram um aumento signicativo nos custos, se compa-
radas s alternativas adotadas pelas demais habitaes
de interesse social analisadas. So exemplos dessas
solues a concepo de ambientes com p-direito
elevado e janelas altas, para proporcionar ventilao
natural por efeito chamin, que implicaram a cons-
truo de superfcies maiores de paredes, e a imple-
mentao de um nmero maior de esquadrias.
Em contraste etapa de projeto, o que se cons-
tata que, na etapa de construo, aspectos rela-
cionados economia de recursos, que tm implica-
es tanto ambientais como econmicas, receberam
menor ateno. Diculdades no planejamento de
reutilizao e no controle na aquisio de ma-
teriais, durante a execuo da obra, foram aspectos
393
A Avaliao dos Resultados
observados que tiveram representatividade no total
dos custos quanticados.
Adicionalmente, a anlise dos resultados apre-
senta as solues e prticas adotadas que tiveram boas
conseqncias e aquelas que poderiam ter sido apri-
moradas. Essas informaes podem servir de base para
o desenvolvimento de novas propostas para habitaes
de interesse social, mais sustentveis e com custos ad-
missveis. Concluiu-se, tambm, que os custos referen-
tes aos materiais foram considerados elevados em rela-
o a outras tipologias de habitao de interesse social
com rea semelhante. No entanto, salienta-se, tambm,
que os valores apresentados so referentes a uma uni-
dade prototpica e tendem a ser superiores queles de
solues consolidadas e de implantao em grande es-
cala. Assim, tambm, h que se considerar que alguns
materiais (de qualidade bem superior de materiais
usualmente empregados como pisos e azulejos) foram
doados por parceiros, mas foi considerado, no custo da
construo, o seu valor de mercado. Outra ressalva
feita em relao s dimenses das fundaes, que, devi-
do s caractersticas do solo local, demandaram investi-
mentos signicativamente superiores aos correntes.
8.5 Esquadrias em madeira
8.5.1 Introduo
Fernandes (2004), em sua dissertao de mes-
trado, realizou uma anlise detalhada das esquadrias
do prottipo e prope uma reformulao de seu pro-
jeto. O autor estrutura a sua anlise dentro de um con-
texto de estudos relativos caracterizao e otimiza-
o das esquadrias em madeira de reorestamento,
que foram utilizadas nessa proposta de habitao po-
pular. Em sua contextualizao, Fernandes considera:
o meio ambiente, com suas variveis climticas e
locais; a constituio fsica e tecnolgica de ma-
teriais, sistemas e componentes da esquadria; o perl
de desempenho tcnico, funcional e utilitrio,
propiciado pela esquadria; e os processos tcnicos
de projeto, produo e instalao. Como instrumen-
tos metodolgicos aplicados em seu estudo, fez uso
de entrevistas, levantamentos dimensionais, repre-
sentaes grcas e observaes para anlise de pro-
cessos de projeto, produo e instalao.
8.5.2 Mapa contextual de variveis
A esquadria residencial pode ser considerada
como o componente da edicao que apresenta o
maior nmero de funes. Alm do aspecto funcional,
as portas e as janelas adaptam-se a solues tcnicas
compatveis com cada edicao, atendendo s exi-
gncias ambientais, climticas, da legislao e das pr-
prias limitaes da matria-prima. Essas e outras va-
riveis intervm no desenvolvimento de um projeto
otimizado de esquadrias, que visa qualicar tecnica-
mente esses componentes, isto , apresentar um perl
de desempenho que garanta a satisfao humana no
ambiente construdo, com um custo adequado.
Para a sistematizao do processo de projeto
das esquadrias, Fernandes (2004) elaborou um es-
quema demonstrativo que recebeu a denominao
de mapa contextual de variveis, que intervm
no projeto das esquadrias residenciais em madeira,
conforme a Figura 314. Nesse mapa, constam diver-
sas variveis, organizadas em quatro grupos distin-
394
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 314 Mapa contextual de variveis, inerentes escolha de uma esquadria
395
A Avaliao dos Resultados
tos, enfatizando: o ambiente onde sero instaladas
as esquadrias; os elementos fsicos que compem
cada esquadria; os aspectos funcionais e compor-
tamentais; e as questes tcnicas dos processos de
desenvolvimento de qualquer produto para a cons-
truo civil. A varivel econmica faz parte de diver-
sas variveis. Pode estar presente nos componentes
da esquadria, nas suas dimenses, no processo de
produo, que envolve o manejo orestal, corte e
desdobro, nas demais variveis desse processo e no
processo de instalao, etc. Por isso, optou-se por
no colocar um contedo de ordem econmica
isolado. Os projetos de esquadrias mais otimizados,
provavelmente, sero aqueles que visam atender
compatibilizao e exigncias de um maior nmero
de variveis, porm com solues mais econmicas,
considerando todos os processos envolvidos.
A principal funo desse mapa relacionar as
variveis de forma organizada, para facilitar a busca
de conhecimento das potencialidades e limitaes
de cada varivel, com seu respectivo valor dentro de
um contexto, e, assim, justicar as decises adotadas
no projeto. Entre outras funes, o mapa contextual
poder auxiliar:
a) na sistematizao para anlise de esquadrias,
em avaliaes ps-ocupao;
b) no desenvolvimento de projetos de esqua-
drias residenciais, incluindo representao
grca, memoriais descritivos e especicaes
tcnicas;
c) na visualizao das principais variveis que
intervm na escolha de determinada tipologia
funcional; e
d) como suporte para reformulao de legisla-
o (cdigo de edicaes) e normas tcnicas.
Para a utilizao desse mapa contextual em
projetos de esquadrias confeccionadas com outras
matrias-primas (ao, alumnio e PVC), seria neces-
srio adequar os itens dos quatro contedos, pois es-
ses materiais apresentam sistemas diferenciados de
instalao, emendas, drenagem, pintura de proteo,
maquinaria, etc. Essas matrias-primas industrializa-
das apresentam menor quantidade de pers diferen-
ciados, e as dimenses das esquadrias so resultantes
de menores perdas de matria-prima, pois os pers
apresentam comprimentos padro (geralmente com
3 m ou 6 m).
A contextualizao das esquadrias residenciais
em madeira foi organizada de forma a abranger, ba-
sicamente, quatro grandes aspectos, descritos como
contedos de ordem ambiental, fsica, compor-
tamental e utilitria e tcnica.
Contedo de ordem ambiental
Neste aspecto enfocada a regio onde est si-
tuada a edicao, caracterizando o ambiente externo
e a edicao e suas dependncias, e o ambiente in-
terno. As principais variveis ambientais externas,
que intervm nas esquadrias, so o meio ambiente,
com suas caractersticas climticas e agentes agressi-
vos. As principais variveis ambientais internas
esto relacionadas com o tipo de dependncia onde
ser instalada a esquadria, as suas inuncias espaciais
de ocupao e os agentes agressivos gerados interna-
mente. A importncia do conhecimento das variveis
ambientais pode auxiliar na denio dos materiais
396
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
necessrios a serem empregados, com suas respecti-
vas protees. Verica-se, por meio do Quadro 53, que
ocorrem interaes entre as variveis do contedo de
ordem ambiental e o projeto das esquadrias.
Contedo de ordem fsica
As principais variveis fsicas que intervm nas
esquadrias em madeira so as caractersticas da ma-
tria-prima, com sistemas construtivos e acabamen-
to supercial, acessrios, ferragens e complementos,
tais como vidro, venezianas, grades, etc. A importn-
Quadro 53 Relao entre as variveis do contedo de ordem ambiental com o projeto de esquadrias
cia do conhecimento das variveis sobre os materiais
e componentes pode resultar na melhor adequao
da esquadria ao perl de desempenho e reduo de
custo para produo, e conseqente preo nal do
produto. Verica-se, atravs do Quadro 54, que ocor-
rem interaes entre as variveis do contedo de or-
dem fsica e o projeto das esquadrias.
Contedo de ordem comportamental e utilitria
As principais variveis de desempenho tcnico
e funcional que intervm nas esquadrias so a dura-
397
A Avaliao dos Resultados
Quadro 54 Relao entre as variveis do contedo de ordem fsica e o projeto de esquadrias
bilidade, a resistncia estrutural, as caractersticas de
iluminao, ventilao, isolamento trmico, acstico e
acessibilidade gerada pela funcionalidade, a estanquei-
dade ao ar e gua, e as exigncias econmicas e de
interesse ecolgico. A importncia do conhecimento
dessas variveis que intervm no perl de desempe-
nho das esquadrias pode resultar num maior conforto
dos usurios, gerado pelas funes bsicas de ventila-
o, iluminao e proteo do ambiente construdo.
Verica-se, atravs do Quadro 55, que ocorrem inte-
raes entre as variveis do contedo de ordem com-
portamental e utilitria e o projeto das esquadrias.
398
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 55 Relao entre as variveis do contedo de ordem comportamental e utilitria e o projeto de esquadrias
Contedo de ordem tcnica
As principais variveis tcnicas que intervm
nas esquadrias so a legislao vigente, o processo
de elaborao do projeto das esquadrias, o processo
de produo e os procedimentos e tcnicas de insta-
lao. A importncia do conhecimento das variveis
tcnicas pode resultar em atendimento s exigncias
da legislao, que exige dimenses e condies m-
nimas, e, conseqentemente, ao conforto dos usu-
rios. Verica-se, atravs do Quadro 56, que ocorrem
interaes entre as variveis do contedo de ordem
tcnica e o projeto das esquadrias.
399
A Avaliao dos Resultados
Quadro 56 Relao entre as variveis do contedo de ordem tcnica e o projeto de esquadrias
O processo de fabricao de esquadrias em ma-
deira ser abordado a partir da madeira cortada em
pranchas e depositada nas fbricas, apesar de esse pro-
cesso ser inuenciado pelo plantio da matria-prima,
manejo de orestas, corte nas serrarias, transporte, etc.
8.5.3 Mapa contextual aplicado ao prottipo
Descrio da concepo arquitetnica
A edicao (Figura 315) foi concebida com o
formato, em planta baixa, praticamente de um qua-
drado. Est subdividida internamente em quatro de-
pendncias, sendo uma sala com cozinha conjugada,
dois dormitrios e um banheiro. No permetro da
edicao existem duas reentrncias, sendo uma co-
berta, destinada rea de servio, e outra parcialmen-
te coberta com prgolas, junto entrada principal da
habitao. Constata-se a opo pelo emprego predo-
minante da face rstica dos tijolos para as fachadas
e, conseqentemente, da face lisa para o interior da
edicao. Internamente, o forro inclinado acompa-
nha o caimento do telhado, aumentando o volume
de ar interno das dependncias.
Os vos destinados instalao das janelas
foram confeccionados atravs de moldura em tijolo
aparente, perpendicular s paredes. Verica-se a pre-
sena de uma janela e de uma porta orientadas para
leste, quatro janelas voltadas para o norte e duas jane-
las e uma porta para o oeste. A fachada sul no possui
esquadrias ou vos; entretanto, no beiral, constata-se
a presena de aberturas para ventilao do telhado.
Na fachada oeste, destacam-se trs faixas verticais re-
bocadas, com funo de reetir a radiao solar.
400
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 315 Vista noroeste do prottipo de habitao
mais sustentvel
As esquadrias do prottipo
As esquadrias do prottipo, em madeira de
eucalipto, atenderam aos padres da fbrica, porm
com dimenses e alguns detalhes especcos. Foram
empregadas cinco portas, conforme a Figura 316,
sendo duas (P1 e P2) consideradas portas macias,
subdivididas em travessas centrais, pinzios e almo-
fadas, porm com desenhos diferenciados, e trs (P3,
P4 e P5) com couceiras e travessa superior e inferior,
em madeira macia, e parte central preenchida com
lambris, colocados em diagonal. Foram empregadas
nessa habitao sete janelas, conforme a Figura 317,
sendo concebidas com folhas envidraadas subdivi-
didas com pinzios, especicadas como caixilho qua-
driculado pelo fabricante.
Para sistematizar a anlise das esquadrias do
prottipo descrito neste captulo, obedecida a se-
qncia de contedos ambiental, fsico, comporta-
mental e tcnico.
De acordo com o mapa contextual de vari-
veis (Figura 314), as principais variveis ambien-
tais que intervm nas esquadrias esto descritas no
Quadro 57.
Em funo de o prottipo estar localizado em
ambiente mais acentuadamente rural do que
urbano, as esquadrias do prottipo atendem satis-
fatoriamente s condies do meio ambiente rural.
Porm, se esse prottipo for construdo em am-
biente urbano ou industrial, ser necessrio rever
os tipos de acabamento supercial das esquadrias
e das ferragens, especicando, por exemplo, quatro
demos de pintura da esquadria ou a camada de 21
a 25 micras, para anodizao dos componentes em
alumnio. Mas caso o prottipo seja construdo em
ambiente martimo, a matria-prima das ferragens
das esquadrias dever ser alterada para lato, ao
inoxidvel ou alumnio, com pintura eletrosttica.
Em funo da orientao solar do protti-
po, com fachadas perpendiculares s orientaes
norte, sul, leste e oeste, constata-se que todas as
esquadrias externas recebem radiao solar direta.
A sala, com cozinha integrada, possui trs janelas e
uma porta em paredes adjacentes, o que possibilita
ventilao cruzada, radiao solar que favorece o
aquecimento da dependncia no inverno e intensi-
dade de iluminao natural, praticamente constante
durante todo o dia.
401
A Avaliao dos Resultados
Figura 316 Portas do prottipo
402
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 317 Janelas do prottipo
403
A Avaliao dos Resultados
Quadro 57 Variveis ambientais que influenciam
na escolha de uma esquadria
Figura 318 Janela J4, esquerda (orientao leste) e janelas J1, J3, J6 e J7 (orientao norte)
404
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
No prottipo, as janelas J4, J6 e J7 so as que re-
cebem radiao solar em praticamente toda a super-
fcie externa, visto que o trmino dos beirais est loca-
lizado muito acima das vergas. No vero, as janelas J1
e J3, com orientao norte, recebem menos radiao
solar que no inverno, em funo da menor inclinao
do sol com relao ao plano vertical das esquadrias.
3
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
4
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
Por outro lado, as portas P1 e P2 e a janela J5 apresen-
tam-se parcialmente protegidas da radiao solar, em
funo da existncia dos beirais e prgolas.
A janela do prottipo, de orientao leste (J4),
favorece a ventilao atravs dos ventos dominan-
tes de vero. As janelas de orientao norte (J1, J3,
J6 e J7) auxiliam na ventilao predominantemente
nordeste, no ms de agosto. Entretanto, as janelas
J6 e J7, dos clerestrios, favorecem a retirada do ar
quente do interior da edicao. No dormitrio 1,
para melhor atender s variveis de radiao solar e
ventos dominantes, a janela J3 poderia ter sua locali-
zao alterada para a fachada leste e manter a mesma
posio da janela do clerestrio J7. As janelas J2 e
J5, voltadas para oeste, podem ser afetadas, no inver-
no, pelo vento Minuano. Essas duas janelas poderiam
apresentar acessrios que garantissem maior estan-
queidade ao ar, adotando gaxetas de borracha, esco-
vas de vedao e silicone, para o envidraamento.
Porto Alegre, em funo de enormes massas
de gua na regio, apresenta umidade relativa mdia
anual de 75,9%, ocorrendo as mdias mensais mais
elevadas durante o inverno, e as mais baixas durante
o vero (SATTLER, 1989). A umidade relativa do ar
faz com que a madeira altere suas propriedades me-
cnicas (ZENID, 2002), propiciando, em alguns casos,
o travamento das esquadrias. Portanto, as juntas ou
folgas necessrias entre as folhas e marcos das es-
quadrias dever variar entre 3 mm e 4 mm
4
. Caso a
Figura 319 Janela J2 (cozinha), acima, e janela
J5 (banheiro), abaixo, ambas de orientao oeste
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
405
A Avaliao dos Resultados
produo das esquadrias ocorra em perodo mido,
no outono ou inverno, deixam-se menos folgas, e se a
produo ocorrer em perodo seco, na primavera ou
vero, deixam-se mais folgas
5
.
O conhecimento da variao de temperatura
local se faz necessrio para dimensionar e localizar
as esquadrias, propor elementos de proteo, tais
como beirais e varandas, e especicar os acessrios
e vidros mais adequados. Quando a temperatura
se mantm alta durante o ano todo, como o caso
de muitas regies do Nordeste brasileiro, provavel-
mente o projeto arquitetnico de uma edicao
buscar solues de proteo e sombreamento das
esquadrias, que podero ter funcionalidades que
propiciem maiores reas de ventilao e, em alguns
casos, permanentes.
Para as janelas J1, J2, J3, J5, J6 e J7 do prottipo,
a incidncia de chuva com pouco vento no pre-
judica a funcionalidade do tipo maxim-ar, podendo
ser mantidas parcialmente abertas. Para a janela J4
permanecer aberta em perodo de chuva, neces-
srio fechar uma parte das folhas com veneziana e
deslocar as folhas envidraadas para o lado oposto,
a m de propiciar parcialmente ventilao e ilumi-
nao natural. A moldura ao redor dos vos das jane-
las e a presena de beirais na edicao auxiliam na
reduo da incidncia de chuva e escoamento das
guas pluviais.
8.5.4 Agentes agressivos
O ser humano, quando intervm no meio ex-
terno ou interno das edicaes, pode criar diversos
agentes agressivos s esquadrias, gerando patologias
nesses componentes e desconforto aos usurios.
O prottipo est situado a, aproximadamente,
500 m de distncia de uma rodovia de trfego inten-
so, constatando-se barreiras como rvores, vegetao
rasteira e muro entre a edicao e rodovia. Por esse
motivo e em funo da inexistncia de indstrias nas
proximidades dessa habitao, pode-se caracterizar
o ambiente como de baixa agressividade para a po-
luio do ar e brando para a poluio sonora.
As janelas do prottipo no apresentam dis-
positivos para captao da gua de condensao.
Entretanto, segundo Pol (1996), pela inexistncia de
acessrios que garantam uma vedao hermtica, es-
sas esquadrias permitem a troca de ar com o exterior,
o que pode minimizar os problemas de condensao,
mofo e microorganismos, nocivos sade humana.
Nas portas internas do prottipo, os lambris inclina-
dos favorecem o escorrimento e o acmulo da gua
de condensao junto couceira, podendo, nesses
pontos, ocorrer efeitos patognicos, principalmente
no tards da porta P5, do banheiro.
A gordura, produzida devido a frituras ou pelo
prprio usurio, pode afetar o acabamento dos com-
ponentes e das superfcies das esquadrias. O contato
5
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Harpa .
A Avaliao dos Resultados
406
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
da mo do usurio com as fechaduras, fechos e vidros
gera pontos de aderncia de partculas de sujeira e
p. Esse tipo de agente agressivo exige procedimen-
tos de higiene e limpeza domstica, porm, antes de
se efetuar uma pintura de manuteno, torna-se obri-
gatria a sua remoo, conforme recomendaes e
especicaes dos fabricantes de tintas.
8.5.5 Tipo de edificao: habitao de interesse
social
O prottipo de habitao sustentvel deste es-
tudo de caso foi idealizado para ser uma habitao
de interesse social, com a nalidade de resgatar o va-
lor humano, qualicando o ambiente construdo, e
adotar esquadrias e demais componentes com prin-
cpios e diretrizes relacionados sustentabilidade.
Para a satisfao das exigncias mdias dos
usurios de uma habitao de interesse social, a rea
til por habitante deve estar compreendida no in-
tervalo entre 11 m e 14 m. Entre 8 m e 11 m/ha-
bitante, pode ser considerada uma situao crtica,
porm abaixo de 8 m/habitante gera-se um contex-
to potencialmente patognico (SILVA, 1982). O pro-
ttipo do estudo de caso possui rea til total igual
a 38,08 m. Para quatro moradores, a rea til por
habitante ser igual a 9,52 m, caracterizando-se uma
situao crtica, mas no patognica.
As esquadrias do prottipo podem ser consi-
deradas adequadas s funes das dependncias,
exceto a janela J3 (Figura 316), que no possui ve-
neziana ou persiana externa, conforme exige a legis-
lao municipal (PORTO ALEGRE, 1999). A rea do
sanitrio, maior do que as de outras habitaes se-
melhantes, atende satisfatoriamente s exigncias da
norma tcnica sobre acessibilidade, porm a janela
J5 apresenta decincias de operacionalidade. Como
alternativa de aprimoramento, as dimenses do dor-
mitrio 2, destinado ao casal, poderiam ser alteradas
para 3,20 m x 3,20 m. Esse formato favorece a dispo-
sio dos mveis, sem prejudicar o acesso janela.
Figura 320 Vista desde o interior, das janelas J3 (dormitrio
norte), acima, e J5 (banheiro)
407
A Avaliao dos Resultados
8.5.6 Ocupao de espao ao funcionar
As folhas das janelas do prottipo no ocupam
rea interna, o que pode ser considerado uma vanta-
gem, pela reduzida rea das dependncias, porm as
folhas da janela J3, conforme a Figura 321, ocupam
parcialmente a rea semicoberta, podendo gerar aci-
dentes aos usurios.
Figura 321 Vista externa da janela J3, com as folhas abertas
8.5.7 Anlise das variveis fsicas das esquadrias
Atualmente, no Brasil, o setor de esquadrias
dispe de quatro matrias-primas, sendo duas tra-
dicionais, como a madeira e o ao, e duas recentes,
como o alumnio e o PVC (RUMO, 1990). Indepen-
dentemente da matria-prima dos pers, a facilida-
de de movimentao das esquadrias, com reduo
de rudos, e a estanqueidade esto diretamente rela-
cionadas s tcnicas de instalao e qualidade dos
acessrios, ferragens e materiais de vedao, como
escovas, com felpas de polipropileno, selantes e ga-
xetas de borracha. As principais caractersticas dos
materiais e sistemas, que constituem as esquadrias
residenciais, esto descritas no Quadro 58.
Madeira: matria-prima da estrutura das
esquadrias
A madeira um recurso natural que propor-
cionou ao homem, desde os primrdios, combustvel,
ferramentas, alimentos e proteo (JOHNSON, 1994).
Como material de construo, um dos poucos ma-
teriais renovveis, cujo processamento exige baixo
consumo de energia. Apresenta resistncia e rigidez
em relao ao peso e facilidade de modelagem, pois
exige ferramentas simples (MADEIRA, 2001). A ma-
deira pode ser considerada a primeira matria-prima
utilizada na fabricao de esquadrias (ABCI, 1991).
De acordo com o IPT (1989), entre 200 ma-
deiras nativas brasileiras, 70 so apropriadas para a
confeco de esquadrias, sendo estas descritas na
dissertao de Fernandes (2004). Entretanto, o reo-
restamento uma alternativa vivel, no mdio prazo,
pois poder gerar diversas vantagens, tais como: me-
nor custo; aproveitamento racional da oresta; plano
de corte mais adequado, por ter um maior volume de
madeira em menor rea de campo; racionalizao do
corte na serraria, com menores perdas, pois se pode
partir de um padro de rvore adequado necessida-
de; e diminuio do uxo de transporte
6
.
6
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Harpa.
A Avaliao dos Resultados
408
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
O eucalipto possui diversas restries de uso
em esquadrias, tais como a aceitao do mercado
e a adequao das ferramentas, pois a maioria das
espcies de eucalipto classicada como madeira
pesada, o que pode gerar problemas na trabalhabili-
Quadro 58 - Variveis fsicas dos materiais
e sistemas construtivos que influenciam na
escolha de uma esquadria
7
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Piano.
dade. Entretanto, na confeco de qualquer parte das
esquadrias, podem ser empregadas madeiras de es-
pcies diferentes, desde que tenham caractersticas
semelhantes de densidade
7
.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
409
A Avaliao dos Resultados
As esquadrias do prottipo foram produzidas
em eucalipto. Porm, constata-se o emprego de di-
versas espcies de eucalipto, em funo da colora-
o, desenhos variados nos pers e informao do
prprio fabricante
8
, salientando que a prpria fbri-
ca adquire a matria-prima de pequenos reoresta-
dores, fazendo o corte, o transporte e o desdobro em
pranchas. Segundo o mesmo autor, a fbrica utiliza,
aproximadamente, 20 espcies de eucalipto para a
produo de esquadrias.
A seo do tronco de uma rvore permite dis-
tinguir, da casca para o miolo, as seguintes partes:
casca (subdividida em ritidoma, cortia e oema ou
lber), cmbio, lenho (subdividido em alburno e cer-
ne) e medula (URIARTT, 1999), sendo cada parte do-
tada de funes diversicadas.
Todos os pers das esquadrias do prottipo
foram confeccionados utilizando-se o cerne da ma-
deira
9
, porm, como foram empregadas vrias esp-
cies de eucalipto, torna-se difcil a identicao da
presena de alburno nesses pers.
Os principais componentes qumicos da ma-
deira so a celulose (60% do volume) e a lignina (25%
do volume). Os 15% restantes correspondem aos le-
8
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
9
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
10
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
11
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Harpa.
12
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
os, resinas, acares, amido, tanino, substncias nitro-
genadas, sais inorgnicos e cidos orgnicos.
O eucalipto, utilizado como matria-prima
para a confeco das esquadrias do prottipo, apre-
senta uma elevada concentrao de resinas e leos,
que podem prejudicar o lixamento das peas. Porm,
aps a secagem adequada, a madeira apresenta me-
lhor desempenho para esse procedimento.
De acordo com o IPT (1989), a escolha e a iden-
ticao da espcie de madeira a ser utilizada devem
visar a sua adequao ao uso e agressividade do meio
onde ser instalada. Para o emprego de madeira desti-
nada a Porto Alegre, o teor de umidade de equilbrio
da madeira deveria ser de, aproximadamente, 14,8%.
Conforme estimativa do fabricante das esquadrias
do prottipo
10
, a umidade do eucalipto utilizado nas
esquadrias variou entre 11% e 15%, pelo tempo de
armazenagem das pranchas.
Os processos de endurecimento das madei-
ras, atravs da utilizao do CCA, so muito caros e
podem trazer problemas ambientais
11
. Por exigncia
do contratante dos servios, para as esquadrias do
prottipo no foram aplicados preservativos e pro-
dutos qumicos na madeira
12
. Porm, o tratamento
A Avaliao dos Resultados
410
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
supercial das esquadrias, com produtos de meno-
res impactos ambientais, ocorreu aps a instalao,
ocasionando ausncia de proteo em diversas faces
no aparentes.
Para aprimorar o projeto de esquadrias em ma-
deira, pode-se especicar, alm da espcie de madeira
adequada funo (contramarco, marco, folha, alizar
e veneziana), a espessura mnima de cada compo-
nente. Para as esquadrias do prottipo, as espessuras
dos componentes foram denidas pela padronizao
da fbrica, sendo: 3,2 cm nos marcos; 2,7 cm a 3,2
cm nas folhas; 1,0 cm a 1,8 cm nos alizares; e 0,8 cm
nas palhetas de veneziana
13
. Os alizares xados exter-
namente nas ombreiras e verga do marco das portas
P1 e P2 e das janelas do prottipo foram utilizados
como arremate, ocultando a espuma de poliuretano
empregada na xao das esquadrias.
O volume de madeira a ser utilizado em cada
esquadria depende das caractersticas especicadas
no projeto e do processo de produo. Segundo os
fabricantes de esquadrias
14
, o volume de resduos e
a perda de material representam, aproximadamen-
te, 40%, para confeco de produtos desde que no
necessitem uma seleo de pers pela colorao e
desenho, e 50%, para produtos classicados como
produtos de primeira linha.
Para as esquadrias do prottipo, o volume, em
toras de madeira, necessrio para a fabricao das
sete janelas e cinco portas foi estimado em 1,81 m
(10% da rea total das esquadrias, de 18,10 m)
15
. Po-
rm, ao efetuar a quanticao do volume, conforme
os Quadros 59 e 60, constatou-se um volume total
de madeira de, aproximadamente, 0,6 m. Estima-se,
portanto, que o volume total de pranchas em madei-
ra bruta necessrio para a produo das cinco portas
e sete janelas do prottipo seja de 1,00 m.
Considerando que, para a produo das 12 es-
quadrias do prottipo, foi gasto, aproximadamente, 1
m de madeira em pranchas, pode-se concluir que
necessrio cortar uma rvore de eucalipto, com ren-
dimento equivalente a 1,5 m/20 anos
16
, para suprir a
produo das esquadrias desse prottipo.
Conforme o Quadro 59, embora as janelas J1
e J4 apresentem reas semelhantes, constata-se que
a janela J4 (duas folhas envidraadas de correr com
veneziana) apresenta um volume de madeira (0,0729
m) 50,6% maior do que a janela J1 (0,0484 m). Para
a janela J1, 55,8% da madeira empregada est desti-
nada ao marco; 31,8%, s folhas; e 12,4%, aos alizares.
Para a janela J4, 30,3% da madeira foi destinada ao
marco; 59,5%, s folhas; e 10,2%, aos alizares. O volu-
me de madeira dos quadros com venezianas corres-
ponde a 63,6% de madeira das folhas e, com relao
13
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
14
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissionais de cognome Piano, Harpa e Pandeiro.
15
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
16
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
411
A Avaliao dos Resultados
ao volume total de madeira empregado na janela, cor-
responde a 37,86%. Como conseqncia da subdivi-
so das folhas das janelas do prottipo com pinzios,
constataram-se aumentos na quantidade de matria-
prima e na mo-de-obra dos processos de instalao
e produo; enm, no preo nal do produto.
Quadro 59 - Volume e peso de madeira das janelas do prottipo
Quadro 60 - Volume e peso de madeira das portas do prottipo
412
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Comparando-se o volume de madeira emprega-
do nas janelas com o volume de madeira empregado
nas portas das esquadrias do prottipo, constata-se
que o percentual de volume de madeira dos marcos
das janelas (51,5%) praticamente o dobro dos das
portas (26,7%). Os provveis motivos para a grande
quantidade de madeira dos marcos das janelas so a
largura exagerada (aproximadamente 16 cm, enquan-
to nas portas de 11 cm) e a incluso dos mainis,
acrescidos no clculo de volume do marco. O per-
centual de volume de madeira das folhas nas janelas
(36,1%) praticamente a metade das portas (62,4%),
e para o volume de madeira dos alizares das janelas
(12,4%) semelhante ao das portas (10,9%). Cabe sa-
lientar que alguns alizares das portas P1, P2 e P4 foram
cortados em funo da inexistncia de golas.
Em funo da variedade de espcies de eucalip-
to, com suas respectivas densidades, empregados nas
12 esquadrias do prottipo, no possvel quanticar
o peso total. Porm, ao estimar-se como densidade m-
dia de 900 kg/m, obtm-se um peso total de 541 kg. A
importncia de se quanticar o peso de cada esquadria
est relacionada com a carga total para transporte, atra-
vs de rodovias, e o deslocamento manual em obra.
8.5.8 Detalhes construtivos e sistemas de
montagem
A durabilidade e a resistncia das esquadrias
em madeira dependem, entre outros fatores, das ca-
ractersticas dos materiais e tcnicas construtivas
para montagem entre pers. Os sistemas construti-
vos das esquadrias podem ser subdivididos em siste-
mas de emendas, drenagem e vedao.
Sistemas de emendas
Para unio dos pers dos marcos, so feitos
entalhes e encaixes pregados (AYUSO, 1990). Para a
unio de pers do quadro das folhas, utiliza-se espiga
de madeira colada e embutida presso. Em funo
da cola de base vinlica nas emendas de esquadrias
externas, utilizava-se um tarugo de madeira transpas-
sado no eixo da unio. Porm, hoje, em funo da
melhor qualidade da cola resorcina-formol, esse pro-
cedimento foi descartado
17
. O sistema de emendas
atravs de cavilha pode ser empregado em esqua-
drias, porm esse procedimento no adotado pelas
fbricas brasileiras de esquadrias em madeira
18
.
Em esquadrias, no se utiliza o encaixe de
meia-esquadria (45) entre pers dos marcos e do
quadro das folhas, pois a espiga seria muito peque-
na, no absorvendo os esforos devido s variaes
climticas
19
. Entretanto, nos alizares e baguetes de -
xao dos vidros, os encontros entre pers ocorrem,
preferencialmente, em meia-esquadria. Geralmente,
essas peas so xadas nos marcos e quadros das fo-
lhas com pregos sem cabea.
17
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Piano.
18
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com os profissionais de cognome Obo e Harpa.
19
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Pandeiro.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
413
A Avaliao dos Resultados
Nas esquadrias do prottipo, o sistema de
emenda adotado entre os pers das folhas das portas
do tipo espiga, porm as espigas das travessas, infe-
rior e superior, transpassaram as couceiras, conforme
a Figura 322 (detalhe da porta P1). Esse procedimen-
to pode ser considerado deciente, pois exige servi-
os de acabamento dessas superfcies, o que aumen-
ta o custo de produo.
Materiais para emendas
Segundo Ribeiro (1992), os adesivos utiliza-
dos em colagem de madeira disponveis no mercado
brasileiro pertencem a cinco tipos: adesivo do tipo
uria-formol, fenol-formol, resorcina-formol, acetato
de polivinila e adesivos base de policloropreno. Nas
esquadrias do prottipo, a cola utilizada em todas as
emendas entre os pers dos quadros e as travessas
das folhas foi o adesivo vinlico (referncia Cascorez
Extra)
20
. Mas, segundo Ribeiro (1992), os adesivos vi-
nlicos no so indicados para produtos externos, su-
jeitos s intempries, pois podem descolar caso no
recebam proteo impermeabilizante.
O sistema de juno entre pers, adotados nos
marcos das esquadrias do prottipo, foi de rebaixo
com encaixe, xados com pregos
21
. As junes entre
os alizares e os marcos das esquadrias foram feitas
com pregos, que, ao oxidarem, produziram manchas
escuras na madeira, principalmente nos alizares ex-
ternos. Segundo o fabricante das esquadrias, a dis-
tncia mxima usual entre pregos para a xao dos
alizares de 30 cm; porm, nas esquadrias do pro-
ttipo, constatam-se espaamentos maiores que esse
valor. Outro aspecto de destaque est relacionado
com a grande quantidade de pregos necessrios para
a xao dos 332 baguetes das janelas do prottipo.
Figura 322 Detalhe do sistema de emenda atravs de espiga
na porta P1
20
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
21
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
A Avaliao dos Resultados
414
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Sistemas de drenagem
Os sistemas de drenagem das janelas depen-
dem da funcionalidade e da interface, podendo ser
de vrias formas. O sistema de drenagem se modi-
ca conforme o modelo da janela
22
. O sistema tra-
dicional de drenagem para janela com folhas de
correr a execuo de alhetes no peitoril, com pos-
terior furao ortogonal e inclinada
23
. Porm, esse
tipo de sistema tem que receber a colocao de um
elemento que barre a presso do vento no furo, que
impede a sada da gua acumulada na canaleta
24
.
Mas, atualmente, algumas fbricas de esquadrias es-
to utilizando pers em PVC, colocados abaixo da
folha de correr, mais externa
25
.
Nos peitoris dos marcos das janelas J1, J2, J3,
J5 e J7 do prottipo foram feitos furos para escoa-
mento dgua, desnecessrios em janelas maxim-ar.
O sistema de drenagem da janela J4 foi executado
mediante rasgos no peitoril com furos perpendicu-
lares e inclinados, com dimetro de 10 mm
26
; porm,
deve ser vericado se os dois furos so sucientes
para o escoamento dgua. Em funo desse sistema
de drenagem, e pela falta de estanqueidade total das
esquadrias, desaconselha-se a lavagem das esquadrias
em madeira com jato dgua.
Sistemas de vedao de juntas
Para a instalao de uma esquadria no vo
necessrio que existam folgas entre esses compo-
nentes. Essas folgas possuem dimenses adequadas
para o seu preenchimento com material selante e
podem ser denominadas de juntas cheias (fechadas
ou seladas). Por outro lado, para que a esquadria te-
nha movimentao das folhas, sem desgaste dos ma-
teriais, necessrio que existam folgas entre as fo-
lhas e marcos. Essas folgas podem ser denominadas
de juntas abertas. Nessa situao, a especicao da
vedao depende da presso de contato que a folha
exerce contra o marco, da elasticidade da gaxeta de
borracha e do paralelismo entre os elementos (ABCI,
1991). Nas esquadrias em madeira, para minimizar
as inltraes de ar ou gua, so adotados encaixes
entre os componentes, executando-se reentrncias e
salincias. Os principais componentes de vedao de
juntas utilizados nas esquadrias residenciais em ma-
deira so a gaxeta de borracha, a escova com felpas
de polipropileno e os silicones, como selantes.
As portas e janelas do prottipo no apresen-
tam gaxetas de borracha, escovas ou selante como
sistemas de vedao das juntas abertas. Entretanto,
constata-se em todas as janelas maxim-ar a presena
22
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Harpa.
23
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Pandeiro.
24
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Obo.
25
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Pandeiro.
26
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
415
A Avaliao dos Resultados
de peas de arremate, a m de minimizar frestas e
melhorar a estanqueidade.
Conforme o Quadro 61, as portas do protti-
po apresentam o mesmo tipo e quantidade de fer-
ragens e fechaduras. Nesse mesmo quadro, consta-
ta-se a semelhana na quantidade de ferragens das
janelas J1, J2, J3, J6 e J7. Porm, na janela J4, devido
sua caracterstica funcional diferenciada das demais,
verica-se um aumento signicativo de acessrios e
ferragens. As maanetas so do tipo alavanca e aten-
dem s prescries de acessibilidade da norma NBR
9050 (ABNT, 1994).
Quadro 61 - Relao de ferragens e acessrios para as esquadrias do prottipo
8.5.9 Complementos
As principais variveis que podem alterar o
aporte de calor pela abertura em uma edicao so,
alm da orientao e do tamanho da abertura, o tipo
de vidro e o uso de protees solares internas e ex-
ternas (LAMBERTS; PEREIRA; DUTRA, 1997).
Vidros
Para o clculo da espessura de uma chapa de
vidro, consideram-se os seguintes esforos: presso
do vento; peso prprio por unidade de rea; e pres-
so de clculo. O Quadro 62 relaciona as dimenses
mximas das chapas de vidro recozido, relacionadas
espessura nominal.
416
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 62 - Dimenses mximas de chapa de vidro recozido (baseado em ABNT, 1988)
Apesar das dimenses dos vidros das janelas
do prottipo terem dimenses prximas de 0,20 m x
0,20 m, foram empregados vidros com espessura de 3
mm, atendendo exigncia da norma NBR 7199 (ABNT,
1988), que determina, para presso de clculo acima
de 1 kPa, espessura nominal mnima de vidro recozido
igual a 3 mm, mesmo que os resultados da frmula ou
do quadro indiquem espessura menor. A norma NBR
7210 (ABNT, 1988) tem como nalidade denir, entre
outros, os termos tcnicos relacionados com o vidro
em chapa e com os defeitos comuns dos vidros.
Para o envidraamento das sete janelas, foram
utilizadas 83 placas de vidro, sendo 80 de vidro trans-
parente, com 3 mm de espessura, e trs placas de vidro
translcido pontilhado, com 4 mm de espessura, para
a janela do sanitrio. Os vidros translcidos, como o
miniboreal e o pontilhado, devem ser colocados nas
esquadrias com a face lisa voltada para o exterior, a m
de evitar a impregnao excessiva de poeira
27
.
O Quadro 63 demonstra uma diferena de 1,56
m entre a rea real dos vidros instalados e a rea
orada pela vidraaria. Essa diferena pode ser con-
siderada como uma perda econmica no processo
de envidraamento. O oramento das vidraarias, de
qualquer placa de vidro transparente ou translcido,
considera as medidas mltiplas de 5 cm
28
.
Envidraamento
A xao dos vidros nas janelas do prottipo
foi feita com massa de vidraceiro com baguetes em
27
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Alade.
28
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Alade.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
417
A Avaliao dos Resultados
madeira, pregados. O servio de colocao dos vi-
dros foi efetuado por um funcionrio, sendo o tem-
po total estimado para a colocao das 83 peas de
vidro de aproximadamente 3 horas e 30 minutos,
isto , 210 minutos
29
. Nesse caso especco, consta-
ta-se um tempo mdio de 2 minutos e 30 segundos
para a retirada dos baguetes, colocao de massa
de vidraceiro, colocao da placa de vidro, recolo-
cao dos baguetes e retirada do excesso de massa
de vidraceiro.
29
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Alade.
Quadro 63 - Dimenses e preo dos vidros das janelas do prottipo
A Avaliao dos Resultados
418
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Se as folhas das janelas do prottipo no pos-
sussem subdivises com pinzios, ocorreria uma
reduo de 92,9% na medida linear das juntas. Com
isso, poderia ocorrer reduo no consumo de selan-
te. Segundo a ABCI (1991), o rendimento do tubo
de silicone, com 300 mL, de 33 m, para largura e
espessura de junta igual a 3 mm. O rendimento de
massa de vidraceiro estimado, pelos vidraceiros, em
1 kg/m de vidro.
Figura 323 - Janela do dormitrio norte
Veneziana
Segundo a maioria dos fabricantes de esqua-
drias em madeira, as esquadrias com veneziana cus-
tam o dobro das esquadrias sem esse complemento.
O preo de uma janela, por exemplo, com duas fo-
lhas de correr com vidro e quadros de venezianas
de sanfonar, com palheta tradicional, o dobro em
comparao com uma janela com as mesmas dimen-
ses, mas sem veneziana
30
. Entretanto, o fabricante
das esquadrias do prottipo, arma que o acrscimo
no custo de uma esquadria com veneziana (Figura
324) de, aproximadamente, 40%
31
.
30
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Pandeiro.
31
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
Figura 324 - Veneziana no dormitrio sul
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
419
A Avaliao dos Resultados
Grade
O comprimento de fabricao das barras em
ao de 6,00 m, segundo lojas especializadas desse
produto. Para se evitarem desperdcios, as alturas das
janelas e os cortes das barras devero ser planejados
de forma a se obter um melhor rendimento desses
materiais. As barras de ao cortadas so colocadas
aps a montagem das janelas, furando-se os marcos
e embutindo as barras de um extremo ao outro. O
acrscimo no custo de uma esquadria, para a coloca-
o de grade em ao, varia de 20% a 25%
32
. Em alguns
casos, a proteo da esquadria envidraada pode ser
atendida pela subdiviso dos vidros com pinzios,
porm esse complemento s esquadrias acrescenta,
no mnimo, 10% no custo, alm de aumentar a quanti-
dade de baguetes e de materiais de envidraamento.
Nas janelas J1, J2, J3 e J5 do prottipo foram ins-
taladas, internamente, como grade de proteo, barras
de ao verticais, sem pintura (Figura 325). Para essas
janelas foi necessrio utilizar cinco barras inteiras de
ao, resultando em 75 cm de sobra. Essas barras so
de seo circular lisa, com dimetro de , e esto es-
paadas entre si em, aproximadamente, 10 cm, o que
confere uma proteo adequada, pois esto adequa-
damente ajustadas aos marcos das janelas. Porm, na
abertura total das janelas, essas barras geram barreiras
para a manipulao dos comandos, assim como di-
cultam o fechamento da folha da janela.
Figura 325 - Grade na janela da sala/cozinha
32
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
8.5.10 Complementos
Geralmente, as esquadrias em madeira so en-
tregues nas obras in natura, sem qualquer proteo
supercial (ABCI, 1991). Entretanto, de acordo com
Zeh (1976), as esquadrias produzidas em srie e com
tamanhos normalizados podem ser fornecidas com
impregnao ou pintura de fundo. Conforme o IPT
(1998), o bom desempenho do processo de pintura
est baseado em cinco fatores: conhecimento do am-
biente; seleo correta das tintas em funo do meio;
preparo da superfcie; e aplicao e controle de qua-
lidade. De acordo com Zeh (1976), os produtos e o
tratamento supercial da madeira so, geralmente,
determinados pelas caractersticas da madeira e exi-
gncias relativas superfcie pronta, podendo ser
transparente ou pigmentado. O acabamento trans-
A Avaliao dos Resultados
420
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
parente, por exemplo, empregado em madeiras de
poros abertos, para dar realce estrutura das veias e
desenhos, e o acabamento pigmentado, em madeiras
de poros fechados, para o atendimento de necessida-
des especcas.
Os procedimentos e produtos empregados na
proteo da madeira das esquadrias do prottipo fo-
ram sugeridos pelo fabricante das esquadrias
33
. Os
materiais empregados
34
na proteo das esquadrias
do prottipo so:
a) emX Multiuso composio: aditivo bioqumi-
co; fabricante: Oxignio da Amaznia; contedo:
100 mL; preo: R$ 7,50 (fev. 2003); quantidade: 2
tubos (sobraram aproximadamente 50 mL);
b) TEDOX leo de linhaa; fabricante: I. B.
Schild; contedo: 900 mL; preo: R$ 12,88 (fev.
2003);
c) CLARIM leo de linhaa; fabricante: Klein;
contedo: 900 mL;
d) AGUARRS essncia de terebentina; fabri-
cante: Farma Qumica; contedo: 1.000 mL; e
e) borrifador de jardim; pincel; estopa; balde;
escada.
Os procedimentos adotados no tratamento su-
percial das esquadrias do prottipo ocorreram de
duas formas:
a) 1 mistura: diluio do contedo de seis tam-
pas do produto emX Multiuso em 500 mL de
gua; aplicao da primeira demo, atravs de
borrifador de jardim; aguardado o tempo de
absoro da madeira, foi aplicada a segunda
demo dessa mistura; e
b) 2 mistura: diluio do leo de linhaa (900
mL) em 330 mL de essncia de terebentina;
tentativa de aplicao da mistura com saco de
linhagem e estopa (procedimento descartado);
aplicao de uma primeira demo com pincel;
aps a madeira absorver a primeira demo, foi
aplicada a ltima demo.
Esse tratamento supercial das esquadrias do
prottipo ainda no pode ser considerado como pin-
tura de acabamento eciente, pois seria necessrio
vericar a durabilidade e o comportamento do trata-
mento ante as intempries e agentes naturais agres-
sivos, o custo nal do tratamento, a toxicidade do
produto terebentina, o nvel de impermeabilizao
gerado pelo produto e os materiais de limpeza ade-
quados ao produto.
A soma das reas das superfcies destinadas
pintura ou tratamento das esquadrias do prottipo
de 48,74 m, sendo, aproximadamente, 50% para
as portas e 50% para as janelas, conforme indicam
os Quadros 64 e 65. As folhas das portas e janelas
33
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Banjo.
34
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Marimba.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
421
A Avaliao dos Resultados
so responsveis por mais de 50% da superfcie to-
tal destinados pintura, sendo destacada, em rela-
o s demais janelas, a quantidade maior de rea de
Quadro 64 - Superfcies para pintura das janelas do prottipo
pintura para as folhas da janela J4, pelo acrscimo
de venezianas.
Quadro 65 - Superfcies para pintura das portas do prottipo
422
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
8.5.11 Anlise das variveis comportamental e
utilitria das esquadrias
O principal objetivo da denio do perl de
desempenho de uma esquadria o de sistematizar a
anlise das diversas exigncias funcionais, sem hie-
rarquia de importncia. Essa anlise de desempenho
apresenta diculdades devido simultaneidade de
funes que as esquadrias apresentam (ABCI, 1991).
Quadro 66 - Variveis que intervm no perfil de desempenho tcnico e funcional de uma esquadria
423
A Avaliao dos Resultados
As principais variveis de desempenho que
afetam a qualicao de uma esquadria esto descri-
tas no Quadro 66.
Resistncia
As esquadrias do prottipo no apresentam de-
formaes visveis, pois utilizam matria-prima resis-
tente e espessuras tradicionais dos pers. Nas janelas
maxim-ar, a colocao de mainel estruturalmente
benca, pois impede a exo da verga do marco. Os
alizares externos das janelas J1, J2, J3, J6 e J7 podero
apresentar deformaes devido ao nmero reduzi-
do de pontos de xao nos marcos, pela falta de
proteo supercial impermevel e pela incidncia
de radiao solar. O alizar externo superior, da janela
J4, poder apresentar deformaes, devido largura
(9,5 cm) e pequena espessura (1,2 cm).
As portas internas P3, P4 e P5 do prottipo apre-
sentam menor resistncia a impactos em comparao
com as portas externas, pois as primeiras no apresen-
tam reforos de travessas centrais, alm de os lambris
inclinados terem espessura igual a 16 mm. J as portas
externas apresentam maior resistncia a impactos ou
vandalismo. As folhas das janelas do prottipo apre-
sentam boa resistncia estrutural ao vandalismo, em
funo das subdivises com pinzios e pela dimenso
dos quadros e pers, alm das grades de proteo.
Desempenho tcnico-funcional e habitabilidade
Segundo Pol (1996), isolar bem e ventilar cor-
retamente sintetizam o desempenho de conforto am-
biental que um edifcio moderno deve oferecer. O
controle de temperatura, quando corretamente pra-
ticado pela abertura ou fechamento de uma janela,
contribui tanto no sentido de melhorar as condies
de conforto trmico quanto para a reduo de con-
sumo energtico, decorrente do uso de sistemas de
ventilao forada nos ambientes (ABCI, 1991).
Funcionalidade
A funcionalidade das esquadrias do prottipo
est descrita no Quadro 67. Todas as cinco portas do
prottipo so de bater movimentadas mediante a
rotao em torno de eixo vertical xo, coincidente
com a lateral das folhas. A funcionalidade adotada
para seis janelas projetante/deslizante (maxim-ar),
sendo as janelas J1, J2 e J3 acrescidas de partes xas.
A funcionalidade da janela J4 de duas folhas de cor-
rer com veneziana em quatro folhas de sanfonar.
As janelas J2 e J5 do prottipo, em funo da
funcionalidade do tipo maxim-ar e da largura do mar-
co, podero ser utilizadas como suporte de produtos
de limpeza, higiene ou de adornos.
Iluminao natural
Nas esquadrias do prottipo, a rea mnima
para iluminao, propiciada pelas janelas, con-
frontada com as exigncias da legislao municipal
(PORTO ALEGRE, 1999), conforme demonstra o Qua-
dro 68. Constata-se que o somatrio das reas das ja-
nelas de cada dependncia atende legislao. Com
relao rea das dependncias prevista no projeto,
constatou-se que a rea til total da edicao au-
mentou 1,13 m, distribudo entre as dependncias,
porm esse aspecto no afetou diretamente o dimen-
sionamento das janelas.
424
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 68 - Confronto entre as janelas do prottipo e as exigncias da legislao municipal sobre iluminao natural
Quadro 67 - Descrio funcional
das esquadrias do prottipo
425
A Avaliao dos Resultados
Por outro lado, considerando-se a rea efetiva
de iluminao, propiciada pelos vidros das janelas e
desconsiderando os marcos, quadros das folhas, mai-
nel e pinzios, conforme demonstra o Quadro 69, su-
pe-se que todas as dependncias (exceto sanitrio)
no estariam sucientemente iluminadas.
Quadro 69 - Confronto entre a
rea efetiva de iluminao na-
tural das janelas do prottipo
e a legislao municipal
Supondo que as folhas das janelas do prottipo
no fossem subdivididas com pinzios, a rea efetiva
de iluminao natural aumentaria, aproximadamen-
te, 20%, conforme o Quadro 70.
Quadro 70 - rea efetiva de iluminao das janelas
do prottipo para folhas sem pinzios
426
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Ventilao natural
Entre os vrios objetivos da ventilao nas ha-
bitaes, destacam-se a substituio do ar impuro ou
viciado por outro limpo e fresco, e a promoo da
ventilao natural, como recurso para o controle da
temperatura dos ambientes (ABCI, 1991). Para isso, as
esquadrias, principalmente janelas, devem propiciar
uma ventilao que atenda s exigncias humanas,
que variam de 8 m a 25 m por hora para uma pes-
soa, em condies de repouso ou de atividade leve
(POL, 1996). O Quadro 71 delimita a ventilao ne-
cessria por pessoa para algumas situaes relacio-
nadas ao espao interno.
Quadro 71 - Ventilao mnima necessria (baseado em ICE, 1988b)
Quadro 72 - Confronto entre as janelas do prottipo e as exigncias da legislao municipal sobre ventilao natural
427
A Avaliao dos Resultados
Os cdigos de edicao exigem uma rea mni-
ma de ventilao para as janelas residenciais, de acor-
do com uma frao da rea do piso das dependncias,
embora esta represente 50% do previsto para a ilumi-
nao. O Quadro 72 relaciona as janelas do prottipo
com as exigncias da legislao. Constata-se que a rea
de ventilao, propiciada pelas janelas do prottipo,
atende plenamente s exigncias da legislao, exceto
no banheiro, para o qual a legislao prev, indepen-
dentemente da rea, um mnimo de 0,40 m.
Por outro lado, considerando-se a rea efetiva
para ventilao natural das dependncias, conforme
demonstra o Quadro 73, somente as janelas da sala/
cozinha e do dormitrio (1) atenderiam legislao.
Constata-se, ento, que a rea efetiva de ventilao
insuciente nas janelas do dormitrio (2) e sanitrio.
Outro aspecto a salientar sobre a comparao en-
tre as janelas J1 e J4: apesar de terem praticamente a
mesma rea, a primeira propicia 58% a mais de venti-
lao, em funo da caracterstica funcional.
Quadro 73 - Confronto entre a rea efetiva de ventilao natural das janelas do prottipo com a legislao municipal
Estanqueidade
A estanqueidade das esquadrias uma varivel
que pode estar relacionada com as condies am-
bientais, caractersticas da edicao, dos sistemas
construtivos e funcionais, e com os elementos de
vedao. A penetrao de gua ou ar ocorre, sobretu-
do, pela presso do vento, uindo atravs de frestas
ou juntas mal vedadas (TRIKEM, 2000). Os pontos
vulnerveis das esquadrias podem ocorrer nas juntas
do marco da esquadria com o vo da alvenaria, nas
428
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
juntas do marco com a folha mvel, entre o pano de
vidro e as travessas e montantes da folha da janela,
e pelas frestas entre pers do marco e o material de
interface (ABCI, 1991). Para uma maior estanqueida-
de das esquadrias com as interfaces, deve-se adotar
ancoragens resistentes, para evitar movimentos pro-
duzidos por presses de vento, e aplicar um selador
perimetral no contorno da abertura que evite as in-
ltraes (ICE, 1988b).
Estanqueidade gua de chuva
As folhas das janelas do prottipo, por serem
subdivididas com pinzios, tm maior probabilidade
de apresentar frestas em comparao com as folhas
simples. Conforme descreve o Quadro 74, as janelas
teriam, aproximadamente, 50% menos juntas de en-
vidraamento, se sem pinzios.
Quadro 74 - Comparao entre o comprimento dos baguetes das janelas do prottipo e as folhas sem pinzios
Estanqueidade ao ar e poeira
Os ventos de inverno podero afetar o con-
forto interno do prottipo, pois se constata que as
janelas J2 e J5 no apresentam elementos de veda-
o, como gaxetas de borracha, o que pode gerar
decincias de estanqueidade ao ar. Entretanto, se-
gundo a ABCI (1991), as janelas com funcionalidade
projetante/deslizante (maxim-ar) apresentam boa
estanqueidade, pois a presso do vento sobre a folha
pressiona-a contra o marco. Por outro lado, a porta
P2, que no possui elemento de vedao com gaxeta
de borracha, junto ao batente do marco e entre a bor-
da inferior da folha e o piso, tambm poder gerar
inltrao de ar. Nesse caso, como providncias alter-
nativas, coloca-se rodap automtico ou a varredura
pea exvel de borracha, presa na parte inferior da
porta (CHING, 1999).
429
A Avaliao dos Resultados
Estanqueidade a insetos
A estanqueidade a insetos uma varivel que
est relacionada com o meio ambiente e com os com-
plementos de proteo associados funcionalidade
da esquadria. Geralmente, os insetos entram nas edi-
caes quando as folhas das esquadrias esto abertas
para ventilar. A presena de insetos moscas, baratas,
cupins, mosquitos, etc. nas edicaes no se deve
existncia de esquadrias, mas dos atrativos bsicos para
sua sobrevivncia. Telas, repelentes naturais e, especial-
mente, limpezas peridicas podem reduzir (sem extin-
guir) esses insetos (MONTENEGRO, 1984). As janelas
do prottipo no possuem tela mosquiteiro, e as portas
externas, P1 e P2, no foram dotadas de varredura ou
outro dispositivo entre a borda inferior da folha e o
piso que pudesse evitar a entrada de insetos. As esqua-
drias do prottipo no oferecem uma vedao ecien-
te no permetro de interface, o que poder propiciar a
entrada de insetos pelas juntas rebaixadas dos tijolos.
Exigncias de acessibilidade e ergonomia
De acordo com a norma NBR 9050 (ABNT,
1994), o nvel dos olhos de um usurio de cadeira
de rodas encontra-se, em mdia, a 1,15 m de altura.
Por isso, deve-se posicionar os peitoris das janelas
em nvel inferior a essa altura, de forma a permitir
uma melhor visualizao do exterior. Por outro lado,
o posicionamento dos comandos deve estar no m-
ximo a 1,35 m do piso, para evitar que estes quem
em posio superior faixa de alcance manual de
um usurio de cadeira de rodas.
A posio dos comandos das esquadrias do
prottipo apresenta divergncias em relao ao
preconizado pela norma NBR 9050 (ABNT, 1994).
O Quadro 75 descreve essas informaes de forma
comparativa, constatando-se que:
a) todas as maanetas das portas esto posi-
cionadas a aproximadamente 5 cm acima do
prescrito pela norma;
b) a posio dos comandos das janelas J2, J4, J5,
J6 e J7 no atendem s prescries da norma;
c) as janelas J6 e J7 do clerestrio da sala e dor-
mitrio 1 s podero ser acessadas mediante a
colocao de escada ou se for construdo um
mezanino;
d) a altura mxima dos peitoris das janelas, segun-
do a norma, atendida nas janelas J1, J3 e J4; e
e) o peitoril da janela J5 (1,71 m) gera diculdade
e desconforto para sua abertura e fechamento.
Desempenho esttico
A satisfao esttica pode ocorrer quando o
homem reconhece, no entorno material, princpios
que regem o seu prprio corpo e na relao do sis-
tema horizontal/vertical. Esses princpios esto fun-
damentados no ritmo, no movimento e no ordena-
mento que se repetem de forma uniforme (LBACH,
2001). Lbach (2001) acrescenta que todo o proces-
so de design tanto um processo criativo como um
processo de soluo de problemas. Com isso, alm
da fabricao econmica e o emprego econmico
de determinados materiais, as preferncias estticas
dos usurios podem ser fatores imprescindveis para
a congurao dos produtos.
430
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Para esquadrias, a varivel esttica pode estar
associada s suas dimenses e propores, sua ade-
quao ao conjunto arquitetnico e aos acabamentos
superciais, tanto nas questes de textura quanto de
cor. A utilidade das cores no se restringe aparncia,
mas adentra os conceitos fsicos de controle trmi-
co e visual. A pintura de cores claras nas superfcies
aumenta a reexo radiao solar, reduzindo os ga-
nhos de calor. No interior das edicaes, cores claras
reetem mais luz, podendo ser empregadas em con-
junto com sistemas de iluminao natural ou articial
(LAMBERTS; PEREIRA; DUTRA, 1997). De acordo com
Lbach (2001), os principais aspectos estticos de um
Quadro 75 - Posicionamento dos comandos das esquadrias do prottipo
produto, descritos no Quadro 76, so a ordem, a com-
plexidade, a forma, a superfcie e a cor.
As esquadrias do prottipo se apresentam com
colorao varivel, incluindo tons amarelados, aver-
melhados, castanho-claros e tons de marrom, atravs
da matria-prima, e superfcie fosca. As portas P1 e P2
apresentam abundncia de informao, pela varieda-
de e quantidade de almofadas, e as portas internas
P3, P4 e P5 apresentam complexidade pelos elemen-
tos em diagonal. Apesar de as portas P3 e P4, dos dor-
mitrios, apresentarem sentidos opostos de abertura
(direita e esquerda), os lambris centrais, em diagonal,
431
A Avaliao dos Resultados
Quadro 76 - Variveis estticas de um produto (baseado em LBACH, 2001)
foram dispostos no mesmo sentido, constatando-se
uma homogeneidade aparente. Por outro lado, todas
as janelas do prottipo apresentam alta complexida-
de em funo do elevado nmero de componentes,
tais como pinzios, vidros, grades e folhas. Entretan-
to, a simetria das janelas resulta em maior ordenao
horizontal/vertical e, conseqentemente, menor es-
foro perceptivo.
Desempenho econmico (manuteno)
As variveis econmicas para manuteno das
esquadrias esto associadas ao custo de limpeza e re-
posio de peas. Para as janelas, o custo de limpeza
interna e externa pode estar relacionado ao tempo
necessrio para a manuteno, quantidade e di-
menso dos panos de vidro, e posio da janela na
432
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
parede. Por outro lado, quanto menor a quantidade
de componentes e ferragens, mais econmicas sero
a manuteno e a reposio de peas. As esquadrias
com sistemas funcionais muito complexos podem
exigir mo-de-obra especializada para sua manuten-
o preventiva, o que pode ocasionar custos eleva-
dos para manuteno corretiva.
Tanto as portas como as janelas do prottipo so
dotadas de ferragens simples, o que pode amenizar o
custo de manuteno para reposio de peas. Porm,
pelo elevado nmero de componentes e vidros das
janelas, o custo de manuteno, para conservao e
limpeza, poder ser maior em comparao com jane-
las com menos folhas e quadros sem pinzios.
Exigncias de interesse ecolgico
As variveis de interesse ecolgico esto vin-
culadas matria-prima e materiais menos impactan-
tes. Ampliando essa tica, o projeto das esquadrias
pode ter como diretriz a busca de solues tcnicas
e funcionais mais sustentveis, visando economia de
energia eltrica, transporte, mo-de-obra local, etc.
As esquadrias em madeira do prottipo podem
ser consideradas como produtos elaborados com
matria-prima sustentvel, pois o eucalipto oriun-
do de reorestamento. O tipo de secagem natural da
madeira gerou economia de energia eltrica, assim
como a inexistncia de preservativos qumicos e tra-
tamento supercial de proteo, com produtos me-
nos impactantes, agregaram valor ecolgico a essas
esquadrias. A fbrica que confeccionou as esquadrias
est situada a menos de 100 km da obra e utilizou
mo-de-obra local, o que complementa a caracteriza-
o social de sustentabilidade.
8.5.12 Anlise das variveis tcnicas das
esquadrias
As principais variveis tcnicas diretamente
relacionadas com a qualidade de uma esquadria es-
to descritas no Quadro 77.
Legislao
Os instrumentos legais que incidem sobre o
projeto das edicaes especicam dimenses e re-
quisitos mnimos, como parmetros de segurana e
habitabilidade (SILVA, 1982). Esses instrumentos, por
meio de cdigos de edicaes e normas tcnicas,
solidicam a qualicao das edicaes, pois disci-
plinam regras gerais e especcas a serem obedeci-
das nos projetos, nas construes, na utilizao e na
manuteno das edicaes (YAZIGI, 1997).
Cdigo de edificaes
Uma avaliao legal das portas do prottipo
est descrita no Quadro 78, que sintetiza algumas
exigncias da legislao municipal e da norma sobre
acessibilidade, comparando com os dados obtidos,
constatando-se que somente a porta P1 no atende
s exigncias da legislao, que determina para a por-
ta principal largura mnima de 90 cm. Na porta P3,
faltou 1 cm na largura do vo (79 cm) para atender
legislao, e na porta P5 o vo livre atende legisla-
o municipal, porm se apresenta 2 cm menor com
relao ao estabelecido na norma.
433
A Avaliao dos Resultados
Quadro 77 - Variveis tcnicas que intervm na escolha de uma esquadria
434
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quadro 78 - Exigncias legais em comparao com as portas do prottipo
Normas tcnicas
As exigncias das normas tcnicas sobre es-
quadrias do suporte a diversas necessidades de
projetistas e fabricantes. Os parmetros, denidos
pela norma NBR 10821 (ABNT, 2000b), por exemplo,
garantem que as funes bsicas de resistncia me-
cnica, durabilidade, estanqueidade gua, controle
de luz e ventilao de uma janela sejam obtidas inde-
pendentemente da matria-prima. A norma tcnica
NBR 9050 (ABNT, 1994) determina parmetros que
devem ser utilizados nos projetos de portas e janelas
para atender acessibilidade de usurios portadores
de decincias. Porm, ainda no existem normas
para todas as variveis que intervm num projeto de
esquadria, como, por exemplo, normas sobre veda-
o e acessrios.
As esquadrias do prottipo atendem parcial-
mente s exigncias das normas tcnicas brasileiras
e da legislao municipal de Porto Alegre, provavel-
mente pela inexistncia de um projeto especco e
detalhado das esquadrias, em funo de o contato
com o fabricante ocorrer aps a colocao do telha-
do, isto , os vos j estavam denidos, e da decin-
cia na troca de informaes entre cliente e fabrican-
te ou vice-versa.
Processo de projeto
Projeto pode ser considerado uma atividade
que produz uma descrio de algo que ainda no
existe, porm capaz de viabilizar a construo desse
artefato em criao. Porm, a maioria dos projetos
no tem contedo inovador, so pequenas melho-
rias, que vo se agregando aos produtos (NAVEIRO;
OLIVEIRA, 2001). Segundo os mesmos autores, as ati-
vidades de projetar so realizadas exigindo do pro-
ssional, alm da especialidade, conhecimentos so-
bre ergonomia, forma geomtrica, materiais, custos,
435
A Avaliao dos Resultados
processo produtivo, simulao, dimensionamento e
testes. Exigem, tambm, uma viso mais abrangente,
incorporando fatores como ciclo de vida, manuten-
o, conana e qualidade do produto.
Um projeto de esquadrias residenciais em ma-
deira pode ocorrer em duas situaes distintas. Na
primeira situao (objeto desta pesquisa), o projeto
de esquadrias pode ser considerado externo fbri-
ca, pois est relacionado com as informaes do pro-
jetista da edicao ao fabricante. Esse projeto pode
ser constitudo de desenhos (representao grca)
e informaes escritas (memoriais descritivos). A se-
gunda situao est relacionada com as informaes
do setor de projetos da fbrica destinado produo.
O projeto para produo pode ser constitudo de de-
senhos individualizados dos pers e dos conjuntos
(quadro, marco, alizar) separadamente. Esse tipo de
projeto geralmente utilizado quando se pretende
produzir esquadrias padronizadas e em srie. Para
que ocorra uma padronizao no processo de produ-
o, o setor de projetos das fbricas observa alguns
requisitos, descritos no Quadro 79.
Dicilmente os prossionais das edicaes
elaboram projetos de esquadrias com todas as in-
formaes necessrias para a produo
35
. As princi-
pais decincias de informao esto relacionadas
s caractersticas do projeto arquitetnico (orien-
tao solar, beirais, dependncias), aos detalhes da
obra (dimensionamento de vos em osso cotados,
se ter contramarco, caractersticas dos materiais de
Quadro 79 - Requisitos para elaborao de produto (baseado em LBACH, 2001)
35
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Pandeiro.
A Avaliao dos Resultados
436
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
interface e sistemas de xao) e s caractersticas
das esquadrias (dimensionamento, funcionamento,
quantidade, largura e espessura dos pers, se ter
tela, grade, etc.)
36
. Os principais erros de informao
dos projetos podem estar relacionados com as carac-
tersticas da esquadria (dimensionamento de peas,
tipo de madeira inadequado para o local de insta-
lao, folhas com dimenses muito acima do ideal,
etc.) e com a obra (vos com dimenses acima do
ideal, vos estreitos, denio tardia sobre o uso de
persiana, pouca espessura de alvenaria, falta de gola,
espessura do contrapiso insuciente para a soleira,
pouca diferena de nvel entre o piso interno e o
piso externo nas sacadas, caimento errado no piso
das sacadas, etc.)
37
.
Esses erros, muitas vezes, ocorrem pela falta de
projeto especco para a obra e para a fabricao.
Por exemplo, para uma porta o arquiteto dimensiona
o vo de 80 cm x 210 cm; o fabricante l 86 cm x 213
cm; e o mestre-de-obras executa 90 cm x 215 cm
38
.
Muitas dessas decincias poderiam ser sanadas se
o prossional zesse consultas com os fabricantes
antes de concluir o projeto, podendo, assim, reduzir
o custo nal para o cliente.
De acordo com o responsvel pelo prottipo
foi elaborada a representao grca somente do
dimensionamento dos vos, entretanto no foi ela-
borado um projeto de detalhamento das esquadrias,
embora existissem memoriais descritivos de outros
projetos semelhantes (Projeto Casa Alvorada e Proje-
to Nova Hartz)
39
. O projeto de produo das esqua-
drias do prottipo e seus pers seguiram os padres
especcos da fbrica, atendendo s requisies do
contratante, tais como a matria-prima com iseno
de preservativos, as funcionalidades e a instalao de
grades internas
40
.
Dimensionamento
Apesar de o projeto arquitetnico do prot-
tipo prever todas as portas com vo luz de 80 cm,
constatou-se que as larguras das folhas das portas
apresentaram dimenses diferentes em funo das
larguras variadas dos vos. As larguras dos marcos das
portas apresentam dimenses iguais, exceto o marco
da porta P5, que mais largo, em funo do revesti-
mento interno de azulejo do sanitrio. A padroniza-
o dimensional das janelas pode ser vericada nos
vos adotados para as janelas J1, J3 e J4 e entre as
janelas J6 e J7.
36
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissionais de cognome Obo, Harpa e Piano.
37
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissionais de cognome Obo, Harpa e Piano.
38
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Piano.
39
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Banjo.
40
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
437
A Avaliao dos Resultados
Representao grfica
Uma das linguagens utilizadas para representar
os aspectos particulares do projeto das esquadrias
a grca, isto , os esboos, desenhos em perspectiva
e desenhos tcnicos (NAVEIRO; OLIVEIRA, 2001). Se-
gundo Borges (2001), as representaes grcas so
baseadas no conceito de projetividade, que pressu-
pe a existncia de trs elementos: o centro de pro-
jeo, que representa a posio ou o ponto de vista
do observador; o objeto a ser representado; e um pla-
no, onde se realiza a projeo.
A representao grca uma varivel do pro-
jeto de esquadrias em madeira que pode trazer infor-
maes necessrias compreenso dos elementos da
esquadria. Deveria conter vista interna, vista externa,
planta baixa, cortes e detalhes especiais. O sentido
de movimento poder ser demonstrado atravs de
linha contnua, se a esquadria estiver desenhada na
vista interna, e em linha tracejada, se a esquadria esti-
ver desenhada na vista externa (ICE, 1988a).
Uma forma de representao grca de um
projeto de esquadrias poderia ser por meio de uma
planilha. Segundo Santiago (1996), essa planilha po-
deria auxiliar o construtor e o fabricante, contendo
informaes como: numerao (cdigo) da esquadria;
quantidade de cada tipo de esquadria; local onde a
esquadria ser colocada; caractersticas funcionais da
esquadria; caractersticas dos materiais de interface
com a esquadria (pingadeira, soleira); caractersticas
do vidro ou material transparente; caractersticas do
marco e guarnies; caractersticas do caixilho; tipo
da madeira; caractersticas das ferragens com refern-
cias; acabamento da esquadria; desenho da esquadria.
Como complementao dessa planilha pode-
riam ser fornecidos ao fabricante das esquadrias al-
guns documentos, que podem auxiliar na compreen-
so das caractersticas da edicao. Podem ser: planta
baixa; cortes; fachadas; perspectivas; fotograas; etc.
A planta baixa da edicao pode ser esquemtica
e em escala reduzida (1:100; 1:150: 1:200), desde
que as informaes sejam legveis. Mas importante
indicar o cdigo de localizao das esquadrias (por
exemplo, P1, P2, J1, J2, etc.); orientao solar (norte);
projeo do beiral; descrio das dependncias; rea
das dependncias; esquadrias em projeo (quando
houver esquadrias acima do nvel de corte da planta
baixa); e demais informaes que sejam necessrias
produo e instalao.
Memorial descritivo
Outra linguagem utilizada para representar
os aspectos particulares do projeto das esquadrias
a semntica, isto , a descrio verbal ou textual
do objeto (NAVEIRO; OLIVEIRA, 2001). Essa varivel
do projeto pode ser representada por planilhas de
memoriais descritivos contendo informaes sucin-
tas e objetivas. Deve permitir a especicao dos ma-
teriais, com suas caractersticas importantes, para a
produo e instalao das esquadrias.
Complementando a representao grca, o
memorial descritivo fornece, alm das caractersticas
da esquadria, informaes sobre as caractersticas
tcnicas da edicao, onde ser xada a esquadria,
as dimenses dos vos existentes na obra sem os aca-
bamentos, materiais internos e externos de interface,
tais como pingadeira, revestimentos e vergas, e o tipo
438
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
de acabamento supercial previsto para a esquadria.
A importncia da informao escrita no projeto to
primordial quanto o projeto grco (SCARDOELLI et
al., 1994). A fbrica que confeccionou as esquadrias
do prottipo no solicitou nem recebeu qualquer
documento escrito que descrevesse as caractersti-
cas da obra e das esquadrias.
Processo de fabricao
As principais variveis do processo de fabrica-
o das esquadrias esto relacionadas ao processo de
produo, incluindo mquinas, mo-de-obra e tempo
para produo de cada tipo de esquadria, ao controle
de qualidade, s perdas de material e ao custo de pro-
duo. Aps a retirada do depsito de armazenagem,
a prancha de madeira, bruta e seca, segue o proces-
so de produo artesanal, que pode ser dividido em
quatro etapas bsicas
41
. So elas:
a) mquinas I (corte, desempeno e aplaina-
mento), resultando em madeira aparelhada;
b) mquinas II (rebaixos, espigas, furos, rasgos),
resultando em pers lixados e prontos;
c) pr-montagem (colagem, prensa), resultan-
do em componentes prontos; e
d) montagem (execuo dos marcos, coloca-
o das ferragens, montagem geral), resultando
na esquadria pronta.
Aps a montagem, a esquadria testada e re-
cebe o travamento dos marcos e folhas, para a ar-
mazenagem e transporte. O processo de produo
artesanal adotado pela fbrica que confeccionou as
esquadrias do prottipo teve as seguintes etapas:
desdobro em pranchas; secagem da madeira; pr-cor-
te; corte nal; desempenamento; aplainamento; fresa-
mento; furao; lixamento; pr-montagem; colocao
de ferragens; montagem; travamento; e inspeo
42
.
Independentemente dos modelos ou caracte-
rsticas funcionais das esquadrias em madeira, para
sua produo so empregadas, no mnimo, 11 mqui-
nas diferentes
43
.
Porm, o tempo de produo varia conforme
as caractersticas de cada esquadria. Para as esqua-
drias do prottipo, o tempo de produo no foi
quanticado, porm a estimativa de tempo pode ser
determinada em funo da rea de esquadria por ho-
mem, variando de 2,5 m/h a 3,5 m/h para um dia
de trabalho
44
.
Custo de produo
De acordo com Della Noce et al. (1998), as
etapas de produo das esquadrias em madeira re-
presentam 50% do custo total; a matria-prima re-
presenta 29%; e as ferragens, os acessrios e outros
custos representam 21%. Mas esse percentual varia
41
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Piano.
42
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
43
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Harpa.
44
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
439
A Avaliao dos Resultados
conforme o tipo, dimenses e desenho da esquadria.
Por exemplo, o acrscimo no custo de produo de
esquadria com folha subdividida com pinzios (qua-
driculado) pode atingir de 10% a 25% em compara-
o com a de folhas simples (somente o quadro)
45
.
A fbrica efetuou o oramento de dez esqua-
drias e, aps a execuo delas, confeccionou mais
duas, totalizando 5 portas e 7 janelas. O oramento,
aps visita ao local da obra, incluiu ferragens e insta-
lao, conforme os padres da fbrica
46
. O Quadro 80
descreve o preo de cada esquadria, porm so cons-
tatadas algumas divergncias e questes relativas ao
preo, tais como:
a) ocorreu diferena de preo entre as janelas
J1 e J3 (idnticas), porm contratadas separa-
damente;
b) cobrou-se preo menor da janela J4 em
comparao com a janela J1, embora a primei-
ra apresente maior quantidade de matria-pri-
ma e ferragens;
c) o preo total das 7 janelas (1,697 CUB/RS)
correspondeu a 61% do preo total das esqua-
drias, enquanto o preo das 5 portas corres-
pondeu a 39%;
45
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Pandeiro.
46
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
47
Dados: obtidos atravs da nota fiscal; 1,00 CUB/RS jan. 2003 = R$ 654,01 (fonte: Jornal do CREA-RS Ano XXIX n 5 set. 2003).
Quadro 80 - Relao de
preos das esquadrias do
prottipo
47
A Avaliao dos Resultados
440
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
d) o preo total das esquadrias (2,77 CUB/RS)
apresentou-se 20% menor que o oramen-
to elaborado no Projeto Casa Alvorada (3,46
CUB/RS) (SATTLER et al., 1999).
O controle ocorre na chegada da madeira, quan-
do so separadas as peas brutas em largura, compri-
mento, espessura e tonalidade, para permanecer em
estoque durante seis meses. Outro controle ocorre
quando a madeira bruta vai para a plaina moldureira,
que onde se consegue ver as quatro faces da pea.
Em cada etapa no processo de produo existe um
controle de qualidade
48
. Entretanto, o controle de
qualidade depende da qualicao da mo-de-obra,
pois a falha humana pode acontecer em qualquer
etapa do processo. A mo-de-obra que trabalha com
esquadrias artesanais em madeira necessita, no mni-
mo, de oito anos de experincia para minimizar er-
ros de produo e possibilidades de acidente
49
.
O controle de qualidade adotado na produo
das esquadrias do prottipo foi visual, com medio
por trena. A qualicao da mo-de-obra pode ser
considerada uma das nicas decincias na produ-
o de esquadrias em madeira
50
.
Resduos
As perdas com resduos na produo das esqua-
drias em madeira variam de 40% a 50%, o que pratica-
mente duplica o custo da matria-prima adquirida em
pranchas brutas
51
. A gerao de resduos de material
ocorre no corte e aplainamento das pranchas. A serra-
gem vendida para as olarias ou doada para produto-
res de aves. Entretanto, os retalhos curtos, nos ou es-
treitos podem ser aproveitados como baguete, palheta
de veneziana ou miolo para porta semioca
52
.
Transporte e armazenagem
Para o transporte das esquadrias em madeira,
as folhas devem ser travadas, e os fechos, protegidos.
Devem ser estocadas na vertical, sobre piso nivelado,
em ambientes protegidos das intempries, sem pro-
ximidade de fontes de calor ou de outros materiais
de construo que possam prejudicar o acabamento
nal da madeira, tais como leos, cimento, cal, tin-
tas e outros materiais comumente encontrados nas
obras (ABCI, 1991). Ohnuma et al. (1998) acrescen-
tam, ainda, que as janelas no devem permanecer
por muito tempo nas obras e que seja aplicada uma
demo de verniz fosco (dependendo da espcie da
48
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Harpa.
49
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Piano.
50
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
51
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Flauta.
52
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2002 com profissional de cognome Piano.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
441
A Avaliao dos Resultados
madeira), para proteger a madeira; e para maior pro-
teo e durabilidade s esquadrias, estas devem estar
embaladas.
As esquadrias do prottipo foram transpor-
tadas por aproximadamente 80 km e instaladas no
mesmo dia
53
, no permanecendo estocadas na obra.
Embalagem contendo etiquetas e manuais
As principais caractersticas de uma embala-
gem, segundo Acar Filho (1997), so proteger ade-
quadamente o produto, ser econmica e no agredir
o meio ambiente, quando de seu descarte. As embala-
gens devem seguir as normas construtivas do pas ou
do mercado a que se destinam, nos aspectos relativos
segurana, manuseio e empilhamento (MORAES,
1999). De acordo com a norma NBR 10821 (ABNT,
2000b), cabe ao fabricante de esquadrias informar,
por meio de catlogos ou etiquetas (xadas no caixi-
lho), o nmero da norma, a presso mxima de carga
de vento a que o caixilho resiste e as classes de utili-
zao de estanqueidade gua e ao ar. Ohnuma et al.
(1998) acrescentam que as etiquetas podem conter
informaes sobre o tipo, modelo, acabamento, me-
didas, data de fabricao e altura (em pavimentos)
mxima de instalao no prdio.
Alm disso, as garantias e manuais de uso e ma-
nuteno das esquadrias devem estar disponveis aos
usurios, estabelecendo critrios para inspeo dos
materiais. Esses documentos complementares de-
vem ser desenvolvidos com base nas normas tcni-
cas, na bibliograa pertinente ao assunto e na expe-
rincia dos fabricantes (SOUZA; MEKBEKIAN, 1996).
A fbrica das esquadrias do prottipo no forneceu
manuais de uso e manuteno, porm a garantia de
funcionalidade e instalao de 5 anos
54
.
Processo de projeto
Os procedimentos corretos de instalao de
esquadrias so fundamentais para se obter o bom
funcionamento desses componentes, com nvel de
desempenho adequado (ABCI, 1991). De acordo com
Iizuka e Hachich (2002), os processos de instalao
das esquadrias continuam vinculados aos mtodos
construtivos tradicionais, mas a tcnica correta de
instalao das esquadrias exige: o correto posiciona-
mento e alinhamento da esquadria; a garantia dimen-
sional do vo na alvenaria para a instalao da esqua-
dria; a qualidade da xao e vedao na interface
da esquadria e alvenaria; e a preservao funcional e
esttica da esquadria no decorrer da obra.
O procedimento de contratao da produo
das esquadrias do prottipo ocorreu durante a exe-
cuo da obra, buscando-se no mercado fabricantes
de esquadrias que utilizassem como matria-prima
madeira de eucalipto. Contatou-se apenas uma fbri-
ca para que fosse feito o oramento das esquadrias,
53
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
54
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Clarineta.
A Avaliao dos Resultados
442
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
de acordo com seus padres de produo, conside-
rando a utilizao de madeira sem tratamento com
preservativos, a funcionalidade das portas, confor-
me planta baixa, e maxim-ar para as janelas, com a
colocao de grade interna
55
.
No projeto arquitetnico, incluir as golas de
alvenaria, como interface das esquadrias, melhora
o acabamento e pode evitar ajustes dos alizares la-
terais. A inexistncia de gola nas portas P1, P2 e P4
do prottipo propiciou o recorte longitudinal nos
alizares laterais. Os vos destinados instalao das
esquadrias do prottipo apresentaram diferenas
de dimenses, conforme o Quadro 81, alm de n-
gulos internos no ortogonais.
O sistema de instalao das esquadrias do
prottipo, por opo do fabricante, foi o uso de es-
puma de poliuretano, sem parafusos. Porm, a ine-
xistncia de parafusos nesse sistema de instalao
poder ocasionar o emperramento das folhas das
portas junto ao piso, devido ao peso das folhas e
pela movimentao das ombreiras dos marcos e das
folhas da janela J4, visto que a verga do marco no
foi xada com parafusos.
Quadro 81 - Dimenso dos vos para instalao das esquadrias
55
Informao oral obtida em entrevista realizada em 2003 com profissional de cognome Banjo.
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
443
A Avaliao dos Resultados
8.5.13 Consideraes finais
Sobre o mapa contextual
A elaborao do mapa contextual de variveis
utilizado como suporte para a estruturao do traba-
lho resultou em algumas constataes:
a) o mapa reuniu uma sntese de variveis pre-
julgadas como as mais signicativas. Para cada
varivel descrita, ele possibilitou identicar
outras que intervm nos processos e, conse-
qentemente, na otimizao do projeto das
esquadrias;
b) ocorreu ampliao dos enfoques, comu-
mente adotados nos projetos, bibliograas e
cdigos de edicaes, especcos sobre esse
tema, nos quais so estabelecidas diretrizes b-
sicas funcionais, como ventilao, iluminao e
dimensionamento;
c) uma das diculdades para a tomada de deci-
ses na otimizao dos projetos de esquadrias
pode resultar do inter-relacionamento das va-
riveis, pois cada uma est vinculada a outros
fatores e, conseqentemente, aos diversos ele-
mentos das esquadrias;
d) cada varivel apresenta pesos diferenciados
para a tomada de decises, no delimitando as
opes de projeto. Entretanto, o conhecimen-
to dessas variveis imprescindvel para aten-
der s exigncias de cada projeto especco;
e) esse mapa elucidou o amplo conjunto de
variveis que projetistas devem considerar em
seus projetos, podendo ser considerado como
um suporte preliminar, mas bsico para a oti-
mizao dos projetos de esquadrias residen-
ciais em madeira; e
f) o mapa, redesenhado atravs de quadros, fa-
cilitou a sistematizao de anlise do estudo
de caso e favoreceu a elaborao dos memo-
riais descritivos ilustrados em apndice da
dissertao de Fernandes (2004) , que tam-
bm adotaram a forma de quadro, contendo
informaes claras e objetivas.
Sobre o estudo de caso
O estudo de caso, utilizado como uma amostra
para exemplicao da pesquisa, teve uma funo
primordial na vericao das variveis consideradas
e, conseqentemente, na avaliao das decincias e
vantagens adotadas na produo das esquadrias.
Na proposio de solues e ao detectar di-
culdades no reprojeto das esquadrias, Fernandes
(2004) necessitou adotar algumas diretrizes e optar
por alternativas de forma unilateral, resultando em
solues de projeto que necessitam ser aperfeioa-
das. As alternativas de aprimoramento podem estar
vinculadas ao emprego de esquadrias com mais de
uma caracterstica funcional e obter reas adequadas
de iluminao e ventilao, com segurana e prote-
o contra insetos, porm com baixo custo e reduzi-
do nmero de pers. A reduo do nmero de pers
das esquadrias, para reduzir o custo de produo, no
ocorre quando se adota mais de uma funcionalidade
para uma mesma esquadria.
O custo inicial mais baixo de acessrios, ferra-
444
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
gens, pinturas, componentes e dimenses mnimas
das esquadrias pode no ser a melhor alternativa de
projeto, pois necessrio analisar a economia gerada
em mdio prazo, confrontando gastos com energia
eltrica e manutenes preventivas e corretivas. Ape-
sar do custo baixo das peas de vidro, constatou-se
a viabilidade de se dimensionarem as janelas, tendo
como princpio o emprego de peas de vidro sem
perda na chapa. Entretanto, esse procedimento s
ser vantajoso para a produo em grande escala, vis-
to que as vidraarias ainda quanticam seus preos
por dimenses mltiplas de 5 cm.
Os aprimoramentos adotados no reprojeto, tais
como emprego de tintas com alto desempenho, porm
com reduzidos elementos poluentes e txicos, pintura
das esquadrias elaborada em ambiente fabril, substitui-
o dos pregos por parafusos e adoo de marcos ajus-
tveis, podero gerar produtos mais durveis, exveis
e econmicos em mdio e longo prazos.
Mediante essa pesquisa, conclui-se que os pro-
jetistas de edicaes residenciais tm um papel fun-
damental na otimizao das esquadrias em madeira,
na medida em que comearem a dominar os interve-
nientes desse componente, estabelecendo regras e
orientaes imprescindveis aos fabricantes e cons-
trutores. Para isso ocorrer, de fundamental impor-
tncia que os projetistas procedam:
a) valorizao adequada a esse projeto espe-
cco;
b) prtica de estabelecer contato inicial com
os fabricantes antes da elaborao do projeto
executivo; e
c) ao fornecimento de informaes detalhadas
ao fabricante sobre o projeto, materiais, siste-
mas de vedao, sistemas funcionais e proces-
sos de instalao.
Outras consideraes
Para a madeira continuar sendo empregada na
confeco de esquadrias, torna-se primordial a racio-
nalizao de todo o processo de produo, para se
atingir uma qualidade competitiva com as demais
matrias-primas. A madeira oriunda de matas nativas
est sendo paulatinamente protegida pela legislao,
deixando como opo futura s fbricas de esqua-
drias a utilizao de madeiras de reorestamento. Po-
rm, ser necessrio gerar polticas pblicas para uso
mltiplo de orestas plantadas e incentivar a produ-
o de reorestamentos de outras espcies de rvo-
res, como, por exemplo, a teca (Tectona grandis), de
densidade 0,65 g/cm, madeira com excelentes pro-
priedades fsicas e mecnicas, a m de viabilizar seu
emprego e agregar valor ao produto e ao ambiente
construdo.
Para se desenvolverem projetos padro de es-
quadrias residenciais em madeira, seria necessrio
ocorrer uma integrao de vrios especialistas em
diversas reas do conhecimento, incluindo, no mni-
mo, arquiteto, desenhista industrial, especialista em
ergonomia, engenheiro orestal, engenheiros civil,
qumico e de produo, construtor e fabricante de
esquadrias. Porm, o resultado desses projetos no
poderia ser padronizado para todo o Brasil em fun-
o da variabilidade climtica, do meio ambiente e,
conseqentemente, das tipologias arquitetnicas.
445
A Avaliao dos Resultados
A falta de informaes, estudos, pesquisas e
normas sobre os limites dimensionais das esquadrias
relacionados s caractersticas funcionais faz com
que os prossionais repassem sua responsabilidade
de projeto s fbricas de esquadrias. O projeto das
esquadrias em madeira carece, ainda, de estudos e
normas sobre acessrios e ferragens vinculados
acessibilidade e ergonomia. Os cdigos de edicao
municipais estabelecem valores mnimos para a di-
menso das esquadrias, porm outros aspectos e exi-
gncias poderiam ser disponibilizados nas normas,
cdigos e manuais, tais como a caracterstica funcio-
nal de cada esquadria associada aos equipamentos e
mobilirio, de cada dependncia, e a posio do co-
mando das esquadrias, relacionada acessibilidade.
8.6 Captao de gua de chuva
8.6.1 Introduo
Apesar de o projeto do Prottipo Casa Alvo-
rada contar com especicaes para o sistema de
captao e aproveitamento de gua da chuva, Mano
(2004) realizou, em sua dissertao de mestrado, um
dimensionamento independente, baseado na funda-
mentao fornecida pelo referencial bibliogrco, na
direo de uma especicao ideal.
Assim, o dimensionamento do reservatrio foi
orientado para se obter a mxima cobertura tempo-
ral possvel, buscando, ao mesmo tempo, minimizar o
seu volume, sempre tendo presente que no se pre-
tendia que a gua da chuva coletada cobrisse o con-
sumo total da edicao e que ela fosse a nica fonte
de suprimento de gua para o edifcio. Foi realizado
um clculo da otimizao do reservatrio de modo
a subsidiar decises tcnicas, mas com considerao
simultnea de aspectos econmicos.
O estudo foi realizado considerando que o uso
da gua da chuva ocorreria somente para uso no vaso
sanitrio, por ser o ponto hidrulico que oferece me-
nos risco de utilizao potvel eventual, alm de no
envolver questes de legislao e regulao da ade-
quabilidade, como, ainda, por sua expressiva contri-
buio no consumo total. O vaso sanitrio no requer
a utilizao de gua potvel, alm de representar um
elevado consumo. O uso dado gua requer baixo
nvel de tratamento, dispensando, assim, o rigoroso
tratamento que a gua fornecida pela rede recebe. Ou-
tros pontos como a torneira de jardim e o tanque, por
exemplo, foram, tambm, considerados aptos para ser
abastecidos pela gua coletada, porm o risco de um
usurio utiliz-la para beber foi considerado elevado.
Para o estudo realizado por Mano (2004), fo-
ram utilizados os valores de consumo domstico de
gua apresentados por UFRGS (1998), por serem re-
presentativos do consumo em Porto Alegre, alm de
se situarem dentro dos patamares apresentados por
diversos autores por ele revisados em sua disserta-
o de mestrado.
8.6.2 Definio de demandas
A demanda diria de gua regulada pelo C-
digo de Edicaes de Porto Alegre na Lei Comple-
mentar n 284 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ALEGRE, 1992), conforme o Quadro 82.
446
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Aplicando o Quadro 82 edicao e con-
siderando uma populao de quatro pessoas e os
dados de distribuio de UFRGS (1998), conclui-se
que 32% do consumo dirio se destina s descargas
dos vasos sanitrios. Isso implica um consumo para
esse m de um volume de gua da chuva de 64 L
por pessoa, totalizando 256 L por dia, considerando,
com a mdia de 30,43 dias por ms, um consumo
total de 7.790,2 L por ms.
8.6.3 Dados pluviomtricos de Porto Alegre
Todos os dados de pluviometria utilizados nes-
te trabalho so provenientes da Estao Pluviom-
trica do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto
Alegre, localizada na avenida Icara, bairro Cristal. Fo-
ram medidos em um pluvimetro mecnico, desde
o ano de 1991, ininterruptamente, at 2002, estando
disponveis em DEP (2003). A precipitao mensal
mdia para a cidade de Porto Alegre, calculada sobre
esses dados, de 105,9 mm.
A edicao em estudo, prottipo Casa Al-
vorada, possui uma rea de projeo horizontal de
telhado equivalente a 58,2 m, cando o potencial
de captao mdia da edicao, sem considerar o
coeciente de escoamento, em 6.162,6 L por ms.
O perodo sem chuva, ou perodo de seca, con-
siderado no dimensionamento do reservatrio. No
caso da edicao estudada, que tem o potencial de
captao abaixo do consumo total estimado, esse
clculo se presta a uma estimativa de percentual do
abastecimento do reservatrio de gua da chuva, ou
seja, o quanto ele cobrir da demanda em funo de
seu dimensionamento.
A quantidade de dias sem chuva pode ser de-
terminada pelo mtodo apresentado por Kobiyama e
Hansen (2002), com a observao de que a sua anlise
montada sobre uma srie parcial, no papel ou gr-
co da distribuio de Gumbel. Para tanto, so contados
os eventos de dias consecutivos sem chuva, medidos
ao longo de doze anos na estao pluviomtrica do
Quadro 82 - Dimensionamento do reservatrio de consumo (baseado em PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 1992)
447
A Avaliao dos Resultados
DEP, citada acima. Esses dados foram organizados e
apresentados na coluna DS do Quadro 83. A coluna N
traz a quantidade de ocorrncias de tais perodos, e a
coluna FA, o nmero de freqncias absolutas totais.
A coluna T o perodo de retorno de srie parcial,
calculado a partir da frmula de Weibull, que , neste
caso, corrigida, sendo dividida pelo nmero de anos
da amostragem. Dessa maneira, a varivel reduzida de
Gumbel calculada segundo a equao 1 e represen-
tada na coluna X do Quadro 83.
(equao 1)
Os pontos amostrais no tiveram a tendncia
de reta no papel de Gumbel, signicando que os dias
secos no seguem essa lei estatstica. Porm, segundo
Silveira (2003), isso se torna irrelevante para pero-
dos de retorno curtos, conforme o utilizado por Ko-
biyama e Hansen (2002), sendo suciente um ajuste
emprico da mesma lei. Para tanto, realizada a in-
terpolao de uma equao que se ajuste aos pontos
amostrais, resultando em um polinmio do segundo
grau. gerada, ento, uma estimativa para perodos
de retorno entre 1 e 10 anos, usando essa equao
no linear da varivel de Gumbel X, segundo a equa-
o 2. A Figura 326 demonstra tais relaes. O coe-
ciente de determinao que mede o grau de ajuste
da funo aos dados observados representado por
R e tem seu valor em 0,9941.
(equao 2)
Quadro 83 - Anlise estatstica dos dias secos em Porto Alegre de
1991 a 2002
448
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
O potencial de captao do telhado, dado
pelo item anterior, deve, ento, ser multiplicado
pelo coeciente de escoamento, que, neste caso,
ca denido como de 0,85. Utiliza-se esse valor de
coeciente porque, alm ser o valor recomendado
por Ruskin (2001), se situa exatamente na faixa dos
nmeros apresentados por outros autores, cando
tambm um pouco acima do recomendado por
Bernat, Courcier e Sabourin (1993), para telhas de
barro no rido brasileiro, que seco, apresentando
maior evaporao.
Tem-se, do estudo experimental, para potencial
real de captao do telhado da edicao o volume
de 5.238,2 L por ms, segundo mdia aritmtica.
Preliminarmente, tal volume no supre o total da de-
Figura 326 - Quantidade de dias sem chuva na cidade de Porto Alegre, para diferentes perodos de retorno
Os resultados para clculo do volume do reser-
vatrio so assim considerados, segundo os perodos
de retorno de 1, 5 e 10 anos, com seus valores de
clculo sendo respectivamente 10,3 dias, 18,7 dias
e 23,1 dias.
8.6.4 Clculo do volume do reservatrio
Para os clculos preliminares de potencial de
captao do telhado da edicao, utiliza-se uma
mdia de todas as precipitaes anuais, ou dos to-
tais mensais, obtidas em, no mnimo, dez anos, con-
forme recomendam Kobiyama e Hansen (2002). Em
sua pesquisa, Mano (2004) utilizou a mdia mensal
para o clculo preliminar, pois considerou essa uni-
dade de tempo em todos os demais clculos.
449
A Avaliao dos Resultados
manda para o mesmo perodo, aproximando-se de
67,2% de sua proviso, devendo ser completado por
gua da rede.
O volume timo do reservatrio calculado
mediante a multiplicao do nmero de dias conse-
cutivos sem chuva pela demanda total, tendo-se como
resultado o volume que o reservatrio deve ter para
atender cobertura de 67,2% da demanda do ponto
de consumo. Conforme visto anteriormente, tem-se
nmeros de dias sem chuva para trs perodos de
retorno diferentes, que, reduzidos a valores inteiros,
cam denidos em 11 dias para 1 ano de perodo de
retorno, 19 dias para 5 anos e 24 dias para ocorrn-
cias com freqncia provvel de 10 anos.
Multiplicando-se a demanda diria por esses
nmeros, tem-se:
a) 2.816 L, para 1 ano de perodo de retorno;
b) 4.864 L, para 5 anos de perodo de retorno; e
c) 6.164 L, para 10 anos de perodo de retorno.
Diante de tais valores, em uma anlise mais su-
percial, seria possvel concluir que um reservatrio
que atenda a secas com perodo de retorno de, por
exemplo, 10 anos estaria superdimensionado, consi-
derando que o potencial de captao mensal da edi-
cao menor que o volume requerido. No entanto,
importante considerar a distribuio das chuvas, a
m de aproximar-se, ao mximo, do timo tamanho
para o reservatrio. As mdias mensais so o produto
da diviso do total pluviomtrico medido pelo n-
mero de meses do perodo de medio. um nme-
ro que uniformiza a distribuio dos volumes pluvio-
mtricos no tempo, facilitando a sua relao com os
nmeros de clculo do consumo, que possuem uma
distribuio uniforme. No entanto, os acmulos de
volume de chuva geram a possibilidade de extrava-
samento do reservatrio por ocasio das diferenas
quantitativas entre entradas e sadas dgua nele.
Dessa maneira, clculos de balano hdrico
que considerem a distribuio das chuvas podem mi-
nimizar erros de dimensionamento do reservatrio,
fornecendo um panorama mais preciso a respeito de
seu comportamento. Os pontos de extravasamento e
seu volume, em funo do consumo e do tamanho do
reservatrio, so explicitados em anlises desse tipo.
Oliveira (2003) apresenta um mtodo para determi-
nao da disponibilidade hdrica de um reservatrio
(Figura 327), que chamado pelo autor de balano
hdrico seriado, sendo representado pela equao 3.
(equao 3)
onde:
St+1 = total de gua disponvel no reservatrio
no dia considerado, em m;
S1 = total de gua disponvel no reservatrio
no dia anterior, em m;
P = precipitao acumulada no dia considera-
do, em mm;
A= rea de captao, em m;
Q = consumo total dirio, em m; e
Ex = gua extravasada, em m.
450
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Oliveira (2003) toma um perodo demonstrati-
vo de 10 dias e aplica a equao acima sobre os da-
dos dirios de chuva de Florianpolis, resultando no
grco da Figura 327. Essa gura apresenta o balano
de um reservatrio experimental, de volume reduzi-
do, concebido para ns de pesquisa e dimensionado
para atender a uma demanda de 20 L dirios, em um
perodo seco de 26 dias, sendo a rea de captao de
12 m. Oliveira (2003) objetiva nesse estudo a deter-
minao da relao entre a rea de captao e o vo-
lume do reservatrio, sendo o consumo e o perodo
seco determinados.
hdrico do reservatrio de 5.000 L, aplicado ao estudo
experimental, sobre dados dirios das chuvas de 12
anos, na cidade de Porto Alegre. A partir dessa planilha,
desenvolvida em Microsoft Excel, um grco ilustrati-
vo do comportamento do reservatrio desenhado e
apresentado na ntegra, no mesmo apndice.
8.6.5 Especificaes dos componentes do
sistema
Alm do reservatrio, fazem-se necessrios a
especicao e o dimensionamento de outros com-
ponentes do sistema, que seguiro os padres de di-
mensionamento, sendo eles:
a) seo da calha coletora;
b) seo do condutor vertical;
c) volume do sistema de descarte de primeiro
uxo de chuva ou rst-ush diverter;
d) seo dos canos de abastecimento;
e) sistema controlador da entrada de gua da
rede para o ponto hidrulico do WC; e
f) base de apoio do reservatrio.
Seo da calha coletora
Segundo quadro de seu estudo (MANO, 2004,
p. 87), a calha para a edicao do estudo experimen-
tal ca especicada com seo circular de 14 cm de
dimetro, ou com rea da seo de, no mnimo, 80
cm, utilizando-se inclinao de 0,5% para a calha.
Seo do condutor vertical
Macintyre (1996) apresenta trs possveis pa-
Figura 327 - Variao diria do volume do reservatrio segundo
balano hdrico seriado (OLIVEIRA, 2003)
Para o estudo realizado, a rea de captao dei-
xa de ser uma varivel na anlise, servindo o balan-
o hdrico como subsdio a consideraes em torno
do volume do reservatrio em funo, principalmen-
te, de seu aspecto econmico. Portanto, uma anlise
comparativa entre os volumes de reservatrios, que
se aproximam o mximo possvel dos calculados so
apresentados, posteriormente, na anlise dos benef-
cios gerados pelo sistema. Em um apndice de sua dis-
sertao, Mano (2004) apresenta quadros que contm
partes da planilha utilizada para o clculo de balano
451
A Avaliao dos Resultados
rmetros de referncia para dimensionamento, ten-
do sido adotado no estudo aquele que corresponde
maior seo por rea de cobertura. A importncia de
que no haja perdas, para esse caso, maior do que
nos sistemas convencionais de recolhimento dgua.
Dessa forma, considerando 1 cm por metro quadra-
do de rea a esgotar, tem-se para o estudo experimen-
tal um cano de seo de 4 polegadas, ou 100 mm.
Volume do first-flush diverter
Aplicando a proporo recomendada por Ma-
comber (2001), foi obtido 0,41 L para cada metro
quadrado de telhado. Dessa forma, para esse estudo,
cou estabelecido o volume de 23,78 L, que, aplica-
do a um tubo de dimetro de 100 mm, confere um
comprimento de, aproximadamente, 3,03 m, aps a
derivao de entrada no reservatrio.
Figura 328 - Esquema das ligaes hidrulicas do sistema de captao e aproveitamento de gua da chuva
452
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Seo dos canos de abastecimento
Por abastecer somente o ponto de consumo
da caixa de descarga do vaso sanitrio, o dimetro
nominal dos canos de distribuio e abastecimento
, desde a sada do reservatrio at a conexo com a
caixa, de 20 mm, sendo este tambm o dimetro das
conexes necessrias para o percurso. Esse dimen-
sionamento baseia-se em Macintyre (1996), que ar-
ma tambm ser 0,5 m a presso de trabalho mnima
necessria ao abastecimento de caixas de descarga.
As sees dos demais canos necessrios ao funciona-
mento do sistema esto expressas no esquema apre-
sentado na Figura 328.
Sistema controlador da entrada de gua da rede,
para o ponto hidrulico do WC
O sistema se d, diferentemente do especica-
do pelos projetos originais, atravs de uma ligao
entre os reservatrios, convencional e de gua da
chuva. O uxo dgua dessa ligao controlado por
uma torneira de bia, colocada no reservatrio de
gua da chuva na mnima altura possvel, devido ao
seu funcionamento, conforme a Figura 328, de forma
a no permitir o esgotamento do reservatrio de chu-
va com gua da rede, deixando-o pronto para receber
a gua do prximo evento chuvoso. Dessa maneira,
unicam-se as tubulaes de chegada no ponto de
consumo, que vm apenas do reservatrio da chuva,
e consegue-se uma automao do sistema, que passa
a no depender mais de operao do usurio.
De outra forma, no caso de um eventual descui-
do ou esquecimento por parte do usurio em fechar o
registro controlador, por exemplo, na volta do abaste-
cimento por chuva, o ponto simplesmente continuaria
a ser abastecido pela rede, visto que a presso da rede
maior que a do sistema de chuva, fazendo com que a
gua da chuva que contida pela vlvula de reteno,
que funciona como barreira passagem de gua da
rede ao reservatrio de gua da chuva.
Base de apoio do reservatrio
A funo principal desse apoio para o reservat-
rio elev-lo at 50 cm acima do ponto de entrada na
caixa de descarga acoplada bacia sanitria, de forma
a garantir a presso suciente ao perfeito funciona-
mento, segundo recomendado por Macintyre (1996),
mas proporcionando tambm uma altura abaixo da
calha, de maneira a dispensar o bombeamento.
Desse modo, proposto um reservatrio com
uma altura de 1,20 m em relao ao piso da residn-
cia. Como apoio, o autor sugere uma camada de solo-
cimento compactado, na proporo de 1 para 20, de
cimento Portland CP IV 32, e solo peneirado do local,
com 20 cm de espessura. Sobre essa fundao seriam
erguidas duas alvenarias perpendiculares, de tijolo
macio rstico, com acabamento vista, conforme
ilustrado na Figura 329.
8.6.6 Anlise dos benefcios
A captao de gua da chuva pode gerar be-
nefcios de diversas ordens, em diferentes nalida-
des. No meio urbano, devem ser citados aqueles
concernentes minimizao dos problemas causa-
dos pela impermeabilizao e poluio das cidades.
Matria muito estudada na engenharia de recursos
hdricos, a drenagem urbana trabalha com as chu-
453
A Avaliao dos Resultados
Figura 329 - Esquema bsico ilustrativo da base de apoio do reservatrio de gua da chuva
454
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
vas, de maneira a determinar o mais precisamente
possvel suas variaes, a m de fornecer subsdios
para a elaborao e otimizao dos projetos de dre-
nagem urbana.
Nesse sentido, bacias de reteno, que so
grandes reservatrios de gua da chuva, muitas
vezes so diagnosticadas pelos especialistas e pro-
jetistas como uma das solues s inundaes ur-
banas. No entanto, essa soluo normalmente
apresentada como exclusiva para esse problema,
no considerando as mltiplas possibilidades, pr-
prias de solues sustentveis, como, por exemplo,
a utilizao do volume retido para abastecimento.
Da mesma forma, a bibliograa referente
utilizao da gua da chuva, comumente, no apre-
senta consideraes mais aprofundadas a respeito
dos benefcios que a captao da gua da chuva
pode gerar para a escala urbana, limitando-se os es-
tudos e anlises escala do indivduo, usurio da
edicao. Para tanto, os estudos so direcionados,
por exemplo, anlise de dias e quantidade de
chuva para os perodos de seca, a m de se desen-
volverem com maior preciso os clculos de di-
mensionamento do reservatrio, que recebe aten-
o tambm na denio de materiais e sistemas
construtivos mais seguros e econmicos. Formas
para limpar e tratar a gua tambm so averiguadas,
chegando a ser desenvolvidos componentes indus-
triais para o desempenho de tais tarefas. Materiais
componentes de telhados, calhas, tubos conduto-
res e bombeamentos tambm compem a lista dos
aspectos enfocados pelos estudos em torno da uti-
lizao humana da gua da chuva.
Para diferentes pases, tm-se diferentes benef-
cios com relao captao de gua da chuva, por ra-
zes diversas, que podem incluir desde a existncia ou
no de outra fonte do recurso, at a expressividade da
tarifa, ou a qualidade da gua fornecida pela rede. Para
o cenrio local de Porto Alegre, onde a gua potvel
est disponvel a quase toda a populao, sendo dis-
tribuda pela rede pblica at a residncia das pessoas
e a uma tarifa acessvel, os benefcios da instalao e
utilizao da gua da chuva so menos diretamente
percebidos. Para se aproximar, ento, de uma avaliao
mais ampla dos benefcios associados utilizao da
gua da chuva, Mano (2004) os classica em:
a) diretos: aqueles percebidos diretamente pe-
los usurios da edicao que tem o sistema
instalado; e
b) indiretos: aqueles percebidos na escala ur-
bana, contando-se com uma hiptese de larga
disseminao do sistema na cidade.
As consideraes sobre os benefcios diretos
so referenciadas edicao do estudo experimen-
tal, a m de simplicar o entendimento dos diferentes
aspectos que inuenciam em sua avaliao, sobretudo
para ns de dimensionamento e ecincia. Os indire-
tos so apresentados de forma mais genrica, sendo
relacionados escala urbana, considerando sua inu-
ncia tanto nas entradas quanto nas sadas de gua no
meio urbano, podendo gerar benefcios.
Benefcios diretos
O aspecto econmico o benefcio mais facil-
mente percebido pelo usurio/proprietrio. Outros
455
A Avaliao dos Resultados
possveis benefcios tambm podem ser citados, como
o ambiental, que tem uma abrangncia muito maior do
que os limites da propriedade do indivduo, mas que
depende ainda, para a percepo de seu valor, de fa-
tores mais subjetivos relativos ao grau de informao
do usurio e importncia que ele releva questo
ambiental. Esse estudo, sob o ponto de vista do usurio,
realiza apenas a anlise dos aspectos econmicos asso-
ciados implantao de um sistema de captao e utili-
zao de gua da chuva em uma residncia unifamiliar.
rea de captao e populao do edifcio
A primeira verificao a ser realizada a ca-
pacidade total de captao pela edificao. Para o
estudo experimental, esse nmero resultou em um
volume de 5.238,2 L por ms, o que corresponde
a aproximadamente 67,2% do consumo da bacia
sanitria para o perodo. A relao entre a rea de
captao do prottipo e a populao da edifica-
o, conforme critrios da Prefeitura Municipal
de Porto Alegre (1992), de 14,54 m por pessoa.
Assim, para se ter uma cobertura de aproximada-
mente 67,2% do consumo de vasos sanitrios,
necessrio que se tenham 14,54 m por pessoa
habitante do edifcio. A Figura 330 demonstra as
relaes entre rea de cobertura, populao e per-
centual de cobertura para os condicionantes do
estudo experimental.
Figura 330 - Grfico demonstrativo da relao entre rea de captao e a populao consumidora da edificao, considerando os percentuais
de cobertura da demanda
456
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Quanto maior for o percentual de cobertura,
tanto mais prximo do mximo benefcio estar o
edifcio, pois mais apto a cobrir a totalidade da de-
manda ele estar. Os outros percentuais servem a
uma comprovao da necessidade de ligao rede
externa e tambm a uma referncia de pr-dimen-
sionamento e viabilidade. No estudo experimental,
por exemplo, ao atingir o abastecimento por gua
da chuva de 67,2% do consumo da descarga do vaso
sanitrio, garante-se uma ecincia de 100% do siste-
ma, pois esse o potencial mximo do edifcio.
Especificao dos componentes
Para sistemas que constituem a nica fonte de
gua da edicao, torna-se imperativo o mximo
atendimento possvel da demanda, a m de evitar falta
no abastecimento. No exemplo das cisternas do serto
nordestino brasileiro, estas normalmente contam com
grandes volumes de reserva, sendo comuns nmeros
entre 15 m e 30 m. Esses grandes volumes ocorrem,
principalmente, porque a cisterna costuma ser o ni-
co recurso de gua da edicao, mas tambm por
causa das caractersticas das chuvas na regio, muito
sazonais. O benefcio mais facilmente percebido, nesse
caso, deixa de ser o econmico e passa a ser a prpria
gua, disponibilizada atravs do sistema. Nesse senti-
do, o dimensionamento do reservatrio ca menos
inuenciado pelo aspecto econmico, concentrando-
se em garantir o mximo possvel de abastecimento.
A ateno ao aspecto econmico se verica, princi-
palmente, nos materiais e tecnologias aplicados, que
costumam ser locais e de fcil assimilao cultural, de
forma a facilitar a autoconstruo, eliminando custos
de mo-de-obra e viabilizando o sistema.
Do outro lado, tm-se os sistemas de chuva
que atuam complementarmente ao abastecimento
da rede urbana, ou de outras fontes, como, por exem-
plo, os poos de captao de guas subterrneas, que
so comuns em zonas no urbanas. Nesses casos, o
dimensionamento do reservatrio tende a prestar
mais ateno ao aspecto econmico, que toma maior
importncia nas decises de proprietrios, usurios
e/ou empreendedores.
O benefcio econmico caracterizado aqui
pela relao entre o custo de implantao do siste-
ma e a economia pela no-necessidade de pagamen-
to da gua gerada por ele. Nesse estudo, partiu-se da
premissa de que a utilizao da gua da chuva para
67,2% da demanda do vaso sanitrio, ao diminuir o
consumo de gua potvel da rede, que tarifada pela
distribuidora, gera economia em recurso nanceiro
para o usurio da edicao, existindo, dessa forma,
uma amortizao do investimento de implantao.
Existem ainda os custos com a manuteno
do sistema, que, no entanto, no so abordados nesta
pesquisa por fora da incipincia de dados a respeito
e pela provvel pouca representatividade deles, ex-
ceo do servio de limpeza, principalmente da calha
e do reservatrio. Alm disso, considera-se que esse
servio seja realizado pelo prprio usurio, dispen-
sando gastos com mo-de-obra, uma vez que no so
necessrios produtos ou ferramentas especcos.
Nesse sentido, realizado um levantamento
dos referidos custos de implantao do sistema, con-
siderando material e mo-de-obra, sendo os materiais
orados segundo valores fornecidos por estabeleci-
mentos comerciais de Porto Alegre, e a mo-de-obra,
457
A Avaliao dos Resultados
segundo prossionais liberais da cidade, ambos apre-
sentados em anexos da dissertao de Mano (2004).
Subdivide-se o sistema em grupos de oramento,
com dimensionamento conforme especicado ante-
riormente, sendo eles:
a) reservatrio;
b) calha com tela;
c) encanamentos e conexes; e
d) base de apoio do reservatrio.
a) Reservatrio
So tomados como referncia os trs volumes,
para perodos de estiagem de 11, 19 e 24 dias, confor-
me apresentado anteriormente, e relacionados com
reservatrios pr-fabricados, em volumes o mais pr-
ximo possvel dos mesmos, conforme o inventrio
de componentes do sistema, sendo os dados resul-
tantes apresentados no Quadro 84.
A dependncia do percentual de cobertura da
demanda pelo tamanho do reservatrio ocorre em dis-
tribuio temporal, o que signica que todos os reser-
vatrios acima podem suprir a totalidade da demanda
por determinado perodo, o qual varia sensivelmente
em durao e freqncia, conforme a capacidade. Por
exemplo, considerando a utilizao de um reservat-
rio com 5.000 L, ocorrer uma utilizao excedente
de gua da rede com uma freqncia provvel de cin-
co anos. Ou seja, durante o perodo de cinco anos,
compreendido entre os eventos de dias consecutivos
sem chuva com durao de 19 dias, o reservatrio
suprir 100% da capacidade de captao do telhado
para o consumo da edicao, que, no caso do es-
tudo, corresponde, conforme j apresentado, a apro-
ximadamente 67,2% do total consumido pelos vasos
sanitrios. No entanto, ainda podem ocorrer, dentro
desses cinco anos, perodos sem chuva, com perodos
de retorno maiores de cinco anos.
Quadro 84 - Comparativo das possibilidades para reservatrios da edificao do estudo experimental
56
Volumes resultantes da ligao de 3, 5 e 6 reservatrios de 1.000 litros. Esquema das ligaes conforme a Figura 332.
A Avaliao dos Resultados
458
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Alm disso, os perodos sem chuva menores
que 19 dias tambm podem esvaziar o reservatrio,
dependendo do volume dgua disponvel nele, no
incio de tais perodos sem chuva. Nesse sentido,
uma avaliao do comportamento do reservatrio,
conforme apresentado anteriormente, muito im-
portante, uma vez que denuncia os pontos de fragili-
dade do sistema, tanto em perodos de seca, como de
excesso de chuva, quando ocorrem extravasamentos,
desperdiando gua.
Um estudo sobre o balano hdrico de reserva-
trios para a edicao do estudo foi realizado para
os volumes de 2.000, 2.500, 2.900, 3.000, 4.900, 5.000,
6.200, 7.000 e 10.000 L. A partir da, foram calculadas
mdias mensais de abastecimento pela rede e pela
chuva. Esses volumes correspondem aos tamanhos
dos reservatrios sugeridos pelo inventrio de com-
ponentes do sistema, que mais se aproximam dos vo-
lumes de clculo, apresentados anteriormente. O re-
ferido estudo desenvolvido sobre uma planilha que
relaciona dados pluviomtricos dirios de 12 anos,
rea de captao, volume do reservatrio e consumo
dirio para a caixa de descarga do vaso sanitrio. Seu
resultado ilustrado por um grco, constante no
apndice A de Mano (2004), que o apresenta apenas
para o volume de 5.000 L. As mdias aritmticas do
consumo, da rede e da chuva, so consideradas so-
bre todo o perodo medido, bem como os volumes
extravasados, para os reservatrios, com diferenas
volumtricas mais relevantes, entre os citados acima,
sendo apresentados, no Quadro 85, apenas alguns
mais signicativos.
O volume do reservatrio efetivamente pode
ser qualquer um dos apresentados acima e mesmo
outros. A diferena na especicao de um ou ou-
tro volume, nesse caso, ca por conta do benefcio
gerado, que percebido diferentemente por cada
usurio, conforme seu juzo de valor em torno, prin-
cipalmente, dos aspectos ambiental e econmico. Os
volumes apresentados acima representam algumas
possibilidades provveis para o timo dimensiona-
mento do reservatrio e servem como subsdio para
consideraes em torno dos benefcios da aplicao
do sistema, realizadas a seguir.
b) Calha com tela
Alguns elementos, como a loua sanitria e a
caixa de descarga acoplada, no so considerados in-
tegrantes do sistema de aproveitamento da gua da
chuva, no sendo, por isso, computados nos clculos
de custo do sistema, ao contrrio de outros, clara-
mente exclusivos do sistema, como, por exemplo, o
reservatrio para gua da chuva. Com respeito ca-
lha e tela, essa classicao se torna no to evidente,
pois sua aplicao acontece tambm em edicaes
sem o sistema de aproveitamento de gua da chuva.
Dessa maneira, a calha pode, ou no, ser consi-
derada como elemento componente do sistema para
os clculos de custo, bem como a tela de proteo,
apesar de esta ltima ser menos comum em calhas
que descartam a gua captada.
Foi estabelecido no estudo que tanto a calha
como a tela constituem componentes do sistema, por
isso includas no clculo de custo do sistema. A ca-
459
A Avaliao dos Resultados
Quadro 85 - Mdias mensais da distribuio do consumo de gua no vaso sanitrio e mdias de extravasamento, para diferentes volumes de
reservao
lha, com a tela, orada conforme dimensionamento
apresentado anteriormente e tem seus fornecedores
e preos disponveis no anexo B da dissertao de
Mano (2004).
c) Encanamentos e conexes
As tubulaes obedecem aos percursos descri-
tos no estereograma da Figura 331, genrica a todos
os reservatrios, exceo dos de brocimento.
Os reservatrios de brocimento compem
seus volumes, de 2.000, 3.000, 5.000 e 6.000 L, atra-
vs da combinao aditiva de reservatrios de 1.000
L, que o de maior volume disponvel no mercado.
As ligaes ocorrem por meio de tubulaes de PVC,
de dimetro de 40 mm, xadas e vedadas com adap-
tadores com ange, na mesma bitola. O esquema da
Figura 332 ilustra uma ligao entre os reservatrios
de brocimento.
O PVC, apesar de no ser recomendvel sob
o ponto de vista ambiental, ainda constitui, segundo
Mano (2004), o material economicamente mais ba-
rato, sendo assim tomado como referncia em sua
pesquisa para todas as tubulaes do sistema de uti-
lizao de gua da chuva.
460
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
Figura 331 - Estereograma ilustrativo dos percursos dos encanamentos do sistema de captao e aproveitamento de gua da chuva para o
prottipo Casa Alvorada
461
A Avaliao dos Resultados
Figura 332 - Esquema das instalaes hidrulicas, para um conjunto de dois reservatrios de 1.000 litros, em fibrocimento
462
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
As alteraes que as diferentes dimenses dos
reservatrios geram nas tubulaes so desprezadas
pelo estudo, pois no afetam conexes, as quais tm
maior expressividade em termos de custo, cando
assim reduzidas ao comprimento de alguns canos.
Por sua vez, os canos esto disponveis, nos estabe-
lecimentos comerciais, em tamanho mnimo de 1 m,
fazendo com que as quebras geradas absorvam as di-
ferenas de comprimento ocasionadas pelos diferen-
tes tamanhos dos reservatrios.
d) Base de apoio do reservatrio
As variaes na base de apoio em funo das
dimenses do reservatrio acontecem no plano ho-
rizontal. As alteraes no plano vertical, que dizem
respeito s alturas, cam por conta apenas dos reser-
vatrios acima de 2.500 L, que tm alturas que vo de
1,75 m at aproximadamente 2,00 m, havendo uma
diminuio na presso, de 0,50 m de coluna dgua,
entre o reservatrio e a entrada da caixa de descarga.
Os reservatrios de mais de 5.000 L, considerando a
possibilidade de sua efetiva aplicao no prottipo
Casa Alvorada, devem car apoiados em alturas com-
patveis com a entrada da gua, proveniente da calha,
e conseqentemente receber auxlio de bombea-
mento para o abastecimento da caixa de descarga.
Para esta pesquisa, calcularam-se os custos de
implantao desses reservatrios sem considerar tal
limitao. Os resultados desses clculos, especcos
aos reservatrios de 7.000 e 10.000 L, so apresenta-
dos a m de auxiliar na comparao com outros vo-
lumes, principalmente em torno do comportamento
dos reservatrios, em funo da distribuio das chu-
vas, e suas relaes de aproveitamento e custo, bem
como para subsdio de consideraes a respeito dos
benefcios drenagem urbana.
Para os demais reservatrios, conforme coloca-
do anteriormente, os clculos afetam a base em suas
dimenses horizontais, segundo composies de or-
amento apresentado no apndice B de Mano (2004).
As chapas de madeira so necessrias para
apoio dos reservatrios plsticos e de bra de vidro,
sendo, por causa de suas dimenses, necessria uma
adaptao atravs de encaixe especial de corte, con-
forme apresentado na Figura 332, sendo considerada
adequada a todos os reservatrios.
Os traos de argamassa de assentamento das
alvenarias, bem como do solo-cimento, so conside-
rados os mesmos para todos os reservatrios, inde-
pendentemente do material ou volume dele.
Mano (2004), em sua pesquisa, realiza apenas
uma estimativa de dimensionamento e especicao
dos elementos estruturais da base de apoio, reco-
mendando, para obter valores mais adequados a cada
situao, a realizao de clculos estruturais e a veri-
cao das especicaes aqui apresentadas.
Custo e economia gerada
A partir dos resultados dos oramentos des-
critos nos itens anteriores, de Mano (2004), o autor
realizou uma tabulao dos custos relacionados
implantao do sistema, para os diferentes reserva-
trios, considerando as variaes que eles geram
no restante das instalaes. O Quadro 86 apresenta
esses dados e os relaciona com o tempo mdio de
463
A Avaliao dos Resultados
retorno do investimento, calculado pela diminuio
dos valores gastos na conta de gua.
Para tanto, so calculados os volumes mensais
de gua da chuva consumidos e multiplicados pelo
preo da gua ao consumidor fornecido pelo DMAE
(2003), estabelecido de acordo com trs faixas de
consumo, conforme frmulas de clculo a seguir:
a) 1 faixa - consumos at 20 m: [PB x (C/E)];
b) 2 faixa - consumos entre 20 e 1.000 m: PB
[0,2711 X (C/E)
1,43577
]; e
c) 3 faixa - consumos maiores que 1.000 m:
{PB X [(C/E) X 5,5]}.
onde:
PB = preo bsico (R$/1 m);
C = consumo (m); e
E = (nmero de economias).
O preo bsico, tambm segundo o DMAE
(2003), de R$ 1,3917/m para consumidores resi-
denciais, R$ 1,5748/m para comrcio e indstria, e
R$ 2,7834/m para rgos pblicos. Existe ainda a
chamada tarifa social para os servios de gua e esgo-
to, para pequenos consumidores com volumes con-
sumidos de at 10 m, que de R$ 5,5668 mensais
para gua, e de R$ 4,4534, para esgoto.
O tempo de retorno no considera o custo -
nanceiro do valor aplicado, ou seja, despreza projees
de juros nos tempos calculados, constantes na ltima
coluna do Quadro 86, de retorno do investimento.
No objeto desse estudo uma apurao real
do retorno nanceiro gerado pela aplicao do sis-
tema, mas sim uma aproximao, com o objetivo de
ilustrar o potencial do sistema e subsidiar coment-
rios a respeito das possibilidades e benefcios gera-
dos por sua implantao.
Benefcios indiretos
Alm dos benefcios apresentados pelo item
anterior, concernentes ao consumo de gua na edi-
cao, existem outros que se referem escala urbana.
Sob o ponto de vista da drenagem urbana, a reser-
vao residencial de gua da chuva, ou a pequena
reservao, consiste em uma medida estrutural para
mitigao de problemas de inundao que trabalha
com a minimizao do pico das cheias, diminuindo
os efeitos da urbanizao no hidrograma da bacia na-
tural. Nesse caso, a reservao feita durante os pe-
rodos de maior intensidade pluviomtrica e se des-
carta posteriormente a gua reservada, distribuindo
o volume de escoamento supercial por um perodo
maior. So Paulo (1979) coloca que, dependendo do
perodo envolvido, o armazenamento pode ser de
deteno ou de reteno do devio direto. A deten-
o caracterizada por um armazenamento que se
estende por um perodo um pouco maior do que o
tempo do prprio devio direto, ao passo que na
reteno esse perodo consideravelmente maior,
gerando invariavelmente maiores volumes de reser-
vao, o que contribui para que o primeiro tipo seja
mais comumente utilizado para a drenagem urbana.
Em uma primeira anlise, o simples descarte
da gua, no entanto, pode parecer desperdcio, vis-
to seu grande potencial de utilizao. Porm, sob o
ponto de vista da drenagem urbana, necessrio que
464
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
o reservatrio esteja sempre vazio, ou tenha capa-
cidade plena para reservar ou deter a gua, estando
permanentemente habilitado para o prximo evento
chuvoso. Quando a inteno que no falte gua no
Quadro 86 - Totalizao do custo do sistema considerando diferentes possibilidades de reservatrios e amortizao dele pela economia em
conta dgua gerada
reservatrio para o abastecimento do usurio, o risco
de extravasamento durante as chuvas torna-se maior,
pois normalmente dimensionado para atender ape-
nas demanda de consumo de gua, inabilitando-o
465
A Avaliao dos Resultados
para a funo auxiliar no controle de inundaes
urbanas. Ou seja, enquanto para o usurio a preo-
cupao o perodo sem chuva, para o urbano,
exatamente o contrrio, atentando para os picos das
chuvas. Dessa forma, os clculos de dimensionamen-
to do reservatrio de ambos, como so realizados na
maioria dos casos, buscam metas quase opostas.
Porm, possvel realizar o dimensionamento
do reservatrio a m de torn-lo apto a atender a am-
bas as funes, de reservao, para uso residencial, e
de reteno dos picos de chuva, contribuindo para a
mitigao das inundaes urbanas. Um grco de an-
lise do comportamento do reservatrio, por exemplo,
de Mano (2004), que demonstre todos os pontos de
extravasamento do reservatrio, em um perodo de-
terminado, pode fornecer os subsdios necessrios ao
clculo do volume nal de um reservatrio que atenda
ao urbano e ao individual simultaneamente. No caso
da edicao do estudo experimental, o reservatrio
de 10.000 L apresenta um volume e uma freqncia
de extravasamento bastante pequenos, retendo quase
o total da gua captada pelo telhado no perodo, reti-
rando essa gua do sistema de drenagem urbana.
Maneiras de promover uma aproximao des-
sas duas potencialidades, do sistema de captao e
aproveitamento de gua da chuva, tm sido experi-
mentadas em alguns locais. Segundo Tomaz (2001),
na cidade alem de Hamburgo, por exemplo, a utili-
zao de gua da chuva em bacias sanitrias incen-
tivada, tambm em funo do seu benefcio para a
diminuio do pico das vazes de enchentes. A pre-
feitura da cidade oferece uma ajuda nanceira de U$
1.500,00 a U$ 2.000,00 queles que instalarem um
sistema de aproveitamento da gua da chuva.
Incentivos como esse se baseiam em uma l-
gica de economia para ambos os lados. Enquanto o
usurio ganha com a diminuio dos custos de im-
plantao do sistema, a municipalidade se benecia
com a minimizao dos investimentos em drenagem
urbana. Resumidamente, tem-se, de um lado, o proble-
ma urbano com relao drenagem, que recomenda
e, em alguns casos, exige a construo de reservat-
rios de deteno das guas das chuvas, e de outro, o
custo, ao usurio, apresentado pelos sistemas ecien-
tes de aproveitamento dessa gua.
Imaginando-se ento, para ns de uma estima-
tiva preliminar, um percentual de terreno ocupado
pela edicao de 66,6%, o acrscimo de vazo no
sistema de drenagem urbano, em funo dos telha-
dos, seria maior que a simulada por Tassi (2002). A
conseqncia dimensional desse acrscimo nas re-
des de micro e macrodrenagem e, principalmente,
sua traduo econmica tambm so apontadas por
Tassi (2002), que arma ser possvel reduzir o custo
de implantao das redes de drenagem na bacia. A
economia percentual com relao exclusivamente
implantao das redes de drenagem, segundo a auto-
ra, pode chegar a 33%, considerando-se a meta de ob-
teno de uma vazo de sada do lote igual de pr-
urbanizao, e a 14%, considerando-a com um valor
cinco vezes maior ao da vazo do terreno virgem.
Contudo, a autora completa armando que,
embora seja possvel economizar com a implantao
das redes de drenagem, o custo global das obras na
bacia (redes de drenagem mais microrreservatrios)
ca em geral maior, chegando a 21% de elevao,
dependendo das caractersticas dos microrreserva-
466
Coleo Habitare - Habitaes de Baixo Custo Mais Sustentveis: a Casa Alvorada e o Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentveis
trios utilizados, se comparado aos custos de cons-
truo de uma rede de drenagem dimensionada para
as vazes geradas na bacia urbanizada sem controle.
Porm, importante observar que a autora realiza
um levantamento de custo do sistema de deteno
considerando reservatrios de concreto armado e de
alvenaria com fundo e tampa em concreto armado.
Essas tecnologias no apresentam bom desempenho
em custo, se comparadas a reservatrios em outros
materiais, como bra de vidro e brocimento, confor-
me visto anteriormente. Alm disso, a prpria autora
adverte que, como estruturas de controle no so co-
mumente exigidas na bacia, os processos decorren-
tes da urbanizao devero ser seguidos de obras de
ampliao das redes de drenagem.
Outro aspecto importante econmico o tem-
po. Como a urbanizao da bacia no acontece de
forma pontual, os custos de implantao de microrre-
servatrios cariam tambm distribudos conforme
a necessidade, ao contrrio das obras de drenagem. E
existem ainda casos em que no possvel ou ento
muito onerosa uma construo ou ampliao de
redes de drenagem, quando, por exemplo, no existe
espao fsico disponvel para tal, ou h interferncia
com outras redes de infra-estrutura, como eletricida-
de, telefonia, esgoto cloacal, etc.
Imaginando-se uma economia percentual, con-
forme sugerida por Tassi (2002), de 33%, apenas nos
investimentos em novas obras, que se referem princi-
palmente ao crescimento e ao adensamento da cida-
de, que aumenta a rea impermevel e o nvel de im-
permeabilidade, o total de recursos economizados em
Porto Alegre no ano de 2002 seria de U$ 553.673,00.
Especulando-se a possibilidade do estabelecimento de
um auxlio advindo da municipalidade de U$ 600,00,
por exemplo, para a implantao de um sistema com
volume suciente para garantir ambos os benefcios,
922 mil lotes poderiam receber o incentivo.
Aplicando-se a possibilidade de benefcio para
a edicao do estudo experimental, na qual o volu-
me de 10.000 L provavelmente conra um bom de-
sempenho para a funo de reteno dos picos de
vazo, e se aproxima muito de 100% de desempenho
para atender demanda de gua na caixa de descar-
ga, tem-se que:
a) o custo do sistema seria de U$ 803,20, consi-
derando um reservatrio de bra de vidro;
b) o investimento do usurio seria de U$
203,20; e
c) em 6 anos e 9 meses, no considerando cus-
tos nanceiros, o usurio teria o retorno do in-
vestimento aps esse prazo, continuaria a ob-
ter ganhos com a economia em gua gerada.
8.6.7 Consideraes finais
Mesmo considerando a magnitude do consu-
mo de gua no vaso sanitrio no consumo total de
uma residncia, a economia mdia mensal com gua
caria entre R$ 6,30 e R$ 7,27, reduzindo-se 67,1%
do consumo no vaso sanitrio, ou 21,5% do consumo
total da edicao. Isso permite concluir que, mesmo
aumentando a rea de captao, conseguindo uma
economia de 32%, correspondente ao total para o
vaso sanitrio, o tempo de retorno do investimento
ainda no chegaria a patamares atraentes ao usurio
467
A Avaliao dos Resultados
urbano mdio. Alm disso, na hiptese, por exemplo,
de se estender a aplicao da gua da chuva a ou-
tros pontos como a torneira de jardim e o tanque,
o que corresponderia a aproximadamente 50% do
consumo total do edifcio, a economia mensal caria
em torno dos R$ 15,00, proporcionando um retor-
no estimado no inferior a seis anos e meio, para a
edicao do estudo experimental. Ou seja, ape-
sar de serem importantes aqueles dados relativos
proporo entre rea de captao e populao, ao
consumo ou nmeros de pontos atendidos, e at
mesmo ao dimensionamento do reservatrio, o be-
nefcio econmico do sistema, sob o ponto de vista
do usurio, possivelmente continuar sendo minimi-
zado, ou mesmo eliminado, pelo baixo custo da gua
em Porto Alegre.
Paralelamente se observa o problema das inun-
daes urbanas, onde os reservatrios de deteno
so uma das solues bastante utilizadas para a miti-
gao delas. No entanto, tais reservatrios tm sido
estudados, desenvolvidos e executados a partir do
ponto de vista exclusivo da drenagem urbana, que,
na bibliograa examinada, no considera mais pro-
fundamente a possibilidade de reservao da gua
detida, para utilizao posterior. A pesquisa identi-
cou, nesse sentido, um grande potencial do sistema
de captao e utilizao de gua da chuva como au-
xiliar na drenagem urbana.
Dados demonstram os signicativos gastos
pblicos com o sistema de drenagem na cidade de
Porto Alegre, o que levanta a possibilidade de eco-
nomia para os cofres pblicos, mediante o incentivo
construo de sistemas para captao e utilizao
de gua da chuva. Para novas obras de infra-estrutura,
na maioria decorrentes do avano da urbanizao e
do aumento das reas impermeveis, poder-se-ia con-
seguir uma reduo signicativa dos investimentos,
atravs da implantao de sistemas de captao e uti-
lizao de gua da chuva de forma abrangente.
A economia resultante da reduo de novas
obras, tomando por base o ano de 2002 e calculada
a partir de dados de Tassi (2002), refora fortemente
o potencial da implantao de um incentivo pbli-
co construo de sistemas de utilizao da gua
da chuva. Esse incentivo pode gerar economia para
a municipalidade e, ao mesmo tempo, maximizar o
benefcio direto, diminuindo sensivelmente o tempo
de retorno do investimento do usurio, por sua vez
signicativamente menor. Um levantamento mais
apurado, nesse sentido, em torno da possvel econo-
mia gerada aos cofres do municpio, poderia deter-
minar um valor preciso para o incentivo ou bnus,
em funo, por exemplo, do percentual de reteno
de chuva que o sistema confere, possibilitando uma
soluo simples e plural.
Essa abordagem, alm de ser potencialmente
mais passvel de sucesso, pois confere ganhos para
os mbitos pblico e privado, aproxima-se mais da -
losoa sustentvel, considerando mltiplas solues
e gerando possibilidades educacionais e sociais, e o
que mais puder ser imaginado de uma hiptese ge-
nrica de aplicao de sistemas de captao e utiliza-
o de gua da chuva no meio urbano.
Você também pode gostar
- Panorama Bíblico 2022Documento100 páginasPanorama Bíblico 2022Francisco Antonio Soares94% (71)
- Questões - Psicologia: Uma (Nova) Introdução - FIGUEIREDO, L.C.M.Documento7 páginasQuestões - Psicologia: Uma (Nova) Introdução - FIGUEIREDO, L.C.M.Raíssa Gabriella100% (6)
- Roteiro Do Momento MarianoDocumento2 páginasRoteiro Do Momento MarianoHelizangela Goes100% (3)
- Odus e ExplicaçõesDocumento7 páginasOdus e ExplicaçõesMicilda Machado100% (3)
- Traduc3a7c3a3o Permaculture A Designers ManualDocumento13 páginasTraduc3a7c3a3o Permaculture A Designers ManualCentro de MidiaAinda não há avaliações
- Renascimento e Maneirismo - Idade ModernaDocumento3 páginasRenascimento e Maneirismo - Idade ModernaEmilly BrígidaAinda não há avaliações
- Roteiro de Conteúdo Ergonomia ST 2015-22-07 Unidade IIDocumento5 páginasRoteiro de Conteúdo Ergonomia ST 2015-22-07 Unidade IIRoger ValentimAinda não há avaliações
- Textos Apoio Roscagem Moldes Projeto DelfimDocumento6 páginasTextos Apoio Roscagem Moldes Projeto DelfimRui HenriquesAinda não há avaliações
- Sistema de Refrigeração de Um ShoppingDocumento46 páginasSistema de Refrigeração de Um ShoppingDaniel GuimarãesAinda não há avaliações
- Por PDFDocumento62 páginasPor PDFroigerAinda não há avaliações
- Espiritualismo - Projecao Texto 02 Pratica de Projecao PsiquicaDocumento5 páginasEspiritualismo - Projecao Texto 02 Pratica de Projecao PsiquicaGiovani Gigio100% (1)
- Currículo - João Gabriel Ferreira Da SilvaDocumento2 páginasCurrículo - João Gabriel Ferreira Da SilvaJoão Gabriel FerreiraAinda não há avaliações
- Pae - Alegrete - 2023 - Plano de Emergencia InpevDocumento14 páginasPae - Alegrete - 2023 - Plano de Emergencia InpevDaniele Cristina Dos santosAinda não há avaliações
- 102355-Texto Completo-178738-2-10-20220525Documento6 páginas102355-Texto Completo-178738-2-10-20220525Amely Degraf TerraAinda não há avaliações
- DOE - Paracambi.Ed1050 08.07.2023Documento1 páginaDOE - Paracambi.Ed1050 08.07.2023tavernadeferro.rpgAinda não há avaliações
- Escala de Avaliação Da FadigaDocumento16 páginasEscala de Avaliação Da FadigaBárbara NazaréAinda não há avaliações
- Apostila de Alongamento de Gel MoldadoDocumento29 páginasApostila de Alongamento de Gel Moldadoyakamimsubliminalebiokinesis100% (1)
- Como Fazer o Permesso Di Soggiorno - Ilustrado - Minha SagaDocumento7 páginasComo Fazer o Permesso Di Soggiorno - Ilustrado - Minha SagaJunior Orazio TAinda não há avaliações
- Atividade EnzimáticaDocumento12 páginasAtividade EnzimáticaPauloAinda não há avaliações
- Aplicacao Dos Oleos Essenciais Na Saude EsteticaDocumento35 páginasAplicacao Dos Oleos Essenciais Na Saude EsteticaMariana Barbieri100% (1)
- Maquinas Termicas PDFDocumento21 páginasMaquinas Termicas PDFGomes MulattaAinda não há avaliações
- Breve Antologia de Poesia VisualDocumento24 páginasBreve Antologia de Poesia VisualRubens da CunhaAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2022-06-23 À(s) 16.47.10Documento104 páginasCaptura de Tela 2022-06-23 À(s) 16.47.10Afonso FilhoAinda não há avaliações
- Ebook HambúrguerDocumento17 páginasEbook Hambúrguerrafael marchesiAinda não há avaliações
- Projeto 12 Trabalhos de HércolesDocumento16 páginasProjeto 12 Trabalhos de HércolesLafania MendesAinda não há avaliações
- Norma Tecnica NTIP 4 PDFDocumento12 páginasNorma Tecnica NTIP 4 PDFHesddras GomesAinda não há avaliações
- 01-Exercícios de Refração-ATUALIZADO!!!Documento4 páginas01-Exercícios de Refração-ATUALIZADO!!!gustavo.moraes5Ainda não há avaliações
- Gravitação EFOMM (Resolvida)Documento2 páginasGravitação EFOMM (Resolvida)Marco TulioAinda não há avaliações
- Apostila Curso Extensão de CiliosDocumento26 páginasApostila Curso Extensão de Cilioshenrikpatrick31Ainda não há avaliações
- Tecnicas de Ensino e Dinamica de GrupoDocumento6 páginasTecnicas de Ensino e Dinamica de GrupoChasity ParkerAinda não há avaliações