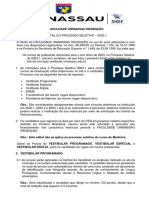Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
Enviado por
Jodi WorkmanTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
Enviado por
Jodi WorkmanDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
A QUESTO ORTOGRFICA
NA GRAMTICA DA LINGUAGEM PORTUGUESA (1536),
DE FERNO DE OLIVEIRA1
Maurcio Silva (USP e UNINOVE)
maurisil@gmail.com
RESUMO
O presente artigo tem o propsito de analisar a constituio da ortografia portuguesa a partir das observaes feitas por Ferno de Oliveira em sua Gramtica da
Linguagem Portuguesa (1536), destacando os procedimentos grficos e fonolgicos
propostos pelo autor, com a finalidade de estabelecer uma norma grfica para a lngua portuguesa.
Palavras-chave: Lngua Portuguesa. Ortografia. Ferno de Oliveira. Gramaticografia.
A histria do estudo da linguagem humana, no mundo ocidental,
coincide, em muitos sentidos, com a histria da elaborao das gramticas dos idiomas que constituem nossa tradio lingustica. Assim, da
Grcia antiga aos dias atuais, possvel perceber uma relativa simetria
entre o desenvolvimento de um cabedal cada vez mais amplo de especulaes lingusticas e a formalizao de um conjunto de regras prescritivas
o que foi, com efeito, a gramtica antiga , o qual, de certo modo, espelhava esse desenvolvimento, fazendo com que a produo de gramticas
das lnguas vernculas fosse, portanto, diretamente proporcional evoluo do iderio lingustico ocidental.
Desse modo, numa perspectiva histrica, pode-se dizer que desde
Aristteles j se assistia ao embate, ainda iminente, entre concepes di-
Publicado anteriormente em Revista Alfa, Universidade Estadual Paulista (Unesp), So Jos do Rio
Preto, Vol. 50, No. 01: 23-38, 2006.
1
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
17
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
versas das funes da linguagem, as quais levariam, na Roma imperial,
considerao da gramtica como uma tpica ars recte loquendi (Cf. STEFANINI, 1994). Na Idade Mdia, chegou-se, a partir dessa considerao,
dicotomia entre uma gramtica fundamentalmente pedaggica, tendo
como modelo a obra de Donato, e uma gramtica essencialmente normativa, inspirada em Prisciano. Mas mesmo a partir da Era Moderna, em
particular do Renascimento, que se pode falar num processo de gramatizao mais consistente, o que redundaria numa distino mais funcional
entre os conceitos de normativismo e descritivismo.2
ainda no Renascimento que as lnguas vernculas comeam a
adquirir a mesma importncia que o latim, seja por meio de trabalhos espordicos e no gramaticais a respeito da linguagem (como o De Vulgari
Eloquentia, de Dante Aleghieri), seja por intermdio de obras de estudiosos da lngua (como a Gramtica de la Lengua Castellana, de Antonio
de Nebrija). Particularmente no que se refere lngua portuguesa, a primeira gramtica de que se tem notcia foi a de Ferno de Oliveira, com
sua Gramtica da Linguagem Portuguesa (1536), a qual j foi definida
uma vez como um conjunto de curiosas reflexes, de tipo ensastico
(...), uma miscelnea lingustica e cultural (BUESCU, 1984, p. 15).
Nessa poca tambm, a ortografia j conquistara uma relativa importncia no mbito dos estudos gramaticais (ao lado da Fontica, da Morfologia e da Sintaxe), sendo que, em Portugal, o mesmo Ferno de Oliveira,
por meio de sua obra, foi o primeiro gramtico da lngua portuguesa a realizar uma tentativa parcialmente frustrada de reforma e unificao da
grafia verncula, inaugurando uma linhagem de ortgrafos que perdura
com maior mpeto e vigor combativo at os dias atuais.3
A inteno desse trabalho analisar a referida obra de Ferno de
Oliveira, sob o ponto de vista histrico e lingustico, explorando suas reflexes acerca da ortografia da lngua portuguesa, a fim de destacar as
solues grficas encontradas pelo autor, bem como esclarecer a original
nomenclatura gramatical difundida por sua obra durante o sculo XVI, a
qual seria ora adotada, ora contestada por outros gramticos do mesmo
perodo.
Cf. Auroux (1992). Para a ocorrncia, durante o Renascimento, das perspectivas normativista e
descritivista, a conformar as gramticas modernas, consultar Mattos e Silva (1997 e 2000).
2
Cf. Burney (1962). A rigor, contudo, no se pode considerar Ferno de Oliveira o primeiro ortografista da lngua portuguesa, posio ocupada por Pero de Magalhes Gandavo, com suas Regras que
ensinam a maneira de escrever a ortografia da lngua portuguesa (VASCONCELOS, 1933).
3
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
18
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Partindo da hiptese de que no que concerne ortografia Ferno de Oliveira se situa no intervalo entre a tradio e a inovao, exprimindo um dilema que s poderia ser equacionado por intermdio de
propostas ousadas para a resoluo dos problemas grficos, pode-se afirmar que sua gramtica rejeita parcialmente uma longa tradio lingustica representada pela gramtica latina , buscando conciliar a necessidade de afirmao da autonomia da lngua portuguesa e de manuteno
da conscincia de sua origem distinta, imprimindo assim uma marca bastante pessoal em suas consideraes lingusticas.
por isso que, apesar da evidente filiao de sua gramtica, de
um lado, s obras latinas do mesmo gnero e, de outro lado, da j citada
gramtica de Nebrija, Ferno de Oliveira faz uma obstinada apologia da
lngua portuguesa, procurando desvincular-se definitivamente tanto desses modelos tradicionais quanto de outros mais prximos, como o galego, o qual, por sua vez, se mantinha naturalmente mais ligado ao castelhano, com quem estabelecia uma relao de dependncia poltica.4
Exemplos vrios do discurso encomistico promovido pelo Ferno de Oliveira podem ser facilmente verificados ao longo de sua obra,
como nos revela o j bastante citado trecho abaixo transcrito:
O estado da fortuna pode conceder ou tirar favor aos estudos liberais e esses estudos fazem mais durar a glria da terra em que florescem. Porque Grcia e Roma s por isto ainda vivem, porque quando senhoreavam o Mundo
mandaram a todas as gentes a eles sujeitas aprender suas lnguas e em elas escreviam muitas boas doutrinas, e no somente o que entendiam escreviam nelas, mas tambm trasladavam para elas todo o bom que liam em outras. E desta feio nos obrigaram a que ainda agora trabalhemos em aprender e apurar o
seu, esquecendo-nos do nosso. No faamos assim, mas tornemos sobre ns
agora que tempo e somos senhores, porque melhor que ensinemos a Guin
que sejamos ensinados de Roma (OLIVEIRA, 1975, p. 42).
O tom de exortao presente neste excerto no deve causar estranheza, numa poca de autoafirmao das novas potncias ibricas frente
tradio escolstica do latim. Trata-se, como se sabe, de um perodo em
que os vernculos neolatinos adquirem autonomia plena, afirmando-se
como lnguas independentes. Desse modo, a obra de Ferno de Oliveira
no estaria imune a uma leitura ideologizada, uma vez que o prprio auPara as gramticas latinas e espanhola como modelo de Ferno de Oliveira, consultar Fvero
(1996) e Bastos (1981). Para a tentativa de diferenciao com o galego, cuja ortografia permanecer
por muito tempo mais arcaica que a portuguesa, consultar Schlieben-Lange (1993, p. 201-216) e
DAzevedo (1897-1899, p. 261-268)
4
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
19
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
tor reconhece a imposio do grego e do latim s civilizaes conquistadas, quando os povos que esses idiomas representam senhoreavam o
Mundo [e] mandaram a todas as gentes a eles sujeitas aprender suas lnguas. Para Ferno de Oliveira, mais do que uma questo de justia perante Portugal que, agora, se coloca como nao preponderante no cenrio europeu, mas principalmente trata-se de uma questo de valorizao
de um idioma que necessita urgentemente ser estudado, esquadrinhado e
gramaticalmente consolidado.
Nesse sentido, seu discurso encomistico, de fundo nacionalista,
apresenta tambm uma vertente pedaggica, a partir da qual Ferno de
Oliveira exorta seus pares a se envolver no trabalho de ensino e de expanso da lngua portuguesa:
...e no desconfiemos da nossa lngua porque os homens fazem a lngua, e
no a lngua os homens. E manifesto que as lngua grega e latina primeiro
foram grosseiras e os homens as puseram na perfeio que agora tm (...) apliquemos nosso trabalho a nossa lngua e gente e ficar com maior eternidade
a memria dele e no trabalhemos em lngua estrangeira, mas apuremos tanto
a nossa com boas doutrinas, que a possamos ensinar a muitas outras gentes e
sempre seremos delas louvados e amados. (OLIVEIRA, p. 43/45)
Posturas apologticas como estas, presentes ao longo da gramtica
de Ferno de Oliveira, adquirem sentido pleno, como sugerimos, num perodo de particular projeo para Portugal, cujo Renascimento adquire
uma instigante especificidade.5
preciso lembrar, contudo, que, como sugere Peter Burke, apesar
da valorizao das lnguas vernculas pelos gramticos renascentistas, na
mesma poca intelectuais europeus defendiam o uso do latim, apontando,
portanto, para a manuteno da tradio latina (Cf. BURKE, 1995), o que
alis possvel de se verificar como j sugerimos na prpria gramtica de Ferno de Oliveira, cuja principal referncia lingustica parece ser
ainda a clebre Techn Grammatik de Dionsio Trcio. Por isso, se por
um lado os gramticos renascentistas, particularmente os portugueses,
procuram apresentar conceitos inovadores em relao lngua portuguesa, por outro lado, no rejeitam completamente o legado latino, como j
salientou Buescu: o latim, prestigioso modelo, antepassado venervel ,
para eles [os gramticos portugueses], irreversivelmente, uma lngua
morta, cuja herana os seus descendentes directos no enjeitam, mas, a
partir da qual, reinvestem e transformam. (BUESCU, 1998, p. 15-31)
Cf. Carvalho (1980). Para a apologia da lngua portuguesa em Ferno de Oliveira, consultar Buescu (1984) e Batista (2002, p. 53-61).
5
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
20
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Para alm da problemtica das fontes e influncias na gramtica
de Ferno de Oliveira para empregar uma terminologia comparatista
ou do discurso encomistico, de clara inteno litigiosa, que subjaz sua
inquietao pedaggica, avulta toda uma preocupao tcnica, que se
manifesta como um agrupamento de definies preliminares de diversos
componentes da gramtica da lngua portuguesa, os quais poderiam ser
tomados como um conjunto conceitual lingustico preliminar.
Dividindo a primeira parte de sua gramtica, na mais pura tradio latina, em trs itens: letras, slabas e vozes, o autor j manifesta, de
incio, seu evidente pendor para as consideraes de natureza fontico-fonolgica, buscando refinar sua definio na exposio de cada um
destes componentes gramaticais.
Assim, tratando do primeiro deles, o gramtico portugus afirma
que letra a figura de voz. Estas, dividimos em consoantes e vogais. As
vogais tm em si voz, e as consoantes no, seno junto com as vogais
(OLIVEIRA, 1975, p. 46). Comentando esta curiosa passagem da gramtica lusitana, Leonor Lopes Fvero lembra que, para Ferno Lopes, o
conceito de letra refere-se a unidades fnicas e sua representao grfica, como alis faziam os latinos com seu conceito de littera, devendose, nesse sentido, distingui-lo dos conceitos de figura ou sinal (representao grfica pura) e de pronunciao (unidade fnica pura) (FVERO,
1997). Talvez a principal ressalva que se possa fazer acerca desse comentrio diga respeito classificao da pronunciao como sendo unidade
fnica, quando na verdade parece tratar-se de representao fnica, uma
vez que o primeiro termo caberia melhor para definir o conceito de voz.
Com efeito, embora Ferno de Oliveira no seja explcito no que
considera como sendo voz, fcil inferir por suas observaes tratar-se
da unidade sonora, da competncia acstica das letras, no sentido saussuriano e, portanto, mais abstrato, de imagem acstica. Nesse esquema, a
concretizao fsico-fisiolgica da voz ficaria a cargo da pronunciao,
onde, para Ferno de Oliveira, a voz adquire real concretude, razo pela
qual o gramtico quinhentista afirma que as consoantes no possuem
voz, mas podem ser pronunciadas ao lado de uma vogal. De fato, ao que
parece, o conceito de voz teria sido retirado da tradio medieval da
gramtica modista, segundo a qual a voz representava um significante,
mas no necessariamente um significado, j que, para a Idade Mdia, a
faculdade simblica (ratio signandi) era constituda maneira de Saussure por um conceito e por uma imagem acstica, a esta ltima cabendo
a denominao de vox. (Cf. STEFANINI, 1994)
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
21
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Definindo, em seguida, a slaba, Ferno de Oliveira afirma que
slaba uma s voz, formada com letra ou letras, a qual pode significar
por si ou ser parte de dico, e assim as vogais, ainda que sejam em ditongo, podem fazer slaba sem outra ajuda, e as consoantes no, seno
misturadas com as vogais (OLIVEIRA, 1975, p. 46). Novamente, ressalta na concepo de slaba o carter abstrato do conceito de voz, o qual
possuiria, de acordo com sua exposio, uma mesma imagem acstica
para duas ou mais letras. Ao definir sinal, por sua vez, afirma Ferno de
Oliveira: s figuras [das] letras chamam os Gregos caracteres, e os Latinos, notas, e ns lhe podemos chamar sinais. Os quais ho de ser tantos
como as pronunciaes (OLIVEIRA, 1975, p. 46).
Diante de um quadro to complexo em que, inclusive, Ferno de
Oliveira parece confundir tradies gramaticais distintas, como a dos estoicos gregos e dos modistas romanos necessrio refazer o percurso, a
fim de tentar melhor compreender sua exposio. Adotando uma forma
esquemtica, podemos sugerir a seguinte diviso: para uma voz (vox),
corresponde uma pronunciao; para uma letra (littera), corresponde um
sinal. Voz e letra juntam-se, por fim, para formar a linguagem, figurada,
segundo Ferno de Oliveira, pelo entendimento. Verifiquemos o esquema abaixo, em que A corresponde ao entendimento, B corresponde voz
e C corresponde letra; do mesmo modo, A corresponde linguagem,
B corresponde pronunciao, C corresponde ao sinal:
Enquanto que A, B e C estariam num mbito da abstrao, A, B
e C estariam num mbito da concretude. Assim, resumidamente, para
Ferno de Oliveira, o entendimento possui uma linguagem, por meio da
qual ele se realiza (figura) concretamente; a linguagem contm, por sua
vez, a voz, que para se realizar depende da pronunciao, a qual no
seno a representao fnica da mesma voz; possui tambm a letra, representada graficamente pelo sinal. Por isso, segundo o gramtico lusitaRevista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
22
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
no, enquanto as consoantes no possuem voz (mas possuem sinal), as
vogais no tm letras correspondentes suficientes:
no diremos logo que temos as mesmas letras nem tantas como os Latinos,
mas temos tantas figuras como eles e quase as mesmas ou imitao delas. E,
contudo, no deixa de haver falta nesta parte, porque as nossas vozes requerem que tenhamos trinta e duas ou trinta e trs letras. (OLIVEIRA, 1975k p.
47)
A partir dos conceitos aqui expostos, pode-se ter uma ideia mais
precisa do tratamento dado por Ferno de Oliveira ortografia da lngua
portuguesa.
A histria da ortografia portuguesa melhor dizendo, de sua sistematizao e aprofundamento analtico inicia-se no sculo XVI, para
em seguida conhecer interminveis propostas de reforma, unificao e
transformao, movimento que atinge o paroxismo no sculo XX.6 Ferno de Oliveira assume, nesse contexto, um papel preponderante, seja pelo valor inaugural que suas anotaes possuem, seja pela mincia e perspiccia com que trata do problema ortogrfico do portugus, seja ainda
pela originalidade de seus achados para algumas questes que at os
dias atuais ainda persistem sem soluo consensual.
o que se percebe quando analisamos, mais a fundo, o tratamento
dado s letras que, segundo o autor, compem o alfabeto portugus. Para
o gramtico lusitano, nosso alfabeto composto de 33 letras, entre vogais
e consoantes: no nosso a b c h a trinta e trs letras, todas nossas e necessrias para nossa lngua, das quais oito so vogais (...) e vinte e quatro
consoantes (OLIVEIRA, 1975, p. 48). O fato de a soma das partes no
condizer com o todo j que oito mais vinte e quatro resulta em 32 deve-se considerao, por Ferno de Oliveira, no cmputo final, do h, que
no seu esquema ortogrfico funciona ora como letra, ora como sinal de
aspirao. Evidentemente, tal fato deve-se, a nosso ver, menos a uma inovao metodolgica do que a uma desateno aritmtica, j que mais
adiante ele vai propor a ocorrncia, em portugus, de dois sinais grficos:
o de abreviatura (~) e o de aspirao (h), no havendo razo para o autor
somar este ltimo ao seu quadro consonantal composto, antes, de vinte e
quadro unidades.
A despeito desse lapso, sua gramtica apresenta aquela que pode
Para a questo ortogrfica do portugus no sculo XX, consultar Estrela (s.d.), Houaiss (1991) e
Silva (2001).
6
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
23
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
ser considerada do ponto de vista estritamente ortogrfico sua maior
inovao: a proposio de trs novos sinais grficos para representar as
oito vogais do portugus, j que, segundo constata, nosso idioma possui
oito vozes voclicas, mas apenas cinco figuras. Da propor a diviso do
sistema voclico portugus em vogais grandes (abertas) e vogais pequenas (fechadas), com exceo do i e do u, cuja pronncia nica. No
bastasse essa diviso, Ferno de Oliveira prope tambm a adoo de
uma nova grafia, por meio da qual as vogais abertas pudessem aparecer
sob outra constituio grfica: respectivamente a (em oposio ao a fechado), e (em oposio ao e fechado) e o w (em oposio ao o fechado).
Assim, teramos ao final o seguinte quadro, resultante de suas inovaes ortogrficas:
voz / pronunciao letra / sinal
a
A
a
e
E
e
i
I
o
o
w
u
u
O quadro, por si s, j nos revela a criatividade e ousadia de Ferno de Oliveira no que diz respeito ortografia do portugus. No contente com essa interveno inicial, o eminente gramtico procura ainda
num mpeto descritivista que, temporariamente, se sobrepe ao seu normativismo registrar de modo sistemtico a grafia e a pronncia das
mesmas vogais, num esforo inovador de minuciosas descries articulatrias dos fonemas, bem como suas respectivas descries grficas,
motivo que teria levado um estudioso de sua obra, reconhecendo o pioneirismo dessas digresses ortogrficas, a consider-lo um observador
perspicaz, senhor de uma grande sensibilidade auditiva e capaz de descrever minuciosamente a articulao de todos os fonemas e respectivos
smbolos grficos (PINTO, 1961).
Desse modo, Ferno de Oliveira prope as seguintes explicaes,
no que tange pronncia das vogais:
1.
letra a (pequeno/fechado): a sua pronunciao com a boca mais
aberta que das outras vogais e toda a boca igual;
2.
letra a (grande/aberto): a pronunciao com a mesma forma da
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
24
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
boca, seno quando traz mais esprito;
3.
letra e (pequeno/fechado): a sua voz no abre j tanto a boca e descobre mais os dentes;
4.
letra e (grande/aberto): no tem outra diferena da fora do e pequeno, seno quando enforma mais o esprito;
5.
letra i (vogal): pronuncia-se com os dentes quase fechados e os beios assim abertos como no e e a lngua apertada com as gengivas de
baixo e o esprito lanado com mais mpeto;
6.
letra o (pequeno/fechado): sua pronunciao faz isso mesmo: a boca redonda dentro e os beios encolhidos em redondo;
7.
letra w (grande/aberto): tem a mesma pronunciao com mais fora
e esprito;
8.
letra u (vogal): [esta letra] aperta as queixadas e prega os beios,
no deixando entre eles mais do que s um canudo por onde sai um
som escuro.
Ressalte-se o emprego de formas referenciais marcadas pela visualidade, presentes em suas descries, como beios assim abertos, faz
isso mesmo ou um som escuro.
J no que se refere grafia das vogais, sua explicao afigura-se
bastante inslita, sobretudo em funo de seu empenho descritivista:
1.
letra a (pequeno/fechado): tem a figura de um ovo com um escudete diante e a ponta do escudo em baixo, cambada para cima;
2.
letra a (grande/aberto): tem figura de dois ovos ou duas figuras de
ovo, uma pegada com a outra, com um s escudo diante;
3.
letra e (pequeno/fechado): tem figura de arco de besta com a polgueira de cima de todo em si dobrada, ainda que no amassada;
4.
letra e (grande/aberto): parece uma boca bem aberta com sua lngua no meio;
5.
letra i (vogal): sua figura uma haste pequena, alevantada, com
um ponto pequeno redondo em cima;
6.
letra o (pequeno/fechado): [sua figura] redonda toda por inteiro,
como um arco de pipa;
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
25
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
7.
letra w (grande/aberto): parece duas faces com um nariz pelo meio
ou dois oo juntos ambos;
8.
letra u (vogal): sua figura duas hastes alevantadas direitas, mas
em baixo so atadas com uma linha que sai de uma delas.
curioso perceber como, no discurso de Ferno de Oliveira, as
referncias para a descrio da grafia das letras seguem de perto a realidade cotidiana mais comum, revelando a inteno didtica de sua gramtica.
Em relao ao sistema consonantal, os achados so outros, mas
igualmente marcados por inovaes mais ou menos criativas. Primeiro,
temos um quadro em que as consoantes so alocadas, a partir de uma
perspectiva da pronncia (alis, para as consoantes, com exceo das letras j e v, o autor no expe uma descrio grfica, mas apenas fonolgica), segundo uma categorizao, a priori, em letras mudas, letras aspiradas e semivogais:
B
Letra muda
C
Letra muda
Letra muda
D
Letra muda
F
Letra muda
G
Letra muda
H
Letra muda
J
Letra muda
L
Semivogal
M
Letra muda
N
Letra muda
P
Letra muda
Q
Letra muda
R
Semivogal
RR Letra muda
S
Semivogal
SS
Letra muda
T
Letra muda
V
Letra muda
X
Letra muda
Z
Semivogal
Y
Letra muda
Ch Letra aspirada
Lh Letra aspirada
Nh Letra aspirada
Por conter a letra h, o quadro de Ferno de Oliveira possui vinte e
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
26
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
cinco consoantes, e, no, vinte e quatro como o autor tinha equivocadamente proposto antes. Esse quadro pode ser melhor explicitado a partir
da exposies de alguns conceitos pertinentes aos fonemas consonantais,
numa tentativa de resgate do discurso metalingustico presente em sua
gramtica.
Com efeito, para Ferno de Oliveira as letras mudas receberiam
essa denominao por no possurem, em si mesmas, nenhuma voz, propriedade adquirida apenas no contato com uma vogal; j as semivogais
ao contrrio daqueles conceitos que hoje em dia recebem semelhante denominao seriam aquelas letras que, embora faam o papel de consoantes, quando em posio inicial ou medial no vocbulo, possuem voz
independente quando em posio final (l, s, r, z); finalmente, as letras aspiradas seriam aquelas que, embora sem figura prpria, adquirem vozes
(quando ao lado de vogais) diferentes de outras semelhantes no aspiradas em outros termos, so os chamados dgrafos, letras que representam um fonema aspirado a partir do acrscimo do h (ch, lh, nh).
Portanto, no que se refere exposio acerca da pronncia das
consoantes, Ferno de Oliveira prope as seguintes explicaes:
1.
letra b: [pronuncia-se] entre os beios apertados, lanando para fora o bafo com mpeto e quase com baba;
2.
letra c: pronuncia-se dobrando a lngua sobre os dentes queixais,
fazendo um certo lombo no meio dela diante do papo, quase chegando com esse lombo da lngua ao cu da boca e impedindo o esprito, o qual por fora faa apartar a lngua e faces e quebre nos beios com mpeto;
3.
letra : esta letra c com outro c debaixo de si virado para trs, nesta
forma , tem a mesma pronunciao que z, seno que aperta mais a
lngua nos dentes;
4.
letra d: [sua pronunciao] deita a lngua dos dentes de cima com
um pouco de esprito;
5.
letra f: [sua pronunciao] fecha os dentes de cima sobre o beio
de baixo;
6.
letra g: [sua pronunciao] como a do c, com menos fora de esprito;
7.
letra h: se letra consoante, como alguns quiseram e o traz Diomedes gramtico, h mister prpria fora e se a tem ou no, ou se
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
27
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
boa a pronunciao que lhe do alguns Latinos, eles o vejam. Ns,
Portugueses, no lhe damos mais as vogais com que se mistura. E
dizem os Latinos que se podem misturar com todas as vogais;
8.
letra j (i consoante): a sua pronunciao semelhante do xi, com
menos fora, e esta mesma virtude damos ao g, quando se segue depois dele e ou i, mas a mim me parece que com o i consoante o podemos escusar;
9.
letra l: [sua pronunciao] lambe as gengivas de cima com as costas da lngua, achegando s bordas dela os dentes queixais;
10. letra m: [sua pronunciao] muge entre os beios apertados, apanhando para dentro;
11. letra n: [sua pronunciao] tine (...) tocando com a ponta da lngua
as gengivas de cima;
12. letra p: a fora ou virtude do p a mesma que a do b, seno que
traz mais esprito;
13. letra q: [apesar de Diomedes e Quintiliano considerarem essa letra
sobeja], ns a havemos mister na nossa lngua, assim para algumas
dices que de necessidade tm u lquido, como quase, quando,
quanto, qual, e outras semelhantes, como tambm para quando se
seguem i ou e, para tirar a dvida que pode haver entre c e ;
14. letra r (singelo): [pronuncia-se] com a lngua pegada nos dentes
queixais de cima, e sai o bafo tremendo na ponta da lngua;
15. letra r (dobrado) [rr]: [sua] pronunciao a mesma que a do r
singelo, seno que este dobrado arranha mais as gengivas de cima;
16. letra s (singelo): letra mimosa, e, quando a pronunciamos, alevantamos a ponta da lngua para o cu da boca e o esprito assobia
pelas ilhargas da lngua;
17. letra s (dobrado) [ss]: pronuncia-se como o outro, pregando mais a
lngua no cu da boca;
18. letra t: tem a mesma virtude do d, com mais esprito, todavia tira o
t para fora;
19. letra v (u consoante): [sua fora] como a do f, mas com menos
esprito;
20. letra x: pronuncia-se com as queixadas apertadas no meio da boca,
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
28
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
os dentes juntos, a lngua ancha na boca e o esprito ferve na humidade da lngua;
21. letra z: [sua pronunciao] zine entre os dentes cerrados, com a
lngua chegada a eles e os beios apartados um do outro;
22. letra y: as mais das vezes, quando vem uma vogal logo atrs outra,
ns, pronunciamos entre elas uma letra como em meio, seio, moio,
joio, e outras muitas. A qual letra a mim me parece ser y, e no i vogal, porque ela no faz slaba por si, nem tampouco j consoante na
fora que lhe ns demos, mas em outra quase semelhante quela,
muito enxuta e sem nenhuma mistura de cuspinho.
As explicaes, por sua vez, limitam-se ao nmero de vinte e duas
consoantes, pois Ferno de Oliveira optou por no apresentar isoladamente a pronncia das trs letras aspiradas, j que as mesmas so pronunciadas como as correspondentes surdas (c, l, n), mas apenas com o
acrscimo do sinal de aspirao, como o prprio autor j havia explicado
anteriormente, quando de sua definio dos tipos de fonemas consonantais em portugus.
Algumas observaes curiosas podem ser feitas acerca da exposio dos fonemas consonantais pelo gramtico portugus. Em primeiro
lugar, interessante notar que, para Ferno de Oliveira, errado escrever
as letras m ou n no final das slabas, j que no seu lugar deveria aparecer
o til, marca de nasalizao que os substituiria com melhor proveito. Alm
disso, o autor faz uma ressalva sobre a letra k, que foi suprimido de seu
quadro de consoantes, pois, segundo ele, no faz nada, nem eu vi nunca
em escritura de Portugal esta letra k escrita (OLIVEIRA, 1975, p. 50).
Finalmente, procurando mais uma vez inovar em suas consideraes ortogrficas, Ferno de Oliveira prope o uso da letra q apenas para os casos em que o u pronunciado (quando, qual, quase), sendo desnecessrio
em todos os caso em que o u no for pronunciado, substituindo-se o q pela velar surda, mesmo antes de e e i (cadeira, ceixume, cina, comeo);
proposta semelhante feita ainda em relao ao j, que o gramtico portugus sugere que se substitua pelo g, antes de e ou i.
Mais curioso ainda o fato de Ferno de Oliveira num recurso
mnemnico talvez inconsciente procurar reproduzir os fonemas consonantais explicados por meio de palavras que tragam em si mesmas as letras referidas; trata-se, neste caso, de uma espcie rara de metalinguagem
com mise-en-abme, provocando um sagaz efeito de aliterao. assim
que, ao explicar a pronncia da letra b, o autor emprega termos como
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
29
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
beios, bafo, e baba; ao explicar a letra d, emprega deita e dentes; ao explicar o f, opta pelo verbo fechar; ao explicar o l, prefere o verbo lamber;
para a letra m, escolhe o verbo mugir; para o n, escolhe tine, acompanhado de uma sequncia de palavras que provoca um singular efeito de aliterao (tocando, ponta, lngua, gengivas); para o r dobrado, escolhe o
verbo arranhar; para explicar o t, usa os recursos fonolgicos das palavras virtude, todavia e tira; para o x, emprega queixada; finalmente, para
o z, usa zine.
Assim, coube a Ferno de Oliveira a tarefa de estabelecer, pela
primeira vez, um sistema ortogrfico para o portugus, uma vez que ao
lado do propsito de se respeitar a origem latina da lngua, percebia-se a
existncia de traos especiais da fonologia portuguesa, que requeriam um
tratamento diferenciado, [pautando-se pelo] princpio da simplificao
ortogrfica, no querendo admitir que um fonema fosse representado de
duas ou mais maneiras diferentes ou que um nico smbolo pudesse valer
para fonemas distintos (MONTEIRO, 1998. Cf. tb. BUESCU, 1984).
Discusses acerca da simplificao ortogrfica, alis, no era incomum
na poca, fato j presente em Quintiliano, mas que se torna objeto de acirrados debates durante o Renascentismo europeu (Consultar KIBBEE,
1990), o que no causa surpresas numa poca em que sobretudo no que
se refere ao portugus se vivia uma situao de evidente caos ortogrfico, havendo necessidade de uma sistematizao que, alis, j comea a se
formar desde pelo menos o sculo XIII.7
Espcie de fundador da filologia portuguesa j que, como salientou Rebelo Gonalves, antes dos gramticos portugueses no se pode
dizer que houvesse fillogos no sentido rigoroso da palavra (Cf. GONALVES, 1936) , Ferno de Oliveira pode ser considerado tambm,
como sugerimos, um de nossos primeiros ortgrafos e foneticistas, devido maestria de suas exposies acerca da pronncia e grafia dos fonemas do portugus e devido tentativa de sistematizao de seu uso, o
que o colocava, logo de incio, no centro da disputa entre as tendncias
normativistas e descritivistas dos estudos lingusticos.
Curiosamente, apesar de adiantar alguns fatos da ortografia da
lngua portuguesa que apareceriam bem depois, como na clebre Ortografia Nacional (1904) de Gonalves Viana (Cf. AGUIAR, 1984), FerPara a questo do caos ortogrfico na poca e sua sistematizao desde o sculo XIII, consultar
Toledo Neto (1995 e 1999) e Fonseca (1985).
7
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
30
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
no de Oliveira revela plena conscincia da importncia do hbito e de
sua incidncia sobre a consolidao e uso da ortografia portuguesa, transformando-o, em muitos sentidos, em verdadeiro princpio norteador de
suas consideraes, apesar de suas propostas de simplificao ortogrfica
e de adoo de uma ortografia mais fonmica do que etimolgica. Seguindo de perto, nesta matria, as propostas de Quintiliano crtico dos
exageros ortogrficos que propugnava pela simplificao , o gramtico
portugus v, portanto, no costume, um imperativo contra a qual seria
praticamente impossvel lutar.
No obstante, prope uma srie de regras que, a rigor, insere-se
numa clara tendncia ao normativismo gramatical, j bastante em voga
desde Donato e sua Ars Maior. Definindo a gramtica como a arte que
ensina a bem ler e falar, Ferno de Oliveira (1975, p. 43) emprega uma
srie de exemplos que, em conjunto, podem ser tomados como modelos
de um uso exemplar da lngua, marca acentuada de seu normativismo
gramatical.8 Trata-se de uma evidente inteno pedaggica, a qual serviria at mesmo como referncia para o ensino do portugus no Brasil. (Cf.
CASAGRANDE; BASTOS, 2002, p. 53-62)
Apesar dessa preocupao pedaggica, que via no projeto de se
ensinar o bem falar uma necessidade, no podemos nos esquecer da importncia que a sistematizao grfica adquire nesse perodo de franco
desenvolvimento da imprensa escrita, o que, fatalmente, determinaria o
aparecimento de teorias voltadas, exclusivamente ou no, para a reforma
da ortografia. Como j sugeriu Roger Chartier, o papel dos editores de
texto e dos revisores na sistematizao grfica e ortogrfica das lnguas
vernaculares foi muito mais determinante do que as proposies de reforma ortogrfica feitas por certos escritores que queriam impor uma escritura oral, completamente governada pela pronncia.9
Este, como outros fatos, no desmerece o trabalho de Ferno de
Oliveira como ortgrafo da lngua portuguesa. Antes, faz avultar ainda
mais a ousadia e a originalidade daquele que, com incontestvel razo,
O emprego dos exemplos na gramtica de Ferno de Oliveira foi estudado por Leite (2001, p. 289309). Para Maria Helena Moura Neves, o uso de exemplos constitui a marca mais evidente do carter normativo dos manuais tradicionais de gramtica (MOURA NEVES, 2002, p. 43-52). Uma perspectiva divergente, j que considera a gramtica de Ferno de Oliveira mais descritiva do que propriamente normativa, pode ser encontrada em Bastos (1981).
9 CHARTIER (2002, p. 28). A mesma opinio compartilhada por BUESCU (1983, p. 72 et passim; e
1984, p. 32 et passim).
8
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
31
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
pode ser considerado o primeiro grande pensador da lngua portuguesa
no contexto da cultura europeia renascentista.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AGUIAR, Gentil de. Ortografia portuguesa e etimologia. Estudos Leopoldenses. So Leopoldo: Unisinos, vol. 21, Nos 79-80, 1984.
AUROUX, Sylvain. A revoluo tecnolgica da gramatizao. Campinas: Unicamp, 1992.
BASTOS, Neusa Maria Oliveira Barbosa. Contribuio histria da
gramtica portuguesa. O sculo XVI. Dissertao de Mestrado. So Paulo: Pontifcia Universidade Catlica, 1981.
BATISTA, Ronaldo de Oliveira. Nossa lngua e essoutras: O tratamento
da diversidade lingustica em Ferno de Oliveira. In: IMAGUIRE, Lgia;
ALTMAN, Cristina (Orgs.). As lnguas do Brasil: tipos, variedades regionais e modalidades discursivas. So Paulo: Humanitas, 2002, p. 53-61.
BUESCU, Maria Leonor Carvalho. A lngua portuguesa, madre e no
madrasta. Uma busca equvoca, mas eficaz: a gramtica universal. In:
BASTOS, Neusa Barbosa (Org.). Lngua portuguesa. Histria, perspectivas, ensino. So Paulo: Educ, 1998, p. 15-31.
______. Babel ou a ruptura do signo. A gramtica e os gramticos portugueses do sculo XVI. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda,
1983.
______. Historiografia da lngua portuguesa. Sculo XVI. Lisboa: S da
Costa, 1984.
BURKE, Peter. A arte da conversao. So Paulo: Unesp, 1995.
BURNEY, Pierre. Lorthographie. Paris: Presses Universitaires, 1962.
CARVALHO, Joaquim Barradas. O renascimento portugus: em busca
de sua especificidade. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1980.
CASAGRANDE, Nancy dos Santos; BASTOS, Neusa Barbosa. Ensino
de lngua portuguesa e polticas lingusticas: sculos XVI e XVII. In:
BASTOS, Neusa Barbosa. Lngua portuguesa. Uma viso em mosaico.
So Paulo: Educ, 2002, p. 53-62.
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
32
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
CHARTIER, Roger. Do palco pgina: publicar teatro e ler romances
na poca moderna (sculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Casa da Palavra,
2002, p. 28.
DAZEVEDO, Pedro A. A respeito da antiga orthographia portuguesa.
Revista Lusitana. Arquivo de Estudos Philologicos e Ethnologicos relativos a Portugual. Lisboa: Antiga Casa Bertrand, vol. V, 1897-1899, p.
261-268.
ESTRELA, Edite. A questo ortogrfica. Reforma e acordos da lngua
portuguesa. Lisboa: Editorial Notcias, s.d.
FVERO, Leonor Lopes. As concepes lingusticas no sculo XVIII. A
gramtica portuguesa. Campinas: Unicamp, 1996.
______. Histria das ideias lingusticas: gramticos e ortgrafos portugueses dos sculos XVI e XVII. Filologia e Lingustica Portuguesa. So
Paulo: Humanitas, n 01, p. 95-105, 1997.
FONSECA, Fernando V. Peixoto da. Remarques sur lortographe de
lancien portugais. Revue de Linguistique Romane. Strasbourg: Socit
de Linguistique Romane, tome 49, nes 193/194, p. 183-187, jui. 1985.
GONALVES, F. Rebelo. Histria da filologia portuguesa. Boletim de
Filologia. Lisboa: Centro de Estudos Filolgicos, tomo IV, fasc. 1/2, p.
1-13, 1936.
HOUAISS, Antnio. A nova ortografia da lngua portuguesa. So Paulo:
tica, 1991.
KIBBEE, Douglas. French Grammarians and Grammars of French in the
16th Century. In: NIEDEREHE, H.-J.; KOERNER, K. History and Historiography of Linguistics. Studies in the History of the Language Sciences. Amsterdam/Philadelphia: John Behjamins, vol. 51, p. 301-314,
1990.
LEITE, Marli Quadros. O discurso dos exemplos nas gramticas portuguesas do sculo XVI. In: URBANO, Hudinilson et alii. Dino Preti e
seus temas: oralidade, literatura, mdia e ensino. So Paulo: Cortez, 2001,
p. 289-309.
MATTOS E SILVA, Rosa Virgnia. Contradies no ensino de portugus. So Paulo: Contexto, 1997.
______. Tradio gramatical e gramtica tradicional. So Paulo: Contexto, 2000.
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
33
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
MONTEIRO, Jos Lemos. As ideias lingusticas de Ferno de Oliveira.
Confluncia. Rio de Janeiro, n 15, p. 98-116, 1998.
MOURA NEVES, Maria Helena de. Heranas: a gramtica. In: BASTOS, Neusa Barbosa. Lngua portuguesa. Uma viso em mosaico. So
Paulo: Educ, 2002, p. 43-52.
OLIVEIRA, Ferno de. A gramtica da linguagem portuguesa. Org. por
Maria Leonor Carvalho Buescu. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da
Moeda, 1975.
PINTO, Rolando Morel. Gramticos portugueses do renascimento. Revista de Letras. Assis, vol. 02, p. 123-145, 1961.
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte. O multilinguismo como tema da lingustica na Pennsula Ibrica no sculo XVI. In: ___. Histria do falar e
histria da lingustica. So Paulo: Unicamp, 1993, p. 201-216.
SILVA, Maurcio. Reforma ortogrfica e nacionalismo lingustico no
Brasil: uma abordagem histrico-discursiva. Letras, Campinas: Pontifcia
Universidade Catlica de Campinas, vol. 20, n 1/2, p. 99-122, dez. 2001.
STEFANINI, Jean. Histoire de la grammaire. Paris: CNRS, 1994.
TOLEDO NETO, Slvio de Almeida. Aspectos da variao grfica no
portugus arcaico: as variantes consonantais no Livro de Jos de Arimateia (Cod. ANTT 643). In: RODRIGUES, ngela C. S. et alii (Orgs.). I
Seminrio de Filologia e Lngua Portuguesa. So Paulo: Humanitas,
1999, p. 55-63.
______. Relao grafema/fonema no portugus antigo. Estudos Lingusticos. Anais do Seminrio do Gel. So Paulo, n 24, p. 636-642, 1995.
VASCONCELOS, Frazo de. Ortografistas portugueses dos sculos XVI
a XVIII. Separata da Lngua Portuguesa. Lisboa, vol. III, fasc. VIII,
p. 01-08, 1933.
Revista Philologus, Ano 18, N 52. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2012
34
Você também pode gostar
- PENTATEUCODocumento70 páginasPENTATEUCOLeandro Brito100% (6)
- Campo Lexical e Campo SemânticoDocumento1 páginaCampo Lexical e Campo SemânticoCatarina Escada100% (2)
- História Da ComputaçãoDocumento205 páginasHistória Da ComputaçãoVinicius CésarAinda não há avaliações
- Dicionário de Gírias Dino Pretti PDFDocumento17 páginasDicionário de Gírias Dino Pretti PDFLeettysAinda não há avaliações
- SUBSTANTIVO Materia Prova PortuguesDocumento9 páginasSUBSTANTIVO Materia Prova PortuguesCíntia Garcia100% (1)
- Heimtal - O Passado e o Presente No Vale Dos AlemãesDocumento73 páginasHeimtal - O Passado e o Presente No Vale Dos AlemãesIPAClda100% (3)
- Nome Comum ColetivoDocumento3 páginasNome Comum ColetivoMaria Isabel SilvaAinda não há avaliações
- 2 - Linguística Aplicada Ao Português - Morfologia - Maria Cecília P. e Ingedore KochDocumento54 páginas2 - Linguística Aplicada Ao Português - Morfologia - Maria Cecília P. e Ingedore KochHumbertoC.NobreAinda não há avaliações
- Lingua Inglesa IDocumento232 páginasLingua Inglesa IGiovani G SantosAinda não há avaliações
- Monografia Cabeçalho - UnijalesDocumento16 páginasMonografia Cabeçalho - UnijalesMATHEUS BONFIMAinda não há avaliações
- Edital Processo Seletivo Faculdade Uninassau Redenção - 2023Documento7 páginasEdital Processo Seletivo Faculdade Uninassau Redenção - 2023Isnauy FariasAinda não há avaliações
- Microsoft Word - Bacharel 02 - AngelologiaDocumento20 páginasMicrosoft Word - Bacharel 02 - AngelologiaLeandro Freitas MenezesAinda não há avaliações
- Física - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento34 páginasFísica - Wikipédia, A Enciclopédia LivreHyan GontijoAinda não há avaliações
- Tutorial de Atualização de GPS Com IGODocumento19 páginasTutorial de Atualização de GPS Com IGOAntonio ArrAinda não há avaliações
- EXERCÍCIO 3 Orações AdjetivasDocumento4 páginasEXERCÍCIO 3 Orações AdjetivasThaisa Ferreira100% (1)
- Denise Portinari - O Discurso Da Homossexualidade FemininaDocumento57 páginasDenise Portinari - O Discurso Da Homossexualidade FemininaCarol KrügelAinda não há avaliações
- Oexp10 Ficha5 Funcoes SintaticasDocumento4 páginasOexp10 Ficha5 Funcoes SintaticasISLAMICO69Ainda não há avaliações
- Plano Anual 2º Ano (1) Nilde TomáziaDocumento59 páginasPlano Anual 2º Ano (1) Nilde TomáziageovanaAinda não há avaliações
- Texto Informativo Currilum VitaeDocumento27 páginasTexto Informativo Currilum VitaeSergio Costa Xavier JuniorAinda não há avaliações
- Atividade de Inglês em PDFDocumento4 páginasAtividade de Inglês em PDFmarta santos santosAinda não há avaliações
- Ficha1 - Frei Luis de Sousa CorrecçãoDocumento3 páginasFicha1 - Frei Luis de Sousa CorrecçãoCésar GomesAinda não há avaliações
- Plano de AulaDocumento12 páginasPlano de AulaLEONARDO RIBEIRO MEIRAAinda não há avaliações
- InduçãoDocumento16 páginasInduçãoJosé Pedro FerreiraAinda não há avaliações
- Coscarelli e Ribeiro 2011Documento8 páginasCoscarelli e Ribeiro 2011Polly FreitasAinda não há avaliações
- Oracoes Subordinadas AulaDocumento31 páginasOracoes Subordinadas AulaJüníör KhümälöAinda não há avaliações
- 26.6.2.1.ata CT Aval 3P 9º AnoDocumento4 páginas26.6.2.1.ata CT Aval 3P 9º AnoVitoria LopesAinda não há avaliações
- Apostila de Power Point CSUDocumento53 páginasApostila de Power Point CSUAlessandro AlvesAinda não há avaliações
- LARISSA CAROLINE - Latim 2 - Avaliação 1Documento6 páginasLARISSA CAROLINE - Latim 2 - Avaliação 1Lari carolineAinda não há avaliações
- Interpretação de Texto 02Documento3 páginasInterpretação de Texto 02Verena AbraãoAinda não há avaliações
- Transit I Vida deDocumento3 páginasTransit I Vida deHenrique SandriniAinda não há avaliações