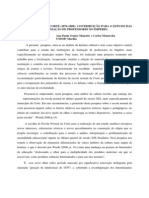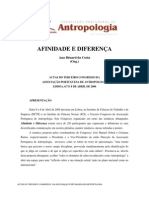Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dialnet AFamiliaEscravaNasTramasDoCotidiano 3724920 PDF
Dialnet AFamiliaEscravaNasTramasDoCotidiano 3724920 PDF
Enviado por
Laryssa MachadoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dialnet AFamiliaEscravaNasTramasDoCotidiano 3724920 PDF
Dialnet AFamiliaEscravaNasTramasDoCotidiano 3724920 PDF
Enviado por
Laryssa MachadoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dimenses, vol. 26, 2011, p. 288-301.
ISSN: 2179-8869
A famlia escrava nas tramas do cotidiano*
PATRCIA M. S. MERLO
Universidade Federal do Esprito Santo
Resumo: O presente artigo tem como foco as relaes de parentesco entre
os cativos em Vitria, Capital da Provncia do Esprito Santo, durante os
anos de 1800-1871. Para isso, recorremos s normas eclesisticas,
principalmente, as Constituies Primeiras do Arcebispado da Bahia. Tal
documento cannico, paralelo com as normas civis contidas nas Ordenaes
Portuguesas, regulamentou a matria do casamento no Brasil desde os
tempos coloniais e manteve sua influncia muito depois da Independncia.
Alm disso, foram analisadas as informaes coletadas em inventrios postmortem, registros de casamento e batismo de escravos.
Palavras-chave: Casamento; Escravido; Direito.
Abstract: This article focuses on the relationships among the captives at the
district of Vitria, capital of the Esprito Santo Province, during the years of
1800 to 1871. To do so, we resorted to ecclesiastical norms, especially the
First Constitutions of the Archbishopric of Bahia. This document canonical,
parallel with the civil standards contained in Ordinances Portuguese,
regulated the matter of marriage in Brazil since colonial times and they kept
their influence well after the Brazilian Independence. Additionally, we
analyzed information obtained in post-mortem inventories,wedding and
baptism registries of slave.
Keywords: Marriage; Slavery; Law.
o dia vinte e sete de novembro de 1875, s onze horas da manh de
um sbado, na Capela de Nossa Senhora da Ajuda em Araatiba,
filial da Freguesia de Vianna, numa cerimnia coletiva, foi celebrado
o matrimnio dos irmos Eullia e Mariano. Eullia tinha, na ocasio, 33
anos e Marianno, 31. Eram filhos legtimos de Paulo e Luciana, ainda vivos,
ele com 75 e ela com 71 anos. Todos, escravos de Amlia Vieira de Gouva,
que os havia herdado em 1856 por ocasio da morte de seu pai, o Tenente
Coronel Sebastio Vieira Machado. Eullia se casou com Honrio, 34 anos,
289
UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
filho legtimo de Manoel e Romana, com 65 e 54 anos, respectivamente,
tambm pais de Anastcia, de 20 anos, pertencentes escravaria de Amlia.
Anastcia se casou com Germano (25), filho legtimo de Leonardo (57) e
Inez (47), ambos escravos de Marciano Antnio Isido. Tambm se casou
Florinda (21), irm de Germano e escrava de Marciano, com Nicolau, de 27
anos, filho natural de Izidoria, de 55 anos, tambm escravos de Amlia. J
Marianno se casou com Gliceria de 28 anos, filha natural de Vicncia, com 51
anos, ambas pertencentes a Clara Maria Vieira de Gouva (CMES, Livro de
Casamento da Freguesia de Nossa Senhora da Conceio de Vianna, 1875, p. 12).
Constam no registro de casamento, alm de seus prenomes e o nome
do proprietrio, o nome dos pais e o nome das testemunhas: Luis Pinheiro
da Victoria, Joo Barbosa do Rosrio, ambos livres, foram padrinhos de
Honrio e Eullia. Dionsio Gomes Vieira e Bernardo Joo dos Passos,
tambm livres, foram padrinhos de Germano e Anastcia. Novamente Luis
Pinheiro acompanhado de Silvestre Pereira da Trindade, tambm livre, foram
padrinhos de Nicolau e Florinda. E Silvestre assina novamente como
padrinho, juntamente com outro livre, Luciano Vieira de Gouva, no registro
de Mariano e Gliceria.
Fonte: Inventrio post-mortem de Sebastio Vieira Machado, Vitria/ES, 1856. Cria
Metropolitana de Vitria. Livros de casamento de Viana, 1872. Cria Metropolitana de
Vitria. Livros de Batismo de Cativos da Catedral, 1864/1870. Cria Metropolitana de
Vitria. Livro de bitos de Cativos da Catedral. Vitria, 1850/1868.
Dimenses, vol. 26, 2011, p. 288-301. ISSN: 2179-8869
290
No possuirmos documentao para acompanhar a trajetria dos
casamentos realizados naquela manh de sbado de 1875. Mas, se voltarmos
nossa ateno aos demais casais presentes envolvidos na cerimnia,
possvel observar unies relativamente longas, estveis e profcuas. Paulo e
Luciana estavam unidos h pelo menos 46 anos, idade de sua filha mais velha
Nazaria, que era casada com Firmino, 56 anos, com quem teve Damasia de
quatro anos e o pequeno Paulo de um ano. Alm de Nazaria, Paulo e Luciana
tiveram mais dois filhos, Eullia e Marianno, que encontramos casando ainda
h pouco.
Certamente, a morte no deve ter deixado intocada a famlia de Paulo
e Luciana. possvel que tenham tidos outros filhos, mas no possumos tais
informaes. De acordo com o inventrio aberto em 1856, a posse de
Sebastio Vieira Machado era composta por 346 cativos, dos quais cinco
pertenciam a uma mesma famlia, qual seja, o casal Paulo e Luciana e trs de
seus provveis filhos sobreviventes: Nazaria com 27 anos de idade, Eullia de
14 anos e Marianno de 12 anos. Ao longo do tempo outros parentes foram
sendo incorporados: genros, noras, netos, cunhados, compadres, sogros,
alargando assim a rede de laos de solidariedade e aliana (APJES,
Inventrios, cx. 41, 1856).
A reconstituio dessa famlia e de outras mais que viveram em
Vitria e seus arrabaldes serviram de experincia para testar as possibilidades
e/ou dificuldades no trabalho com as fontes documentais - registros
paroquiais de batismo, casamento e bito, alm dos inventrios post-mortem privilegiadas pela pesquisa hora em tela. Do ponto de vista metodolgico, a
reconstituio de famlias cativas um trabalho rduo, as fontes capixabas
so dispersas, quando no ausentes, dificultando o cruzamento de dados.
Portanto, no nossa pretenso apresentar um cenrio definitivo acerca da
famlia escrava em Vitria, mas acreditamos que, de maneira geral, a partir
dos dados obtidos, foi possvel apontar algumas possibilidades de
entendimento a respeito do tema.
Aspectos legais da famlia escrava
Pensar a importncia da instituio familiar entre cativos passa por
discutir os parmetros legais do casamento escravo no Brasil. verdade que,
desde a dcada de 1940, diversos estudos passaram a ocupar-se das relaes
291
UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
entre legislao e escravido nas sociedades americanas.1 Frank Tannenbaum,
um dos pioneiros nesse empreendimento, chamou a ateno para a influncia
da tradio legal nas sociedades escravistas do Novo Mundo no seu livro
Slave and citizen (1946), segundo sua interpretao, a Amrica colonizada pelas
metrpoles ibricas, por ser herdeira da tradio legal romana, haveria
dispensado aos escravos um tratamento mais humano do que aquele
verificado nas colnias britnicas. Uma vez que a escravido em Roma no
possua qualquer dimenso racial, sua tradio jurdica, quando transplantada
para o continente americano, teria dado origem a uma legislao com fraca
conotao racista. Em contraposio, os colonos ingleses, sem nenhum lastro
de jurisprudncia escravista, criaram uma cultura jurdica especialmente
voltada para o cativo negro, tornando assim o fator racial um elemento
intrnseco do direito escravo norte-americano, o Slave Law. De acordo com
Tannenbaum, as diferenas da escravido praticada nas Amricas possuam,
portanto, uma profunda base histrica.2
O contraste, portanto, entre os sistemas escravistas de Espanha e
Portugal, de um lado, e o da Inglaterra e dos Estados Unidos, de outro, era
profundamente marcado, e no meramente em seu efeito sobre o escravo,
mas, at mesmo de forma mais significativa, sobre o status moral e social do
homem liberto. Sob a influncia da lei e da religio, o contexto social nas
colnias espanholas e portuguesas provia espao para os negros que
passavam da escravido liberdade. A antiga tradio mediterrnea de defesa
do escravo, combinada com a experincia latino-americana, havia preparado
um ambiente no qual o negro liberto da escravido poderia se inserir sem
penalizao visvel. A prpria escravido no carregava marca. Ela era uma
desgraa que recara sobre um ser humano, sendo em si mesma
suficientemente opressiva. Tanto a Religio quanto a Lei desaprovavam
quaisquer tentativas de transform-la numa forma de opresso adicional
(TANNENBAUM, 1946, p. 88-89). Na verdade, o Direito empregado na
regulao social da escravido no Brasil guarda importantes componentes da
tradio legal lusitana e, por conseqncia, romana, elementos em evidncia
na anlise de Tannembaum.
Em relao ao matrimnio, essa herana alcana a formao do
Direito Cannico e a tradio religiosa catlica. Os casamentos dos escravos
no Brasil obedeceram ao processo de imposio de um regime e uma
disciplina religiosa aceita desde os primeiros tempos pelos portugueses. A
colonizao fortemente centralizada deixou marcas profundas no s na
Dimenses, vol. 26, 2011, p. 288-301. ISSN: 2179-8869
292
formao de todo o sistema de leis do pas, como tambm em toda a
organizao burocrtica, particularmente a judiciria. Todo o aparato
administrativo implantado na colnia pautava-se por um corpo de leis de
origem metropolitana.
Ainda assim, encontramos procedimentos e expedientes prprios dos
brasileiros e somente a eles aplicveis. Especificamente, a instituio do
matrimnio recepcionou, ainda na fase colonial, uma lei cannica particular
intitulada Constituies Primeiras do Arcebispado da Bahia, que proporcionou a
entrada do elemento escravo na disciplina do sacramento do casamento no
credo catlico. Cacilda Machado (2006, p. 452) tratando sobre o tema afirma
que:
Somente com a publicao das Constituies Primeiras do
Arcebispado da Bahia, naquele ano (1707) e sua posterior
divulgao, um esforo de normatizao do matrimnio pde
ser observado. Tal como na Europa, embora fosse obrigada a
aceitar a prtica dos desposrios de futuro [...] aqui a Igreja
tratou de neutralizar as disposies do antigo direito portugus
que reconhecia como igualmente legtimos o casamento
celebrado diante do padre e o casamento de juras, com ou sem
a presena de um eclesistico, assim como procurou restringir
as unies entre parentes. ndices reveladores do desejo de
controle eclesistico sobre as unies conjugais so as detalhadas
instrues para as denunciaes, a verificao de possveis
impedimentos, a conduo da cerimnia e o prprio registro
do casamento, atos, todos eles, conduzidos na esfera
eclesistica.
O fato que a influncia catlica somada tradio legal portuguesa
enraizou-se no Brasil mesmo aps o desligamento com Portugal,
recepcionando a recm-autnoma nao grande parte do antigo
ordenamento da ex-metrpole. As Ordenaes Filipinas, em especial,
formavam o escopo da legislao lusa que prevaleceu por mais tempo entre
os brasileiros do que entre os prprios portugueses (Cf. GRINBERG, 2002).
Contudo, em relao temtica do matrimnio de escravos, as
Ordenaes tornavam a matria ainda mais restrita, ocupando-se, quando
muito, de questes relacionadas ao adultrio, ao concubinato e sucesso,3
deixando a questo dos enlaces aos cuidados do direito cannico. Desse
modo, o matrimnio no Brasil, mesmo obedecendo inicialmente s tradies
portuguesas no tempo colonial, paulatinamente sofrera a interveno
293
UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
eclesistica, pois elevado fora em nvel de sacramento pelo snodo de Trento.
Aps as intervenes da Igreja catlica desde o sculo XVI, a associao
conjugal no Brasil constituir um campo normativo privilegiado do direito
cannico at pelo menos o sculo XIX, guiando-se por seu regime
disciplinar.
Portanto, para compreendermos de que maneira os cativos foram
acolhidos no que tange matria do matrimnio no Brasil, devemos recorrer
ao principal documento eclesistico que regulava o casamento,
especificamente ao consrcio de cativos: as Constituies Primeiras do
Arcebispado da Bahia... em vigor a partir de 1707. Suas orientaes valiam para
toda a colnia. Segundo esse regulamento, que evocava o direito divino e
humano, os escravos podiam unir-se com pessoas cativas ou livres:
Seus senhores lhe no podem impedir o matrimnio, nem o
uso dele em tempo e lugar conveniente, nem por este respeito
os podem tratar pior, nem vender para outros lugares remotos,
para onde o outro, por ser cativo, ou por ter outro justo
impedimento o no possa seguir (CONSTITUIES, 1853, p.
303).
Assim, a Igreja estendia o sacramento do matrimnio aos escravos.
importante ressaltar que, na pesquisa realizada, apenas nesse documento h
expresso consentimento nesse sentido. No aparece nas Ordenaes do
Reino nenhuma meno ao tema, tampouco nas leis cannicas de Trento h
qualquer tipo de observao acerca das associaes conjugais entre cativos,
nem proibindo, nem permitindo. O silncio a tnica.
De fato, as Constituies Primeiras do Arcebispado da Bahia tiveram vida
longa. Institudas em 1707, atravessaram o sculo XIX como referncia legal
de matrimnio. Na prtica, o matrimnio de escravos no Brasil foi regulado
exclusivamente pelas Constituies Primeiras do Arcebispado da Bahia. Tal Direito
Cannico seguia o modelo definido por Trento no que diz respeito aos
sacramentos, incluindo os cativos entre os que deveriam receb-los, desde o
batismo at a catequese (CONSTITUIES, 1853, p. 303).
O Ttulo LXXI Matrimnio dos Escravos disciplinava o tema,
garantindo de forma bastante ampla tal direito aos cativos, buscando
assegurar que o senhor no impedisse nem negasse tal direito ao escravo,
alm de proteger a vida conjugal dos cativos, a qual no podia ser perturbada
Dimenses, vol. 26, 2011, p. 288-301. ISSN: 2179-8869
294
por maus-tratos nem pela venda isolada de um dos cnjuges. O texto
categrico ao afirmar que:
[os senhores] tomam sobre suas conscincias as culpas de seus
escravos que por meio do temor se deixam muitas vezes estar,
e permanecem em estado de condenao. Pelo que lhe
mandamos, e encarregamos muito, para que no lhes ponham
impedimentos aos seus escravos para se casarem, nem com
ameaas, e mau tratamento lhes encontrem os usos do
Matrimnio em tempo, e lugar conveniente, nem depois de
casados lhes vendam para partes remotas de fora para onde
suas mulheres por serem escravas ou terem outro impedimento
legtimo no os possam seguir (CONSTITUIES, 1853, p.
304).
Nos trechos seguintes reafirma-se o modelo de matrimnio definido
nos ttulos anteriores com iguais obrigaes, sobretudo no que tange ao
conhecimento da doutrina e da finalidade do casamento. De fato, ao
contrrio da historiografia que negava a constituio da famlia escrava no
Brasil, a leitura dessa legislao cannica permite-nos duvidar de que as altas
hierarquias no reconhecessem a legitimidade do matrimnio entre escravos.
Contudo, foroso reconhecer que, muitas vezes, tais normatizaes vieram
combater os impedimentos criados pelos senhores ao enlace de cativos.
Ademais, pareceu preocupar as autoridades eclesisticas a no-observncia
dos princpios da f catlica no ato de unio conjugal entre os escravos.
Tudo isso leva a crer que a sociedade brasileira possua segmentos
preocupados com o assunto e empenhados em adequar as prticas cotidianas
do cativeiro ao regime tridentino.
Incurses sobre a famlia escrava no cotidiano capixaba
Considerando o exposto, a busca por compreender as prticas
familiares de escravos disseminadas no espao social, parece uma alternativa
valiosa. Afinal, o que de fato as Constituies Primeiras demonstram que havia
um reconhecimento social dos laos de parentesco estabelecidos por meio do
casamento, de consanginidade e mesmo das relaes concubinrias.
Na verdade, por meio de pesquisa nos arquivos da Cria Diocesana
de Vitria, encontramos registros de casamento entre escravos e de escravos
295
UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
com livres, em que se percebe a preocupao em acatar o modelo
especificado pelas Constituies Baianas. Foi o caso do registro coletivo
citado no incio dessa reflexo, mas existem muitos outros. E de maneira
geral, observamos citao Lei do Bispado:
Aos dez dias do ms de Fevereiro do anno de mil oitocentos e
sessenta e hum nesta Igreja matriz desta freguesia de Vianna,
pelas duas horas da tarde, em minha presena e das
testemunhas abaixo assignadas, predispostos na forma da Lei do
Bispado, se recebero em matrimonio Bernardino e Ursula,
escravos de Sebastio Pinto da Conceio. Confere-lhes as
benos matrimoniais para constar fiz termo que assignei.
Vigrio Joo Pinto Pestana.Testemunhas: Joaquim de Freitas
Lira e Antonio Ferreira dos Passos (CMES, Livro de Casamento
da Freguesia de Nossa Senhora da Conceio de Vianna, 1859-1873,
n 2, p. 45).
Outro testemunho no mesmo sentido:
Aos quatorze dias do ms de Abril do anno de mil oitocentos e
sessenta e hum nesta matriz da freguesia de Nossa Senhora da
Conceio de Vianna, a huma hora da tarde, em minha
presena e das testemunhas abaixo assignadas, se recebero em
Matrimonio por palavras de presente preparados na forma de
Lei do Bispado, Joo e Victoria, pretos, escravos de Raphael
Pereira de Carvalho. Conferi-lhe as bnos na forma de Rito
da Igreja e para constar, fiz este termo, que assignei. Vigrio
Joo Pinto Pestana - Testemunhas: Manoel Correia da Rocha e
Joaquim Carneiro Lira (CMES, Livro de Casamento da Freguesia de
Nossa Senhora da Conceio de Vianna, 1859-1873, n 2, p. 48).
Na prtica, a existncia de uma doutrina legitimadora das relaes
conjugais entre cativos demonstra a preocupao da Igreja em regulamentar
as associaes maritais de escravos, em face da existncia de relaes
familiares entre cativos no sancionadas oficialmente, como bem ressaltou
Florentino e Ges (1997, p. 142):
ndices marcantes de ilegitimidade no eram caractersticas
exclusivas da populao escrava. [...]. Apesar dos esforos da
Igreja ps-tridentina, obcecada em normatizar e controlar a
vida de seu rebanho, sedimentados costumes (antes
consignados inclusive nas Ordenaes do Reino, na figura do
Dimenses, vol. 26, 2011, p. 288-301. ISSN: 2179-8869
296
casamento presumido) continuavam a ser teimosos
adversrios, aos quais dificilmente aderiam as imprecaes e
ameaas dos procos mais ciosos no cumprimento das
disposies conciliares.
Neste aspecto, certo que as exortaes das Constituies Primeiras no
surtiram, de fato, o efeito desejado. Nossos dados apontam para um ndice
significativo de ilegitimidade na pia batismal: entre 52,4% e 76,7% das
crianas cativas foram declaradas como filhos naturais no perodo que se
estende de 1831 a 1871, fortalecendo a tese de uma maior freqncia de
parentesco declarado entre mes e filhos.4 Em conformidade com tal
perspectiva, Russell-Wood (2002, p. 27) afirma que:
Estudos recentes tm revisado nossas vises sobre a
composio da famlia no Brasil colonial. O que tem surgido
a diversidade da estrutura familiar e que a sano de
casamentos por parte da igreja no exerceu uma presso
bastante forte em si mesma para manter unidas as famlias.
Nesta discusso sobre famlias, [...] Donald Ramos constatou
que a famlia matrifocal era a unidade familiar predominante,
que as mulheres no-brancas eram as responsveis pela maioria
das unidades domsticas [...].
Todavia, apesar da ilegitimidade reinante, acreditamos que a Igreja
Catlica atravs das Constituies da Bahia contribuiu para a construo de
uma mentalidade de que a constituio de famlias no era de todo
conflitante escravido. Acreditamos, inclusive, que essas relaes
legitimadas podiam ser melhor protegidas no que diz respeito s intenes
de separao que alguns senhores possussem, por estarem sob os rigores e a
fiscalizao dessa instituio. Por isso, de certa forma, os senhores
permaneciam como alvo de preocupao dos clrigos como obstculos a
serem transpostos para a realizao do matrimnio de escravos segundo os
costumes tridentinos, conforme destaca Shwartz (1988, p. 315):
[...] os proprietrios aceitavam as unies consensuais como
ocorrncia na ordem natural das coisas e tendiam a no
interferir com os cativos a esse respeito ou a arranjar as unies
sem a ajuda do clero. Os clrigos, naturalmente, achavam tal
comportamento irresponsvel e repreensvel [...].
297
UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
Outro aspecto interessante a ser observado diz respeito aos
casamentos mistos. Apesar da menor freqncia em nossa amostra, em
11,4% dos registros de casamentos que levantamos encontramos escravos
casando-se com livres e vice e versa. Vejamos um exemplo:
Aos vinte dois dias do ms de Setembro do anno de mil
oitocentos e sessenta nesta Matriz de Vianna, em minha
presena e das testemunhas abaixo assignadas, pelas dez horas
da manh, preparados na forma da lei do Bispado se recebero
em matrimonio por palavras de presente Torquato Martins de
Arajo e Elena Maria do Rosrio, elle filho legitimo de Joo
Braz da Victoria e Joana Braz da Victoria, e ela filha legitima de
Luiza Teixeira da Conceio e Marcelino escravo de Joaquim
de Almeida Coutinho recebero logo as bnos matrimoniais,
do que para constar, fiz termo que assignei. Vigario Joo Pinto
Pestana. Testemunhas: Joo Manoel Nunes e Sebastio de
Freitas Lira (CMES, Livro de Casamento da Freguesia de Nossa
Senhora da Conceio de Vianna, 1859-1873, n 2, p. 32)
Testemunho como este, presente entre os enlaces registrados em
Vitria, mostra a ausncia de restrio ao casamento misto no Brasil, ao
contrrio do que se verifica em outras sociedades escravistas da Amrica.5
Tambm vlido considerar que a legislao, seja sacra ou laica, acerca
do matrimnio, que em sua origem foi destinada aos livres, sofreu adaptaes
resultantes do prprio cotidiano escravista brasileiro, com cores e contornos
prprios. Sem dvida, havia o ideal e o possvel. Na prancha intitulada:
Casamento de negros escravos de uma casa rica, Debret (1978, p. 200) tece o
seguinte comentrio:
igualmente decente e de bom-tom nas casas ricas do Brasil
fazer casarem-se as negras sem contrariar demasiado suas
predilees na escolha de um marido; este costume assenta-se
na esperana de prend-los melhor casa. [...] Na cerimnia do
casamento o criado de categoria superior que serve de
padrinho ao inferior e Nossa Senhora a madrinha de todos.
Parece que a cena imortalizada pelo pintor francs encarna o ideal
eclesistico preconizado pelas Constituies Primeiras, destacando o ponto
nodal da escravido brasileira que, se por nenhum momento deixou de ser
violenta e opressora, por outro se utilizou de recursos imprevistos por outras
sociedades escravistas da Amrica.
Dimenses, vol. 26, 2011, p. 288-301. ISSN: 2179-8869
298
Por um lado, a sociedade escravista criava formas de controle, a
ponto do matrimnio entre escravos segundo as normas tridentinas ganhar
destaque especial em um documento cannico brasileiro, no se concebendo
deixar essa relao entre escravos escapar ao controle da sociedade escravista.
Por outro, ao observar atentamente o cotidiano escravista podemos notar
que a famlia escrava criava alternativas sua existncia. Mesmo no caso de
no pertencer ao mesmo senhor e de ocupar espaos privados diferenciados
no significava, de imediato, um esfacelamento relacional definitivo. No
havia somente uma durabilidade familiar concreta.
O pertencimento a uma famlia perpassava geraes, sendo guardado
na memria daqueles que compunham aquele grupo familiar e tambm de
outros sujeitos que reconheciam determinado escravo como sendo parente
de outro. Na prtica, diante da multiplicidade de experincias, estratgias
foram elaboradas dentro e fora do cativeiro no sentido de poder vivenciar
essas relaes familiares da forma mais humana possvel indo de encontro
condio de objeto a que estavam sujeitos.
Sendo a famlia uma instituio eminentemente humana, na
complexidade da dinmica escravista em que estava presente o desejo de
torn-los desprovidos de vontades, a famlia era um elemento de
humanizao para quem era constantemente aviltado. Assim, apesar do
esforo de controle da sociedade escravista, acreditamos que compor um
grupo familiar escravo era muito mais que uma relao com as caractersticas
do modelo-familiar catlico-europeu, em que h uma relao sacramentada
pela Igreja Catlica com filhos legtimos onde o homem seria o protetor e
provedor do lar. Compor uma famlia na condio de escravo era algo que
transcendia a convivncia diria entre os seus membros em um mesmo
espao. Na verdade, famlias de escravos eram compostas tambm por um
sentimento de fazer parte como membro de determinado grupo de
parentesco. Mesmo passando por dificuldades constantes, os laos familiares
eram imprescindveis para homens, mulheres e crianas escravizados, por
significar relaes de solidariedade, de ajuda mtua. Ter um pai, me, irmos,
companheiro(a), filhos, tios, sobrinhos, cunhados, padrinhos, eram relaes
que representavam um referencial de vida, de historicidade para essas
pessoas.
299
UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
Referncias
Documentao primria impressa
ARQUIVO do Poder Judicirio do Esprito Santo. Inventrios post-mortem e
testamentos anexo, 1786-1872.
CONSTITUIES primeiras do arcebispado da Bahia [...]. So Paulo:
Typographia 2 de dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1853.
CRIA Metropolitana de Vitria. Livro de Batismo de Cativos da Catedral Victria, 1864-67, 1870.
________. Livro de Casamento da Freguesia de Nossa Senhora da Conceio de
Vianna, 1859-1873, n. 1 e 2.
________. Livro de Casamento de Viana. Viana, 1872.
________. Livro de Casamento de Viana. Viana, 1875.
________. Livro de bitos de Cativos da Catedral. Victria, 1850-1868.
Obras de apoio
CAHALI, Youssef Said. Do casamento. ________. Enciclopdia Saraiva do
Direito. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. Vol 13.
DEBRET, J.B. Viagem Pitoresca e Histrica ao Brasil. Tomo segundo. Belo
Horizonte/So Paulo: Itatiaia/USP, 1989.
ELKINS, Stanley. Slavery: a problem in a American institutional and
intellectual life. Chicago: University Chicago Press, 1959.
FARIA, Sheila Siqueira de Castro. Casamento. In VAINFAS, Ronaldo.
Dicionrio do Brasil colonial: 1850-1808. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p.106109.
FLORENTINO, M; GES, J. R. A paz das senzalas. Famlias escravas e
trfico atlntico, Rio de Janeiro, c.1790 c.1850. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1997.
GILISSEN, John. Introduo histrica ao direito. 3. ed. Lisboa: Fund. Calouste
Gulbenkian, 2001.
GRINBERG, Keila. Cdigo Civi e cidadania. 2. Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2002.
MACHADO, C. A trama das vontades. Tese. Rio de Janeiro: 2006.
MERLO, P.M.S. O N e o Ninho: estudo sobre a famlia escrava em Vitria,
Esprito Santo, 1800-1871. Rio de Janeiro: IFCS, 2008.
Dimenses, vol. 26, 2011, p. 288-301. ISSN: 2179-8869
300
ROCHA, Manoel Ribeiro. Etope resgatado: empenhado, sustentado, corrigido,
instrudo e libertado. Discurso teolgico-jurdico sobre a libertao dos
escravos no Brasil de 1758. Petrpolis: Vozes, 1992.
SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade
colonial. So Paulo: Companhia das Letras, 1988.
SILVA, J. J. de Andrade e (Org.). Coleo cronolgica da legislao portuguesa.
Lisboa, 1855-1859.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura no Brasil colnia. Petrpolis: Vozes,
1981.
SLENES, R.W. Na senzala uma flor. Esperanas e recordaes na formao da
famlia escrava, Sudeste, sc. XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. New York: Vintage Books, 1946.
VAINFAS, Ronaldo. Trpicos dos pecados: moral, sexualidade e inquisio no
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
VALLADO, Haroldo. Histria do Direito especialmente do Direito brasileiro. 3.
ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S/A, 1977.
WEHLING, Arno; WEHLING, Maria Jos. Formao do Brasil colonial. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
YALOM, M. A histria da esposa. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.
CAMPOS, A. P.; MERLO, P. M.S. Sob as bnos da Igreja: o casamento de
escravos na legislao brasileira. Topoi. Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, jul.-dez.
2005, pp. 327-361.
MORAES, Douglas Batista de. A Igreja: o baptismo, o casamento e a
angstia do confessionrio. Mneme, v.5, n.2, out/nov 2004.
RUSSELL-WOOD, A. J. R. Atravs de um prisma africano: uma nova
abordagem ao estudo da dispora africana no Brasil colonial. In: Revista
Tempo. N 12, Rio de Janeiro: Sette Letras, 2002.
Notas
Artigo submetido avaliao em 09 de maro de 2011 e aprovado para publicao em 01
de maio de 2011.
1 No final da dcada de cinquenta, pesquisadores tentaram estabelecer uma relao entre o
passado escravista e as relaes raciais das sociedades americanas. Houve uma primeira
gerao de estudiosos que sustentou a tese da distino entre os sistemas escravistas na
Amrica de acordo com o tratamento dado aos escravos (CARDOSO, Ciro Flamarion S.
Agricultura, escravido e capitalismo. Petrpolis/RJ: Vozes, 1979. p. 95 a 108).
*
301
UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
Outros estudiosos mantiveram-se atados tese da diferenciao de acordo com a potncia
colonizadora, como defendeu Stanley Elkins, argumentando que a escravido nos Estados
Unidos foi conseqncia de um capitalismo sem barreiras para a explorao do escravo. J
na Amrica Latina, a Igreja, entre outras instituies, teria impedido o tratamento desumano
dos cativos (ELKINS, Stanley. Slavery: a problem in a American institutional and intellectual
life. Chicago: University Chicago Press, 1959).
3 Neste sentido, conferir, por exemplo, nas Ordenaes Filipinas, o TTULO XVI Do que
dorme com a mulher, que anda no Pao, ou entra em casa de alguma pessoa para dormir
com mulher virgem, ou viva honesta, ou escrava branca de guarda. p.1165-66;
Correspondncia no Ttulo XXIII das Ordenaes Manuelinas. Conferir ainda, nas
Ordenaes Filipinas, o TTULO XIX Do homem, que casa com duas mulheres, e da
mulher, que casa com dous maridos. [sic], p. 1170-71; Correspondncia: Ttulo XIII das Ord.
Afonsinas e Ttulo XIX das Ord. Manuelinas. Cf. SILVA, J. J. de Andrade e (Org.). Coleo
cronolgica da legislao portuguesa. Lisboa: 1855-1859.
4 Slenes (1999) trabalhou o ndice de legitimidade segundo a estrutura de posse em
Campinas, seu trabalho aponta para a idia de quanto menor for a escravaria menor ser o
ndice de legitimidade. Em plantis com 1 a 9 escravos era 29% de legtimos e mais de 10
cativos era de 80%. J Jos Roberto Ges (1993) afirma que a ilegitimidade foi regra para
os batismos no Rio de Janeiro, na maior parte do tempo o ndice de legitimidade esteve entre
10% a 20%, alcanou seu pice entre os anos de 1820 a 1825, superando a linha dos 30%.
5 Nas colnias inglesas da Amrica, a restrio aos desposrios mistos dava-se segundo o
binmio branco-negro, segundo YELON, houve um tempo logo aps a introduo de
trabalhadores escravos nos campos de tabaco da Virgnia, em que eles chegaram a se casar
com brancas vrios casos documentados sobreviveram [...]. Parece que, nos primeiros dias
da colonizao, quando a condio social dos escravos era incerta (afinal de contas, no
havia escravos na Inglaterra), os africanos eram tratados quase como os serviais
contratados, havendo pouca distncia social entre criados brancos e escravos negros. Mas
assim que a instituio da escravido evoluiu e os escravos tornaram-se cada vez mais
desumanizados, um tabu contra relaes sexuais e casamentos com negros e ndios se
estabeleceu [...]. Nas colnias americanas no havia condio social intermediria designada
s crianas de no-brancos e brancos. Entretanto, na Flrida e Lousiana, onde as regras
espanholas e francesas prevaleciam, os mulatos eram reconhecidos como membros de uma
classe prpria, com muitos dos direitos dos brancos, pelo menos at o sculo XIX, quando
quase todos os EUA aprovaram leis proibindo casamentos entre pessoas negras, brancas e
negras ou mulatas. p. 169-70.
2
Você também pode gostar
- Apostila de Estudo Bíblico (11 Lições) PDFDocumento8 páginasApostila de Estudo Bíblico (11 Lições) PDFHelnaida69% (13)
- Russas Sua Origem Sua Gente Sua História EditadoDocumento216 páginasRussas Sua Origem Sua Gente Sua História EditadoHugo Maia100% (1)
- Mapa NHDocumento1 páginaMapa NHWagner A. Porfirio67% (3)
- Escola Normal em Teresina (1864 - 2003) - Reconstruindo Uma Memória Da Formação de ProfessoresDocumento184 páginasEscola Normal em Teresina (1864 - 2003) - Reconstruindo Uma Memória Da Formação de ProfessoresGustavoPiraAinda não há avaliações
- Escola Normal - O Projeto Das Elites Brasileiras para A Formação de ProfessoresDocumento11 páginasEscola Normal - O Projeto Das Elites Brasileiras para A Formação de ProfessoresGustavoPiraAinda não há avaliações
- O Verdadeiro Sentido Do Natal - GeralDocumento7 páginasO Verdadeiro Sentido Do Natal - GeralAdriano Oliveira100% (3)
- Bndes FinameDocumento5 páginasBndes FinameUilliamJungbluth100% (1)
- Escola Normal Na Parahyba Do Norte - Movimento e Constituição Da Formação de Profesores No Século XIXDocumento320 páginasEscola Normal Na Parahyba Do Norte - Movimento e Constituição Da Formação de Profesores No Século XIXGustavoPiraAinda não há avaliações
- Escola Normal Da Corte (1876 - 1889) - Contribuição para o Estudo Das Instituições de Formação de Professores No ImpérioDocumento12 páginasEscola Normal Da Corte (1876 - 1889) - Contribuição para o Estudo Das Instituições de Formação de Professores No ImpérioGustavoPiraAinda não há avaliações
- Educação e Sociedade Na Primeira República - Ensino NormalDocumento10 páginasEducação e Sociedade Na Primeira República - Ensino NormalGustavoPiraAinda não há avaliações
- Educação Da Mulher e Evangelização Católica - Um Olhar Sobre A Escola Normal N. Sra. Do PatrocínioDocumento198 páginasEducação Da Mulher e Evangelização Católica - Um Olhar Sobre A Escola Normal N. Sra. Do PatrocínioGustavoPiraAinda não há avaliações
- Políticas de Formação de Educadoras e Educadores - Direitos Humanos e GêneroDocumento16 páginasPolíticas de Formação de Educadoras e Educadores - Direitos Humanos e GêneroGustavoPiraAinda não há avaliações
- Programa Silvio Sánchez Gamboa 2012Documento5 páginasPrograma Silvio Sánchez Gamboa 2012Eliton PereiraAinda não há avaliações
- Filosofia Da Educação e Imagens de Docência - O Professor Viajante Ou Alquimista.Documento24 páginasFilosofia Da Educação e Imagens de Docência - O Professor Viajante Ou Alquimista.GustavoPiraAinda não há avaliações
- Colégio Estadual Professor Josué Meireles Prova 1º Bimestre PortuguesDocumento6 páginasColégio Estadual Professor Josué Meireles Prova 1º Bimestre PortuguesAlmeida CarolAinda não há avaliações
- Clientes WebsicsDocumento9 páginasClientes WebsicsAnonymous vcFzNy3Ainda não há avaliações
- Preliminar VD - II 2023Documento23 páginasPreliminar VD - II 2023Luiz FelipeAinda não há avaliações
- A Nação OmolokoDocumento13 páginasA Nação OmolokoJosé Carlos Cavalheiro100% (1)
- Cuco2022 PremiadosDocumento138 páginasCuco2022 Premiadosashe guevaraAinda não há avaliações
- Escravidão, Farinha e Tráfico Atlântico: Um Novo Olhar Sobre As Relações Entre o Rio de Janeiro e Benguela (1790-1830)Documento62 páginasEscravidão, Farinha e Tráfico Atlântico: Um Novo Olhar Sobre As Relações Entre o Rio de Janeiro e Benguela (1790-1830)marcos.firminoAinda não há avaliações
- Exemplo de Anteprojeto para DoutoradoDocumento15 páginasExemplo de Anteprojeto para DoutoradoFernando GuedesAinda não há avaliações
- IBGE APM - Lista - Nominal 2021Documento34 páginasIBGE APM - Lista - Nominal 2021Luci SilvaAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre A Diversidade CulturalDocumento2 páginasExercícios Sobre A Diversidade Culturalcitia.oliveiraAinda não há avaliações
- AntropologiaDocumento406 páginasAntropologiaRita GracaAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2022-03-16 À(s) 12.32.28Documento94 páginasCaptura de Tela 2022-03-16 À(s) 12.32.28Gugu ImportadosAinda não há avaliações
- A Perola PreciosaDocumento21 páginasA Perola PreciosauruxumAinda não há avaliações
- Citações de Jesus No Velho TestamentoDocumento5 páginasCitações de Jesus No Velho TestamentoBrinquetoys Rio de Janeiro100% (1)
- Flavia Pedroza LimaDocumento142 páginasFlavia Pedroza LimaMarcia AlvimAinda não há avaliações
- Salmo 133 Analise e InterpretacaoDocumento25 páginasSalmo 133 Analise e InterpretacaoRenato.'.Ainda não há avaliações
- Lista - Aprovados - UFRJ - Nomeados - Assumir (6 Planilhas/Abas)Documento28 páginasLista - Aprovados - UFRJ - Nomeados - Assumir (6 Planilhas/Abas)Rafael LimaAinda não há avaliações
- Coletânea DigitalDocumento2.915 páginasColetânea DigitalAlessandra MoraesAinda não há avaliações
- A Companhia Do Niassa Foi Formada Por Alvará Régio de 1890Documento6 páginasA Companhia Do Niassa Foi Formada Por Alvará Régio de 1890placido julioAinda não há avaliações
- UnespDocumento533 páginasUnespJavan Wilson dos SantosAinda não há avaliações
- Rede Credenciada - AbergsDocumento11 páginasRede Credenciada - AbergsDanielAinda não há avaliações
- Ana MariaDocumento233 páginasAna MariaAna Maria de SouzaAinda não há avaliações
- FÍSICA MÉDICA Aprovados e Classificados-24-01-2020Documento187 páginasFÍSICA MÉDICA Aprovados e Classificados-24-01-2020João MateusAinda não há avaliações
- Fogo Que Purifica JuvenisDocumento6 páginasFogo Que Purifica JuvenisFelipe PereiraAinda não há avaliações
- Cantos para CelebraçõesDocumento3 páginasCantos para CelebraçõesAntonio Luiz PimentaAinda não há avaliações
- Listas Da CDU AlandroalDocumento6 páginasListas Da CDU AlandroalCDU Distrito de ÉvoraAinda não há avaliações