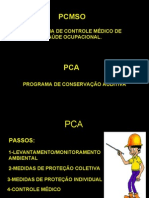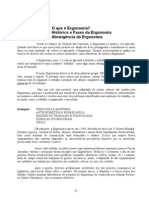Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Exposiã Ão Ao Calor
Exposiã Ão Ao Calor
Enviado por
Alexandro CastelãoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Exposiã Ão Ao Calor
Exposiã Ão Ao Calor
Enviado por
Alexandro CastelãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
EXPOSIO AO CALOR
1 PARTE
Iniciaremos, com este, uma srie de artigos, nos quais sero abordados sucintamente os
conceitos necessrios ao atendimento do assunto, bem como os diferentes processos de
avaliao de calor, procurando fazer uma comparao entre os diversos ndices preconizados
pela literatura tcnica.
Em seguida, sero focalizadas as prescries contidas na NR-15 Anexo 5, utilizadas para
determinao de Insalubridade nos ambientes de trabalho e quelas contidas na NR-17Ergonomia.
Por ltimo, transcreveremos um artigo sobre os efeitos do calor no organismo humano,
assunto que a nosso ver, deve ser abordado por mdico do trabalho.
Conceitos Fundamentais
O ser humano mantm uma temperatura interna aproximadamente constante (em torno de
37C) seja qual for a temperatura externa (do ambiente).
Essa caracterstica est ligada a existncia de um mecanismo fisiolgico de regulao da
temperatura interna do corpo, o qual responsvel pela conservao e dissipao do calor.
A temperatura da pele, para que se mantenha o equilbrio trmico entre o corpo e o ambiente,
deve ser sempre menor do que a temperatura central do corpo em mais ou menos 1C.
O equilbrio trmico entre o corpo e o ambiente baseia-se na igualdade:
Quantidade de calor recebida = Quantidade de calor cedida
As trocas de calor necessrias para que se mantenha essa igualdade dependem,
fundamentalmente, das diferenas de temperaturas entre a pele e o ambiente e o da presso
de vapor d'gua no ar em torno do organismo, a qual, por sua vez, influenciada pela
velocidade do ar.
importante ressaltar que a troca de calor sempre ocorre no sentido do corpo com maior
temperatura para o de menor temperatura.
So quatro as formas pelas quais se procedem essas trocas:
Conduo - pelo contato direto do corpo com objeto mais quente;
Conveno - atravs do ar ou de outro fluido em movimento;
Radiao - atravs de ondas eletromagnticas (normalmente o infravermelho).
Esses trs processos podem ocorrer devido a existncia de fontes externas com temperatura
mais elevada do que a da pele. Esse calor transferido chamado de calor sensvel.
Existe ainda um quarto processo que est ligado ao calor latente, utilizado para mudana de
estado (de gua, em estado lquido para vapor d'gua).
Evaporao - Esse processo de troca ocorre sem que seja modificada a temperatura.
Assim, o calor recebido pelo corpo, nos casos de exposio a temperaturas elevadas,
utilizado pelo organismo para evaporar parte da gua interna atravs da sudorese, no
permitindo o aumento da temperatura interna.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
Como metabolismo entende-se o conjunto de fenmenos qumicos e fsico-qumicos, mediante
os quais so feitas a assimilao e desassimilao das substncias necessrias a vida.
Calor Metablico - o calor produzido por esse conjunto de reaes.
Quando o homem estiver em jejum e em repouso esse calor denomina-se Calor Metablico
Basal.
A partir do prximo nmero, analisaremos as diversas formas de obteno de ndices ou
parmetros utilizados como referncias na identificao do conforto do organismo humano
quando exposto ao calor nos ambientes de trabalho.
proporo que forem surgindo novos conceitos ou variveis, os mesmos sero analisados.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
EXPOSIO AO CALOR
2 PARTE
AVALIAO DE SOBRECARGA TRMICA
Dando prosseguimento a srie de artigos sobre calor trataremos dos ndices utilizados para
avaliao de sobrecarga trmica a que podem estar submetidos os trabalhadores.
Como j vistos nos artigos anteriores, os fatores que determinam a sobrecarga trmica so: a
temperatura ambiente, a umidade relativa, o calor radiante, a velocidade do ar e o
metabolismo gerado no desenvolvimento do trabalho/atividade. Por conseguinte, qualquer
mtodo de trabalho que vise a avaliao da sobrecarga trmica dever levar em conta os
citados fatores.
Existem diversos mtodos e estudos que pretendem avaliar, mediante a utilizao de um
ndice as caractersticas do ambiente, bem como, os limites aceitveis de exposio ao calor
aos quais podem estar expostos os trabalhadores. No entanto, devido a grande quantidade de
variveis envolvidas no processo no se conseguiu ainda nenhum mtodo que reflita de
maneira fiel a avaliao da sobrecarga trmica.
Apresentaremos agora a fundamentao e mtodo de alguns dos ndices mais utilizados,
fazendo uma anlise prtica de sua aplicao no campo da Segurana e Sade do Trabalhador.
Os mtodos podem ser divididos em dois grandes grupos:
Mtodos Fisiolgicos (Empricos)
Estes mtodos esto baseados em estudos realizados com grupos de pessoas (grupos de
controle). A partir da anlise dos dados estatsticos obtidos, so construdos grficos e tabelas
que so utilizados como base para avaliao do problema.
Mtodos Instrumentais
Esses procedimentos procuram buscar um modelo fsico/matemtico que se assemelhe s
condies a que estariam sujeitos os trabalhadores, quando expostos aos fatores do ambiente
que influenciam a sobrecarga trmica.
Entre os mtodos fisiolgicos adquire importncia o ndice de Temperatura Efetiva.
Esse ndice foi inicialmente proposto (1923) pela American Society of Heating and Vantilatng
Engineers (ASVHE). Concebido a princpio como um critrio de avaliao de conforto trmico, o
mtodo est baseado no estudo das respostas de grandes conjuntos de pessoas que trabalham
em ambientes com diferentes combinaes de temperatura, umidade e movimentao de ar. A
idia fundamental do mtodo foi de reunir, em uma nica designao, ou seja, em um ndice,
todas as condies climticas que produzem uma mesma ao fisiolgica.
Assim, por exemplo, as condies de temperatura do ar de 20C com umidade relativa de
100%, sem movimentao de ar (V = 0 m/s) corresponder a uma temperatura efetiva de
20C .
Utilizando-se de dados obtidos com base puramente subjetiva sero verificadas outras
temperaturas que, para umidades relativas diferentes, provoquem as mesmas sensaes de
calor que a temperatura efetiva de 20C.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
Isso ocorre para as condies do ambiente com umidade relativa do ar de 20% e temperatura
de 24C (sem movimentao de ar).
Todas as respostas subjetivas podem ser plotadas em grficos (diagramas psicromtricos) e
com eles obtidos os valores do ndice de Temperatura Efetiva.
Como podemos observar, o ndice de Temperatura Efetiva leva em considerao os seguintes
parmetros:
Temperatura do ar (bulbo seco) (C)
Umidade relativa do ar (%)
Velocidade do ar (m/s)
O ndice de Temperatura Efetiva perde representatividade quando aplicado em exposies ao
calor em condies distintas das de conforto trmico, j que no completa nenhum fator para
avaliao do metabolismo total.
Esse ndice j foi adotado no Brasil para a caracterizao de condies insalubres
(TE > 28C - Portaria 491), tendo sido revogado quando da entrada em vigor da Portaria
3.214/78 - NR - 15 - anexo 3 que instituiu o IBUTG como ndice de avaliao das condies de
insalubridade.
Atualmente, o ndice de Temperatura Efetiva adotado como parmetro na determinao de
conforto trmico (NR - 17 - Ergonomia, item 17.5.2 - alnea b).
De posse desses valores, os mesmos devem ser comparados com queles especificados pelas
Normas Tcnicas como limites de tolerncia para conforto trmico.
Outra restrio que se apresenta quando da aplicao desse ndice que o mesmo no leva
em conta a troca de calor devida a radiao. Quando existem fontes de calor radiante no
ambiente, as variveis utilizadas no so suficientemente representativas das verdadeiras
condies de exposio ao calor.
Nesse caso, usa-se o ndice de Temperatura Efetiva Corrigido, que obtido substituindo-se
nos bacos a Temperatura de Bulbo Seco (Tbs) pela Temperatura de Globo (Tg) - que
representativa do calor radiante - e, com auxlio de uma carta psicromtrica, determina-se a
Temperatura de Bulbo mido (Tbu) que o ar possuiria com a mesma quantidade de vapor
dgua, ou seja, com a mesma umidade absoluta se esse ar fosse aquecido para a nova
temperatura.
Para o caso de aplicao das grandezas descritas com vistas ao atendimento da NR - 17
Ergonomia, as condies limitantes so: alm da temperatura efetiva entre 20 e 23C, a
velocidade do ar no podendo ser superior a 0,75 m/s (1,5 ps/s) e a umidade relativa do ar
no podendo ser inferior a 40%.
Dentro desses condicionantes, sem existncia de fontes de calor radiante no ambiente, a
temperatura efetiva um ndice razoavelmente representativo do conforto trmico. No se
pode, entretanto, concluir que a inobservncia desses parmetros possa levar a se considerar
a existncia de condies de insalubridade por calor.
De qualquer forma, o ndice de Temperatura Efetiva mais representativo das condies de
conforto trmico do que o IBUTG.
Este artigo contou com a colaborao do Eng. de Segurana Marcelo Artur Madureira
Azevedo.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
Os leitores deste artigo podem solicitar, sem nus, o fornecimento de cpias dos bacos
necessrios para o clculo do ndice de Temperatura Efetiva, atravs de correspondncia para
SOBES, ateno ao Eng. Andr Lopes Netto, na Avenida Rio Branco, 124, 22 andar, CEP:
20148-900 - Centro - Rio de Janeiro, RJ.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
EXPOSIO AO CALOR
3 PARTE
NDICE DE TEMPERATURA EFETIVA
Dando continuidade ao assunto enfocado no artigo anterior (2 parte), abordaremos alguns
aspectos que devem ser levados em considerao quando da aplicao do ndice de
Temperatura Efetiva (TE).
O TE foi o primeiro dos ndices empricos estabelecidos e at recentemente o mais largamente
utilizado para a determinao da avaliao de calor nos ambientes de trabalho.
Como j visto, esse ndice funo de trs variveis:
temperatura de bulbo seco
umidade relativa do ar (medida atravs da temperatura de bulbo mido)
velocidade do ar
A umidade absoluta do ar responsvel pelo controle da evaporao de suor gerado pelo
corpo. Uma umidade absoluta de ar elevada dificulta a evaporao do suor, e representa,
portanto, uma barreira tcnica para o organismo eliminar o calor gerado pelo metabolismo.
A atmosfera em que vivemos uma composta de uma fase gasosa (21% de oxignio, 78% de
nitrognio e 1% para outros gases) e vapor dgua. O ar no pode conter, a uma tal
temperatura, mais que uma certa quantidade de vapor dgua.
A umidade relativa do ar definida como sendo a relao entre o peso de vapor dgua contido
em um dado volume de ar, e o peso do mesmo que saturaria a mistura a mesma temperatura,
em igual volume de ar.
Como a umidade relativa do ar funo da temperatura do ambiente, quando a temperatura
aumenta (umidade absoluta do ar constante), diminui a umidade relativa do ar. Com isso
diminui a influncia da umidade no clculo do ndice, ou seja , o ndice subestima a
importncia da umidade do ar.
Quando a temperatura do ambiente diminui (umidade absoluta do ar constante), aumenta a
umidade relativa do ar, fazendo com que cresa sua influncia no clculo do ndice, ou seja,
nessa situao a importncia da umidade do ar superestimada.
O ndice de Temperatura Efetiva determinado atravs da utilizao de bacos , em que trs
variveis so plotadas:
temperatura de bulbo mido ( Tbu)
temperatura de bulbo seco (Tbs)
velocidade do ar (Va)
A temperatura de bulbo mido incorpora a varivel de umidade relativa do ar, necessria ao
clculo da temperatura efetiva.
Deve-se ainda acrescentar que podem apresentar-se duas situaes distintas para aplicao
desse ndice.
A primeira, refere-se s condies laborais em que o trabalhador encontra-se sem vestimenta
completa, ou seja, de dorso descoberto; a segunda refere-se quelas em que o trabalhador
encontra-se com o dorso coberto.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
Para a determinao do ndice aplicam-se bacos, que so construdos levando em conta essas
condies diferentes de troca de calor com o ambiente.
na primeira, com o dorso desnudo, a evaporao cresce com o aumento da rea
de evaporao e, portanto, o ndice de Temperatura Efetiva menor;
na segunda, quando o trabalhador se encontra vestido, isto , de dorso coberto,
o ndice de Temperatura Efetiva resultante ser maior.
Outra restrio que se apresenta quando da aplicao desse ndice que o mesmo no leva
em conta a troca de calor devida a radiao. Quando existem fontes de calor radiante no
ambiente, as variveis utilizadas no so suficientemente representativas das verdadeiras
condies de exposio ao calor.
Nesse caso, usa-se o ndice de Temperatura Efetiva Corrigido, que obtido substituindo-se
nos bacos a Temperatura de Bulbo Seco (Tbs) pela Temperatura de Globo (Tg) (que
representativa do calor radiante) e, com auxlio de uma carta psicromtrica, determina-se a
Temperatura de Bulbo mido (Tbu) que o ar possuiria com a mesma quantidade de vapor
dgua (ou seja, com a mesma umidade absoluta) se esse ar fosse aquecido para a nova
temperatura.
Para o caso de aplicao das grandezas descritas com vistas ao atendimento da NR-17 Ergonomia, as condies limitantes so: alm da temperatura efetiva entre 20 e 23 C, a
velocidade do ar no podendo ser superior a 0,75 m/s (1,5 ps/s) e a umidade relativa do ar
no podendo ser inferior a 40%.
Dentro desses condicionantes, sem existncia de fontes de calor radiante no ambiente, a
temperatura efetiva um ndice razoavelmente representativo do conforto trmico. No se
pode, entretanto, concluir que a inobservncia desses parmetros possa levar a se considerar
a existncia de condies de insalubridade por calor.
De qualquer forma o ndice de Temperatura Efetiva mais representativo das condies de
conforto trmico do que o IBUTG.
Os leitores desta coluna podem solicitar, sem nus, o fornecimento de cpias dos bacos
necessrios para o clculo do ndice de Temperatura Efetiva, atravs de correspondncia para
Andr Lopes Netto, na Avenida Rio Branco, 124, 22 andar, CEP
, Rio de Janeiro,
RJ.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
EXPOSIO AO CALOR
4 PARTE
NDICES DE AVALIAO DE CALOR
Aps termos discutido os ndices de avaliao de calor mais utilizados: IBUTG (ndice de Bulbo
mido - Termmetro de Globo), TE (Temperatura Efetiva) e TEC (Temperatura Efetiva
Corrigida), abordaremos neste artigo outro ndice tambm adotado com freqncia na
avaliao de calor.
ndice de Sobrecarga Trmica
O ndice de Sobrecarga Trmica foi desenvolvido, na dcada de 50, por Belding e Hatch na
Universidade de Pittsburgh e combinava os efeitos do calor radiante e de conveco com o
calor gerado pelo metabolismo.
O ndice de Sobrecarga Trmica (IST) essencialmente uma decorrncia da equao de
balano trmico que inclui fatores metablicos e ambientais.
Belding e Hatch partiram do princpio fisiolgico de que o mximo tolervel de exposio a
calor aquele em que o equilbrio trmico possa ser mantido (para determinada carga de
trabalho), sem que haja elevao excessiva da temperatura da pele. O valor do IST representa
a relao entre a quantidade de calor que um indivduo, submetido a um ambiente trmico
determinado, necessita evaporar atravs da sudorese e a quantidade de mxima de calor que
pode ser eliminada naquele ambiente.
Em outras palavras o IST quociente entre a evaporao requerida (Ereq) e a evaporao
mxima (Emx), normalmente expressa sob a forma percentual.
IST = (Ereq / Emx).100
O IST um dos mtodos que permite uma avaliao mais correta da sobrecarga trmica,
tendo em vista que contempla todos os parmetros que influem nos ganhos e perdas de calor
pelo indivduo. Seu principal inconveniente est na complexidade dos clculos para
determinao do calor radiante e de conveco e na necessidade da exata determinao de
todos os parmetros fsicos e do metabolismo total que no so facilmente medidos de uma
maneira exata.
A evaporao requerida (Ereq) e a evaporao mxima (Emx) podem ser avaliadas por meio
de equaes empricas desenvolvidas por Mc Karns e Brief mediante a utilizao de um
nomograma. As equaes utilizadas so as seguintes:
R = 17,5 (Tw - 95)
C = 0,756 V0,6 (Ta - 95)
Emx = 2,8 V0,6 (42 - Pw)
Onde:
R = Calor trocado por radiao (Btu/h)
C = Calor trocado por conveco (Btu/h)
Emx.= Calor mximo perdido por evaporao (Btu/h)
Tw = Temperatura radiante mdia (F)
Ta = Temperatura ambiente (F)
V = Velocidade do ar (ft/min)
Pw = Presso de vapor (mm Hg)
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
Cabe aqui informar que este ndice um indicador das condies de desconforto trmico, o IST
no aplicvel em condies de excessivo calor. O IST no identifica corretamente as
diferenas existentes em um ambiente quente e seco e outro quente e mido.
Para a elaborao deste artigo o autor contou com a colaborao do Eng. Marcelo Artur
Madureira Azevedo.
Os leitores deste artigo podem solicitar, sem nus, o fornecimento de cpias dos bacos
necessrios para o clculo do ndice de Sobrecarga Trmica, atravs de correspondncia para
Andr Lopes Netto, na Avenida Rio Branco, 124, 22 andar, Rio de Janeiro, RJ.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
EXPOSIO AO CALOR
5 PARTE
QUESTES POLMICAS
Finalizando esta srie de artigos trataremos neste nmero de algumas questes polmicas que
normalmente so colocadas pelo profissionais quando se deparam com a necessidade de
realizar uma avaliao de calor nos ambientes de trabalho.
Devem ser levadas em conta na aplicao do Anexo 3 da NR-15 apenas as fontes artificiais de
calor e desconsideradas as naturais?
Atualmente a NR-15 Atividades e Operaes Insalubres, em seu Anexo 3 Limites de
Tolerncia para Calor, indica dois procedimentos para clculo do IBUTG (j definidos no
decorrer destes artigos), um para ambientes internos (sem carga solar) e outro para
ambientes externos (com carga solar Fontes Naturais e Fontes Artificiais ou somente Fontes
Naturais). Isto posto, dentro do que prescreve o diploma legal, devemos aplicar os Limites de
Tolerncia para Calor seja o mesmo gerado por fontes naturais ou artificiais.
Julgamos que a origem de tal dvida decorre do fato de que anteriormente a entrada em vigor
da Portaria n. 3.214/78, a Portaria MTPS n. 491 de 10.09.1965 ento vigente, determinava
que a caracterizao de insalubridade por calor ficasse restrita aos ambientes com fontes
artificiais, no levando em conta a contribuio decorrente da exposio a radiao solar.
Qual a metodologia a ser utilizada para a realizao das avaliaes de calor?
Atualmente a metodologia nacional mais utilizada a NHT 01 C/E da FUNDACENTRO
que define os procedimentos bsicos que devem ser seguidos quando da realizao
de avaliaes de calor.
A metodologia da FUNDACENTRO foi elaborada tomando-se por base a avaliao
executada com o auxlio de rvore de termmetros. Na poca da elaborao da
metodologia o nmero de equipamentos eletrnicos para avaliao de calor ainda era
muito reduzido. Atualmente com o avano da tecnologia digital os profissionais
envolvidos contam com equipamentos eletrnicos bastante precisos e repletos de
recursos (armazenamento de vrias medies, impresso de resultados e outros), e
ainda com a vantagem de serem equipamentos portteis bem mais fceis de serem
montados e transportados.
Ser o IBUTG o ndice mais adequado para avaliao de sobrecarga trmica no Brasil?
Aqueles que acompanharam esta srie de artigos sobre avaliao de calor j devem possuir
uma idia bastante clara a respeito da inadequao do IBUTG a nossa realidade. Obviamente,
o referido ndice no adequado pois foi elaborado para as condies americanas de
treinamento militar. Para encontrarmos uma soluo para esse problema teremos que elaborar
um novo ndice ou adaptarmos o IBUTG s condies brasileiras (lembrem-se do exemplo da
Sucia anteriormente apresentado).
Quais as medidas sugeridas?
Sem a realizao de pesquisas especficas para as condies do trabalhador brasileiro, ficamos
sujeitos a copiar, e normalmente de maneira atrasada no tempo e defasada na qualidade, as
experincias americanas ou europias. E com a agravante que, para o caso brasileiro esses
limites adotados so utilizados para caracterizao legal dos adicionais de insalubridade e com
reflexos at na concesso do benefcio da aposentadoria especial.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURAA
SOBES
Necessitaria portanto a SSST, em conjunto com a FUNDACENTRO, Sociedades Tcnicas e
Universidades iniciar uma pesquisa ampla e profunda das verdadeiras contribuies das
condies ambientais do calor para a sade do trabalhador brasileiro.
Para a elaborao deste artigo o autor contou com a colaborao do Eng. Marcelo Artur
Madureira Azevedo.
Andr Lopes Netto
Eng. de Segurana
Conselho Consultivo da SOBES
Você também pode gostar
- Modelo de Laudo de CalorDocumento2 páginasModelo de Laudo de Calorapi-370499083% (6)
- AvcDocumento4 páginasAvcapi-3704990100% (1)
- PCA e Medidas de Controle de RuídoDocumento54 páginasPCA e Medidas de Controle de Ruídoapi-3868003100% (2)
- Programa Geral de Saúde e Segurança Do TrabalhadorDocumento16 páginasPrograma Geral de Saúde e Segurança Do Trabalhadorapi-370499040% (5)
- Avaliação e Controle Da Exposição Ocupacional À Poeiras Na Industria Da ConstruçãoDocumento7 páginasAvaliação e Controle Da Exposição Ocupacional À Poeiras Na Industria Da ConstruçãoflavialaminAinda não há avaliações
- Dimension Amen To Guarda CorpoDocumento42 páginasDimension Amen To Guarda Corpoapi-3704990100% (3)
- Análise Do Trabalho e Serviço de Limpeza HospitalarDocumento13 páginasAnálise Do Trabalho e Serviço de Limpeza Hospitalarapi-3704990100% (2)
- IntroduÇÃo A Higiene e SeguranÇaDocumento99 páginasIntroduÇÃo A Higiene e SeguranÇaapi-3704990100% (8)
- Cartilha Do Trabalhador em EnfermagemDocumento44 páginasCartilha Do Trabalhador em Enfermagemapi-3704990100% (3)
- Dicionário TécnicoDocumento85 páginasDicionário Técnicoapi-3704990100% (5)
- AULA04 - Análise Postural Do Corpo HumanoDocumento8 páginasAULA04 - Análise Postural Do Corpo Humanoapi-3704990Ainda não há avaliações
- Apostila de Segurança Do TrabalhoDocumento24 páginasApostila de Segurança Do Trabalhoapi-370499096% (23)
- AULA08 - FadigaDocumento6 páginasAULA08 - Fadigaapi-3704990100% (2)
- AULA09 - Psicopatologia Do TrabalhoDocumento6 páginasAULA09 - Psicopatologia Do Trabalhoapi-3704990100% (1)
- C A R T I L H A - PPPDocumento36 páginasC A R T I L H A - PPPapi-3704990Ainda não há avaliações
- Apostila de Agentes FísicosDocumento31 páginasApostila de Agentes Físicosapi-3704990100% (4)
- AULA02 - Noções Básicas de Anatomia e FisiologiaDocumento7 páginasAULA02 - Noções Básicas de Anatomia e Fisiologiaapi-3704990100% (13)
- Apostila Treinamento de 5'SDocumento19 páginasApostila Treinamento de 5'Srgfalima100% (2)
- AULA05 - Posto de TrabalhoDocumento5 páginasAULA05 - Posto de Trabalhoapi-370499050% (2)
- AULA03 - Limitações Do Organismo HumanoDocumento4 páginasAULA03 - Limitações Do Organismo Humanoapi-3704990100% (1)
- AULA06 - AntropometriaDocumento7 páginasAULA06 - Antropometriaapi-3704990100% (6)
- AULA01 - ErgonomiaDocumento6 páginasAULA01 - Ergonomiaapi-3704990Ainda não há avaliações
- O Trabalho em Ambientes QuentesDocumento3 páginasO Trabalho em Ambientes Quentesapi-3704990100% (1)
- Carga TérmicaDocumento21 páginasCarga Térmicaapi-3704990100% (6)
- Quadro Modelo IBUTGDocumento2 páginasQuadro Modelo IBUTGapi-3704990100% (3)
- Termografia - Análise Da TemperaturaDocumento5 páginasTermografia - Análise Da Temperaturaapi-3704990100% (3)
- Temperatura EfetivaDocumento3 páginasTemperatura Efetivaapi-3704990Ainda não há avaliações
- O Trabalho em Ambientes QuentesDocumento3 páginasO Trabalho em Ambientes Quentesapi-3704990100% (1)
- CalorDocumento41 páginasCalorBlazkowicz MarkAinda não há avaliações