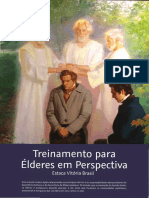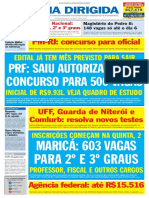Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Crack No Brasil PDF
Crack No Brasil PDF
Enviado por
Emanuel Luz0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações1 páginaTítulo original
Crack no Brasil.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações1 páginaCrack No Brasil PDF
Crack No Brasil PDF
Enviado por
Emanuel LuzDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 1
1016 EDITORIAL
Crack no Brasil: uma emergncia de sade
A despeito da sua desconhecida magnitude a ser estabelecida em bases empricas o tr-
fico e consumo de crack se revestem de uma dimenso relevante no Brasil contemporneo,
seja do ngulo da percepo que deles tem a sociedade, seja da resposta do poder pblico.
Diferentemente da histria norte-americana de temperana e proibio da manufatura,
venda e consumo do lcool sob a forma da 18a emenda constitucional (de 1919), no h, na
histria brasileira, paralelo recente implementao de um plano abrangente de enfrenta-
mento do crack. Parte desse ineditismo se deve ao fato de se tratar de uma droga com ao
especialmente rpida, frequentemente associada ao consumo abusivo/dependente, que
afeta particularmente segmentos jovens da populao (incluindo crianas e adolescentes)
e de uma visibilidade indita enquanto cena pblica de venda e consumo, ao extravasar o
espao das comunidades pobres e ganhar novos espaos urbanos, contguos aos espaos
de circulao das classes mdias e dos meios de comunicao.
Mas emergncia no apenas urgncia de resposta, como emergir, vir tona, e, nesse
sentido, um fenmeno emergente em sade pblica requer a proposio e utilizao de
novos conceitos e mtodos de anlise. Esses existem, mas so de aplicao recentssima. A
ttulo de exemplo, a excelente coletnea de 2001 subentitulada Mtodos para Quantificar
e Compreender Processos Ocultos (Modelling Drug Use, EMCDDA Monograph Series 6) no
contempla os mtodos utilizados hoje (no Brasil e no mundo) para a estimao de popu-
laes de difcil acesso: Respondent-driven Sampling, Time-location Sampling (e seus re-
finamentos; PLoS One 2012; 7(4):e34104) e Network Scale-Up (NSU) (Am J Epidemiol 2011;
174:1190-6). Portanto, estamos s voltas com profundas mudanas de paradigma na epi-
demiologia e etnografia das cenas de uso de drogas (recorde-se, a esse propsito, que os
formuladores do NSU so antroplogos; http://nersp.osg.ufl.edu/~ufruss/scale-up.htm).
Para alm dos desafios metodolgicos postos adequada compreenso e dimensiona-
mento da questo, a anlise das polticas pblicas tem sido perigosamente simplificada
pela no contextualizao das polticas de drogas enquanto fenmeno global (ainda que
com expresses locais contrastantes), regidas por tratados ratificados pelos membros da
ONU, que, em boa medida, definem a estreita margem de manobra dos estados nacio-
nais. Portanto, quando se discute o impacto desarmnico e contraproducente (quando,
por exemplo, a atuao de agentes de sade bloqueada pelo confronto entre faces cri-
minosas e foras policiais numa dada comunidade) das polticas brasileiras, deixa-se de
lado a profunda contradio e os impasses experimentados pelas polticas de drogas no
nvel mundial e a crise na esfera da segurana pblica e a violao dos direitos humanos
em pases como o Mxico e a Guatemala. Finalmente, no debate sobre opes teraputi-
cas so mencionados ora o carter imperscrutvel das formaes do inconsciente, ora as
formulaes de diferentes denominaes religiosas, esquecendo-se dos marcos da rep-
blica e da democracia, e que, portanto, o dilogo crtico com a razo no um luxo, mas
uma necessidade republicana. Sejam quais forem as determinaes do consumo abusivo/
dependente de substncias psicoativas, o estado e a sociedade tm o direito e o dever de
submeter as polticas pblicas e as opes teraputicas ao escrutnio da pesquisa emprica
e da reflexo crtica.
Francisco I. Bastos
Instituto de Comunicao e Informao Cientfica e Tecnolgica em Sade, Fundao Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.
francisco.inacio.bastos@hotmail.com
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 28(6):1016-1017, jun, 2012
Você também pode gostar
- Mentoria 04 - Autoridade Sem AutoritarismoDocumento22 páginasMentoria 04 - Autoridade Sem AutoritarismoRafa Martins100% (2)
- Falar Com Deus - CoralDocumento2 páginasFalar Com Deus - CoralLais Oliveira do Amaral100% (3)
- DinâmicasDocumento105 páginasDinâmicasAlanisAinda não há avaliações
- Treinamento para Élderes em Perspectiva - VisualizaçãoDocumento67 páginasTreinamento para Élderes em Perspectiva - VisualizaçãoWanderson BoequiAinda não há avaliações
- Como Usar Grabovoi - Grigori Grabovoi Sequências NuméricasDocumento3 páginasComo Usar Grabovoi - Grigori Grabovoi Sequências NuméricasMaria IsabelAinda não há avaliações
- História de Óbidos, 6º AnoDocumento82 páginasHistória de Óbidos, 6º AnocarlosvieiraprofessorAinda não há avaliações
- Curso de Italiano Completo Parte 2Documento17 páginasCurso de Italiano Completo Parte 2ammyAinda não há avaliações
- A Liahona Outubro 2010Documento88 páginasA Liahona Outubro 2010Joice Barbosa Avelino100% (1)
- 1° Simulado Guarda Municipal de São Gonçalo Do Amarante - Ce. Cérebro ConcursosDocumento21 páginas1° Simulado Guarda Municipal de São Gonçalo Do Amarante - Ce. Cérebro Concursosfrancsi12659193Ainda não há avaliações
- Ficha Geo. Nº 2Documento7 páginasFicha Geo. Nº 2escolartctc100% (1)
- Curso de Analise Real (Cassio Neri) - 2008Documento232 páginasCurso de Analise Real (Cassio Neri) - 2008Marcos Huber MendesAinda não há avaliações
- Infância Intermediaria-IlovepdfDocumento9 páginasInfância Intermediaria-IlovepdfJoana RachelAinda não há avaliações
- 2684 PDFDocumento12 páginas2684 PDFAnonymous ISsghjNsd4Ainda não há avaliações
- História Do Descobrimento e Da Conquista Da India Pelos Portugueses - Fernão Lopez de CastanhedaDocumento531 páginasHistória Do Descobrimento e Da Conquista Da India Pelos Portugueses - Fernão Lopez de CastanhedaMaria do Rosário MonteiroAinda não há avaliações
- Teologia Espiritual - Plano de EnsinoDocumento5 páginasTeologia Espiritual - Plano de EnsinoEdney José Farias de AraújoAinda não há avaliações
- (2022) Criminologia - PC IurisDocumento132 páginas(2022) Criminologia - PC Iurisjorge.luiz.itapipocaAinda não há avaliações
- Normas para Produção e Publicação de Trabalhos Cientificos Na UniSaveDocumento50 páginasNormas para Produção e Publicação de Trabalhos Cientificos Na UniSaveBeatriz AssiateAinda não há avaliações
- Portugus 6ano 4BDocumento38 páginasPortugus 6ano 4BOsvaldo GomesAinda não há avaliações
- CD Cura e Baião Casa Fanti AshantiDocumento4 páginasCD Cura e Baião Casa Fanti AshantiSousa ClauAinda não há avaliações
- Preparações InjectáveisDocumento10 páginasPreparações Injectáveisrogerio Jose SobraAinda não há avaliações
- BISPO-DOS-SANTOS - Somos Da Terra - FichadoDocumento11 páginasBISPO-DOS-SANTOS - Somos Da Terra - FichadoRanson SmithAinda não há avaliações
- Texto O PATINHO FEIODocumento1 páginaTexto O PATINHO FEIOAngelyta NetaAinda não há avaliações
- ATIVIDADE AVALIATIVA - Correção de Fluxo - GEOGRAFIADocumento3 páginasATIVIDADE AVALIATIVA - Correção de Fluxo - GEOGRAFIAMarília Mabel Lopes MoraisAinda não há avaliações
- Sequência Recursiva - KallenDocumento8 páginasSequência Recursiva - KallenKallen CristinaAinda não há avaliações
- Deus e o Monstro Do Espaguete VoadorDocumento5 páginasDeus e o Monstro Do Espaguete VoadorEliel VieiraAinda não há avaliações
- Uma Estrela Com Luz de PoesiaDocumento2 páginasUma Estrela Com Luz de PoesiaceuvazAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Dados em Nuvem - Conceitos, Sistemas e DesafiosDocumento31 páginasGerenciamento de Dados em Nuvem - Conceitos, Sistemas e DesafiosJucenira AlvesAinda não há avaliações
- Casamento CaipiraDocumento4 páginasCasamento CaipiraNeliAinda não há avaliações
- Analise Critica Da Orientacao de Cidadao (NUDGE)Documento23 páginasAnalise Critica Da Orientacao de Cidadao (NUDGE)José Anselmo de Carvalho JúniorAinda não há avaliações
- 14 Bis - Até o Dia ClarearDocumento2 páginas14 Bis - Até o Dia ClarearDaniel GotardoAinda não há avaliações