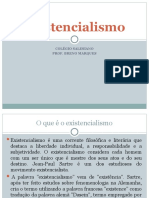Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 02-10 Atenção Psicossocial em Saúde Mental
Enviado por
mahgoliveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aula 02-10 Atenção Psicossocial em Saúde Mental
Enviado por
mahgoliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Atenção Psicossocial em Saúde Mental: uma perspectiva clínico-institucional.
In:
Anais do VI Simpósio Nacional de Práticas Psicológicas em Instituição: Psicologia e
Políticas Públicas, 2006, Vitória, p. 44-48.
Atenção Psicossocial em Saúde Mental: uma perspectiva clínico-institucional
Maria Cristina Campello Lavrador
Pensar a experiência da loucura faz vibrar o campo problemático dos fazeres
clínico-institucionais em saúde mental que nos convoca a traçar múltiplos
caminhos e compartilhar as incertezas com todos que estão implicados, de um
modo ou de outro, com a invenção de novas possibilidades de/na vida em
todos os dinamismos espaços-temporais.
Estamos falando, antes de qualquer coisa, de uma luta contundente pela
ruptura de todos os tipos de aprisionamentos que impedem as passagens de
intensidades, de vozes e de liberdade. Por isso entendemos que no campo da
atenção psicossocial tem-se como desafio inventar novos modos de cuidar em
liberdade que se voltem para a variação dos modos de vida, para além do
diagnóstico e do sintoma. Então, não se trata de privilegiar a doença, mas de
fazer variar as inúmeras formas de saúde, afirmando na vida a efetivação da
potência de possíveis que faz a vida variar, que faz os modos de vida diferir.
Entendemos que o dispositivo clínico-institucional pode contribuir com esse
processo por meio da experimentação de novos modos de pensar, de dizer, de
fazer que afirmem uma nova sensibilidade, um novo olhar, um novo gesto, um
novo modo de estar junto com as pessoas, com o mundo.
Mas por que juntar os termos institucional e clínica? Por que falar de uma
clínica-institucional? Institucional porque voltada para a análise das instituições
- produzidas historicamente - que perpassam os modos de vida, os processos
de subjetivação. Quando as instituições se institucionalizam elas podem se
fixar ao estado de coisa, a algo estabelecido e instituído, mas também podem
ser tratadas como um processo instituinte que é contingente, histórico e
provisório. Como por exemplo, a forma-sujeito que emerge como produto,
como efeito de um processo de produção de subjetividade e não como algo
natural, universal, a-histórico, eterno e circunscrito por princípios estritamente
psíquicos.
Mas de que clínica estamos falando? De uma clínica que incide sobre a tensão
entre forças que constituem os processos de produção de subjetividade, para
além do sujeito constituído - instituição sujeito forjado na e pela história. De
uma clínica que coloca em análise a própria instituição clínica. De uma clínica
transdiscplinar que acompanha o processo de criação de si com suas paradas
paralisantes e suas retomadas de potência na vida. Criação de si como “uma
certa relação a si; essa não é simplesmente „consciência de si‟, mas
constituição de si” (Foucault, 1985, p.28) que implica um exercício ético no qual
o homem “problematiza o que ele é, e o mundo no qual ele vive” (p. 14). Uma
experiência de criação de si implicada com uma postura ética-estética-política,
que tenha como princípio uma potência de vida em seus modos indissociáveis
de resistir/afirmar e de criar. Pois, resistir é afirmar a potência de possível, é
crer nesse mundo, nessa vida, mudando a perspectiva de viver e de avaliar.
Essa perspectiva clínico-institucional implica que nos libertemos dos modelos
abstratos, totalitários e transcendentes para nos defrontarmos com as
turbulências que o viver nos traz. Por isso a experimentação de práticas clínico-
institucional envolve, antes de tudo, uma disponibilidade objetiva e subjetiva de
afetar e ser afetado. O que implica colocar em análise as nossas posturas, as
nossas concepções, os nossos preconceitos, os nossos endurecimentos, as
nossas permeáveis impermeabilidades ao que difere, ao que é diferente de nós
mesmos. Avaliando, a cada momento, „como‟ e com „o que‟ e „quem‟ estamos
compondo e o que estamos produzindo.
Desse modo, não cabe mais separar a clínica da crítica, da criação, da política,
da ética e da estética, enfim da vida. O que nos faz afirmar uma clínica-
institucional que se tece nessas tensões, uma „clínica‟ aberta à vida, às
sensações, a uma escuta dos desassossegos da contemporaneidade. Esse
exercício „clínico‟ nos conduz e nos convoca à despedida do absoluto, da
vontade de verdade, do desejo de dominar, do niilismo da descrença ou da
crença no nada. Esse exercício „clínico‟ exige uma escuta, escuta do outro, das
vozes, dos silêncios e dos murmúrios do mundo, “trata-se de libertar a vida lá
onde ela é prisioneira, ou de tentar fazê-lo num combate incerto” (Deleuze;
Guattari, 1992, p. 222).
O dispositivo clínico pode ser um exercício de experimentação, de
problematização, aonde cada um vai se tornando diferente do que era antes,
experimentando outros contornos, novas sensações, desmanchando as figuras
do EU que aprisionam a vida sob identidades modelares, naturalizadas, que
embotam a possibilidade de redistribuições do afeto, de invenção de outros
modos de estar na vida. É preciso que a clínica incite a alteridade, nos defronte
com nossas intolerâncias, com nossas indiferenças ao que difere. Essa
perspectiva clínica nos remete a noção de análise, uma análise ao mesmo
tempo institucional e política voltada para processos e não para indivíduos
ensimesmados. Isto é, uma análise das instituições que perpassam nossas
práticas cotidianas, em todos os contornos entrecruzados da nossa vida.
Quanto menos tratar-se de uma análise de especialistas, de peritos, tanto
melhor. E aqui cabe a proposição: colocar a própria instituição análise dos
especialistas em análise, desviciar essa análise dos seus pressupostos já
dados e “ampliar campos de análise e intervenção” (Rodrigues, 1991, p. 41).
Ampliar campos de análise envolve um “aumento dos coeficientes de
transversalidade”, ou seja, dar visibilidade aos entrecruzamentos sociais,
políticos, econômicos, culturais que permeiam o mundo, as produções
desejantes, as nossas vidas. “A transversalidade tende a se realizar quando
uma comunicação máxima se efetua entre os diferentes níveis e, sobretudo,
nos diferentes sentidos” (Guattari, 1981, p. 96). Ampliar campos de intervenção
seria criar zonas de intercessão transversal, na qual interferimos, antes de
qualquer coisa sobre nós mesmos, quando conseguimos traçar linhas de
ruptura que interferem nas linhas duras - que também nos perpassam - que
operam por oposições binárias e por sobrecodificações. E somos interferidos
quando somos deslocados, arrancados de um mesmo script e somos „forçados‟
a gaguejar na própria língua. “Enquanto as pessoas permanecem paralisadas
em torno de si mesmas, elas não enxergam nada além de si mesmas”
(Guattari, 1981, p. 96). Guattari diz que quem faz a análise são os analisadores
ao produzirem efeitos disruptivos nos modos já instituídos. “Os analisadores
seriam acontecimentos – no sentido daquilo que produz rupturas, que catalisa
fluxos, que produz análise” (Benevides, 1994, p.308). Por sua vez, os
acontecimentos são hecceidades, individuações sem sujeito, que se dão na
imanência. O „analista‟, que pode ser qualquer um e mais do que um, apreende
os efeitos produzidos pelos analisadores dando visibilidade aos agenciamentos
coletivos. Perspectiva esta que elege como critério de avaliação “uma vida” em
suas essências singulares ou em sua potência de agir, não comportando, neste
caso, qualquer a priori. Nesse caso, estamos no plano imanente das relações
variadas e transitórias, que se compõem aumentando ou diminuindo a potência
de agir. Entretanto, tantas falas cotidianas exprimem a força das naturalizações
vistas como inevitáveis e que diminuem a força de existir, como: „as coisas
sempre foram assim, são assim e serão assim‟, „não adianta tentar transformar,
nada vai mudar‟, „desde que o mundo é mundo isso sempre foi assim‟; ou a
força das naturalizações do „agora temos que‟. Esse „agora temos que‟ fazer
isso e aquilo, nos separa de nós mesmos, nos separa „do que pode um corpo‟,
de nossa potência singular, e sucumbimos às causas exteriores, aos valores
transcendentes que nos adaptam e que movem a nossa existência. E aí, só
conseguimos realizar o possível com suas determinações a priori, como mais
uma tarefa a ser cumprida e sem uma avaliação do que estamos colocando em
funcionamento. Nesse sentido, entra em cena a pergunta que não se deixa
calar, „que temos feito de nós mesmos?‟ Que temos feito da clínica? O que
temos feito da análise? O que temos feito dos analisadores e de seus efeitos
disruptivos? O que temos feito do possível? Com certeza temos feito várias
coisas, às vezes, fecham-se os olhos e os corpos sensíveis, e de tão
esgotados e descrentes desse mundo alucina-se um mundo de valores
transcendentes, que traria a redenção da vida em um outro mundo, um mundo
imaginário tanto nessa vida como no além. A „vontade de nada‟ nos tornou
impermeáveis a esse mundo e não cessa de depreciar a vida. Às vezes, os
olhos e os corpos sensíveis ficam exageradamente expostos e não suportam
tanta realidade e tanta clarividência. Os olhos se cegam e os corpos se
petrificam, ficam estupefatos e atônitos. Experiência limite que marca o „nada
de vontade‟ que “não é mais apenas um sintoma para uma vontade de nada,
mais sim, ao limite, uma negação de toda vontade” (Deleuze, 1976, p. 124).
Uma desvalorização dos valores transcendentes e em certa medida de todos
os valores. “É como se não houvesse mais nada a fazer e tudo a ser feito. Grau
máximo de saturação e grau zero de potência entre um antes e um depois”
(Machado, 2002, p. 80). Um neutro percorrido por intensidades de grau zero,
“mas nada há de negativo neste zero, não existem intensidades negativas nem
contrárias. [Trata-se de] produção do real como grandeza intensiva a partir do
zero” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 13-14). Intensidades indeterminadas e
indiferenciadas até que se atualizem em determinados modos de vida, sejam
eles ativos ou passivos. Por um lado, elas podem se atualizar como efetivação
da potência de possíveis, afirmando uma nova sensibilidade, novas maneiras
de sentir, de pensar, de ver, de dizer, de fazer, de viver. Um movimento de
composição ativa que aumenta nossa potência de agir. De outro, uma crítica,
regida pelo negativo, que recusa tudo, que não consegue se compor em
potência ativa, uma desvinculação radical do homem consigo mesmo e com o
mundo, uma impossibilidade de traçar uma linha quebradiça para efetuar o
possível. A vida continua sendo negada através de um pessimismo em que não
se vê saída para nada. Transita-se sob a força do niilismo. Às vezes, os olhos e
os corpos sensíveis entreabrem-se deixando um pouco de ar fresco passar e
voltam a acreditar e a desacreditar, a ter porosidade e permeabilidade nesse
mundo. Um duplo, a um só tempo, que se dá na afirmação/afetação das
pequenas experimentações cotidianas, abrindo-nos à alegria das novas
composições advindas das incertezas do que não conhecemos e
desacreditando que só podemos realizar o possível dos clichês e das opiniões
prontas que banalizam a vida. Acreditar/experimentar a potência de possíveis
inerentes ao pensar e sentir diferentemente. A vontade de potência, como
vontade de vida ativa, ganha fôlego, converte o negativo e redobra a afirmação
de uma vida como diferenciação. Fazendo uma avaliação entre o que a
deprecia e o que a expande, entre os bons e os maus encontros. O mundo não
é verdadeiro, nem real, mas vivo. [...] Viver é avaliar. Não existe verdade do
mundo pensado, nem realidade do mundo sensível, tudo é avaliação, até
mesmo e, sobretudo, o sensível e o real (Deleuze, 1976, p. 154). Quanto e
como temos conseguido afirmar uma potência criadora de espaços de
liberdade, entendida como auto-desprendimento, auto-invenção, experiência
limite sobre si mesmo? Foucault nos fala de “um êthos filosófico consistente em
uma crítica do que dizemos, pensamos e fazemos, através de uma ontologia
histórica de nós mesmos. Esse êthos filosófico pode ser caracterizado como
uma atitude-limite. Não se trata de um comportamento de rejeição. Deve-se
escapar à alternativa do fora e do dentro; é preciso situar-se nas fronteiras”
(Foucault, 2000, p. 347). Mas como se tem operacionalizado micropoliticamente a
afirmação de outros funcionamentos, de outros fazeres? Como traçar linhas de
fronteiras, como criar campos de possíveis? Quais têm sido as estratégias que visam
amolecer as linhas duras que atravessam o funcionamento de alguns serviços de
saúde e dos recursos desinstitucionalizantes? Coexistência de linhas-movimentos de
idas e vindas, de passagem de ar fresco e de contenção do fôlego, movimentos na
vida. As linhas duras, muitas vezes, se exprimem em regras rígidas, tais como:
organização hierarquizada; prestação de conta burocratizada dos seus resultados
quantitativos sem avaliar ao que e a quem isso está servindo; divisão do trabalho
compartimentada que nos carregam em direção aos especialismos e acionando a
nossa vontade de verdade. Linhas duras que, muitas vezes, perpassam o trabalho
„terapêutico‟ quando se valoriza os sintomas e as „estruturas‟ psíquicas, impondo
„limites‟ arbitrários que supostamente se justificam em nome da tal „desorganização
psíquica‟, que resulta na desqualificação do outro como cidadão; quando impõe que os
atendimentos só poderão ocorrer com horário marcado; quando se valoriza a
ocupação do tempo através da atividade laborativa com a finalidade de „tratamento‟;
quando se reforça os especialismos intocáveis com suas vaidades idiossincráticas.
Enfim, caracteriza um funcionamento que se volta para a auto-reprodução e
perpetuação do enrijecimento do próprio serviço e com isso se distancia do que está
ao seu redor. Fechando as portas aos agenciamentos coletivos, às produções
desejantes, às iniciativas de alçar vôo, à experimentação do exercício da liberdade.
Quais têm sido as estratégias que visam dar passagem às linhas de fronteiras? Estas
se „situam‟ em um movimento entre uma coisa e outra, fora de um ou de outro,
perpassa-os e foge, desvia em outra direção, sem ter garantias a priori aonde isso vai
levar. Experimentação do e... e... e..., e isso e aquilo e aquilo outro, com prudência e
rigor ético-estético-político que baliza as avaliações que interpelam „como e para onde
estamos indo‟, „para que‟, „como e para quem‟ isto está servindo. Uma linha quebrada
que aproveita as bifurcações e cria desvios. No serviço de saúde isso significaria fazer
uma gestão democrática, coletiva, ativa e leve, criando espaços-tempos de
interlocução, de mistura, de troca entre saberes, fazeres e dizeres, apostando nos
modos de trabalhar em equipe e experimentando uma potência instituinte de vida que
vise o outro, que vise o público, que vise novas maneiras de sentir, de perceber e de
viver. A gestão coletiva no trabalho em equipe possibilita que conflitos, problemas,
angústias, „acertos‟ cotidianos possam ser compartilhados, explicitados, discutidos e
avaliados coletivamente. Tal compartilhamento reforça os vínculos, a troca de
experiências e as alianças frente ao inusitado de cada situação, quebrando as
possíveis linhas duras produtoras de angústia paralisante e impotência. Entretanto,
sabemos das dificuldades e dos impasses de trabalhar em parceria com várias
pessoas que fazem, pensam e sentem de modo distinto e, às vezes, antagônico o lidar
com a loucura. Como se posicionar diante de posturas de tutela, de infantilização, de
regras rígidas e de moralismos de toda espécie? Como manter essa aliança sem, por
um lado, ser autoritário e ditar verdades, e sem, por outro lado, se submeter e se
institucionalizar? Talvez traçando linhas de fronteira e tendo muita prudência,
paciência e insistência para acompanhar um dado processo e criar zonas de
interlocução pontual para cada situação. Afirmando uma abertura às alianças e
parcerias com a comunidade, com os movimentos sociais e culturais, sindicatos,
feiras, igrejas, clubes esportivos, comércio, escolas, universidades e também com
outros serviços de saúde pública. Procurando saber quais os recursos que estão
disponíveis e quais podem ser criados conjuntamente. Essa interlocução pode
propiciar a multiplicação das trocas sociais, dos espaços de sociabilidade, de práticas
solidárias e coletivas. Contribuindo com a diminuição do preconceito e da separação
entre os ditos „normais‟ e „anormais‟. Enfim, liberdade, clínica, crítica, pensamento,
ética e política se misturam. A política afirma a singularidade, forja e exprime, ao
mesmo tempo, modos de vida. Estamos falando de um sentido da política que envolve
os processos de subjetivação, “a política surge no entre-os-homens; portanto
totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política
original.” (Arendt, 2004, p. 23). E acrescenta que “o sentido da política é a liberdade”
(p. 38). A política como potência de pensar/agir, como espaço-tempo de liberdade
encontra ressonância e sintonia entre Foucault, Deleuze e Arendt. Cada um a seu
modo e com o seu estilo se encontram quando afirmam que política implica liberdade,
ética, pensamento e ação. “A liberdade é a condição ontológica da ética. Mas a ética é
a forma refletida assumida pela liberdade. [...] A liberdade é, portanto, em si mesma
política” (Foucault, 2004, p. 267 e 270). Uma política de criação de si, políticas de
resistência que afirmam a potência de vida, a força de existir, a potência de agir.
Arendt (2004), ao seu modo, afirma que “... os homens, enquanto puderem agir, estão
em condições de fazer o improvável e o incalculável e saibam eles ou não, estão
sempre fazendo” (p. 44). Como suportaríamos esse mundo, essa vida se não o
fizéssemos, mesmo quando não percebemos, mesmo quando são minúsculos
acontecimentos? Acreditar no improvável e no incalculável, “... acreditar nisso como no
impossível, no impensável, que, no entanto, só pode ser pensado: „algo possível,
senão sufoco‟” (Deleuze, 1990, p. 205). Política ou um determinado exercício político
não mais calcado na ignorância dos valores morais, classificatórios, excludentes e
mortificantes, mas advindos daquilo que nos afeta, aumentando ou diminuindo nossa
potência de ação, sustentados na ética da existência e, como tais, geradores de vida.
Enfim, essa perspectiva clínica-institucional se dá no entre, nas passagens, nas
dobras com suas composições e decomposições de afetos. Efetivando e tornando
possível “uma vida entre mundos, vida de passagens” (Rolnik, 2001), modos de vida
permeáveis à alteridade.
Referências:
ARENDT, Hannah. O que é política? 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand
Brasil, 2004.
BENEVIDES, Regina. Grupo: a afirmação de um simulacro. 1994. Tese (Doutorado
em Psicologia Clínica) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1994.
DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976.
DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo - Cinema 2. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a Filosofia. Rio de Janeiro: Editora 34,
1992.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3.
Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade II: A vontade de saber. 7. ed. Rio de
Janeiro: Ed. Graal, 1985.
FOUCAULT, Michel. Arqueologia das ciências e histórias dos sistemas de
pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitária, Coleção Ditos & Escritos II,
2000.
FOUCAULT, Michel. Ética, Sexualidade, Política. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, Coleção Ditos & Escritos V, 2004.
GUATTARI, Félix. Revolução Molecular. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981.
MACHADO, Leila Domingues. À Flor da Pele. 2002. Tese (Doutorado em Psicologia
Clínica) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 2002.
RODRIGUES, Heliana de Barros Conde. As Intervenções Grupais: epistemologia ou
história das práticas? In: Revista do Departamento de Psicologia da UFF, v. 3 e 4,
nº 1 e 2, 1991. p. 41-51.
ROLNIK, Suely. Os Mapas Movediços de Öyvind Fahlström. In: Öyvind Fahlström.
Catálogo da retrospectiva da obra do artista nos Museu d”Art Contemporani de
Barcelona (Espanha, 2000), Malmö Konsthall (Suécia, 2001), Baltic Center for
Contemporary Art (Inglaterra, 2001), Bienal de São Paulo (Brasil, 2001), 2001.
Você também pode gostar
- Panetone Italiano - Receita Artesanal (Leviato)Documento4 páginasPanetone Italiano - Receita Artesanal (Leviato)Guilherme PeixotoAinda não há avaliações
- Circular 015 - DIA DAS MÃESDocumento3 páginasCircular 015 - DIA DAS MÃESCreche Escola Mundo da GenteAinda não há avaliações
- ExistencialismoDocumento6 páginasExistencialismoLetícia MendesAinda não há avaliações
- Humanidade e Animalidade - Tim IngoldDocumento25 páginasHumanidade e Animalidade - Tim IngoldLucas Coelho PereiraAinda não há avaliações
- Fred Malone - O Elevado Mistério Da PredestinaçãoDocumento7 páginasFred Malone - O Elevado Mistério Da Predestinaçãoral-nvgtAinda não há avaliações
- Apostila de Estratigrafia Geral PDFDocumento96 páginasApostila de Estratigrafia Geral PDFLu MeloAinda não há avaliações
- 22000239APDocumento1 página22000239APEmilly MenêzesAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2022-03-23 À(s) 11.53.56Documento20 páginasCaptura de Tela 2022-03-23 À(s) 11.53.56Bruno MeloAinda não há avaliações
- Formação e Evolução de GaláxiasDocumento41 páginasFormação e Evolução de GaláxiasAlex FariasAinda não há avaliações
- Apostila de Linguagem C - MicrocontroladoresDocumento96 páginasApostila de Linguagem C - MicrocontroladorestiagoAinda não há avaliações
- Corrimento VaginalDocumento4 páginasCorrimento VaginalPAULO VITOR KELMON SILVA DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Histologia AnimalDocumento3 páginasHistologia AnimalLívia MartinsAinda não há avaliações
- Braga - Roteiro - Turistico - JuvenilDocumento19 páginasBraga - Roteiro - Turistico - JuvenilDjoScribdAinda não há avaliações
- André Pichot - Biólogos e RaçasDocumento5 páginasAndré Pichot - Biólogos e RaçasLuiz Felipe CandidoAinda não há avaliações
- Presenà A Musical Italiana Na Formaã à o Do Teatro Brasileiro - ArtCultura PDFDocumento21 páginasPresenà A Musical Italiana Na Formaã à o Do Teatro Brasileiro - ArtCultura PDFThais VasconcelosAinda não há avaliações
- Projeto de Extensão I Estética e CosméticaDocumento5 páginasProjeto de Extensão I Estética e CosméticaArleno PerdigãoAinda não há avaliações
- Concurso See/mg Edital 07-2017Documento51 páginasConcurso See/mg Edital 07-2017Jakes Paulo Félix dos Santos100% (2)
- O Cânon Do Antigo Testamento Antes Do Concílio de TrentoDocumento6 páginasO Cânon Do Antigo Testamento Antes Do Concílio de TrentoConhecereisaVerdadeAinda não há avaliações
- 14 As Variáveis Básicas Da NegociaçãoDocumento13 páginas14 As Variáveis Básicas Da NegociaçãoEduarda SantosAinda não há avaliações
- Cruz Mello (Iamurikuma)Documento335 páginasCruz Mello (Iamurikuma)Cesar GordonAinda não há avaliações
- FILOSOFIADocumento3 páginasFILOSOFIAVictor MenattiAinda não há avaliações
- Bibliografia Comentada Do Livro e Da LeituraDocumento65 páginasBibliografia Comentada Do Livro e Da LeituraJayme PignotAinda não há avaliações
- Galáxia de AndromedaDocumento6 páginasGaláxia de AndromedamaiconboninasAinda não há avaliações
- O Que São As Soft SkillsDocumento1 páginaO Que São As Soft SkillsCarlos Henrique FonsecaAinda não há avaliações
- Teoria e Prática Do Partido Arquitetônico - Biselli - VitruviusDocumento12 páginasTeoria e Prática Do Partido Arquitetônico - Biselli - VitruviusAline PedrosoAinda não há avaliações
- Grande RetraDocumento1 páginaGrande RetraThiago PiresAinda não há avaliações
- Modelo Preenchível PIM V (3) EditadoDocumento39 páginasModelo Preenchível PIM V (3) EditadoLeidiane SilvaAinda não há avaliações
- O Que É Metaficção - Narrativa NarcisistaDocumento15 páginasO Que É Metaficção - Narrativa NarcisistaClaudia Regina CamargoAinda não há avaliações
- 06 - TERMO ASMA - Beclometasona Budesonida Formoterol Salbutamol Salmeterol A Montelucaste OmalizumabeDocumento2 páginas06 - TERMO ASMA - Beclometasona Budesonida Formoterol Salbutamol Salmeterol A Montelucaste OmalizumabeCesso UgoAinda não há avaliações
- A Questão de Taiwan Sob As Perspectivas RealistasDocumento7 páginasA Questão de Taiwan Sob As Perspectivas RealistasnataliaAinda não há avaliações