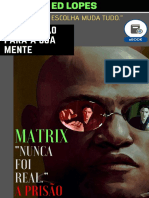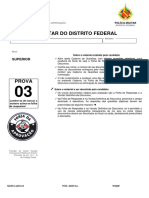Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Corpo Como Dispositivo de Criação Natacha Muriel Lopez Gallucci
O Corpo Como Dispositivo de Criação Natacha Muriel Lopez Gallucci
Enviado por
Natacha Muriel López GallucciTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Corpo Como Dispositivo de Criação Natacha Muriel Lopez Gallucci
O Corpo Como Dispositivo de Criação Natacha Muriel Lopez Gallucci
Enviado por
Natacha Muriel López GallucciDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
CHORÉOGRAPHIE:
O CORPO COMO DISPOSITIVO DE CRIAÇÃO ENTRE A DANÇA E O CINEMA
Natacha Muriel López Gallucci1
Introdução
Nesta comunicação pretendo transitar algumas relações entre a história do corpo e a
filosofia; mais especificamente a partir de um percurso que, desde há alguns anos, vêm me
comovendo pelas discussões que abre no campo da educação do corpo (SOARES, 2014, p.
219). Neste sentido é importante advertir que nosso foco de interesse se centra na história do
corpo nos países de América Latina e, neste trabalho especificamente, em práticas pouco
estudadas que tiveram efeitos educativos na Argentina. Buscamos mapear aspectos
pedagógicos chaves do dispositivo fílmico argentino, nos efeitos de transmissão da dança
mais representativa desse país, o tango.
Segundo o produtor espanhol de cinema Julián de Ajuria, radicado nas primeiras
décadas do século XX na Argentina, o cinema se tornou nos seus primeiros anos de vida, o
melhor dos meios para difundir ideias, sentimentos políticos e culturais, sempre que realizado
com a finalidade para a qual foi concebido: instruir deleitando, com arte, humor, moral e
ciência (AJURIA, 1946). Desta forma De Ajuria expõe uma caraterística comum aos
pioneiros do cinema argentino que o definiam como um instrumento da educação patriótica.
Desde cedo o cinema funciona como um mecanismo pedagógico que, pela via da
identificação a gestos e movimentos, ensinava aos criollos e imigrantes, compelindo-os
socialmente, a se servirem de seus corpos; incorpora regras, modos, danças, valores e
significações acordes à necessidade eminente de construir uma identidade nacional diante dos
perigos associados à imigração.
Carmen Lúcia Soares mostra o este campo da educação do corpo, para além da práxis
escolar, tem reunido nos últimos anos, pela sua abrangência e pertinência, pesquisas
filosóficas, antropológicas e históricas:
1
Professora de Filosofia do Instituto Interdisciplinar Sociedade, Cultura e Artes (IISCA) da Universidade
Federal do Cariri (UFCA). Desenvolve atividades instrucionais na Divisão artística da Pró-reitoria de Cultura da
UFCA. Líder do Grupo de Pesquisa NECAGE e do Grupo de Pesquisa FILOMOVE Filosofia, Artes e Estéticas
do Movimento (IISCA, UFCA) E-mail: natacha.gallucci@ufca.edu.br
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
2
Compreendida como uma noção, a educação do corpo remete-nos á necessidade de
precisar os elos entre corpo e educação para além da escola 2 e implica seguir traços,
apreender vestígios, esboçar contornos nem sempre nítidos, nem sempre visíveis, e
mesmo compreendidos como educativos. Trata-se por tanto de decodificar nossa
singularidade corporal e analisar como ela vem sendo investida desde a infância e ao
longo de toda nossa vida pelas marcas da cultura; do quanto somos tributários de
processos que incidem sobre nossos corpos para modificar e revelar
comportamentos e condutas as mais íntimas e ocultas, tanto como as mais visíveis e
públicas (SOARES, 2014, p. 219).
Buscaremos explanar os agenciamentos que conduziram a uma dança como o tango e a
uma máquina como o cinematógrafo a se tornar dispositivos (BAUDRY; FOUCAULT;
DELEUZE; AGAMBEM); agentes da educação do corpo, propiciando novos códigos e
linguagens de comunicação e criação na sociedade Argentina.
O cinema traz uma experiência educativa associada a uma experiência estética. A
experiência estética da criação coreográfica em tango dança é produto de uma forma de
resistência à modernidade latina americana3 e se emparenta com os procedimentos de edição
por cortes da feitura fílmica. As cenas fílmicas e as células coreográficas, embora possamos
fragmentá-las, envolvem no processo de montagem (fílmico ou coreográfico) um componente
que o teórico Jeane Claude Bernardet define como componente mágico, uma ilusão
(BERNARDET, 1980, p. 9). Sendo que a ilusão do cinema trata de reproduzir o movimento
da vida, sabemos que não há movimento na imagem cinematográfica. O movimento
cinematográfico é uma ilusão, é um brinquedo ótico. A imagem que vemos na tela é sempre
imóvel; a impressão de movimento nasce do seguinte procedimento: "fotografa-se" uma
figura em movimento com intervalos de tempo muito curtos entre cada "fotografia"
(=fotogramas). São vinte e quatro fotogramas por segundo que, depois, são projetados neste
mesmo ritmo. Ocorre que o nosso olho não é muito rápido e a retina guarda a imagem por um
tempo maior que 1/24 de segundo. De forma que, quando captamos uma imagem, a anterior
ainda está no nosso olho, motivo pelo qual não percebemos a interrupção entre cada imagem,
o que nos dá a impressão de movimento contínuo, parecido com o da realidade. É só aumentar
ou diminuir a velocidade da filmagem ou da projeção para que essa impressão se desmanche.
Assim no dispositivo de criação no tango dança o movimento é também uma ilusão entre dois
2
Grifos da autora.
3
O tango é uma dança popular transmitida de maneira oral até a chegada do cinematógrafo e foi, nas primeiras
décadas do século XX, modo de expressão catalizadora, reunindo diversos grupos humanos em um coletivo,
apesar da heterogeneidade de classes, raças e gênero.
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
3
estádios de repouso; a criação gira ao redor de momentos articulados e posições fixas unidas
por “cortes” que, ao olho humano, trazem a fantasia da fluência vida.
O corpo: objeto e sujeito de estudo
Para introduzir o problema da educação do corpo neste contexto é crucial nos situarmos
historicamente no lapso que vai entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do
século XX. Nesse momento histórico acontecem enormes transformações tecnológicas e
socioculturais decorrentes da segunda Revolução Industrial; transformações que mudam a
relação do sujeito humano com seu próprio corpo. A urbe moderna oferece um palco
privilegiado ao corpo que se sociabiliza e acrescenta cada vez mais o contato entre as peles.
Diferentes tecnologias como a fotografia e a de visualização médica por raios x mudam a
concepção que a ciência e o homem comum tinham de si; o fetiche da pele cultuado pela
pintura se torna representação reprodutível e o corpo, diante do raios x, uma imagem-
transparência. As novidades da cultura visual produzem mundos e fantasmas que se
reproduzem nas fotografias, nos jogos óticos e fundamentalmente, no cinematógrafo. Este
aparelho cuja invenção fecha o século XIX foi avaliado nos primeiros anos como uma
máquina sem demasiada utilidade, mais pouco a pouco seus recursos começam a se
evidenciar (COUTRINE, 2006). Retomaremos esta questão mais adiante, mais antes
precisemos melhor o status que adquire o corpo no período citado.
No terceiro livro dedicado à história do corpo, As Mutações do olhar. O século XX,
Georges Vigarello aponta uma questão de natureza epistemológica quando interroga acerca de
como o corpo tem chegado a se converter, no século XX, no objeto de estudo por excelência
da investigação histórica, mas também psicanalítica, filosófica e antropológica
(VIGARELLO, 2006). E esta não é uma questão menor considerando que, por séculos, o
corpo havia ocupado, nas trilhas do cartesianismo4, um papel subordinado do ponto de vista
4
A filosofia cartesiana, diferentemente de Platão e de Aristóteles, estabelece um dualismo radical: por um lado o
espírito se encontra manifesto no fato de sermos pensantes; por outro, o corpo, obedece tanto aos movimentos
quanto as leis que regem a todas as máquinas. Este dualismo não apaga o fato de que, em Descartes, o corpo
também seja objeto do estudo psicofísico. Nas meditações cartesianas o corpo é entendido com o um artefato
cuja união com a alma pode ser percebida através de uma experiência mundana, certamente obscura nos termos
do Método. Na sua Sexta Meditação caminha na direção de dar prova à existência das coisas materiais e da
distinção entre a alma e o corpo do homem. As coisas materiais – afirma – são objeto de demonstrações
geométricas, tarefa da pura inteleção; mas, para conhecer algo como o corpo humano, precisa se provar sua
existência distinguindo as faculdades de imaginar e sentir. Nesse sentido, avalia as de um lado, condições
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
4
da teoria do conhecimento. Entre os filósofos que destacaram essa questão epistemológica se
encontra Walter Benjamin, para quem o corpo é o local da verdadeira práxis humana. Essas
afirmações, lançadas em pleno furor do neo-kantismo na Europa, reativam a questão da
estética, não em sentido kantiano, mas alertando sobre a etimologia do termo (aisthesis) que
remete a uma teoria da percepção. O corpo perceptual se situa em Benjamin no centro da
teoria do conhecimento; a percepção e a experiência sensíveis (olhar, ouvir, tatear, etc.) são
formas e modelos chaves da produção de sentido (BENJAMIN, 1986, p. 115)
Nesse mesmo período, a psicanálise freudiana reconhece, no seu enunciado fundamental
que o inconsciente fala através do corpo (pensemos nos estudos das paralisias histéricas, nas
perdas da voz, nas afasias que tanto chamaram a atenção de Freud no Hospital da Salpêtrière).
A teoria psicanalítica valoriza a imagem do corpo na formação do sujeito (eu pele), aspecto
relevante na própria conceituação do inconsciente freudiano. Em Freud, a constituição do eu
remete ao prisma conceitual que abrange o Ego-corporal e o narcisismo, fase do
desenvolvimento em que o eu é identificado com o corpo. Esse ego é um ego corporal
integrado em uma imagem corporal; o corpo se confunde com o eu, e suas sensações internas
e externas são produtos da projeção do Ego na superfície corporal (FREUD, 1996). A
superfície do corpo próprio é a origem das sensações internas e externas; a pele uma
membrana tradutora das percepções que posteriormente serão inscritas no registro simbólico
do sujeito humano. Neste sentido, o aspecto sensorial comporta um momento chave da
constituição do sujeito e uma das primeiras formas de comunicação com o mundo.
Entre a psicanálise freudiana e a filosofia existencial também há diversos pontos de
contato e diálogos. Do ponto de vista da filosofia Husserl, o corpo é considerado fonte
originária de todo significado. Essa concepção influencia o existencialismo de Merleau Ponty,
para quem o corpo poderia ser pensado como encarnação da consciência e pivô do mundo.
Herdeiro das ideias de Husserl, de Heidegger, de Sartre e das pesquisas relativas à psicologia
e as artes modernas, o filósofo Merleau Ponty exprime, contra a tradição ocidental, a ideia de
que a consciência não pode reflexionar sobre si sem opacidades ou resistências; e que a
requeridas pelo exercício da faculdade de imaginar (faculdade que torna mais accessível as ideias do intelecto) e,
de outro lado, outra faculdade que lhe permitiriam obter certeza acerca da existência das cosas materiais, baseada
na faculdade de sentir. Esta ultima capacidade passiva para o homem se torna prova categórica pela veracidade
divina. Se as coisas materiais são objeto de demonstrações geométricas, afirma, e tarefa da pura inteleção, para
conhecer algo como o corpo próprio, servir-se-á da imaginação; enquanto para conhecer as coisas distintas de
nós, Descartes apela à sensação (DESCARTES, 1950, p. 133-146). Grifos nossos.
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
5
reflexividade não é uma propriedade da consciência, mas do corpo, agora concebido como um
corpo reflexivo ou corpo cognoscente. O corpo na filosofia de Ponty se situa para aquém das
tradicionais alternativas que o colocam como objeto de conhecimento. O filosofo não pensa o
corpo um amontoado de músculos, ossos e nervos, todos exteriores uns aos outros; no entanto
esclarece que o corpo não pode ser concebido como um puro sujeito, um espirito absoluto
sem ancoragem material e histórica. Na Fenomenologia da percepção Merleau Ponty lança a
ideia de que a realidade do corpo não é nem a da coisa material nem a da consciência, pois
afirma, o corpo tem uma forma de organização ambígua. Nem inteiramente exterior, nem
completamente interior, o corpo esta inscrito na natureza, mas também possui uma intensão
de conhecimento, função exploradora e estruturante da experiência no mesmo momento da
reflexão. O corpo não comporta um objeto já que é pelo corpo que tudo mais existe; o corpo
próprio, esse que eu tenho é também quem eu sou, segundo o filósofo, um paradoxo vivo.
O antropólogo Marcel Mauss soma às perspectivas da psicanálise e da filosofia uma
ampla teorização sobre a problemática das “tecnologias do corpo”. Dedica-se a analisar os
movimentos adquiridos e as formas com que os homens utilizam o corpo em cada sociedade.
Durante a Guerra, o estudo da marcha dos soldados lhe mostra diferenças entre as tropas
francesas e inglesas nos gestos, nas qualidades (tônus) dos movimentos e na distância entre os
passos; a marcha e o treinamento dos soldados, por exemplo, podem ser pensados como
técnicas apreendidas na preparação do ator ou técnicas coreográficas voltadas para a árdua
disciplina do combate. Só que as observações de Mauss não se detêm ai; depois de França
ganhada a Guerra em 1918, observa como a mulheres francesas assumem um espaço gestual
antes vedado pela hegemonia masculina; elas se colocam na cena social gesticulando como
americanas, exibindo-se ao fumar e imitando os modismos que chegavam através do cinema
desde a cultura corporal dos vencedores. De alguma maneira, o destaque adquirido pela
gestualidade feminina (produto da imitação de filmes) é signo prematuro de resistência diante
de toda essa tradição de práticas físicas que sempre esteve organizada em redor ao culto da
força (BAZOGE, 2006). E Mauss afirma:
Todos temos caído no erro fundamental, eu mesmo durante muitos anos, de achar
que só existe uma técnica quando há um instrumento. Era necessário voltar às velhas
noções, às considerações platônicas sobre a técnica [tekhné] e olhar como Platão fala
de uma técnica da música e especialmente da dança, e então fazer mais geral esta
noção. Nomeio técnica ao ato eficaz tradicional (vejam como este ato não se
diferencia do ato mágico, do religioso ou do simbólico). É necessário que seja
tradicional e eficaz. Não há técnica nem transmissão se não houver tradição
(MAUSS, 1979: 340).
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
6
As técnicas do corpo são aspectos codificados “maneiras pelas quais os homens, de
sociedade em sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (MAUSS,
2003, p. 401). O corpo como produto de uma cultura5 destaca alguns usos na medida em que
eles são orientados pela eficácia da tradição configurando um domínio em que não há outro
“instrumento” que o próprio corpo humano; o processo e o produto partilham sua forma de ser
e de estar no mundo. Mas toda técnica corporal pressupõe um tempo de transmissão e,
portanto, uma tradição sustentada na educação do corpo. O tempo permite que a técnica
produza efeitos e se torne eficaz, pois sem eficácia não caberia falar em técnica sino apenas
em movimento.
Fica expresso que no século XX diversas disciplinas teorizam o corpo enquanto sujeito,
objeto e meio técnico por excelência; destacando que ele está permanentemente abalizado por
movimentos que são produtos de uma educação do corpo que os torna habituais: ritmos,
atividades, posturas, manhas e formas de repouso. Estas práticas cotidianas localizam o corpo
humano no centro do compósito vivo do social. A antropologia mostra claramente que o mais
“natural” na vida cotidiana deve passar por uma problematização indissociável da experiência
social como um todo. Assim, a dimensão individual que anima as práticas do corpo só se
concretiza em desejos e modos de viver; mesmo quando a transmissão e a tradição estejam
sempre ao serviço de uma reinvenção social ou subjetiva. E não só a antropologia se ocupa
desse aspecto da educação do corpo ou de seus usos na vida cotidiana; estes aspectos todos
confluem no programa filosófico de Michel Foucault na segunda metade do século XX; suas
ideias em redor das práticas de si fundadas em uma filosofia do corpo dialogam com a
proposta de uma filosofia dos dispositivos. Introduziremos este diálogo na próxima seção,
pois nos interessa nos aproximarmos do processo de codificação do tango dança, como
técnica do corpo apreendida e as possíveis relações que vislumbramos entre o aprendizado do
tango dança e a consolidação do dispositivo fílmico na Argentina.
A imbricação dos dispositivos de criação
5
Marcel Mauss se encontra alinhado, neste sentido, à filosofia nietzschiana; o filósofo alemão pensa o corpo
como produto de experiências quando remete ao termo alemão Leib (em oposição a Körper utilizado geralmente
pelo racionalismo cientificista). O corpo (Leib) é um campo de forças, de transmissão e de tensão criadora, base
da cultura, de todo o juízo e fonte de ideias sensíveis (NIETZSCHE, 1985).
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
7
Para introduzir a conceituação do dispositivo observemos que historicamente o termo
esteve vinculado aos estudos de cinema na França. Em um famoso texto de 1975, Le
dispositif: approches métapsychologiques de l´impression de la réalité, Jean-Louis Baudry
inaugura estas pesquisas. Para pensar o status da cena fílmica, serve-se da teoria freudiana
sobre as faculdades de representação do sujeito humano. Baudry traça correspondências entre
o cinema, as qualidades tópicas do aparelho psíquico (que Freud havia descrito se
aproveitando de metáforas espaciais6) e as imagens oníricas (FREUD, 1996). No sonho (como
na alucinação), as representações se dão como uma realidade na ausência da percepção do
sujeito que dorme; mas, no cinema, as imagens são dadas como realidade através da
percepção. Por esse motivo o corpo perceptual do espectador é parte vital deste processo de
afeção corporal em que reside o chamado dispositivo fílmico. Aprofundando sua
conceituação, Baudry distingue o dispositivo como um todo daquilo que nomeia o aparelho
base, relativo às películas (celuloide), as câmeras e as operações necessárias de montagem,
produção e projeção. O dispositivo propriamente dito concerne mais a uma relação entre a
projeção e o sujeito a quem se dirige a projeção, o espectador, em um momento histórico e
num contexto sócio cultural sempre singular. O cinema neste sentido converte o sujeito em
parte da produção de imagens, implicando-o na realidade fílmica e a produção de sentido.
Pouco tempo depois, na década de 1980, o conceito de dispositivo adquire dentro do
pensamento de Michel Foucault um teor filosófico e se expande sem perder de vista o corpo
como cerne; já que as transformações históricas e o exercício do poder desde a enunciação
incidem diretamente sobre o corpo. Segundo Foucault, um dispositivo é uma espécie de
meada, um conjunto multilinear que abrange sistemas heterogêneos e que emerge formando
parte de processos históricos em desequilíbrio. O filosofo distingue três grandes instâncias
passíveis de serem pensadas como dispositivos: o saber, o poder e a subjetividade. No
contexto da filosofia foucaultiana o dispositivo sempre é produto de uma crise que abre uma
nova dimensão de sentido, abalando, fraturando ou fissurando um estado de coisas. Gilles
Deleuze exprime a tarefa programática da filosofia dos dispositivos de Foucault como uma
forma de cartografia:
6
Nas primeiras descrições do aparelho psíquico, Freud se serve da metáfora ótica e o apresenta como efeito de
uma “disposição”, uma cisão entre dois lugares, o consciente e o inconsciente. O cinema também funcionaria
dessa forma como uma distância, uma disposição que separa, em termos platônicos, o homem da cena.
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
8
Desemaranhar as linhas de um dispositivo é, em cada caso, traçar um mapa,
cartografar, percorrer terras desconhecidas, é o que Foucault chama de “trabalho em
terreno”. É preciso nos instalarmos sobre as próprias linhas, que não se contentam
apenas em compor um dispositivo, mas atravessam-no, arrastam-no, de norte a sul,
de leste a oeste ou em diagonal (DELEUZE, 1999, p. 155-163).
Nesta perspectiva filosófica, o dispositivo adquire o sentido de agenciamento
(Agencement), maneira de fazer funcionar relações de poder, de efetivá-las, concretizá-las, em
momentos de forte quebre histórico, operando como constante atualizador das relações de
poder. E o dispositivo fílmico também pode ser em última instância pensado como uma
meada, uma rede de componentes heterogéneos que regula a relação, o encontro entre o
espectador e a obra, entre o público e as imagens em movimento, em certo contexto simbólico
e social, permitindo apreender aquilo que se olha (AUMONT, 1992, p. 202).
Neste sentido, a emergência de um conjunto de técnicas coreográficas inéditas
congregando a diferença de gênero, de raça e de classe de maneira produtiva, como foi o caso
do tango dança, coloca essa práxis a altura de um dispositivo, pois cumpre dois requisitos
formais básicos, o de ser uma técnica de movimento de transmissão eficaz de sentido, e o
requisito de ser um ato corporal comunicativo, em palavras de Paul Zumthor, uma práxis
performática (ZUMTHOR, 2007). A performatividade do tango responde à condição de
possibilidade que legitimou essa experiência popular coletiva de criação corporal. Na
Argentina de começo de século, o corpo das classes populares subalternas e dos imigrantes é
núcleo tanto do dispositivo fílmico (aparelho base e público) quanto do dispositivo de criação
do tango dança que se ensina nos espaços familiares e nos bordeis, mas se consolida, fora de
toda suspeita no circo, no teatro e no cinema, que se transforma em escrita da bateria de
gestos codificados do corpo. O tango dançado com seus personagens, valores e gestos será um
dos núcleos dramatúrgicos por excelência da filmografia argentina; ambos os dispositivos
arbitram um diálogo entre os diretores, os performers e o público. Este discurso audiovisual
que introduz a midiatização da dança eleva a imagem do corpo; lança processos coreográficos
inéditos na história mundial da dança (DINZEL, 2011; HESS, 2005) como verdadeira
experiência sociocultural.
Desta forma, o cinema produz uma operação de destaque ao registrar as performances
populares; pois, retomando as afirmações de Alain Badiou, se os irmãos Marx tivessem sido
apenas um espetáculo de variedades, provavelmente hoje não teríamos nenhuma lembrança
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
9
deles. O destaque da relação do cinema com as artes processuais e performáticas populares,
nessa operação particular de elevação do corpo que produz o cinema em direção universal,
integrando-o a uma nova síntese (BADIOU, 2004, p. 44) A “operação” da que fala Badiou
remete também aquilo que Delluc e Epstein definiram como fotogenia7 nos primeiros estudos
formalistas sobre a linguagem cinematográfica. Trata-se de uma elevação peculiar da imagem
em movimento, que estabelece uma distância produtiva da realidade, trazendo algo mais que o
mero documento. A potência na transmissão de técnicas corporais das imagens de tango no
cinema argentino é produto desta elevação em que ambos os dispositivos operaram
criativamente em conjunto. Nesse sentido, o tango que era uma práxis ritualizada e anônima
(off stage) baseada em uma conexão corporal original sintetizada no abraço8, foi
absolutamente transformado a partir da chegada do cinematógrafo. E esse processo de
codificação corporal, complexo e detalhado da dança não pode ser pensado sem o diálogo
entre o coletivo e o cinema.
Choréographie: cinema e dança na educação do corpo
Nas pesquisas desenvolvidas entre 2009 e 2014 temos conseguido fundar uma discussão
estética a partir da relação entre o cinema argentino e as performances de tango dançado
(LOPEZ GALLUCCI, 2014). Fomos alentados pela possibilidade de acessar material
cinematográfico digitalizado que parecia perdido e foi recentemente achado e restaurado pelo
Museo del Cine em Argentina. Esse conjunto de filmes nos permitiu ter uma perspectiva
histórica e crítica sobre as estratégias e formas características de representação. Ficou
expresso que o tango dança formou parte das práticas corporais ritualizadas anônimas e das
manifestações artísticas rio-platenses desde seu surgimento em 1885, e que se adotou como
forma de expressão popular no circo, no teatro, no rádio e finalmente no cinema, quem
difundiu o tango de maneira massiva, nacional e internacionalmente. Nesse salto para a
midiatização cinematográfica, que consideramos um segundo nascimento do tango,
observamos como o gênero precisou ser recodificado para o espaço fílmico. O trabalho de
7
Louis Delluc (apud AUMONT, 2002, p. 162) definia a fotogenia como “...qualquer aspecto das coisas, dos
seres e das almas que aumente sua qualidade moral pela reprodução cinematográfica. Qualquer aspecto não
majorado pela reprodução cinematográfica não é fotogênico, não faz parte da arte cinematográfica”.
8
O abraço de tango propõe uma assimetria axial heterogênea e elástica entre os bailarinos como vetores
espaciais; dita tensão criativa foi amplamente abordada e explicitada na nossa tese doutoral (LOPEZ
GALLUCCI, 2014).
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
10
diretores e performers toma forma poética no cinema silencioso desde 19069,
fundamentalmente centrado no aparelho gestual da dança. Após de 1933 com a chegada do
som sincrónico adverte-se que o aspecto coreográfico passa a um segundo plano e começa a
se destacar a figura dos cantores. O conjunto de filmes mudos e as fotografias das revistas da
época proporcionaram informação sobre os usos do corpo e os repertórios coreográficos de
tango que formaram parte da estruturação do modelo de representação emergente. O modelo
de representação do drama social urbano, hegemônico a partir da chegada do som sincrônico.
Assim, o tango dança entendido como dispositivo de criação teve amplo efeito na
educação do corpo; sua codificação implicou a busca da expressão organizada de pulsões
subjetivas no contexto de expressão da dupla. Formatou as relações de poder entre os corpos
outorgando-lhes uma estrutura coreográfica sem perder ou aplainar as tensões internas que
vivenciavam os sujeitos desse coletivo; o tango dança busca uma ilusão de sincronia e de
unidade dos corpos características cinematográficas por excelência. No cinema argentino a
cartografia corporal do tango adquire relevância popular em uma imbricação com o próprio
dispositivo fílmico, pois o texto audiovisual tem profundas ressonâncias nesse imaginário
cultural. O olhar do publico é um olhar de quem pratica a dança e que sente uma afeção
corporal específica quando aparecem estrelas como El Cachafaz e Carmen Calderón 10,
elevando o ritual urbano dos arrabaldes populares para o plano de sucesso no âmbito de
reconhecimento e artístico da cultura nacional. O plano americano coloca em cena o abraço de
tango, forma expressiva de máxima conexão entre os corpos. Na tela o público se embebe de
micro movimentos, aprende e dialoga com a dança adotando os gestos de tango como uma
segunda natureza (DUERR, 1998). O cinema e o tango criaram uma nova maneira de pensar o
corpo na incipiente modernidade latino-americana.
Referências
AGAMBEN, Giorgio. Notas sobre o gesto. In: Artefilosofia. Ouro preto, 4, 2008, [p.09-14].
BAUDRY, Jean-Louis. Le dispositif. In: Communications, 23, Paris, 1975, [pp. 56-72]
e
BAZOGE, Natalia. La gymnastique d’entretien au XX siècle: d’une valorisation de la
masculinité hégémonique à l’expression d’un féminisme en action. In: Clio. Histoire‚
femmes et sociétés 23 | 2006.
9
Tango argentino (LEPAGE & CIA),
10
Benito Bianquet, El “Cachafaz”, que realizou dezenas de coreofrafias para filmes durante toda sua vida.
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
11
BENJAMIN. Walter. Documentos de cultura. Documentos de barbárie: Escritos escolhidos.
Seleção Willi Bolle; tradução Celeste H.M. Ribeiro de Sousa. São Paulo: Cúltrix. 1986.
DE AJURIA, Julián. El cinematógrafo. Espejo del mundo. Buenos Aires: G. Kraft Ltda, 1946.
DELEUZE, Gilles. Qué es un dispositivo? In: VVAA. Michel Foucault, filósofo. Barcelona:
Gedisa, 1999; [p.155-163]
DESCARTES. Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Buenos Aires: E. Calpe,
1950. [pp. 133-146].
DUERR, Petter. Nudité & Pudeur: le mythe du processus de civilisation. Paris : Fundation
Maison des Sciencies de l´homme, 1998.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São
Paulo: Martins Fontes, 1999.
FOUCAULT, Michel. Outros Espaços. Em Ditos & Escritos III – Estética: literatura e
pintura, música e cinema (I. A. D. Barbosa, trad.). Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2006, [pp. 411-422].
FOUCAULT, Michel. Le jeu de Michel Foucault. Entretien avec Colas, D. Grosrichard, A. Le
Gaufey, G. Livi, J. Miller, G. Miller, J. Miller J.-A. Millot, C. Majeman, G. Ornicar
Bulletin périodique du champ freudien. Paris, n. 10, jul. 1977, [p. 62-93].
FREUD, Sigmund. O ego e o id. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
LÓPEZ GALUCCI, Natacha Muriel. Coreografias traçadas na luz. In: CUARTEROLO,
Andrea; TORELLO, Georgina. Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y
cine silente en Latinoamérica v. 2 Buenos Aires: 2016.
LÓPEZ GALUCCI, Natacha Muriel. Cinema, Corpo e Filosofia: Contribuições ao estudo das
performances no cinema argentino. (Tese de Doutorado) Instituto de Artes. UNICAMP.
Repositorio da Biblioteca Digital da Unicamp, 2014.
MAUSS, Marcel As técnicas do corpo. In: Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac
Naify, 2003 [pp. 399-422].
MILLER, J. Alain. El juego de Michel Foucault. Entrevista traduzida por Javier Rubio.
Diwan, Paris, n. 2-3, p. 171-202, 1978. Originalmente publicado na Revista Ornicar,
Paris, n. 10, p. 62-93. jul. 1977.
SOARES, Carmen L. Educação do corpo. In: GONZALEZ, F.J; FENSTERSEIFER, P. E.
Dicionário de Educação Física. 3ra Edição, Ijuí: Editora Umnat, 2014.
XVI Congresso de História da Educação do Ceará
Linha de História e Educação Comparada
Universidade Federal do Ceará
Você também pode gostar
- Livro - o Jeito Conquer de LiderarDocumento79 páginasLivro - o Jeito Conquer de LiderarAlexsandro Cavalcanti de SouzaAinda não há avaliações
- Luta Dos Contrários PDFDocumento179 páginasLuta Dos Contrários PDFVâneaMelloAmaralAinda não há avaliações
- Aula - 01 InglesDocumento53 páginasAula - 01 InglesFelipe TavaresAinda não há avaliações
- Matrix Nunca Foi Real - A PrisãoDocumento96 páginasMatrix Nunca Foi Real - A PrisãoSebastiao alves da silva100% (1)
- Ebook Meditacao Sofia BauerDocumento52 páginasEbook Meditacao Sofia BauerJoyce E Fabio Muzy100% (3)
- Ecc2e9f6ber BH Ef2-Em1 Manual de Metodologias Do Estudo 2022Documento24 páginasEcc2e9f6ber BH Ef2-Em1 Manual de Metodologias Do Estudo 2022llpok gamesAinda não há avaliações
- Maria Texto PDFDocumento21 páginasMaria Texto PDFRose Abraham100% (5)
- Reflexões Sobre Minha Iniciação Na Maçonaria - Leonardo - V2Documento4 páginasReflexões Sobre Minha Iniciação Na Maçonaria - Leonardo - V2Leonardo Ramos Nobrega100% (3)
- Em Defesa Da Fé - ResenhaDocumento8 páginasEm Defesa Da Fé - Resenhawaldircomp5621Ainda não há avaliações
- Auditorias À Segurança Contra Incêndio em Edifícios e RecintosDocumento5 páginasAuditorias À Segurança Contra Incêndio em Edifícios e RecintosCláudia Alexandra RodriguesAinda não há avaliações
- Metodologia de Investigação em EducaçãoDocumento38 páginasMetodologia de Investigação em EducaçãoPedroMirandaAinda não há avaliações
- Relatos de Um Peregrino RussoDocumento10 páginasRelatos de Um Peregrino RussoReinaldo Vinicius de SouzaAinda não há avaliações
- Regionais Politicas Publicas Volume1 pp.1-6,50-63Documento20 páginasRegionais Politicas Publicas Volume1 pp.1-6,50-63ÉricaAinda não há avaliações
- Cinema Do Corpo PDFDocumento19 páginasCinema Do Corpo PDFNatacha Muriel López GallucciAinda não há avaliações
- Wisnik Machado Maxixe o Caso PestanaDocumento67 páginasWisnik Machado Maxixe o Caso PestanaNatacha Muriel López GallucciAinda não há avaliações
- Musica e Produção VocalDocumento192 páginasMusica e Produção VocalNatacha Muriel López Gallucci100% (1)
- Tese Maxixe Chiquinha Gonzaga Marcilio - CC - Me - IaDocumento146 páginasTese Maxixe Chiquinha Gonzaga Marcilio - CC - Me - IaNatacha Muriel López Gallucci100% (1)
- Barbosa - Tópicos UtópicosDocumento7 páginasBarbosa - Tópicos UtópicosNatacha Muriel López GallucciAinda não há avaliações
- Introdução Ao JornalDocumento1 páginaIntrodução Ao Jornal7110hbAinda não há avaliações
- Memoria Urbana AderbalDocumento207 páginasMemoria Urbana AderbalsamuelioAinda não há avaliações
- Mundo Dentro Da PeleDocumento11 páginasMundo Dentro Da PeleFelp ScholzAinda não há avaliações
- Texto 1 - Projeto Político-Pedagógico Da Escola Cidadã - Moacir GadottiDocumento7 páginasTexto 1 - Projeto Político-Pedagógico Da Escola Cidadã - Moacir GadottiJanderson GonçalvesAinda não há avaliações
- Manual Geradores A GasolinaDocumento14 páginasManual Geradores A GasolinapessoamenezesAinda não há avaliações
- Anderson de Alcantara Luiz AtividadedefesaDocumento24 páginasAnderson de Alcantara Luiz AtividadedefesaAndré BrightRevAinda não há avaliações
- As Funções Das Entrevistas PreliminaresDocumento3 páginasAs Funções Das Entrevistas PreliminaresSlivy da SilvaAinda não há avaliações
- EX FQA715 F1 2023 CC VT - NetDocumento7 páginasEX FQA715 F1 2023 CC VT - Netfdsfs wadsAinda não há avaliações
- Geografia e Mídia Impressa - Katuta - LivroDocumento264 páginasGeografia e Mídia Impressa - Katuta - LivroTalita CasagrandAinda não há avaliações
- A Questão Do Tempo para Norbert EliasDocumento16 páginasA Questão Do Tempo para Norbert EliaseclitomAinda não há avaliações
- PDF Simulados 532Documento27 páginasPDF Simulados 532Ana Clara RodriguesAinda não há avaliações
- Anais - 15 - Análise de Infraestrutura Ferroviária Utilizando As Ferramentas de EcoeficiênciaDocumento13 páginasAnais - 15 - Análise de Infraestrutura Ferroviária Utilizando As Ferramentas de EcoeficiênciaFilipe NascimentoAinda não há avaliações
- Exercício de Fixação - História e Consciência Histórica - Revisão Da TentativaDocumento1 páginaExercício de Fixação - História e Consciência Histórica - Revisão Da TentativaRiomar BrunoAinda não há avaliações
- Os Incas 1 - A Princesa Do Sol, Antoine B. DanielDocumento291 páginasOs Incas 1 - A Princesa Do Sol, Antoine B. DanielEdirce MeloAinda não há avaliações
- 05-Obtenção Analise Dados CineticosDocumento35 páginas05-Obtenção Analise Dados CineticosLeticia MendesAinda não há avaliações
- r.0 - Manual de Instruções - Anexo I - Instruções TécnicasDocumento109 páginasr.0 - Manual de Instruções - Anexo I - Instruções Técnicasdebreus100% (1)
- Guia Prático - Ms ProjectDocumento21 páginasGuia Prático - Ms ProjectPhillipy JohnyAinda não há avaliações