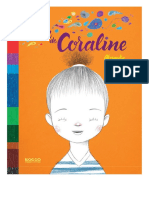Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Clive Bell
Enviado por
Hudson BenevidesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Clive Bell
Enviado por
Hudson BenevidesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Arte_miolo.
indd 1 21-03-2009 1:14:55
Arte_miolo.indd 2 21-03-2009 1:15:25
Impresso pela primeira vez em 1914.
Nova edição em 1949.
Arte_miolo.indd 3 21-03-2009 1:15:25
Título original: Art
Tradução, notas e apresentação: Rita Canas Mendes
Grafismo: Cristina Leal
Paginação: Vitor Pedro
© The Estate of Clive Bell, 1914
Todos os direitos desta edição reservados para
Edições Texto & Grafia, Lda.
Avenida Óscar Monteiro Torres, n.º 55, 2.º Esq.
1000-217 Lisboa
Telefone: 21 797 70 66
Fax: 21 797 81 03
E-mail: texto-grafia@texto-grafia.pt
www.texto-grafia.pt
Impressão e acabamento:
Papelmunde, SMG, Lda.
1.ª edição, Abril de 2009
ISBN: 978-989-95884-6-2
Depósito Legal n.º 291517/09
Esta obra está protegida pela lei. Não pode ser reproduzida
no todo ou em parte, qualquer que seja o modo utilizado,
sem a autorização do Editor.
Qualquer transgressão à lei do Direito de Autor
será passível de procedimento judicial.
Arte_miolo.indd 4 21-03-2009 1:15:25
C O L E C Ç Ã O
O panorama das ideias, do pensamento e das transformações culturais
avulta e recorta-se, rico e diverso, na mole de obras e de acontecimentos
com que a humanidade foi deixando a sua incisão no corpo irrequieto da
história.
Neste contexto, a colecção PILARES publicará trabalhos que, além do
seu valor intrínseco, encerrem uma garantia de perenidade temática que
os possam inscrever no rol de textos fundamentais para a articulação e a
conversação, cada vez mais urgente, dos saberes entre si.
Arte_miolo.indd 5 21-03-2009 1:15:26
Arte_miolo.indd 6 21-03-2009 1:15:26
Apresentação
Arte é um dos grandes ensaios sobre Estética do século XX e um
marco na história da crítica de arte. As ideias expressas neste texto
constituem a essência de uma importante corrente da filosofia da arte
– o Formalismo – e as posições do autor são um verdadeiro testemunho
do pensamento daquele período. Sempre actual, estamos perante uma
obra que, sozinha, foi capaz de agitar os espíritos da época e mudar para
sempre o curso da análise estética.
Arthur Clive Heward Bell (1881 – 1964) nasceu no seio de uma
abastada família inglesa. Formou-se em História, em Cambridge, onde
conheceu artistas e escritores. Em 1902, recebeu uma bolsa para prosse-
guir os estudos em Paris. Na capital francesa, o seu encontro com a arte
dita uma viragem nos seus interesses e dedica-se, então, ao estudo da
pintura. De volta ao país natal, conhece, num serão de amigos, as irmãs
Stephen: Vanessa (com quem virá a casar em 1907) e Virginia (mais tarde
Woolf). Estão lançadas as bases para o célebre Grupo de Bloomsbury,
do qual será um elemento-chave.
Em 1909, Clive Bell cruza-se por acaso com Roger Fry numa viagem
de comboio e tornam-se amigos daí em diante. Debatem fervorosamente
as questões levantadas pela arte do seu tempo e são ambos activos pro-
motores da arte moderna. Em 1910 e 1912, organizam em conjunto as
famosas Exposições Pós-Impressionistas. Em 1914, com 33 anos, Clive
Bell publica o seu principal trabalho: Arte. Embora alguns elementos,
como a concepção formalista e a questão da emoção estética, possam
encontrar-se também nos escritos de Fry, o estilo e o modo sistemático
com que Bell os trata, são incomparáveis.
Além da originalidade da teoria, Bell escreve sobre estes temas de
forma inovadora. Os críticos são desafiados e todo o texto é temperado
com humor; a franqueza e perspicácia são uma lufada de ar fresco.
Transparece ao longo do texto a intenção de desmitificar a discussão
sobre arte, trazê-la da atmosfera elitista e do reino da erudição para um
plano acessível.
O título, despojado, marca desde logo o tom auto-confiante que atra-
vessa a obra. O projecto é ambicioso: como anuncia no prefácio, pretende
«desenvolver uma teoria completa da arte visual». Dos cinco capítulos de
que o livro é composto, o primeiro, o mais conhecido e citado, é aquele
Arte_miolo.indd 7 21-03-2009 1:15:26
ARTE
que contém o núcleo da sua teoria. Mas é preciso não perder de vista a
obra como um todo. Nas restantes secções, Bell discute outros temas,
necessários para a compreensão integral do seu ponto de vista.
No primeiro capítulo, Bell avança aquilo a que chama «a hipótese
estética» da definição de arte. A sua abordagem é essencialista, formalista
e intuicionista. Essencialista porque acredita haver uma característica
comum e exclusiva a todas as obras de arte; formalista porque, segundo
Bell, aquilo que distingue uma obra de arte de todos os outros objectos
é a forma significante; intuicionista porque, como nos diz, aquilo que
permite reconhecer a forma significante é a emoção estética que ela
desperta no observador. Apesar das várias objecções que esta teoria tem
levantado desde então, as acusações de circularidade ou de elitismo, por
exemplo, não foram suficientes para a derrubar. Na realidade, muitos
aspectos da sua teoria podem ser questionados – como distinguir a
emoção estética de outras? Existe, de facto, uma separação entre forma
e conteúdo? Haverá realmente algo de comum entre as várias obras de
arte? Porém, a argumentação de Bell, que, aliás, já antecipa as críticas, é
convincente na sua coerência. Além disso, não pode deixar de seduzir o
leitor quando lhe fala de algo que ele próprio experimenta e que garan-
tidamente é comum a todos aqueles que apreciam a produção artística:
a sensação de arrebatamento perante uma obra de arte.
Ainda no primeiro capítulo, Bell avança outra proposta, a que
chama «a hipótese metafísica». Esta hipótese, em estreita ligação com a
primeira, interroga «Porque nos emocionam tão estranhamente certas
disposições e combinações de formas?». Admitindo que esta é uma questão
mais incerta do que a hipótese formalista, Bell não deixa de especular
acerca da origem e natureza da emoção estética, tanto no artista como
no observador.
Se o primeiro capítulo é o mais denso no que toca à problematização
filosófica da arte, os seguintes não têm menor ambição. São capítulos
que visam fundamentar o que se disse no anterior e que dão azo à crí-
tica da arte feita segundo a sua história. Todo este exercício culmina no
elogio ao Pós-impressionismo e à nova geração de artistas que criou um
movimento de ruptura com a época precedente, na qual a arte esteve,
segundo Bell, perto da extinção.
Para sustentar as suas afirmações, a autor serve-se da história da
arte, esboçando a partir dela um diagrama em forma de cordilheira, em
que os picos de criatividade artística contrastam com os escuros vales da
mera imitação – metáfora que usará ao longo de todo o texto. Através
da sua visão, assumidamente redutora e pessoal, dos momentos da arte,
Arte_miolo.indd 8 21-03-2009 1:15:26
APRESENTAÇÃO
Bell critica atitudes, luta contra preconceitos e chama acaloradamente a
atenção do leitor para aqueles que julga serem os grandes inimigos desta
forma de expressão. As várias ideias contidas neste ensaio são bastante
heterogéneas entre si e é a história da História que nos narra aquilo que
mantém as partes unidas.
O segundo capítulo visa, como o título indica, averiguar as rela-
ções entre a Arte e a Vida. Bell dedica-se à análise desta dinâmica sob
diferentes aspectos: Religião, História e Ética. Estes três ângulos vêm
consolidar uma definição que nos dá da obra de arte e abrir as portas
para os capítulos seguintes. Muito inspirado na obra de G. E. Moore,
Principia Ethica (1903), Bell define o objecto artístico como algo que
é um fim em si (tal como Moore definia o Bem); assim, a ideia da arte
como reprodução é firmemente condenada ao longo de toda a obra.
Outros autores terão tido importância no pensamento de Bell – ele,
aliás, refere-os: Tolstoi e Whistler, por exemplo –, mas Moore foi quem
mais o marcou. Rejeitando a ideia de Tolstoi de que a arte é boa porque
promove as boas acções, Bell concede que a arte é veículo para bons
estados mentais. Censurando o tom aceso de Whistlter, apesar de tudo,
revê-se na sua posição contra-corrente.
Os capítulos subsequentes, os últimos três, são respectivamente
dedicados ao passado, ao presente e ao futuro da arte. Clive Bell deixa
uma mensagem de entusiasmo e esperança relativamente ao amanhã, ainda
que relembrando quão fácil é decair. Sabendo que o autor não empatizava
com a arte abstracta – a contrário do que Arte poderia sugerir –, pode-
mos perguntar-nos o que diria se testemunhasse o panorama artístico
dos dias de hoje. Além de este tratado ser um interessante exercício de
reflexão sobre a vida da arte, é também um convite a repensar – quer
por analogia quer por contraste – as questões colocadas por Bell à luz
das novas problemáticas que surgem continuamente.
Arte_miolo.indd 9 21-03-2009 1:15:26
Arte_miolo.indd 10 21-03-2009 1:15:26
Figura Wei, século V
Colecção do Sr. Vignier
Arte_miolo.indd 11 21-03-2009 1:15:26
Arte_miolo.indd 12 21-03-2009 1:15:27
Prefácio
Neste pequeno livro procurei desenvolver uma teoria completa da
arte visual. Avancei uma hipótese através da qual pode ser testada a res-
peitabilidade, embora não a validade, de todos os juízos estéticos; uma
hipótese à luz da qual a história da arte, dos tempos paleolíticos até ao
presente, se torna inteligível; que, quando adoptada, confere substrato
intelectual a uma convicção quase universal e imemorial. Toda a gente
crê do fundo do coração que há uma real distinção entre as obras de
arte e todos os outros objectos; a minha hipótese justifica esta crença.
Todos sentimos que a arte é imensamente importante; a minha hipótese
oferece razões para assim pensarmos. De facto, o grande mérito desta
minha hipótese é o de explicar aquilo que sabemos ser verdade. Qualquer
pessoa curiosa em saber porque chamamos a um tapete persa ou a um
fresco de Piero della Francesca uma obra de arte, e a um busto de Adriano
ou a um vulgar quadro especulativo 1 chamamos lixo, encontrará aqui
satisfação. Verá também que às habituais reacções da crítica – por exem-
plo «bom desenho», «concepção magnífica», «mecânico», «desprovido
de sentimento», «mal organizado», «sensível» – será dado aquilo que a
estes termos por vezes falta: um significado definido. Resumidamente, a
minha hipótese funciona; isto é invulgar: para alguns tem parecido não
só viável mas verdadeira, o que é quase milagroso.
Apesar de se poder desenvolver adequadamente uma teoria em
cinquenta ou sessenta palavras, não se pode pretender desenvolvê-la
exaustivamente. O meu livro é uma simplificação. Tentei fazer uma gene-
ralização acerca da natureza da arte que fosse simultaneamente verdadeira,
coerente e compreensível. Procurei uma teoria que explicasse o conjunto
da minha experiência estética e que sugerisse uma solução para todos
os problemas, mas não tentei responder pormenorizadamente a todas as
questões levantadas nem persegui-las até às mais delgadas ramificações.
A ciência da estética é um assunto complicado, tal como a história da
arte; espero ter escrito qualquer coisa simples e verdadeira sobre ambas.
1 Problem-picture no original. Trata-se de um género artístico popular no final do período
vitoriano que se caracteriza pela narrativa deliberadamente ambígua, passível de receber várias
interpretações, ou que retrata um dilema por resolver. Perante este tipo de obra, o espectador é
convidado a especular acerca de várias explicações possíveis para a cena retratada. (N. da T.)
13
Arte_miolo.indd 13 21-03-2009 1:15:27
ARTE
Por exemplo, apesar de ter indicado muito claramente, e até repetido,
aquilo que acredito ser essencial numa obra de arte, não debati a relação
do essencial com o acessório tão exaustivamente como poderia tê-lo feito.
Há muito mais a dizer sobre a mente do artista e a natureza do problema
artístico. Resta ao artista, ao psicólogo e ao perito em limitações humanas
dizer-nos até que ponto o acessório é um meio necessário para alcançar
o essencial – dizer-nos se é fácil, difícil ou impossível ao artista destruir
os degraus da escada que o levou às estrelas.
O meu primeiro capítulo resume discussões, conversas e especulações
nebulosas que, condensadas em argumentos consistentes, ainda encheriam
dois ou três densos volumes; talvez um dia escreva um deles se os meus
críticos forem imprudentes a ponto de me provocar. Quanto ao meu
terceiro capítulo – um esboço da história dos últimos quatrocentos anos
–, trata-se, claro, de uma simplificação. Aqui servi-me de uma série de
generalizações históricas para ilustrar a minha conjectura; também aqui
creio na minha teoria e sou levado a pensar que todos os que analisarem
a história da arte à luz desta perspectiva a acharão mais inteligível do
que antes. Simultaneamente, admito de bom grado que, na realidade, os
contrastes são menos violentos e as montanhas menos íngremes do que
foram pintados, de modo a poderem figurar num esquema deste tipo.
Sem dúvida que seria bom se também este capítulo fosse expandido para
meia dúzia de volumes legíveis, mas isso não acontecerá até que as doutas
autoridades tenham aprendido a escrever ou que algum escritor tenha
aprendido a ser paciente.
As conversas e discussões que têm animado e polido as teorias
avançadas no primeiro capítulo foram na sua maioria travadas com o Sr.
Roger Fry, com quem, por isso, tenho uma dívida difícil de contabilizar.
Em primeiro lugar, posso agradecer-lhe, na qualidade de editor-adjunto
da The Burlington Magazine, pela licença de reprodução de uma parte de
um artigo meu para esse periódico. Feito este reconhecimento, chego
a outro mais complicado. Quando conheci o Sr. Fry, numa carruagem
de comboio que seguia de Cambridge para Londres, demos connosco a
conversar sobre arte contemporânea e a sua relação com toda a outra
arte; por vezes, parece-me que desde então nunca mais falámos de outra
coisa, embora os meus amigos me garantam que não é tanto assim.
Recordo-me de que o Sr. Fry tomara recentemente conhecimento dos
modernos mestres franceses – Cézanne, Gauguin, Matisse –, gozando
eu da vantagem de uma familiaridade mais antiga. Contudo, o Sr. Fry
já tinha publicado o seu Essay in Aesthetics, que, no meu entender, foi a
mais útil contribuição para esta ciência desde os tempos de Kant. Falá-
14
Arte_miolo.indd 14 21-03-2009 1:15:27
PREFÁCIO
mos muito desse ensaio, discutindo em seguida a possibilidade de uma
exposição «pós-impressionista» nas Grafton Galleries. Não lhe chamámos
«pós-impressionista», a palavra foi mais tarde inventada pelo Sr. Fry – o
que, a meu ver, torna no mínimo surpreendente o facto de os críticos
mais avançados o censurarem muitas vezes por não saber o que significa
o «Pós-impressionismo».
Já há alguns anos que eu e o Sr. Fry temos vindo a discutir mais
ou menos amigavelmente acerca dos princípios da estética. Ainda dis-
cordamos profundamente. Gosto de pensar que ainda não me demovi
um centímetro que fosse da minha posição original, mas devo confessar
que as reservas e dúvidas cautelosas que se insinuaram neste prefácio
são todas elas consequências indirectas das críticas deste meu amigo. E
não é só de ideias gerais e de coisas fundamentais que temos falado; eu
e o Sr. Fry querelámos durante horas sobre obras de arte particulares.
Nesses casos não é possível, nem necessário, avaliar até que ponto um
afectou o juízo do outro: penso que nenhum de nós cobiça as duvidosas
honrarias do proselitismo. Será que a todo aquele que aprecie uma bela
obra de arte deve ser permitido o inigualável prazer de supor que fez
uma descoberta? Ainda assim, uma vez que todas as teorias estéticas se
baseiam em julgamentos estéticos, parece claro que caso o julgamento
de um seja afectado pelo do outro, o outro pode afectar, indirectamente,
algumas das suas teorias. É certo que algumas das minhas generalizações
históricas foram modificadas, e até demolidas, pelo Sr. Fry. A sua tarefa
não foi árdua: teve apenas de me confrontar com uma obra acerca da qual
sabia que eu entraria em êxtase, e depois provar-me, através das mais
odiosas e irrefutáveis provas, pertencer a um período que eu, servindo-
-me das melhores bases a priori, considerara estéril. Só posso desejar que
a erudição do Sr. Fry tenha sido para mim tão lucrativa como dolorosa:
viajei com ele por França, Itália e pelo Próximo Oriente, sofrendo aguda-
mente, embora, como gosto de recordar, nem sempre em silêncio – pois
o homem que apunhala uma generalização com um facto penhora toda a
pretensão de cordialidade e bom trato.
Tenho de agradecer ao Sr. Vernon Rendall, meu amigo, pela auto-
rização de usar livremente os artigos com que contribuí de tempos a
tempos para The Athenaeum: se fiz algum uso do que por lei pertence
aos proprietários de outros artigos, desde já lhes ofereço o que é seu de
direito. Os meus leitores estarão tão gratos como eu estou ao Sr. Vignier,
ao Sr. Druet, e ao Sr. Kevorkian, da Persian Art Gallery, uma vez que
foram eles que se certificaram de que o comprador levará qualquer coisa
de que goste em troca do seu dinheiro. Para com o Sr. Eric Maclagan, de
15
Arte_miolo.indd 15 21-03-2009 1:15:27
ARTE
South Kensington, e para com o Sr. Joyce, do British Museum, tenho uma
dívida mais privada e particular. A minha mulher mostrou-se bondosa ao
ler tanto o manuscrito como as provas deste livro; corrigiu alguns erros
e chamou a atenção para as ofensas mais flagrantes à caridade cristã.
Assim, o leitor não deve tentar desculpar o autor com a precipitação ou
a falta de advertência.
CLIVE BELL
Novembro de 1913
16
Arte_miolo.indd 16 21-03-2009 1:15:28
Prefácio à segunda edição
Para actualizar este ensaio, isto é, para tornar o que sentia em
1911 e 1912 consistente com o que penso e sinto hoje, seria necessário
escrever um novo livro. Isso não farei: em primeiro lugar, porque sou
preguiçoso; depois, porque, se este ensaio tiver algum valor para as
gerações futuras, será na qualidade de registo daquilo que pessoas como
eu pensavam e sentiam nos anos que antecederam a Primeira Grande
Guerra. Portanto, deixemos que os exageros, as simplificações infantis
e as injustiças permaneçam.
Corrigiram-se alguns erros nesta edição ou em anteriores; destes, o
mais surpreendente – e que subsistiu durante anos em numerosas edições
produzidas neste país e na América – foi a impressão de «Gaugin» em vez
de Gauguin. Decerto por culpa dos críticos da minha geração, muitos dos
quais não morriam de amores pelas minhas ideias, nem um deles julgou
apropriado censurar-me este erro – excepto o Professor Tonks que não
era crítico. Não sei se foi a magnanimidade que os impediu de detectar
esta tautologia grosseira na minha afirmação da hipótese estética, mas
posso dizer que esta nódoa foi apagada há muito. Tanto quanto sei, nunca
me repreenderam por uma frase (ainda lá está) que insultuosamente
coloca Seurat ao nível de Signac e Cross. A única desculpa para este
juízo é a de que vira muito pouco da pintura do mestre e, claro, isto
não é justificação para quem se incumbiu de beneficiar o público com
as suas opiniões. Por outro lado, gostaria de me desculpar por uma nota
difamatória que num outro livro, Landmarks in Nineteenth Century Painting,
dirigi a Degas. Degas foi um grande artista, um extraordinário artista.
Acontece que eu andava irritado com a moda, que em tempos houve
entre os ingleses que pouco sabiam de pintura francesa, de louvar a Cena
de Praia em detrimento de outras obras superiores. La Plage está longe de
ser uma das obras-primas de Degas, mas é genial, genial de um modo
facilmente perceptível. Estava indignado e, como geralmente acontece
quando se está exaltado, disse uma tolice.
Estas são imperfeições particulares; as falhas mais gerais não são
de todo alheias à juventude. O tom é demasiado confiante e agressivo.
Uns ares de propaganda emanam de páginas onde a propaganda não
tem cabimento; mas não nos esqueçamos de que acabara de me juntar à
17
Arte_miolo.indd 17 21-03-2009 1:15:28
ARTE
«batalha pelo Pós-impressionismo». O melhor que Sickert 2 dizia sobre
Cézanne era que se tratava de «un grand raté» 3, ao passo que Sargent
lhe chamava «desastrado», e o director da Tate Gallery se recusava a
expor os seus quadros. Van Gogh era quase diariamente acusado de
incompetência e de ser um louco vulgar; Jacques-Emile Blanche disse-nos
que quando limpava a sua paleta produzia coisas melhores do que um
Gauguin; e quando Roger Fry trouxe um Matisse para o Art-Workers
Guild ouviu-se o brado: «álcool ou drogas?». Perder a calma com os «Art-
-Workers» ou com um professor da Slade 4 pode ser uma tolice, mas não
esqueçamos que artistas e críticos reputados – para não falar de roman-
cistas, poetas, juízes, bispos, políticos e biólogos – também se juntaram
ao clamor. Hackert para Sickert: «Matisse tem todos os maus truques
de escola de artes»… «Picasso, como todos os seguidores de Whistler,
incorporou os fundos vazios de Whistler sem incorporar a característica
que tornava os seus fundos vazios interessantes». Talvez tenhamos feito
bem em zangarmo-nos. Contudo, quem quer que leia este livro verá que
eu, estando enfurecido, digo coisas absurdas e impertinentes acerca dos
gigantes do Alto Renascimento, que subestimo o século XVIII e que,
por ridículos motivos doutrinários, julgo necessário descrever a minha
admiração pelos impressionistas. O tom do livro, como disse, é demasiado
confiante, além de ser agressivo. As generalizações são demasiado amplas;
a história de quatrocentos anos, contada em poucas dezenas páginas, não
é contada como devia ser no caso de ter de ser contada brevemente – a
preto e branco –, sendo antes contada em cores abruptamente contras-
tantes, e nalguns casos com cores falsas. Para lá de tudo isto, há ainda
um optimismo que, no curso dos acontecimentos dos últimos trinta e
cinco anos, se tem tornado risível; mas os acontecimentos não estavam
sob o controlo do autor. E, no entanto, ao reler Arte, levando tudo isto
em conta, assim como as circunstâncias atenuantes que podem acorrer em
sua defesa, não posso deixar de me sentir um pouco invejoso do jovem
aventureiro que o escreveu.
CLIVE BELL
Charleston, Outubro de 1948
2 Walter Richard Sickert (1860 -1942), pintor impressionista inglês. (N. da T.)
3 «Um grande falhado». (N. da T.)
4 Slade School of Fine Art. (N. da T.)
18
Arte_miolo.indd 18 21-03-2009 1:15:28
1. O QUE É A ARTE?
I. A HIPÓTESE ESTÉTICA
II. ESTÉTICA E PÓS-IMPRESSIONISMO
III. A HIPÓTESE METAFÍSICA
Prato persa, século XI (?)
Com autorização do Sr. Kevorkian, da Persian Art Gallery
Arte_miolo.indd 19 21-03-2009 1:15:28
Arte_miolo.indd 20 21-03-2009 1:15:29
I. A Hipótese Estética
É pouco provável que se tenham escrito mais absurdos acerca da esté-
tica do que sobre outra coisa qualquer: a bibliografia sobre o assunto não é
suficientemente vasta para tal. Contudo, não conheço outra matéria acerca
da qual tão pouca coisa pertinente tenha sido dita. Podemos encontrar
explicação para isto. Quem quiser elaborar uma teoria da estética plausível
tem de possuir duas qualidades: sensibilidade artística e inclinação para
pensar com clareza. Sem sensibilidade, a experiência estética é impossível
e, evidentemente, teorias que não se baseiem numa ampla e profunda
experiência estética são desprovidas de valor. Só aqueles para quem a arte
é uma constante fonte de emoção arrebatada possuem os dados a partir dos
quais se podem deduzir teorias proveitosas. Contudo, mesmo partindo de
dados exactos, é necessário um certo trabalho intelectual para se deduzirem
teorias úteis e, infelizmente, um intelecto robusto não é inseparável de
uma sensibilidade delicada. Metade das vezes, os pensadores mais esfor-
çados não tiveram qualquer experiência estética. Tenho um amigo dotado
de um intelecto perspicaz que, apesar de se interessar pela estética, não
pode ser acusado de algum dia, em quarenta anos de vida, ter tido uma
única emoção estética. Assim, não possuindo a capacidade de distinguir
uma obra de arte de um serrote, é capaz de reunir uma montanha de
argumentos irrefutáveis a favor da hipótese de um serrote ser uma obra
de arte. Este defeito subtrai ao seu raciocínio subtil e perspicaz muito do
seu valor, uma vez que, como nos diz a velha máxima, a lógica perfeita
pode vencer mas conclusões baseadas em premissas manifestamente falsas
pouco crédito merecem. Porém, tudo tem o seu lado positivo: esta falta
de sensibilidade, apesar de tornar o meu amigo incapaz de escolher uma
base sólida para a sua argumentação, cega-o misericordiosamente perante
o absurdo das suas conclusões, permitindo-lhe a plena fruição da sua dia-
léctica magistral. Quem parte da hipótese de que Sir Edwin Landseer foi o
melhor de todos os pintores não sentirá qualquer apreensão relativamente
a uma estética que prove que Giotto foi o pior. Portanto, quando o meu
amigo chega muito logicamente à conclusão de que uma obra de arte deve
ser pequena ou redonda ou lisa, ou de que, para apreciar integralmente
um quadro, devo passear-me diante dele ou fazê-lo girar, não consegue
perceber porque lhe pergunto se esteve ultimamente em Cambridge, local
que ele por vezes visita.
21
Arte_miolo.indd 21 21-03-2009 1:15:29
ARTE
Por outro lado, as pessoas que reagem imediata e assertivamente
a obras de arte, apesar de, a meu ver, serem mais invejáveis do que os
homens de denso intelecto e sensibilidade diminuta, são com frequên-
cia igualmente incapazes de falar acertadamente sobre estética. As suas
mentes nem sempre são muito ordenadas. Possuem os dados em que
qualquer sistema se deve basear, mas falta-lhes geralmente a capacidade
de executar inferências correctas a partir de dados verdadeiros. Tendo
recebido emoções estéticas de obras de arte, estão em posição de pro-
curar a propriedade que as emocionou e que é comum a todas elas; mas,
na verdade, não fazem nada disso. Não as censuro. Porque haveriam de
se dar ao trabalho de examinar os seus sentimentos, se para elas sentir
é suficiente? Porque haveriam de parar para pensar, se pensar não é o
seu forte? Porque haveriam de andar à caça de uma propriedade comum
a todos os objectos que as emocionam, quando podem demorar-se nos
vários e deliciosos encantos peculiares de cada um delas? Assim, se
escrevem crítica e lhe chamam estética, se imaginam que estão a falar
de Arte quando, afinal, falam de determinadas obras de arte ou mesmo
de técnicas de pintura, e se, gostando de obras de arte isoladas, julgam
a consideração da arte em geral aborrecida, talvez tenham escolhido a
melhor parte. Se a natureza da sua emoção ou a propriedade comum a
todos os objectos que a provocou não lhes desperta curiosidade, então
contam com a minha simpatia e, uma vez que o que dizem é por vezes
encantador e sugestivo, com a minha admiração. Mas não suponha que
o que dizem e escrevem é estética: é crítica ou um mero passatempo.
O ponto de partida de todos os sistemas estéticos deve ser a expe-
riência pessoal de uma emoção particular. Chamamos obras de arte a
objectos que provocam esta emoção. Todas as pessoas sensíveis concordam
em afirmar que há uma emoção particular causada por obras de arte. Não
quero com isto dizer, evidentemente, que todas as obras de arte provo-
cam a mesma emoção. Pelo contrário, cada obra produz uma emoção
diferente. Mas identificamos todas estas emoções como pertencentes ao
mesmo tipo. Pelo menos, até aqui, a melhor opinião está do meu lado.
Penso que a existência de um tipo particular de emoção, provocada por
obras de arte visuais, emoção causada por todos os géneros de arte visual
(pinturas, esculturas, edifícios, vasos, gravuras, têxteis, etc.), não é con-
testada por ninguém que seja capaz de a sentir. Esta emoção chama-se
emoção estética e, se formos capazes de descobrir alguma propriedade
particular que seja comum a todos os objectos que a provocaram, então
teremos solucionado aquele que considero ser o problema central da
estética. Teremos descoberto qual a propriedade essencial de uma obra
22
Arte_miolo.indd 22 21-03-2009 1:15:29
I. A HIPÓTESE ESTÉTICA
de arte, a propriedade que distingue as obras de arte de todas as outras
classes de objectos.
Portanto, ou todas as obras de arte visual têm alguma propriedade
comum ou então, quando falamos de «obras de arte», dizemos tolices.
Todos falamos de “arte” operando uma classificação mental pela qual
distinguimos a classe das “obras de arte” de todas as outras classes. O que
justifica esta classificação? Qual é a propriedade comum e particular a
todos os membros dessa classe? Seja ela qual for, não há dúvida de que se
encontra muitas vezes acompanhada de outras características; mas essas
são acidentais — esta é essencial. Tem de haver uma determinada proprie-
dade sem a qual uma obra de arte não existe; na posse da qual nenhuma
obra é, no mínimo, destituída de valor. Que propriedade é essa? Que
propriedade é partilhada por todos os objectos que nos causam emoções
estéticas? Que característica é comum a Santa Sofia 5 e aos vitrais de
Chartres, à escultura mexicana, a uma taça persa, aos tapetes chineses,
aos frescos de Giotto em Pádua, e às obras-primas de Poussin, Piero
della Francesca e Cézanne? Só uma resposta parece possível — forma
significante. São, em cada um dos casos, as linhas e cores combinadas de
um modo particular, certas formas e relações de formas, que suscitam
as nossas emoções estéticas. A estas relações e combinações de linhas
e cores, a estas formas esteticamente tocantes, chamo «Forma Signifi-
cante»; e a «Forma Significante» é a tal propriedade comum a todas as
obras de arte visual.
Nesta altura pode objectar-se que torno a estética em algo pura-
mente subjectivo, uma vez que os meus únicos dados são as experiências
pessoais e a emoção particular. Dir-se-á que os objectos que causam esta
emoção variam conforme o indivíduo e que, portanto, um sistema esté-
tico não pode ter qualquer validade objectiva. A isto deve responder-se
que qualquer sistema estético que pretenda basear-se nalguma verdade
objectiva é tão manifestamente ridículo que nem vale a pena discuti-lo.
Os nossos sentimentos para com uma obra de arte são o nosso único meio
de a reconhecermos. Os objectos que provocam emoção estética variam
consoante cada indivíduo. Os juízos estéticos são, segundo consta, uma
questão de gosto, e os gostos, como todos orgulhosamente proclamam,
não se discutem. Um bom crítico pode ser capaz de me levar a ver,
num quadro que me deixou indiferente, coisas que me passaram ao lado
até que, experimentando a emoção estética, eu reconheça esse objecto
5 O autor refere-se muito provavelmente à Basílica de Santa Sofia (em Istambul),
também conhecida como Hagia Sofia. (N. da T.)
23
Arte_miolo.indd 23 21-03-2009 1:15:29
ARTE
como uma obra de arte. A função da crítica é realçar constantemente
essas partes (o seu somatório, ou melhor ainda, a sua combinação) que
se unem para produzir a forma significante. Mas é inútil que um crítico
me diga que algo é uma obra de arte – ele deve fazer com que seja eu
próprio a senti-lo, e só o consegue se me levar a vê-lo; ele deve chegar
às minhas emoções através dos meus olhos. A menos que me faça ver
algo que me toque, não pode forçar as minhas emoções. Não tenho o
direito de considerar como obra de arte algo a que não consigo reagir
emocionalmente, da mesma maneira que não tenho o direito de procu-
rar a propriedade essencial em algo que não senti ser uma obra de arte.
O crítico só pode afectar as minhas teorias estéticas se afectar a minha
experiência estética. Todos os sistemas estéticos devem basear-se na
experiência pessoal – isto é, devem ser subjectivos.
Contudo, apesar de todas as teorias estéticas deverem basear-se
em juízos estéticos e de, em última instância, todo o juízo estético ser
uma questão de gosto pessoal, seria precipitado afirmar que nenhuma
teoria estética pode gozar de validade geral. Porque, embora A, B, C e
D sejam obras que me emocionam e A, D, E e F obras que emocionam
o leitor, pode muito bem dar-se o caso de x ser a única propriedade que
acreditamos ser comum a todas as obras nesta lista. Podemos estar todos
de acordo quanto à estética e divergir no que respeita a obras de arte
particulares. Podemos divergir quanto à presença ou ausência da proprie-
dade x. A minha intenção será mostrar que a forma significante é a única
propriedade exclusiva de e comum a todas as obras de arte visual que me
emocionam. Pedirei àqueles cuja experiência estética não coincide com
a minha que averigúem se, do seu ponto de vista, esta propriedade não
é também comum a todas as obras que os emocionam, e se conseguem
descobrir qualquer outra propriedade da qual se possa dizer o mesmo.
Também neste ponto se levanta uma questão, certamente irrelevante,
mas difícil de reprimir: «Porque ficamos nós tão profundamente emocio-
nados com formas que se relacionam de um modo particular?» A questão
é extremamente interessante, mas irrelevante para a estética. Em estética
pura só interessa considerar a nossa emoção e o seu objecto. Para os fins
da estética, não temos o direito, nem a necessidade, de espreitar atrás
do objecto o estado mental de quem o criou. Adiante tentarei responder
à questão, pois ao fazê-lo poderei desenvolver a minha teoria da relação
da arte com a vida. Todavia, não me iludirei, julgando que completo a
minha teoria estética. Para uma discussão sobre estética, apenas tem de
haver concordância quanto ao facto de que formas dispostas e combina-
das segundo certas leis, desconhecidas e misteriosas, nos emocionam de
24
Arte_miolo.indd 24 21-03-2009 1:15:29
I. A HIPÓTESE ESTÉTICA
um modo particular, e que é tarefa do artista dispô-las e combiná-las
de maneira a que nos emocionem. A estas ordenações e combinações
tocantes chamei, a bem da conveniência e por uma razão que revelarei
adiante, «Forma Significante».
Temos de enfrentar uma terceira interrupção. «Está a esquecer-se da
cor?», pergunta alguém. Certamente que não. A minha expressão «forma
significante» incluía combinações de linhas e de cores. A distinção entre
forma e cor é ilusória – não se pode conceber uma linha descolorida ou
um espaço desprovido de cor; da mesma forma que não se pode conceber
uma relação de cores destituída de forma. Num desenho a preto e branco,
os espaços são todos brancos delimitados por linhas pretas; na maioria
dos quadros a óleo, os espaços são multicolores, tal como os limites, e
não é possível imaginar um limite sem conteúdo, nem um conteúdo sem
limite. Portanto, quando falo de forma significante, refiro-me a uma
combinação de linhas e cores (contando o branco e o preto como cores)
que me emociona esteticamente.
Algumas pessoas surpreender-se-ão por não ter chamado a isto
«beleza». É claro que aos que definem a beleza como «combinações de
linha e cores que provocam emoção estética» concederei de bom grado
o direito de trocar a sua palavra pelas minhas. Mas a maioria de nós,
por mais rigorosos que sejamos, é capaz de aplicar o atributo «belo» a
objectos que não provocam aquela emoção específica que as obras de arte
motivam. Desconfio que já todos chamámos bela a uma flor ou a uma
borboleta. Será que sentimos o mesmo tipo de emoção perante uma flor
ou uma borboleta do que aquele que sentimos diante de uma catedral ou
de um quadro? Certamente que não chamo sentimento estético ao que a
maioria de nós costuma sentir pela beleza natural. Adiante sugerirei que
algumas pessoas podem, por vezes, ver na natureza aquilo que vemos na
arte e sentir por ela uma emoção estética; mas por ora contento-me com
o facto de, em regra, a maioria das pessoas sentir dois tipos de emoção
muito diferentes em relação a pássaros, flores e asas de borboleta do que
aqueles que sentem relativamente a quadros, vasos, templos e estátuas.
Por que razão não nos tocam estas coisas belas da mesma maneira que
nos emocionam as obras de arte é uma outra questão, que não pertence
à estética. Para o presente propósito, temos apenas de descobrir que
propriedade é comum a objectos que nos emocionam como obras de
arte. Na última parte deste capítulo, quando tentar responder à questão
«porque é que uma combinação de linhas e cores nos emociona tão pro-
fundamente?», espero poder oferecer uma explicação aceitável relativa
ao facto de outras nos emocionarem menos profundamente.
25
Arte_miolo.indd 25 21-03-2009 1:15:29
ARTE
Uma vez que chamamos «beleza» a uma propriedade que não suscita
a emoção estética característica, seria enganador dar o mesmo nome a uma
propriedade que o faz. Para tornar a «beleza» no objecto do sentimento
estético devemos dar à palavra uma definição rígida e invulgar. Toda a gente
usa, de vez em quando, «beleza» num sentido não-estético; a maioria fá-lo
habitualmente. Para todos, exceptuando talvez o ocasional esteta, o sentido
habitual da palavra é não estético. Não preciso de dar conta do seu gros-
seiro abuso, patente nas nossas conversas quotidianas: «bela caçada», «bela
pontaria» (isso seria, aliás, convidar um purista a replicar que não se trata
de abuso algum); além do mais, aqui não há o perigo de se confundir o uso
estético com o não-estético. Mas, quando falamos de uma mulher bela, há.
Quando um homem comum diz que uma mulher é bela, seguramente não
quer apenas dizer que ela o emociona esteticamente; mas, quando um artista
chama bela a uma velha bruxa engelhada, pode estar a dizer o mesmo que
diz quando se refere à escultura de um torso. O homem comum, caso seja
um homem de gosto, chamará bela à escultura, mas não à velha engelhada,
porque, em questão de mulheres, ele não atribui o epíteto à propriedade
estética que essa mulher possa ter. De facto, a maior parte de nós não sonha
sequer em procurar causas de emoção estética em seres humanos, a quem
exigimos algo de muito diferente. Podemos chamar a este «algo», quando
o encontramos numa jovem, «beleza». Vivemos tempos benévolos. Para
o homem comum, «belo» é, o mais das vezes, sinónimo de «desejável».
A palavra não designa necessariamente uma qualquer reacção estética, e
sinto-me tentado a pensar que, nas mentes de muitos, o teor sexual da
palavra se sobrepõe ao estético. Tenho notado a coerência daqueles para
quem a coisa mais bela do mundo é uma mulher bela, e a segunda coisa
mais bela do mundo é o retrato de uma mulher bela. A confusão entre
beleza estética e sensual não é, no seu caso, tão grande quanto se possa
pensar. Talvez nem haja nenhuma, pois talvez nunca tenham tido uma
emoção estética com a qual possam confundir as suas outras emoções.
A arte a que chamam «bela» está, em geral, estreitamente associada às
mulheres. Um retrato belo é a fotografia de uma jovem bonita; música
bela é a música que provoca emoções parecidas com as que provocam as
jovens em peças musicais; e poesia bela é a que evoca as emoções sentidas,
vinte anos antes, pela filha do reitor. É evidente que a palavra «beleza» é
usada para designar objectos de emoções muito diferentes, e esse é um
motivo para não empregar um termo que causaria inevitáveis confusões e
mal-entendidos junto dos meus leitores.
Por outro lado, não tenho discórdia alguma com aqueles que con-
sideram mais adequado chamar a estas combinações e disposições de
26
Arte_miolo.indd 26 21-03-2009 1:15:29
I. A HIPÓTESE ESTÉTICA
formas que são causa das nossas emoções estéticas «relações significantes
de formas» em vez de «forma significante», na tentativa de aproveitar
o melhor de dois mundos, o estético e o metafísico, designando estas
relações como «ritmo». Tendo tornado claro que por «forma signifi-
cante» entendo combinações e disposições que nos emocionam de um
modo particular, é de boa vontade que me junto àqueles que preferem
dar outro nome à mesma coisa.
A hipótese de que a forma significante é a propriedade essencial de
uma obra de arte tem, pelo menos, um mérito, negado a muitas outras
hipóteses, mais famosas e sedutoras: ajudar a explicar as coisas. Estamos
todos familiarizados com quadros que suscitam o nosso interesse e des-
pertam a nossa admiração, mas que não nos sensibilizam enquanto obras
de arte. A esta classe pertence aquilo a que chamo «Pintura Descritiva»,
ou seja, pintura na qual as formas são usadas não enquanto objectos de
emoção, mas como meios de sugerir emoção ou veicular informação. A
esta categoria pertencem quadros de valor histórico e psicológico, obras
topográficas, quadros que contam histórias e apresentam situações, bem
como ilustrações de todo o tipo. É evidente que todos reconhecemos a
distinção; quem nunca disse, de um ou outro desenho, que é uma exce-
lente ilustração, mas desprovida de valor como obra de arte? É claro que
muitas pinturas descritivas possuem, entre outros atributos, significado
formal, sendo, portanto, obras de arte; mas isso não acontece com muitas
mais. Podem interessar-nos e emocionar-nos de mil maneiras diferentes,
mas não nos emocionam esteticamente. Segundo a minha hipótese, não
são obras de arte. Deixam incólumes as nossas emoções estéticas por-
que não somos afectados pelas suas formas, mas sim pelas ideias ou pela
informação que as suas formas sugerem ou veiculam.
São poucos os quadros mais conhecidos ou mais amados do que A
Estação de Paddington de Frith 6; serei certamente a última pessoa com
ressentimentos da sua popularidade. Passei minutos sem fim a deslindar
os fascinantes episódios que o compõem, inventando para cada um deles
um passado imaginário e um futuro improvável. Mas, se é certo que a
obra-prima de Frith, ou reproduções dela, proporcionou a centenas de
pessoas muitas meias horas de prazer curioso e imaginativo, não é menos
certo que ninguém experimentou diante dela um único instante que fosse
de êxtase estético; isto apesar de a obra conter várias passagens de cores
bonitas e de não estar, de modo algum, mal pintada. A Estação de Paddington
6 William Powell Frith (1819 – 1909), pintor inglês especializado em pintura de género
descritivo que viria a tornar-se membro da Royal Academy. (N. da T.)
27
Arte_miolo.indd 27 21-03-2009 1:15:30
ARTE
não é uma obra de arte, é um documento engraçado e interessante. Neste
caso, linha e cor servem para relatar historietas, sugerir ideias e mostrar
os costumes e comportamentos de uma época – não são usados para
provocar emoção estética. As formas e as relações das formas não eram,
para Frith, objectos de emoção estética, eram antes meios para sugerir
emoção e transmitir ideias.
As ideias e as informações que A Estação de Paddington nos transmite
são tão divertidas e bem apresentadas que o quadro tem um valor consi-
derável e merece ser preservado. Porém, o aperfeiçoamento dos processos
fotográficos e do cinema está a tornar inútil este tipo de quadros. Alguém
duvida de que um daqueles fotógrafos do Daily Mirror, em colaboração
com um repórter do Daily Mail, nos pode dizer mais sobre o dia-a-dia
londrino do que qualquer membro da Royal Academy? De futuro, para
relatos sobre usos e costumes, recorreremos a fotografias acompanhadas
de jornalismo inteligente, e não a pintura descritiva. Se os académicos
imperiais de Nero tivessem registado em frescos e mosaicos os hábitos e
as modas do seu tempo em vez de fabricarem desprezíveis imitações do
passado, esse material, apesar de lixo artístico, seria hoje uma mina de
ouro histórica. Tivessem eles sido Friths em vez de Alma-Tademas 7!
Mas a fotografia tornou impossível semelhante transmutação do lixo
moderno. Assim, temos de admitir que os quadros na tradição do de
Frith se tornaram supérfluos, consumindo horas de trabalho a homens
competentes, que poderiam ser mais proveitosamente empregues noutras
obras de maior benefício. Contudo, não são desagradáveis, o que já é mais
do que pode ser dito daquele outro género de obras de pintura descritiva,
do qual O Médico 8 é o mais flagrante exemplo. É claro que O Médico não
é uma obra de arte. Nele, a forma não é usada como objecto de emoção,
mas como meio de sugerir emoções. Só isto bastaria para ser nula, mas é
pior do que nula porque a emoção que sugere é falsa. Aquilo que sugere
não é pena e admiração, é antes um sentimento de complacência para
com a nossa própria compaixão e generosidade. É sentimentalista. A
arte está acima da moral, ou melhor, toda a arte é moral porque, como
espero mostrar de seguida, as obras de arte são um meio de acesso ime-
diato ao bem. Quando uma coisa é julgada como obra de arte, ganha
a maior importância ética e colocamo-la fora do alcance do moralista.
7 Sir Lawrece Alma-Tadema (1836 -1912), proeminente pintor da corrente neoclássica
europeia que buscava inspiração na Antiguidade greco-romana. (N. da T.)
8 O autor refere-se à obra de Sir Samuel Luke Fildes (1843-1927), membro da Royal
Academy. (N. da T.)
28
Arte_miolo.indd 28 21-03-2009 1:15:30
I. A HIPÓTESE ESTÉTICA
Mas pinturas descritivas que não são obras de arte (e que, portanto, não
são necessariamente meios para chegar a bons estados mentais), são bons
objectos de estudo da ética. Não sendo uma obra de arte, O Médico não
tem nenhum do imenso valor ético que possuem todos os objectos que
provocam o arrebatamento estético e, além disso, o estado mental para
o qual é meio, enquanto ilustração, parece-me indesejável.
As obras desses jovens empreendedores que são os futuristas italianos
são exemplos notáveis de pintura descritiva. Tal como os membros da
Royal Academy, eles usam a forma, não para provocar emoções estéticas,
mas para transmitir informação e ideias. De facto, as teorias divulgadas
pelos Futuristas provam que os seus quadros não têm absolutamente
nada que ver com arte. As suas teorias sociais e políticas são respeitá-
veis, mas gostaria de sugerir aos jovens pintores italianos que é possível
ser-se futurista no pensamento e na acção, não deixando por isso de ser
artista, caso se tenha tido a sorte de para isso nascer. Associar a arte à
política é sempre um erro. Os quadros futuristas são descritivos porque
pretendem apresentar em termos de linha e cor o caos da mente num
dado momento; as suas formas não têm o objectivo de suscitar a emoção
estética, mas sim o de transmitir informação. E diga-se de passagem que
estas formas, qualquer que seja a natureza das ideias que sugerem, são,
em si mesmas, tudo menos revolucionárias. Nas pinturas futuristas que
vi – exceptuando talvez algumas de Severini –, o desenho, sempre que
se torna figurativo, o que é frequente, pertence àquela convenção deli-
cada e vulgar que Besnard tornou moda há uns trinta anos e que muito
marcou os estudantes de Belas Artes desde então. Como obras de arte,
as pinturas futuristas são insignificantes; mas não é como obras de arte
que devem ser avaliadas. Um bom quadro futurista triunfaria do mesmo
modo que triunfa uma boa observação psicológica: revelando, através da
linha e da cor, as complexidades de um estado mental interessante. Se
estas obras futuristas fracassam, devemos procurar uma explicação, não
na falta de qualidades artísticas que não estavam destinados a possuir,
mas nas mentes cujos estados mentais se pretendem revelar.
A maioria das pessoas que se interessa vivamente pela arte verifica
que as obras que mais as emocionam são, em grande medida, aquelas a
que os estudiosos chamam «primitivas». É claro que destas há exempla-
res de fraca qualidade. Por exemplo, lembro-me de ter ido ver, cheio de
entusiasmo, uma das mais antigas igrejas românicas em Poitiers (Notre-
-Dame-la-Grande) e de a ter achado tão mal proporcionada, ultra-decorada,
grosseira, bojuda e pesada como qualquer um dos edifícios das classes
altas concebido por um desses sofisticados arquitectos que prosperaram
29
Arte_miolo.indd 29 21-03-2009 1:15:30
ARTE
mil anos antes ou oitocentos anos mais tarde. Mas excepções como esta
são raras. Por norma, a arte primitiva é boa – e também aqui a minha
teoria se revela pertinente –, uma vez que, regra geral, não possui pro-
priedades descritivas. Na arte primitiva não encontramos representações
precisas, apenas forma significante. No entanto, nenhuma outra arte nos
emociona tão profundamente. Quer consideremos a escultura suméria
ou a arte egípcia pré-dinástica, a arte grega arcaica, as obras-primas das
dinastias Wei e T’ang 9, as obras japonesas primitivas como aquelas
cujos soberbos exemplos tive a sorte de ver (especialmente dois Bodhi-
sattvas 10 de madeira) na Exposição de Sheperd’s Bush 11 em 1910, ou
então, mais perto de nós, a arte bizantina primitiva do século VI e os
seus desenvolvimentos primitivos entre os bárbaros do Ocidente, ou
ainda, mais distante, a misteriosa e soberba arte que floresceu na América
Central e do Sul antes da chegada do homem branco, encontraremos, em
todos os casos, três características comuns: ausência de representação,
ausência de exibicionismo técnico, e forma sublime. É igualmente fácil
detectar a conexão entre as três. O significado formal perde-se quando
há a preocupação com a representação exacta e com a ostentação das
habilidades 12.
9 A existência de Ku K’ai-chih torna claro que a arte deste período (séculos V a VIII)
foi um típico movimento primitivo. Chamar à magnífica arte vital das dinastias Liang, Chen,
Wei e Tang um desenvolvimento da muitíssimo refinada e já desgastada arte da decadência
Han – da qual Ku K’ai-chih é um precioso exemplo tardio – é o mesmo que chamar à escul-
tura românica um desenvolvimento de Praxíteles. Entre ambos, alguma coisa sucedeu que
revitalizou o curso da arte. O que aconteceu na China foi a revolução emocional e espiritual
como consequência da introdução do Budismo.
10 Na tradição budista, Bodhisattva significa «ser iluminado». Neste caso, o autor
refere-se a um qualquer par específico de representações artísticas desta figura, alvo de muita
veneração no Oriente e não só. (N. da T.)
11 Um distrito de Londres. (N. da T.)
12 Não quer isto dizer que a representação seja em si uma coisa negativa. É indiferente.
Uma forma perfeitamente representada pode ser insignificante, mas sacrificar o significado à
forma é fatal. A controvérsia entre significado e ilusão parece ser tão antiga quanto a própria
arte e tenho poucas dúvidas de que o que torna a maior parte da arte paleolítica numa coisa
tão má é a preocupação com a representação exacta. Evidentemente que os desenhadores
paleolíticos não tinham noção do significado da forma. A sua arte assemelha-se à dos mais
competentes e sinceros membros da Royal Academy: é um pouco melhor que a de Sir Edward
Poynter e um pouco pior que a do falecido Lord Leighton. Que isto não é um paradoxo é o que
provam os desenhos das grutas de Altamira ou obras como os esboços de cavalos encontrados
em Bruniquel, e que actualmente se encontram no Museu Britânico. Se a cabeça de uma jovem,
em marfim, descoberta na Grotte du Pape, em Brassempouy (Museu St. Germain), e o busto
30
Arte_miolo.indd 30 21-03-2009 1:15:30
Índice
Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prefácio à segunda edição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. O QUE É A ARTE?
I. A Hipótese Estética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
II. Estética e Pós-Impressionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
III. A Hipótese Metafísica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2. ARTE E VIDA
I. Arte e Religião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
II. Arte e História . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
III. Arte e Ética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3. A ENCOSTA CRISTÃ
I. A Ascensão da Arte Cristã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
II. Grandeza e Declínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
III. O Renascimento Clássico e as suas Maleitas . . . . . . . . . . . . . 101
IV. Alid ex Alio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4. O MOVIMENTO
I. A Dívida para com Cézanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
II. Simplificação e Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
III. A Falácia Patética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5. O FUTURO
I. Sociedade e Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
II. Arte e Sociedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Arte_miolo.indd 173 21-03-2009 1:15:55
Você também pode gostar
- Apostila Oliver VelezDocumento311 páginasApostila Oliver VelezMauro Renato Camilo Gomes94% (64)
- Comentário Histórico Cultural Do Novo Testamento - Lawrence O. RichardsDocumento546 páginasComentário Histórico Cultural Do Novo Testamento - Lawrence O. RichardsJosé Tenório Neto80% (5)
- 3-Exame Físico Da UrinaDocumento24 páginas3-Exame Físico Da UrinaVládia Maria100% (1)
- Mapa Mental Fato TipicoDocumento4 páginasMapa Mental Fato TipicoSaulo Yuri100% (3)
- Ade - 2022 - 9º Ano - Ef - c0901 - Port. e MatDocumento24 páginasAde - 2022 - 9º Ano - Ef - c0901 - Port. e MatAntonio Daniel Moreira Silva100% (1)
- Oxala Meu Pai Angola Bantu Lembá Diá NgangaDocumento4 páginasOxala Meu Pai Angola Bantu Lembá Diá NgangaGuille LimaAinda não há avaliações
- Prova PcseDocumento6 páginasProva PcseSaulo YuriAinda não há avaliações
- Lux Pulchritudinis Sobre Beleza e Ornamento em LeonDocumento218 páginasLux Pulchritudinis Sobre Beleza e Ornamento em LeonSaulo YuriAinda não há avaliações
- (Direito Penal) Concurso de Crimes 4Documento1 página(Direito Penal) Concurso de Crimes 4Saulo YuriAinda não há avaliações
- Atualização Da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção Da Aterosclerose - 2017Documento92 páginasAtualização Da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção Da Aterosclerose - 2017Saulo YuriAinda não há avaliações
- GILSON, Étienne. Introdução Às Artes Do Belo PDFDocumento215 páginasGILSON, Étienne. Introdução Às Artes Do Belo PDFSaulo YuriAinda não há avaliações
- IT-GSSI - Consultoria em Iluminamento NR17 - Rev.1Documento6 páginasIT-GSSI - Consultoria em Iluminamento NR17 - Rev.1Cleverson Do NascimentoAinda não há avaliações
- AlfaCon Legislacao de Transito Aula 1 15 01 2019 PDFDocumento126 páginasAlfaCon Legislacao de Transito Aula 1 15 01 2019 PDFLeo LeonsAinda não há avaliações
- Produção de Textos A Partir de DobradurasDocumento31 páginasProdução de Textos A Partir de DobradurasNilcilene SouzaAinda não há avaliações
- VIANA, Fausto. Figurino e Cenografia para IniciantesDocumento50 páginasVIANA, Fausto. Figurino e Cenografia para IniciantesBenjamin Franklin100% (2)
- A Cor de CoralineDocumento20 páginasA Cor de CoralineMisael LucasAinda não há avaliações
- Lista Faróis CompletaDocumento372 páginasLista Faróis CompletaRones JúniorAinda não há avaliações
- Aula 05 Tecnicas de Identidade Visual (Comunicação Visual)Documento15 páginasAula 05 Tecnicas de Identidade Visual (Comunicação Visual)matheus iagoAinda não há avaliações
- LP HP SuprimentosDocumento2 páginasLP HP Suprimentosdus_santosAinda não há avaliações
- A Dimensão Estética Nas Vinhetas Da TVDocumento17 páginasA Dimensão Estética Nas Vinhetas Da TVRui ManuelAinda não há avaliações
- Aulas - Eletrotecn I 11Documento21 páginasAulas - Eletrotecn I 11Andre Galvao de OliveiraAinda não há avaliações
- Catalogo RocaDocumento92 páginasCatalogo RocaGeise FornelAinda não há avaliações
- Padrão de Spray em Inalantes FarmaceuticosDocumento6 páginasPadrão de Spray em Inalantes FarmaceuticosValterlolAinda não há avaliações
- Manual Operacional KM-115 - 140B (PT) 2017.04.28Documento7 páginasManual Operacional KM-115 - 140B (PT) 2017.04.28Vinicius Paulino LopesAinda não há avaliações
- Algunos Graficos de RadioestesiaDocumento4 páginasAlgunos Graficos de RadioestesiasergiAinda não há avaliações
- Design de Interiores - Módulo IIDocumento84 páginasDesign de Interiores - Módulo IISeverino FerreiraAinda não há avaliações
- Verde Lagarto Amarelo AnáliseDocumento16 páginasVerde Lagarto Amarelo AnáliseRaphael BarcellosAinda não há avaliações
- Depoimento Leonardo de Paula - AFRFB 2014Documento18 páginasDepoimento Leonardo de Paula - AFRFB 2014Fernando EffeAinda não há avaliações
- Avaliação de Propriedades de Rochas para Caracterização de Reservatórios Carbonáticos ComDocumento11 páginasAvaliação de Propriedades de Rochas para Caracterização de Reservatórios Carbonáticos Compaula carolineAinda não há avaliações
- Recomendacao Tecnica para Iluminacao Do Campo em Estadios e Cts Loc 2014Documento13 páginasRecomendacao Tecnica para Iluminacao Do Campo em Estadios e Cts Loc 2014eletrotecnicounsertAinda não há avaliações
- Elementos Basicos Da Comunicacao Visual PDFDocumento22 páginasElementos Basicos Da Comunicacao Visual PDFCarlos Henrique Barbosa da Silva100% (1)
- Aprenda A Fotografar em 7 Licoes PDFDocumento18 páginasAprenda A Fotografar em 7 Licoes PDFregislancasterAinda não há avaliações
- Prat Ensino MatematicaDocumento137 páginasPrat Ensino MatematicaRobson Gonzalez100% (1)
- NBR 6405 - Maquinas Rodoviarias - Simbolos para Controles Do Operador e Outros Mostradores - PartDocumento28 páginasNBR 6405 - Maquinas Rodoviarias - Simbolos para Controles Do Operador e Outros Mostradores - PartSuel VicenteAinda não há avaliações
- Aula 4 - Fundamentos Da EspectrofotometriaDocumento41 páginasAula 4 - Fundamentos Da Espectrofotometriaricardosm23Ainda não há avaliações
- Catálogo de LivrosDocumento28 páginasCatálogo de LivrosVanessa Costa da SilvaAinda não há avaliações
- Poli Pro Pile NoDocumento19 páginasPoli Pro Pile NoRoberta LimaAinda não há avaliações