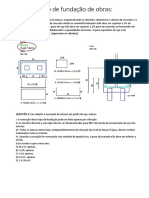Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Autor, Conceitos Fundamentais
Enviado por
Alexandre Sakukuma0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações5 páginasEncontramos várias definições sobre autor. Não sendo pretenção defini-lo de forma essencialista, deixamos aqui um subsídio.
Título original
Autor, Conceitos fundamentais
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEncontramos várias definições sobre autor. Não sendo pretenção defini-lo de forma essencialista, deixamos aqui um subsídio.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações5 páginasAutor, Conceitos Fundamentais
Enviado por
Alexandre SakukumaEncontramos várias definições sobre autor. Não sendo pretenção defini-lo de forma essencialista, deixamos aqui um subsídio.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
O conceito de autor tem sido, talvez, um dos que tem conhecido, no
âmbito dos estudos literários, uma fortuna mais significativamente
desnivelada e, mesmo, de orientações tendencialmente opostas. Na
realidade, e enquanto o paradigma positivista-historicista é dominante no
entendimento e na conformação do campo literário(sensivelmente até cerca
de 1920), o conceito de autor constitui evidentemente o elemento polarizador
da reflexão literária. Convirá, no entanto, saber de que falamos quando nos
reportamos ao conceito de autor, até porque, como nota Manuel Gusmão ao
acentuar a polissemia do termo, “a construção (desta noção) cruza(-se) com
vários tópicos e domínios de reflexão, com as noções de causa, origem e
finalidade, criação, consciência, sujeito, autoridade, liberdade e
responsabilidade, etc.” (1995:483). Assim, vejamos em primeiro lugar qual o
conceito histórico de autor que, institucionalizado ao longo do século XIX,
sofrerá ao longo do século XX vários processos (alguns dos quais
tendencialmente terminais), para vermos de seguida de que forma e até que
ponto a reflexão actual sobre o literário poderá (ou talvez mesmo deverá)
reintegrar tal termo, com uma diferente concepção, para pensar o fenómeno
literário e textual.
Em primeiro lugar, o autor processado ao longo de um paradigma
histórico-biográfico e psicologista dos estudos literários é, claramente, o
autor empírico, ou seja, o sujeito portador de uma identidade biográfica e
psicológica factualmente reconhecível extratextualmente. Esta justaposição
será importante, como veremos, para entender um conjunto aliás
diferenciado de posições sobre a questão, quer relativamente àqueles que
descartam a sua pertinência quer, e pelo contrário, junto de vários dos que
insistem na sua legitimidade. Este autor será, assim, sobretudo o escritor (cf.
Aguiar e Silva, 1986:227), cujas relações de origem, anterioridade e
responsabilidade directa para com a obra são, assim, entendidas como
fundaodras.
Em segundo lugar, este autor empírico é, sobretudo, uma entidade
“apenas” psicológica, o que leva à criação e sustentação de um paradigma
psicologista na leitura das obras literárias. Entender “o que um autor queria
dizer” e de que forma a obra manifesta as opções e situações psicológicas
existencialmente “reais” do seu autor são, neste contexto, as operações
fundamentais, o que significa também uma dupla redução: a do autor ao
escritor e, como vimos, a deste à sua psicologia (cuja raiz cartesiana é, além
do mais, claríssima).
Em terceiro lugar, esse autor é captável através de “factos” (visíveis
através de uma datação e de uma situação “reais”), o que concorda com a
tendência factualista de uma história literária ancorada sobre noções como
cronologia, causalidade, fonte e influência: uma história literária que se
pensa através de um modelo linear e causal, base do seu intuito “explicativo”
( de que a justamente famosa “explication de texte” , base de um certo
modelo curricular francês, é exemplo paradigmático).
É claro que a noção de autor tem uma história que vai bem mais para
trás do século XIX (ou do que, no século XIX, se formaliza como herança
iluminista), sendo reconhecível na noção de “auctor” medieval, no “autor”
construtor de glórias do Renascimento, bem como na noção de génio que,
no Romantismo, se transforma quase em lugar-comum (Minnis, 1988). Mas o
facto é que a conformação do problema, na reflexão contemporânea que
sobre ele incide, é de natureza relativamente recente, e pode configurar-se,
como bem viu Michel Foucault, em torno das alterações epistemológicas que
ocorrem no século XVIII.
É este “autor moderno” que está em questão e que virá a ser posto em
causa, e não o “auctor” medieval. Esta distinção deve evidentemente ser tida
em conta, para compreendermos o alcance das propostas e das reflexões
efectuadas.
O aparecimento, ao longo do 1º quartel do século XX, de orientações
anti-historicistas tem evidentemente consequências para o entendimento do
autor, que vimos ser pólo fundador da perspectiva anteriormente dominante
nos estudos literários. Formalismo russo, estruturalismo checo, New
Criticism, estruturalismo francês surgem como etapas diferenciadas da
profunda revisão anti-historicista prosseguida ao longo do século XX, cujas
orientações de fundamentação textológica operam, aliás em graus variáveis
(e nem sempre coincidentes entre si), a deslocação da zona da produção
para a zona do produto, ou seja, do “texto”, eventualmente considerado como
contendo tudo o que de si próprio seria legítimo, significativo e possível
analisar. O desenvolvimento deste paradigma de recorte imanentista e
interpretativo reflecte-se, inevitavelmennte, no conceito de autor – que perde
a sua operacionalidade e, até mesmo, o seu interesse e legitimidade. No
contexto, o autor passa a ser entendido como estando apenas (e sublinho
apenas) antes e fora do texto, pelo que este em nada tem a ganhar (tendo
pelo contrário tudo a perder) com a sua eventual subordinação àquele. É
esta a origem remota do que virá a ser paradigmaticamente designado
(Wimsatt e Beardsley, 1954) como a “falácia intencional”, ou seja,
a falácia que consiste em querer constranger o texto e os seus sentidos à
prévia existência de uma “vontade de sentido” autoral, intencionalmente
reflectida no texto.
É certo que esta posição teve efeitos que devem ser reconhecidos: o
afastamento de uma leitura do texto como forma de “expressão” (palavra a
reter) de uma “intencionalidade primária”; a chamada de atenção para a
dimensão retórico-discursiva e estrutural, sempre potencialmente paradoxal,
dos textos, cuja não-coincidência com a “intenção de autor” é desta forma
explicitamente postulada; o desenvolvimento, nos estudos literários, da
actividade hermenêutica, cuja progressiva relacionação com um paradigma
fenomenológico permitirá acentuar o problema do sentido como um
“problema” complexo, e não como um “dado” a simplesmente reconstituir; a
gradual aproximação, por esta via, ao conceito de leitor, entendido como
sede de reactivação textual e, por isso, parceiro activo da constituição dos
sentidos. Por outro lado, deverão relacionar-se estas posições com a
importância da crítica, de raiz filosófica, política e psicanalítica, a um sujeito
autocontido e total, que não só se “possuísse” integralmente como se
“manifestasse” e “exprimisse” de modo completo e intencional, sem qualquer
tipo de desvio. O que é pois afastado é, ao mesmo tempo, um paradigma
intencionalista, psicologista e expressivo das relações entre autor e obra
literária.
O final dos anos sessenta vê surgir o que poderemos (e deveremos)
considerar como marcos no interior desta reflexão: os textos de Roland
Barthes e Michel Foucault. O texto de Barthes, surgido em 1968, intitula-se
“La mort de l’auteur”, e o seu argumento corresponde, efectivamente,
ao título emblemático que apresenta. Neste texto, o autor é visto como o pai
fundacional e o proprietário exterior da obra, dupla associação que Barthes
recusa e nega, e que comporta um dupla consequência: a “morte” do (deste)
autor, por um lado; o desaparecimento da pertinência da noção de obra,
substituída por Barthes, e na sua óptica com vantagem, pela noção de
“texto”, radicando na noção de “escrita”, plural e anónima (cujas relações
com a emergente noção de intertextualidade como procedimento e natureza
modelares da textualidade não deverão ser, também, ignoradas no contexto).
Tal operação procede, evidentemente, de uma concepção do sujeito
fundamentalmente diferente daquela que atrás caracterízámos, a propósito
do anterior paradigma. Descentramento, anonimato, pluralidade “irredutível”
(o termo é de Barthes), uma linguagem “falando-se” – eis os vectores que
podem ser considerados como fundamentais na argumentação barthesiana,
que aliás explicitamente liga, se bem que de passagem, a morte do autor ao
nascimento do leitor (em observação cujo alcance epistemológico as
décadas seguintes não fariam mais do que confirmar).
Um ano depois, Michel Foucault retoma a questão e, embora
reconheça, de qualquer modo, a inanidade de um conceito tradicional de
autor (aquele que procedia à justaposição e coincidência entre autor
empírico e o que poderemos chamar, na esteira de Aguiar e Silva, 1986:227 e
seguintes, autor textual, “entidade ficcional que tem a funçãode enunciador
do texto e só é cognoscível e caracterizável pelos leitores desse mesmo
texto”), avança um passo – aliás fundamental no contexto – ao reconhecer
que o desaparecimento “desse” autor não equivale ao desaparecimento
autoral “tout court”. Ou seja, que o conceito de autor de algum
modo excede (e aqui o reconhecimento da polissemia é central) o que
podemos pensar como autor empírico, como escritor, em suma. A operação
levada a cabo por Barthes, no ano anterior, é assim considerada por Foucault
como não resolvendo integralmente o problema, nem sequer “dissolvendo” a
possível pertinêmcia do conceito, como Barthes manifetamente desejaria. É
neste contexto que Foucault propõe o conceito de “função autor”, que ele
significativamente define como “característico do modo de existência, de
circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma
sociedade.” (Foucault, 1969). O que está em causa, pois, são os modos e
condições de existência social do discurso, ou seja, o facto de que, ao
contrário do que propunha Barthes com uma escrita anonimizada, para
Foucault é a noção de discurso, bem como a inscrição social e simbólica do
sujeito, que estão na raiz da reconfiguração da noção de autor (ou, mais
precisamente, da função autor – e a introdução desta precisão implica,
justamente, que o que aqui está em questão não é já tanto a coincidência
entre autor empírico e autor textual como, pelo contrário, os modos
“excedentários” pelos quais este último continua a manifestar-se, mesmo
depois do afastamento daquele outro).
Mais do que como marcos que inauguram o que, doravante, passará a
ser designado como a “morte do autor”, será possível lermos estes dois
textos como lugares emblemáticos de uma reflexão conduzida, como vimos,
nas décadas anteriores. E poderemos estabelecer mais uma distinção: o
texto de Barthes “fecha” um problema, o texto de Foucault “inaugura” outro
(o que, aliás, o próprio título já indicia: “Qu’est-ce qu’un auteur?”). É este
“outro” problema que vem, nas três décadas seguintes, a ser demonstrado
como válido e epistemologicamente consistente, embora receba respostas
muito variadas e, até, tendencialmente opostas. Aquilo que aqui importa
acentuar é que só uma exclusiva perspectiva biografista do autor pode
subjazer às doutrinas intencionalistas denunciadas pelos New Critics, sejam
elas as que tínhamos encontrado no psicologismo característico da crítica
positivista sejam as que ainda actualemnte encontramos subscritas por
estudiosos como Hirsch (1990;1992). Mas, por outro lado, é ainda a mesma
exclusiva perspectiva biografista do autor que subjaz também a um certo tipo
de propostas anti-intencionalistas, como as perfilhadas por Barthes ou
pelos New Critics: a ideia central é a de que qualquer referência ao autor é
uma ingerência do extraliterário no literário, ingerência não só
funcionalmente impertinente como semanticamente injustificável.
Ao lado destas posições, encontramos outras que, com alguma
variabilidade e formulações algo flutuantes, aceitam a existência de uma
formulação autoral distinta da instância narradora, e que recebe
designações como por exemplo “autor implicado” (Booth, 1961), “Autor
Modelo” (Eco, 1985 e 1995), “autor postulado” (Nehamas, 1981, 1986 e 1987),
“autor inferido” (Chatman, 1990; Rimmon-Kenan, 1983), “autor textual”
(Aguiar e Silva, 1986). Embora outros, mais taxativos, excluam qualquer
possibilidade do seu uso pertinente adentro da perspectiva narratológica
(Genette, 1983) ou, como vimos, crítica (Wimsatt e Beardsley, 1954), parece
apesar de tudo possível, actualmente, reconhecer que a dissolução do
conceito de autor não foi total, por um lado, e que por outro a sua
problematização permite colocar questões da ordem da enunciação, do
discurso e do seu funcionamento interpessoal e social que
uma rasura completa do problema dificilmente permite equacionar nas suas
várias vertentes. A este respeito, Manuel Gusmão (1995:488/9) comenta, de
forma esclarecedora: “(O autor) não é um demiurgo, ele é o limite que
permite ao leitor compreender que também ele o não é; assim como é um
nome para a alteridade do texto que, por sua vez, preserva a possibilidade
da auto-formação do leitor como outro.”.
Tal alteridade permite, pois, colocar um conjunto de questões que
passam, em primeira instância, pela argumentação da viabilidade de passar
do binómio narrador/leitor à tríade autor textual/narrador/leitor. Isto implica
partir do princípio que não é possível pensar formas de recepção sem as
estabelecer como correlatas de formas de produção – e ver como ambas se
inscrevem nos textos (o que pressupõe, nomeadamente, que essas formas
sejam entendidas como historicamente formuladas, como aliás defendia
Foucault). Por outro lado, estas passagens permitem também a possibilidade
de reequacionação do conceito de obra, para lá da evidência textual que é
manifestada, como também defendem, com algumas variações entre si,
Booth, Foucault e Nehamas. Finalmente, este conjunto de situações permite
ainda a acentuação de um paradigma semiótico-comunicacional do
fenómeno literário, cuja fundação pragmática convém também reconhecer.
Nesta perspectiva, poderá dizer-se que o autor textual não coincide,
nem necessária nem totalmente, com o autor empírico, embora mantenha
com ele relações cuja pertinência e funcionalidade importa não desdenhar.
Trata-se de uma representação funcional de uma série de traços que operam
a inserção do texto no conjunto mais lato das práticas sociais e simbólicas.
O autor textual marca, no texto, essa operação, bem como a dilacção e
alteridade que ela pressupõe. Esses elos e relações não implicam, por outro
lado (ou não devem implicar), uma concepção psicologista e totalizante do
autor, nomeadamente empírico. Defendê-lo é assumir que um sujeito se reduz
à sua psicologis, que apenas podemos falar do humano em termos
psicológicos. E, se é entretanto evidente que podemos falar dele também em
termos psicológicos, parece claro que a redução do sujeito à sua psicologia
é exactamente isso: uma redução. Nem o autor empírico é apenas um foco
psicológico nem o autor textual é tão-só uma expressão ou representação
psicologista desse autor empírico.
Finalmente, este conjunto de questões permite-nos ainda entender de
que forma a consciência histórica, comunicacional e cognitiva do texto
literário não faz parte apenas dos “arrabaldes” textuais que nós, como
leitores e críticos historicamente situados, pré-reconhecemos. Pelo
contrário, essa consciência está inscrita no próprio acto de produção textual
e dá azo à manifestação, através de formas várias, de opções e juízos de
valor que, de modo simples, diriam o seguinte: o texto reconhece-se e
mostra-se como lugar de transitividade de sentidos adentro de uma
determinada comunidade que, entre outras coisas, partilha formas de
comunicação socialmente instituídas e reguladas. Dito de outro modo, o
texto sabe e mostra que vem de alguém e vai para alguém e que nesse
movimento se jogam relações complexas de partilha e alteridade.
{bibliografia}
Você também pode gostar
- Geopolítica e LusofoniaDocumento2 páginasGeopolítica e LusofoniaAlexandre SakukumaAinda não há avaliações
- Lingua e LiteraturaDocumento12 páginasLingua e LiteraturaAlexandre SakukumaAinda não há avaliações
- Língua e A LiteraturaDocumento10 páginasLíngua e A LiteraturaAlexandre SakukumaAinda não há avaliações
- Lusofonia 2Documento10 páginasLusofonia 2Alexandre SakukumaAinda não há avaliações
- Doutoramento Ou Mestrado - Como Fazer Uma DissertaçãoDocumento25 páginasDoutoramento Ou Mestrado - Como Fazer Uma DissertaçãoJoão PintoAinda não há avaliações
- Globalização PDFDocumento9 páginasGlobalização PDFAlexandre SakukumaAinda não há avaliações
- Doutoramento Da PHD Silvia PDFDocumento171 páginasDoutoramento Da PHD Silvia PDFAlexandre SakukumaAinda não há avaliações
- Sofonias 3Documento1 páginaSofonias 3Alexandre SakukumaAinda não há avaliações
- INTRODUÇÃO1Documento25 páginasINTRODUÇÃO1Alexandre SakukumaAinda não há avaliações
- A Identidade Cultural Na Pós-Modernidade - Stuart HallDocumento51 páginasA Identidade Cultural Na Pós-Modernidade - Stuart HallKywza Fideles100% (1)
- INTRODUÇÃO1Documento25 páginasINTRODUÇÃO1Alexandre SakukumaAinda não há avaliações
- NullDocumento30 páginasNullapi-25926011Ainda não há avaliações
- Calendário Pessoal MíDocumento1 páginaCalendário Pessoal MíAlexandre SakukumaAinda não há avaliações
- Atividade Final SAHP - Documentos GoogleDocumento16 páginasAtividade Final SAHP - Documentos GoogleGABRIEL BENTO DA SILVA SOUZAAinda não há avaliações
- Caderno 01 Fisica Atividade IIIDocumento36 páginasCaderno 01 Fisica Atividade IIIRafael MagalhãesAinda não há avaliações
- Equação Da Continuidade ExercíciosDocumento23 páginasEquação Da Continuidade ExercíciosAntonio Jose Paulo50% (2)
- Fonte de RiquezasDocumento20 páginasFonte de RiquezasAdriana Rosa100% (2)
- Resolução QuimicaDocumento3 páginasResolução QuimicaFlávio Wenzel100% (1)
- Apostila Com Questoes de Fisica IME AtualizadaDocumento62 páginasApostila Com Questoes de Fisica IME AtualizadaSergio Tobias100% (1)
- FISQP Thinner Itaqua PDFDocumento15 páginasFISQP Thinner Itaqua PDFMarcus Braga42% (12)
- COPEL Instalacao de RedesDocumento114 páginasCOPEL Instalacao de RedesgallesinaAinda não há avaliações
- Lista 2 - Eletrotecnica Jogar Respostas para o Sigaa CorrigidaDocumento10 páginasLista 2 - Eletrotecnica Jogar Respostas para o Sigaa CorrigidaFrancisco Felix0% (1)
- Livro Curso de Radiestesia ComplDocumento65 páginasLivro Curso de Radiestesia ComplMauricio Oliveira100% (3)
- Quebra Mar de TaludeDocumento176 páginasQuebra Mar de TaludeAnonymous XaAk5cg100% (2)
- Características de Sistema de Controle Com Retroação: Prof.: Bismark Claure Torrico, DRDocumento26 páginasCaracterísticas de Sistema de Controle Com Retroação: Prof.: Bismark Claure Torrico, DRRayane GadelhaAinda não há avaliações
- Catalogo DissipadoresDocumento119 páginasCatalogo DissipadoresRhodolfoAinda não há avaliações
- 927 PDFDocumento20 páginas927 PDFAnderson FernandesAinda não há avaliações
- Código OBDII para Veículos Nissan - Infiniti PDFDocumento6 páginasCódigo OBDII para Veículos Nissan - Infiniti PDFzanildoAinda não há avaliações
- Ii MomentosDocumento5 páginasIi MomentosBruno ArllesAinda não há avaliações
- Resumo de MagnetismoDocumento7 páginasResumo de Magnetismojoaobatistavsm100% (2)
- Comple JosDocumento5 páginasComple Josneiver centellasAinda não há avaliações
- FUNÇÃO CARACTERÍSTICA-Aula08Documento10 páginasFUNÇÃO CARACTERÍSTICA-Aula08Fábio JoséAinda não há avaliações
- Secagem - Completo PDFDocumento24 páginasSecagem - Completo PDFIsaias Mourao100% (2)
- Exercício Regressão Linear - Parte 3Documento2 páginasExercício Regressão Linear - Parte 3Elton Daniel Sanches SantosAinda não há avaliações
- 3, 4 e 5 - As Dimensões e Suas Diferenças - A Luz É InvencívelDocumento5 páginas3, 4 e 5 - As Dimensões e Suas Diferenças - A Luz É InvencívelRobsonFabianoAinda não há avaliações
- Técnica Do Discurso Moderno (Mário Ferreira Dos Santos)Documento115 páginasTécnica Do Discurso Moderno (Mário Ferreira Dos Santos)Isabela Abes Casaca100% (2)
- Agua de Marmoraria - Precipitação de DurezaDocumento1 páginaAgua de Marmoraria - Precipitação de DurezajairodesiqueiraAinda não há avaliações
- Amortecedores, Cambagem, Caster e Convergencia PDFDocumento7 páginasAmortecedores, Cambagem, Caster e Convergencia PDFMcgregori AndradeAinda não há avaliações
- Manual de AM II PDFDocumento124 páginasManual de AM II PDFAcacio Gato Wilson Macicane100% (1)
- Resolução Dos Problemas 1 e 2Documento21 páginasResolução Dos Problemas 1 e 2Vitor Formiga100% (2)
- Dimensionamento de Muros de Flexão PDFDocumento4 páginasDimensionamento de Muros de Flexão PDFDesireé AlvesAinda não há avaliações
- Questionário de Fundações PDFDocumento3 páginasQuestionário de Fundações PDFGabriel Ferreira0% (1)
- Manual Sacarimetro BrixDocumento2 páginasManual Sacarimetro BrixarlansfAinda não há avaliações