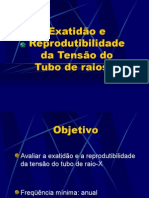Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Família Amo-Vos - Luc Ferry
Enviado por
Zoraia0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações12 páginas«Num livro polémico e inovador, Luc Ferry, á maneira de um ensaísta, procura reflectir sobre o caos moderno (...) oferecendo as suas ferramentas teóricas tanto ao homem de acção como ao cidadão comum." Le Nouvel Observateur
«A filosofia seduz o grande público. Este pedagogo ímpar utiliza a sua erudição ao serviço do saber-viver e do saber-estar. Lendo esta obra (...) aprendemos a pensar e a organizar o nosso raciocínio.» Le Fígaro
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento«Num livro polémico e inovador, Luc Ferry, á maneira de um ensaísta, procura reflectir sobre o caos moderno (...) oferecendo as suas ferramentas teóricas tanto ao homem de acção como ao cidadão comum." Le Nouvel Observateur
«A filosofia seduz o grande público. Este pedagogo ímpar utiliza a sua erudição ao serviço do saber-viver e do saber-estar. Lendo esta obra (...) aprendemos a pensar e a organizar o nosso raciocínio.» Le Fígaro
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações12 páginasFamília Amo-Vos - Luc Ferry
Enviado por
Zoraia«Num livro polémico e inovador, Luc Ferry, á maneira de um ensaísta, procura reflectir sobre o caos moderno (...) oferecendo as suas ferramentas teóricas tanto ao homem de acção como ao cidadão comum." Le Nouvel Observateur
«A filosofia seduz o grande público. Este pedagogo ímpar utiliza a sua erudição ao serviço do saber-viver e do saber-estar. Lendo esta obra (...) aprendemos a pensar e a organizar o nosso raciocínio.» Le Fígaro
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
Luc Ferry
FAMÍLIAS, AMO-VOS
O NOVO ESPÍRITO DE FAMÍLIA
A desculpabilização do medo e as suas origens
«Famílias! Odeio-vos! Lares herméticos; portas trancadas;
possessões ciumentas da felicidade.»
André Gide, Os Alimentos Terrestres
Comecemos por uma constatação banal: o medo tornou-
se, como já se terão apercebido, uma das paixões dominantes
das sociedades democráticas.
Para dizer a verdade, temos medo de tudo: da velocidade,
do álcool, do sexo, do tabaco, da costeleta de vitela, das
deslocalizações, das ONG*, do efeito de estufa, dos frangos,
dos micro-ondas, do dumping social, da precariedade, da
Turquia, do Presidente americano, da extrema-direita, das
periferias, da mundialização, para mencionar apenas alguns.
Todos os anos, um novo medo é acrescentado aos anteriores
— no próximo ano, posso até apostar que será a vez das nanotecnologias,
pois já as utilizam para fazer cremes solares
—, o que provoca uma verdadeira proliferação das angústias.
No que me diz respeito, confesso que comecei a ficar
preocupado quando assisti em 2003, em França, às manifestações
dos jovens em defesa... das suas reformas! O mais espantoso
é que o governo ao qual eu pertencia tinha apenas
um objectivo: salvá-los! O que se estava a passar era muito
simples e fácil de entender: devido ao aumento da esperança
de vida, para pagar as pensões dos idosos era necessário ou
aumentar o tempo dos descontos ou o seu montante, ou
mesmo ambos, caso contrário o peso do financiamento dos
seniores iria cair sobre os ombros das gerações futuras. Ora
eram precisamente os jovens, ou pelo menos as organizações
que supostamente os representavam, que tinham ido para
a rua manifestar-se...
Independentemente da sua irracionalidade, esta reacção
revelava algo de profundamente perturbador para alguém
como eu, que iniciara os estudos em 1968. Na minha geração,
os estudantes tiveram de facto a oportunidade de manifestar-
se por tudo e por nada, por mais absurdo que fosse —
mas nunca pela defesa das suas reformas. Da extrema-direita
à extrema-esquerda, esta ideia nunca teria sequer passado pela
cabeça de um indivíduo com menos de quarenta anos,
nem mesmo em sonhos. Não digo que antes fosse melhor,
e muito menos idealizo a década de 1960: o fascínio por
Mao ou Castro não revelava grande vivacidade e, em geral,
a juventude de hoje, defensora da ecologia e dos Direitos do
Homem, está bem menos perdida do que a da minha geração.
Apenas digo que algo mudou. E tento perceber o que
terá sido.
Segundo choque: algumas das organizações de estudantes
decidiram manifestar-se contra o «LMD» — licenciatura,
mestrado e doutoramento — ou seja, traduzindo a gíria das
administrações, contra a harmonização dos diplomas universitários
europeus. No entanto, esta medida permite a qualquer
estudante que deseje ter um espírito mais aberto iniciar,
por exemplo, os seus estudos em Paris, prossegui-los
em Roma, Madrid ou Berlim e, se assim o desejar, terminá-
-los em Toulouse sem prejudicar o seu curso devido às temporadas
que passou fora do seu país. Trata-se pois de uma
excelente oportunidade que, objectivamente, só possui vantagens
e não apresenta qualquer inconveniente. Perguntamo-
-nos uma vez mais o que poderia motivar a hostilidade das
organizações de estudantes de esquerda e de extrema-esquerda.
Respondem-nos: o medo, mais concretamente o medo
da aventura, é claro, e de facto têm razão. Mas a explicação
é demasiado simplista. Afinal, os nossos antepassados já tinham
medo de que o céu lhes caísse em cima da cabeça e,
regra geral, o medo do desconhecido ou da mudança é, sem
dúvida, o mais antigo e o mais comum do mundo. Não temos
pois aqui nada de novo. O que é inédito não é o medo
enquanto tal, mas o facto de as nossas sociedades o desculpabilizarem
incessantemente transformando-o numa paixão positiva,
num factor de prudência ou mesmo de sabedoria. Simplificando:
ensinava-se às crianças da minha geração que o medo
era um sentimento pouco digno e que tornar-se adulto era
essencialmente conseguir vencer os seus receios. Tanto na
escola como em casa, repetiam constantemente que um «rapaz
crescido não tem medo». Ser «grande» era deixar de ter
medo do escuro, atrever-se a deixar os pais para viajar, ter
coragem de defender uma pessoa fraca alvo de agressão no
comboio ou no metro... Enfim, o medo era apreendido essencialmente
como algo negativo. Ora, no final do século
xx, com a união do pacifismo e da ecologia radical, assistimos
a uma mudança total de perspectiva: longe de ser
entendido como um sentimento infantil e um tanto ou
quanto lamentável, o medo, tal como afirmou o filósofo alemão
Hans Jonas, adquiriu uma função «heurística». Ou seja,
alcançou o estatuto de poderoso motor de descoberta, revelando-
se não só um factor de prudência, mas sobretudo de
conhecimento. Segundo esta nova ideologia, é graças a ele
que tomamos consciência de que o nosso mundo está ameaçado
pelo desenvolvimento industrial moderno, e é também
através dele que nos tornamos, como aconteceu com tantos
jovens na Alemanha da década de 1970, «militantes da paz»
animados pelo famoso slogan lieber rot als tod, «antes vermelho
que morto»... Quando os valores transcendentes se esbatem,
centramo-nos apenas nas exigências da vida e estas
primam sobre qualquer outra consideração. Desde então, a
desculpabilização do medo nunca parou de fazer «progressos
», ao ponto de esse sentimento, outrora ridicularizado, ter
adquirido o estatuto de paixão política eminente. Hoje,
a angústia já não envergonha ninguém, até se leva a tiracolo.
Ao longo dos dois anos do meu ministério — e afirmo-o
aqui sem ironia nem exagero — não recebi uma única delegação
sindical sem que a primeira frase não fosse invariavelmente:
«Senhor Ministro, estamos muito preocupados...» Como
se a preocupação fosse por si só um primeiro passo para
a inteligência, um primeiro degrau para o famoso «princípio
da precaução»...
Em contrapartida, temos de confessar que o poder, também
ele, está petrificado de angústia. Antes de cada reforma,
tacteia-se o terreno, tal como os banhistas que provam
a água com a ponta do pé com pusilanimidade. Se estiver
gelada, fogem a sete pés. Se o líquido não estiver demasiado
hostil, avançam passo a passo até à cintura e à primeira on-
dinha inoportuna recuam. O resultado desta situação é trágico:
a impotência pública é tal que as nossas democracias
acabam praticamente por ficar paralisadas. Tal como afirmavam
Hobbes e Maquiavel, o medo tem tendência a tornar-se
a «paixão mais comum» e isso não anuncia nada de bom.
Daí a questão que anima este livro: de onde surge esse medo,
desculpabilizado e paralisante, e como poderemos finalmente
libertar-nos dele, ou, melhor dizendo, como fazer dele
senão um inimigo irredutível, pelo menos um aliado —
à semelhança do judoca que consegue utilizar em benefício
próprio a força do seu adversário? Para além dos motivos
económicos e sociais geralmente evocados — o receio de perder
o emprego ou a casa, a ameaça do dumping social e da
precariedade relacionados com a mundialização —, que apesar
de bem reais nos impelem muitas vezes a agir contrariamente
ao que seria desejável (o medo é mau conselheiro),
é preciso ter em conta o conjunto da situação histórica em
que nos encontramos hoje no plano intelectual e moral.
A meu ver, podemos defini-la em três palavras cuja explicitação
e análise constituem a trama deste livro: desconstrução,
despossessão, sacralização. As duas primeiras explicam o estado
de depressão em que nos encontramos. A terceira indica
as vias que permitem ultrapassá-lo.
Voltemos atrás para melhor esclarecer o propósito antes
de o aprofundar.
Desconstrução (Capítulo I). Não se cansam de dizer e repetir:
o século xx age como um ácido. Os princípios de sentido
e de valor que formavam os cenários tradicionais da vida
da grande maioria dos homens desmoronaram-se ou,
pelo menos, esbateram-se. Daí a confusão gerada pela proliferação
e pela desculpabilização dos medos que atrás evoquei
e cuja natureza iremos aprofundar. Com efeito, não basta
lastimar, como muitas vezes fazemos, a «perda de referências
», estigmatizar a falta de cultura clássica dos jovens ou lamentar
a «deserção cívica» e o declínio da moral comum.
Mesmo admitindo a existência destes fenómenos — o que
ainda está por provar pois muitas vezes determinadas regressões
dissimulam a emergência de novos progressos —, não
podemos cingir-nos apenas aos sintomas. Temos de interrogar-
nos também sobre as suas causas, sobre a origem profunda
das transformações cuja responsabilidade não devemos
imputar injustificadamente aos recém-chegados. Não
houve nestes últimos tempos, pelo menos que eu tenha
conhecimento, nenhuma mutação genética no seio da humanidade,
sendo pouco provável que os nossos filhos se
tenham tornado subitamente diferentes de nós como um
certo tipo de discurso conservador parece defender. Sim, na
verdade, o último século foi votado à «desconstrução» das
tradições e à escalada do individualismo — o que no fundo
vai dar ao mesmo —, mas resta-nos compreender porquê
e também tentar perceber se essa evolução dos hábitos e das
mentalidades trouxe algo de novo e, se for esse o caso, se isso
foi positivo. Voltaremos a esta questão. Todavia, numa
primeira aproximação podemos considerar como hipótese
plausível que o desgaste das tradições — quaisquer que
sejam a longo prazo as suas eventuais repercussões benéficas
— tem como efeito imediato despoletar a angústia.
Sobretudo porque esta erosão é acompanhada de um fenómeno
objectivamente preocupante: a perda de controlo sobre
o curso da história, que, devido à mundialização da
competição capitalista, tende de dia para dia a escapar à nossa
vontade.
Despossessão (Capítulo II). O regresso em força dos mitos
de Frankenstein e do aprendiz de feiticeiro revelam muito
sobre o mecanismo deste princípio: desde os tempos mais
remotos, estes contos filosóficos falam-nos de despossessão.
Relatam-nos a história aterradora de uma criatura que escapa
ao controlo do seu criador e ameaça devastar a Terra.
Ora, estes mitos regressam hoje para assombrar incansavelmente
os nossos espíritos quando se trata de descrever certos
aspectos da «globalização»: mercados financeiros, deslocalizações,
Internet, manipulações genéticas, ONG, efeito de estufa...
À semelhança das imagens veiculadas pelas fábulas,
estes produtos da actividade humana escapam pouco a pouco
ao controlo da espécie que os criou e que fica assim des-
possuída daquilo que engendrou. Tal como o grão de milho
transgénico que um pássaro ou um ratinho transporta de
um campo para o outro e que ameaça escapar à vigilância
dos homens propagando-se ilimitadamente, o curso do
mundo é cada vez menos controlado por aqueles que ainda
são denominados, como que por ironia, os «dirigentes». Se
temos a impressão de que cumprem pouco ou mal as suas
promessas — proteger o planeta, dar realidade ao ideal de
uma igualdade de oportunidades, acabar com o desemprego,
reduzir o défice, relançar o crescimento, etc. — isso deve-se
não tanto a uma falta de coragem ou de palavra mas mais
à impotência face a uma realidade que escapa constante
e claramente à sua vontade. Deste modo, parece que é a própria
democracia no seu princípio que está a ser traída: prometeu
aos homens a possibilidade de fazerem a sua própria
história, ou pelo menos de participarem nela — e é precisamente
essa promessa que se estilhaça sob os golpes da mundialização
liberal. Filosofia da liberdade por excelência,
o liberalismo apostava em tornar os seres humanos cada
vez mais responsáveis. Ora, é a própria vitória — visto que
a mundialização é pela sua essência liberal — que conduz
pouco a pouco à criação de seres desprovidos de qualquer
poder real sobre o curso do mundo e, por esse mesmo motivo,
desresponsabilizados como nunca, pelo menos no nosso
curto passado democrático.
Esta atmosfera intelectual tão característica dos nossos
tempos não possui, tanto quanto eu saiba, qualquer precedente
na história da humanidade. Como e por que razão
chegámos ao ponto de pôr em causa os princípios que, há
dois séculos, nos pareciam fundadores da civilização europeia
moderna? Não há dúvida de que estamos a viver uma
verdadeira alteração histórica. Para melhor nos apercebermos
disso, basta comparar o pensamento actual ao da época
das Luzes. Pensemos, por exemplo, na reacção que os espíritos
mais brilhantes do seu tempo tiveram face ao famoso
terramoto que devastou Lisboa em 1755 e que num só dia
fez largos milhares de mortos. A conclusão a que chegaram
foi praticamente unânime: graças aos progressos da ciência
e da técnica, uma catástrofe semelhante poderia certamente
ser evitada no futuro. Eis a convicção profunda dos homens
mais iluminados. A geologia, a matemática e a física iriam
permitir prever e, consequentemente, prevenir os flagelos
que a natureza inflige de forma tão absurda e cruel aos seres
humanos. Por fim, o espírito científico unido ao espírito
empreendedor salvar-nos-ia das tiranias da matéria bruta. Só
esta última foi considerada culpada — de tal forma que
nem o presidente da câmara da cidade, nem os arquitectos,
carpinteiros ou engenheiros que tinham construído os edifícios
foram postos em causa.
Mudança de cenário, para não dizer de paradigma. Dominados
pela paixão do medo, hoje é a natureza que nos pa-
rece admirável e a ciência ameaçadora ou maléfica. Face às
catástrofes naturais, passamos o tempo todo a tentar descobrir
os responsáveis com grande fervor, pois tudo aquilo que
pode pôr em perigo as nossas existências nos aterroriza.
A angústia de uma morte que permanentemente renegamos
declina-se assim nesta infinitude de «pequenos medos» particulares,
muitas vezes relacionados com as mil e uma inovações
«diabólicas» que a ciência e o mundo moderno inventam.
Nos antípodas do optimismo das Luzes, hoje já não
vemos os avanços do conhecimento como um progresso,
mas antes como o abandono de um qualquer paraíso perdido.
Ou, melhor dizendo, estamos sobretudo preocupados em perceber
se o progresso é em si mesmo um progresso e se a multiplicação
das façanhas técnicas que quotidianamente a imprensa
divulga nos tornou realmente mais livres e mais felizes.
Ora, o mais preocupante é que por detrás desta proliferação
dos medos se esconde uma preocupação mais profunda
e silenciosa que engloba, por assim dizer, todas as outras:
a de que uma nova forma de impotência pública, inerente
à natureza da mundialização, que coloca os cidadãos das sociedades
modernas — para não mencionar aquelas que nem
sequer têm voto na matéria — numa posição de perda de
controlo sobre o curso do mundo. É este sentimento de que
o Estado é fraco e praticamente incapaz de levar a cabo qualquer
tipo de reforma, mesmo as mais justificadas, não con-
seguindo sequer opor-se a processos nefastos que escapam
definitivamente ao seu controlo, que lenta mas insidiosamente
se insinua no espírito dos nossos concidadãos. O tema
recorrente do «declínio» só revela esta angústia, até
mesmo quando apela, ainda que de forma impotente, à coragem,
ao dever e à resistência moral. Mais do que este ou
aquele objecto em particular, é a paralisia doravante visível
do poder político que exaspera ou desespera. Tudo isto revela
muito claramente uma crise da representação sem precedentes:
com efeito, como podemos sentir-nos representados
se aqueles que incumbimos de «tomar conta das coisas»
já não possuem realmente capacidade para o fazer? Nos anos
cinquenta, o poujadismo* denunciava a venalidade e a falta
de probidade política: «são todos uns mentirosos» que «só
querem encher os bolsos». Hoje, o que mais nos inquieta
não é tanto a desonestidade dos dirigentes, mas sobretudo
a sua impotência face à resolução dos problemas.
Problema: em que devemos apoiar-nos para sair do marasmo?
O pragmatismo é claramente insuficiente. Na melhor
das hipóteses, permite-nos surfar sobre as ondas de uma
mundialização cujos ganhos e perdas nos escapam inteira-
mente. Ora não é de surfistas que precisamos. Por vezes,
tanto em política como noutras áreas, é preciso saber dizer
não, é preciso resistir à onda, e para o conseguir temos de
nos apoiar em valores firmes. Paradoxo da política moderna
do qual nenhum dirigente conseguiu até à data libertar-se:
é preciso manter-se popular para conquistar o poder, é preciso
ser impopular por vezes para o exercer. E, tal como diz
um provérbio árabe, um homem que nunca encontrou na
vida uma razão para a pôr em risco é um pobre homem.
Pois apenas o sagrado — etimologicamente, aquilo pelo que
nos podemos sacrificar — dá não só sentido, mas também,
e sobretudo, sabor à existência. Mas onde encontrar esse sagrado
se todos os valores foram desconstruídos? E como
o instaurar se o curso do mundo nos escapa?
É neste ponto que intervém o terceiro termo que enunciei,
a sacralização. A convicção que atravessa este livro (Capítulo
III) é que a elevação dos valores da intimidade que
caracteriza as nossas sociedades democráticas não deve ser
interpretada como um «recuo individualista», uma regressão
«neoliberal», uma renúncia face aos problemas do mundo.
Representa, pelo contrário, um alargamento de horizontes
inacreditável, sem dúvida de forma profundamente paradoxal,
ainda que muito imperfeita e mitigada porque claramente
imbuída desse egoísmo insuportável que estigmatiza
a frase de Gide, mas que é, contudo, muito real: a verdade
de um humanismo finalmente amadurecido e não, como em
geral pensamos, precipitado no egoísmo e na atomização do
social. Não ignoro que, face à importância das preocupações
individuais, o reflexo político mais comum e irreflectido
consiste em declarar com ar enfastiado e com uma nesga de
nostalgia na voz e de cansaço no olhar que, tendo as entidades
«grandiosas» (Deus, a República, a Pátria, a Revolução,
etc.) perdurado tanto tempo, hoje temos de cingir-nos de
forma mais ou menos medíocre àquilo que nos resta: a família
com, no melhor dos casos, algum espírito humanitário
e ecológico, de forma a assegurar alguma consciencialização,
por muito ínfima que seja, das questões relacionadas com
o futuro das novas gerações.
Defendo precisamente o oposto. Como tentarei demonstrar
mais adiante, somos menos medíocres e menos
«materialistas» do que em geral o pensamos. À semelhança
da «consciência infeliz» de que nos fala Hegel na sua Fenomenologia
do Espírito, apenas apreendemos o lado mau da
história: vemos utopias mortíferas mas sublimes desmoronarem-
se, princípios heróicos e valores tradicionais desaparecerem;
assistimos, de geração em geração, ao declínio acelerado
dos enquadramentos estáveis do civismo e da cultura
clássica, ficando de tal forma afligidos com tudo isto que
acabamos por ceder ao medo e à morosidade. Mas ainda
não conseguimos vislumbrar, nos processos históricos que
abalam as nossas vidas, o que irá substituí-los, o que é novo
e ilumina o futuro em vez de o ensombrar. Ora, sob o efeito
de uma história ainda demasiadamente pouco conhecida para
desencadear a reflexão no espaço público — refiro-me
à história da intimidade, da família moderna e do casamento
por amor que os historiadores das mentalidades nos ajudam
a descobrir pouco a pouco e sobre a qual voltarei a falar mais
adiante —, vivemos uma formidável revolução dos espíritos*,
sem nos apercebermos nem conseguindo ainda medir
os seus efeitos: uma mutação lenta e silenciosa que marca
como nunca outra o fez as nossas existências e altera radicalmente
a problemática clássica do sentido da «vida boa».
É impensável — e é este o fio condutor deste livro — que
esta revolução sem precedentes não tenha impacto sobre
a vida política, quer sobre os projectos que a orientam quer
sobre a forma de a pôr em prática.
Como tentarei demonstrar, o nascimento da família moderna
e do casamento por amor — que pouco a pouco se
transforma em ideal e depois em regra nas sociedades contemporâneas
— irá alterar tudo isto. Sob o efeito desta inovação
que irá revolucionar a vida quotidiana dos indivíduos,
o sagrado irá mudar de sentido ou, melhor dizendo, de encarnação.
Progressivamente, irá afastar-se das entidades tradicionais
supostamente grandiosas porque desumanas — di-
vindade, hierarquias sociais, aristocracias, Nação, Pátria,
ideais revolucionários —, instalando-se gradual mas solidamente
no coração do menos divino, ou seja, na própria humanidade.
Quando evoco esta ideia, replicam-me sempre
a famosa análise de Dostoievski: estando Deus morto, será
doravante o humano que irá tomar o seu lugar de uma forma
excessiva e incorrendo em todos os perigos totalitários.
Não é evidentemente esta figura inquietante e fantasmagórica
do homem-deus que pretendo aqui defender.
Para termos uma ideia — a análise virá mais adiante —
é preciso recordar os símbolos que Max Weber mobiliza para
descrever a natureza dos valores tradicionais e das entidades
sacrificiais do tempo de outrora. O grande sociólogo
alemão vislumbra o modelo no nobre comportamento do
capitão do navio que, obedecendo a um código de honra
bem estabelecido, sucumbe com o seu barco depois de a tripulação
e os passageiros serem evacuados. Sacrifício inaudito
ou martirologia limitadora? Cada qual poderá, sem dúvida,
tirar as suas conclusões, mas a meu ver considero que, apesar
de tudo, hoje mais vale dar a vida por outro tipo de causas
e que decerto o casco de um navio não merece que se
morra por ele... Ora, entre todas as causas possíveis, a história
da família moderna, fundada no sentimento, irá convencer-
nos de que a única causa que vale a pena é a da pessoa.
Hoje é de bom-tom troçar, sobretudo no meio intelectual
e jornalístico, dos trabalhadores humanitários e da sua
paixão mediática. Neste caso, confesso contudo que sempre
fiquei do lado dos ingénuos. Permitam-me que prefira Bernard
Kouchner, o fundador dos Médicos Sem Fronteiras em
França, que arriscou cinquenta vezes a vida para salvar outras
tantas, àqueles que do alto das suas cátedras ou dos seus
púlpitos lhe dão arrogantes lições de modéstia. Talvez concorde
com eles no dia em que eu próprio tiver feito tanto
quanto ele — o que temo não irá acontecer tão cedo. Sem
comparação possível, o seu heroísmo e aquilo que simboliza
parecem mais admiráveis e, para dizer a verdade, mais justos
do que o daquele capitão de navio — capitão que, como terão
compreendido, serve aqui de modelo emblemático para
todos os grandes sacrifícios mortíferos que, ao longo do
aterrador século xx, ensanguentaram a humanidade como
nunca acontecera no passado. E nós, simples cidadãos que
não temos de sacrificar-nos pelos outros nem arriscamos
constantemente as nossas vidas — o que não é forçosamente
mau, temos de confessar... —, por que motivo afinal deveríamos
subestimar o tempo que mesmo assim dedicamos aos
outros nas nossas vidas quotidianas em prol de uma qualquer
pseudocausa superior? A um amigo deprimido, a um
pai no fim da vida, a um filho que não está bem ou, porque
não, àqueles que não conhecemos, ao próximo que nem por
isso nos é chegado, mas que não pode viver sem a ajuda de
outros homens, como constantemente as associações caritati-
vas relembram? O que significam estes sacrifícios, modestos,
é certo, mas contudo reais, a não ser que o sentido das nossas
vidas desceu definitivamente do céu para instalar-se na
terra? E por que razão deveríamos envergonhar-nos e preferir
as entidades sacrificiais de uma época que não hesitou,
sem o mínimo proveito para quem quer que fosse, provocar
dezenas de milhões de mortos sobre os edifícios da Nação
ou da «Causa do povo», a estas novas figuras de um sagrado
com rosto humano? Eis, a meu ver, algumas interrogações
que merecem pelo menos que nos detenhamos nelas.
Como se reflecte tudo isso na política (Capítulo IV)?
Como é que uma actividade que visa por excelência a esfera
pública poderá tomar em consideração, ou mesmo tirar
partido, das revoluções que abalam o seu opositor natural,
a esfera privada? A questão resume-se a isto e não é nada
simples. Os efeitos desta revolução da intimidade, por ser
menos violenta e ruidosa do que as outras, são muito mais
profundos e estendem-se ao longo do tempo, sem que ninguém
possa avaliá-los à partida. Este livro convida modestamente
o seu leitor a reflectir sobre esta questão. No seu conjunto,
a política moderna, desde finais do século xviii, para
não mencionar as épocas precedentes, colocou a esfera pública
muito acima da esfera privada. Em caso de conflito,
é sempre a segunda a sacrificar-se em prol da primeira, como
tivemos oportunidade de o constatar durante as guerras, to-
das elas, aliás, levadas a cabo por homens. Mesmo no Maio
de 1968 — que foi, apesar de tudo, o primeiro grande movimento
social e político a colocar em primeiro plano esses
valores da intimidade libertos graças a um século de desconstrução
das tradições —, a política manteve-se prioritária:
a intenção não era colocá-la ao serviço dos indivíduos
mas conseguir que cada um deles passasse do estatuto de
«cidadão passivo» ao de «cidadão activo». Mesmo entre os
espíritos mais democratas de 1968 — os libertinos anticomunistas,
antimaoístas e antitrotskistas — a convicção era
a de que «tudo era político» ou deveria sê-lo. Tal como dizia
Benjamin Constant, «a liberdade dos Antigos», quer dizer,
a participação activa nas questões públicas, continua a ser um
ideal muito superior ao da «liberdade dos modernos», ao direito
que cada qual tem de fazer o que bem entender da sua vida.
Ora, a tendência actual — que se arrasta há já longas
décadas sem que sequer tenhamos consciência disso — caminha
no sentido oposto. Hoje, para a maioria dos indivíduos,
o verdadeiro sentido da existência, aquilo que lhe dá
sentido, sabor e valor, situa-se essencialmente na vida privada.
E esta evolução só é compreensível se a situarmos no seio
de uma história, a da família moderna, segundo a qual a família
não é de todo exclusivamente um tema de «direita»,
como muitas vezes se afirma de forma irreflectida e mecânica,
mas pelo contrário o florão de uma aventura democráti-
ca. A vida amorosa ou afectiva sob todas as suas formas, os
elos que se tecem com os filhos através da educação, a escolha
de uma actividade profissional enriquecedora também no
plano pessoal, a relação com a felicidade bem como com
a doença, o sofrimento e a morte, ocupam um lugar infinitamente
mais importante do que a consideração de utopias
políticas, de resto inalcançáveis. Entre a justiça e a mãe, já
Camus escolhera a segunda. Dir-me-ão que este dilema
é absurdo, que na vida real as questões políticas não se colocam
nestes termos, e decerto terão toda a razão. Trata-se
apenas de uma metáfora. Contudo, ela engloba uma realidade
profunda: a de uma política que, dia após dia, tem tendência
a tornar-se antes de mais um auxiliar da vida privada,
não a sua única finalidade, e muito menos algo sobre
cujo altar deva ser sacrificada, mas um simples instrumento
ao serviço da libertação e do sucesso da vida das pessoas.
O que tentarei demonstrar ao longo deste livro é que esta
nova forma de dar não exclui de todo, contrariamente uma
vez mais a uma ideia preconcebida, a tomada de consciência
dos horizontes longínquos, exigindo aliás que nos reconciliemos,
mas de uma forma bem diferente, com as figuras mais
grandiosas da política tradicional. Mas está na hora de aprofundarmos
antes de mais o seu percurso retomando os três
termos que lhe servem de marcos.
Você também pode gostar
- Sol em Quadratura e Oposição Com UranoDocumento6 páginasSol em Quadratura e Oposição Com UranoJosé Fabriccio100% (1)
- Impirmir PaulinhoDocumento16 páginasImpirmir PaulinhoVitória Ramos SantanaAinda não há avaliações
- Alvos e Flechas Redequim 2016 MessederDocumento7 páginasAlvos e Flechas Redequim 2016 MessederMinecraft modsAinda não há avaliações
- Pierre Bourdieu Sobre A TelevisaoDocumento73 páginasPierre Bourdieu Sobre A TelevisaoCaminhaAinda não há avaliações
- 14 A-Perspectiva-Na-Arte 169 182Documento14 páginas14 A-Perspectiva-Na-Arte 169 182Vânio Coelho100% (1)
- Inovação Tecnológica e Desenho AnimadoDocumento114 páginasInovação Tecnológica e Desenho AnimadoJose Eliezer Mikosz100% (11)
- Ms QFT DRAFTDocumento2 páginasMs QFT DRAFTMarcio Antônio CostaAinda não há avaliações
- Kabengele Munanga Teoria Social e RacismoDocumento12 páginasKabengele Munanga Teoria Social e RacismoGustavo Forde100% (1)
- NBR 15965-1-2011Documento12 páginasNBR 15965-1-2011João Felipe SantosAinda não há avaliações
- Lab. Radiodiagnóstico - I Física Médica - Unesp (2006) Exatidão e Reprodutibilidade Da Tensão Do Tubo de Raios-XDocumento33 páginasLab. Radiodiagnóstico - I Física Médica - Unesp (2006) Exatidão e Reprodutibilidade Da Tensão Do Tubo de Raios-XPaulo Fonseca0% (1)
- Atividade 01Documento2 páginasAtividade 01Renan OliveiraAinda não há avaliações
- Edital 04 9 FTC Juazeiroepetrolina 2019.2Documento17 páginasEdital 04 9 FTC Juazeiroepetrolina 2019.2Pablo Michel MagalhãesAinda não há avaliações
- Carlos Augusto Serbena e Rafael Rafaelli Publicaram Um Artigo em 2003 Discorrendo Sobre Os Problemas Epistemológicos e Ideológicos Da Alma para A PsicologiaDocumento2 páginasCarlos Augusto Serbena e Rafael Rafaelli Publicaram Um Artigo em 2003 Discorrendo Sobre Os Problemas Epistemológicos e Ideológicos Da Alma para A PsicologiaJulia TestoniAinda não há avaliações
- Palestra 04 - IC - ProporçõesDocumento6 páginasPalestra 04 - IC - ProporçõesJoão Luís MubangoAinda não há avaliações
- Ebook+homeopatia+e+florais+ (P CL) +Documento12 páginasEbook+homeopatia+e+florais+ (P CL) +AMANDA ARAUJO100% (1)
- A Natureza e o Papel Do EstadoDocumento11 páginasA Natureza e o Papel Do Estadoosmilde mirandaAinda não há avaliações
- Pesquisa NarrativaDocumento244 páginasPesquisa Narrativadolorescristina93% (15)
- Pensamento CriticoDocumento2 páginasPensamento CriticoSergei SerbinAinda não há avaliações
- Planeamento de Uma PesquisaDocumento11 páginasPlaneamento de Uma Pesquisaalbano antonioalexandreAinda não há avaliações
- PROSTITUIÇÃODocumento14 páginasPROSTITUIÇÃOThaina UsifatiAinda não há avaliações
- Relatorio PaquimetroDocumento13 páginasRelatorio PaquimetroCarlos Eduardo HerdyAinda não há avaliações
- Filosofia Da Dança - Paul ValéryDocumento16 páginasFilosofia Da Dança - Paul ValéryÉdi OliveiraAinda não há avaliações
- Os Princípios Do Trabalho de Campo Segundo MalinowskDocumento3 páginasOs Princípios Do Trabalho de Campo Segundo MalinowskNLORD (DFMobile)Ainda não há avaliações
- A Ideia de Educação Integral em Platão e RousseauDocumento12 páginasA Ideia de Educação Integral em Platão e Rousseauapeiron01Ainda não há avaliações
- Edital FCTDocumento21 páginasEdital FCTKezoAinda não há avaliações
- Souza Júnior, Cezar Saldanha - Consenso e Democracia ConstitucionalDocumento62 páginasSouza Júnior, Cezar Saldanha - Consenso e Democracia ConstitucionalRonaldo Laux67% (3)
- Ciências Da ComunicaçãoDocumento2 páginasCiências Da ComunicaçãoAnderson posterAinda não há avaliações
- Grade Curricular - Ciência Da Computação 2001Documento3 páginasGrade Curricular - Ciência Da Computação 2001Márcio da Trindade Maramaldo0% (1)
- Processocriativo 1Documento180 páginasProcessocriativo 1luiz.henriqueAinda não há avaliações
- Livia BarbosaDocumento44 páginasLivia BarbosaAniie SotoAinda não há avaliações