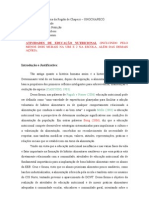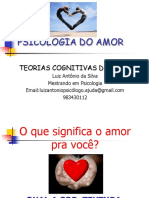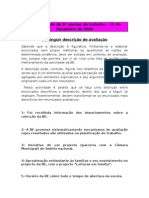Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Por Um Design Político PDF
Por Um Design Político PDF
Enviado por
Davi PaesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Por Um Design Político PDF
Por Um Design Político PDF
Enviado por
Davi PaesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
32
Por um design político
Towards a political design
Denise Berruezo Portinari, PUC-Rio
denisep@puc-rio.br
Pedro Caetano Eboli Nogueira, PUC-Rio
pceboli@gmail.com
Resumo
Através do pensamento sobre os “meios de produção” proposto por Walter Benjamin, a análise
da sociedade burguesa empreendida por Roland Barthes e o pensamento de materialidade de
Bruno Latour, bem como o pensamento sobre o Dissenso, de Jacques Rancière se pretende
chegar a uma política da estética para o design. Pressupondo que o modernismo tenha incutido
nos modelos epistemológicos do design a ideia de verdade, típica do discurso científico, o
presente artigo se propõe a pensar de que forma o design político pode constituir um campo de
ficção, capaz de, no avesso das práticas corriqueiras do design, gerar rupturas na ordem do
sensível.
Palavras-chave: Design, Política, Estética, Dissenso, Subjetivação.
Abstract
By creating a reflective thinking on Walter Benjamin’s "means of production", together with the
analysis of bourgeois society undertaken by Roland Barthes, also with Bruno Latour’s idea of
materiality and Jacques Rancière’s thinking about dissensus, the current article intend to create
a political aesthetics theory for design. Assuming that modernism has instilled in design’s
epistemological models the idea of truth, typical of scientific discourse, this article proposes to
think about how political design may work as a fictional field, capable of, in opposition to the
most common practices of design, provoke small breaks in the order of the sensible.
Keywords: Design, Politics, Aesthetics, Dissensus, Subjectivation.
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
33
1. Introdução
O presente artigo parte do exercício de investigar de que forma a política da estética pode
oferecer subsídios para a constituição de um design político. Aqui nos propomos a pensar,
dentro do universo de possibilidades do design, algumas de suas ocasionais vocações para que
os objetos, ou coisas, ganhem cunho político. Os múltiplos entendimentos do que é design e do
que é uma ação política poderiam suscitar as mais diversas possibilidades de constituição de
uma teoria deste tipo, mas o objetivo é elaborar apenas uma delas. É prudente advertir, contudo,
que não seria possível almejar o alcance de uma teoria final sobre a questão, capaz de fornecer
uma classificação definitiva que englobe todos os aspectos políticos possíveis no design. A
presente leitura se instaura no âmbito de uma possibilidade, de uma incerteza, discutível como
todo objeto político e como todo campo de estudo cujas fronteiras são pouco delimitadas.
Talvez advenha daí o interesse de trabalhar no design, um campo tão móvel e cujas teorias se
tornam descartáveis em medida inversamente proporcional ao ímpeto de criar teoremas e
utopias positivas atemporais.
Este artigo assume como hipótese inicial que a ideia moderna de materialidade, que permeia
as práticas e a recepção do design, tenha contribuído para constituir entraves epistemológicos
para o pensamento de um design político. A partir do conceito de “meios de produção” proposto
por Walter Benjamin (1994), nos contrapomos às visões elaboradas por Ann Thorpe (2011) e
Carl DiSalvo (2012), compreendendo que o aspecto político não deve ser visto apenas como
bandeira, tema, ou impacto social direto das práticas de design, mas interferir nas vísceras dos
seus processos internos. Para nós, a política é um assunto de sujeitos e modos de subjetivação
(RANCIÈRE, 1996b), e deste ponto de vista podemos afirmar com relativa certeza que há
diversos casos de design politizado, mas poucos em que o design foi de fato político. Veremos
adiante de que forma a Verdade da matéria está entranhada e habita o âmago dos “meios de
produção” do design, tendendo a destinar seus objetos ao território apolítico da neutralidade.
Ora, se para Roland Barthes (2004) a linguagem não é jamais neutra, a ideia do design
enquanto linguagem impossibilita que seus objetos sejam tidos como neutros, ainda que o ideal
de materialidade construída pelo método científico pareça reafirmar esta ficção moderna, como
aponta Bruno Latour (2014). A concepção de um design político deve estar ligada a uma
reflexão que procure repensar esta ficção epistemológica fundamental, e é neste sentido que o
presente exercício procura atuar. Afinal, este mesmo discurso científico que turva a
compreensão do teor político da matéria sensível, responsável pela criação de verdades
indisputáveis, constitui sérios entraves para o exercício da política, pois conforma visões de
mundo que parecem naturais e imutáveis, despidas de um exercício de poder. O mundo burguês
é justamente o das naturalizações, de acordo com Roland Barthes (2003). Com o intuito de
compreender de que forma o exercício do dissenso pode fazer emergir uma política para o
design, trazemos o pensamento do filósofo Jacques Rancière (1996a, 1996b), para quem a
política consiste de uma perturbação de ordem sensível.
A partir do pensamento de Gustavo Bomfim (1997), Adrian Forty (2007), Deyan Sudjic
(2010) e Fuad-Luke (2009) mostramos de que forma as práticas corriqueiras do design são
responsáveis por organizar a distribuição do sensível em seus lugares pré-definidos, enquanto a
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
34
ação de um design político deve se dar neste avesso, produzindo pequenas rupturas neste
regime. Assim, a ruptura epistemológica com as formas de design apontadas pelos quatro
autores poderia se dar no sentido da criação de ficções, contrapondo a ideia de verdade atribuída
pelo método científico aos objetos. A ficção é a matéria da dúvida, aquela que enuncia
possibilidades de múltiplas relações e interpretações pelos sujeitos. Mas como criar uma matéria
ficcional? Esta pergunta serve como ponto de partida para a elaboração de uma teoria do design
político.
2. Da Werkbund à tomada dos meios de produção
Afirmar que o design dificilmente se associa à política parece uma falácia, pois já na
Deutscher Werkbund1, fundada em 1907, podemos localizar um germe discursivo da política no
design, que emergia sob os vultos do funcionalismo precoce. Em uma espécie de continuidade
entre a pureza formal e o discurso marxista, o design seria uma ferramenta que ajudaria a
superar todos os conflitos de classe. Suas práticas passavam a encarnar um certo messianismo,
que despia o produto industrial dos barroquismos de uma forma ainda muito ligada à sociedade
de cortes, para substituí-la gradualmente pela “forma da indústria”. Walter Gropius, marxista
assumido e um dos mais célebres participantes desta associação, viria a fundar a Bauhaus anos
depois, levando consigo a ideia de que a produção industrial seria capaz de reduzir as diferenças
de classe e mais: produzir uma arte que pudesse habitar a casa de todos. Nesta época, a recente
Revolução Russa movia ideologicamente o imaginário de boa parte da intelectualidade e da
classe artística europeias, que acreditavam poder unir seus ideais políticos às práticas
profissionais. Os diversos movimentos de vanguarda da época estavam embebidos da ideologia
marxista, haja vista o número espantoso de conjuntos habitacionais e operários que a utopia
moderna foi capaz de erigir. Neste sentido, a potência política do design e da arquitetura estava
em construir uma sociedade mais justa e igualitária.
Sob a posterior direção de Hannes Meyer, as formas do design e da arquitetura na Bauhaus
sofreriam uma moralização ainda mais profunda, à medida que um devir messiânico lhes era
cada vez mais imposto. Entretanto, justamente por conta de sua posição política esquerdista,
Meyer seria demitido em 1930, e a Bauhaus fechada três anos depois pelos nazistas. Este
fechamento precoce se seguiu a uma tentativa de reimplementar o ensino do design na cidade de
Ülm duas décadas depois. Fundada sob a égide do concretismo formal de Max Bill, sua
pedagogia foi aos poucos se emancipando das artes plásticas, processo que culminou com a
direção de Tomás Maldonado, para quem a prática do design deveria se munir de diversas
ciências parcelares e metodologias estritas. Neste momento, entender o design como ciência
significava, por um lado, cumprir um devir que as artes plásticas chegaram a tangenciar em sua
procura de constituir um campo autônomo e puro de conhecimento (GREENBERG, 1997), mas
por outro, um maior foco tecnológico na produção em série. A ideia de uma arte revolucionária
não parecia mais rondar as preocupações dos projetistas da época, mais identificados com os
avanços da ciência que com as lutas de classe.
1
Associação Alemã de Artesãos
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
35
Entretanto, hoje é simples constatar que mesmo a Bauhaus, com toda sua utopia política, não
tenha sido capaz de realizar a Revolução, tampouco seus objetos habitaram as casas de
populações mais pobres. Cristalizado como um estilo “clássico” e produzido pelas fábricas mais
ricas e poderosas do mundo, o Estilo Moderno definitivamente falhou no que concerne à
construção de uma sociedade mais justa. Mas o fato de o design não ter atingido o devir político
a que inicialmente se propunha talvez não se deva tanto ao falimento da ideologia marxista ou à
cristalização do modernismo enquanto estilo histórico. O presente artigo explicita porque as
relações entre política e design, tais como lançadas no Modernismo, já nasceram estéreis. Neste
sentido, tanto a visão de Maldonado quanto a de Gropius não seriam capazes de realizá-las.
Nenhum dos dois enxergava no design a potência dos agenciamentos políticos que a estética é
capaz de empreender, muito embora o marxismo e a pureza formal parecessem caminhar lado a
lado na concepção do fundador da Bauhaus. Como veremos adiante de forma mais cuidadosa,
ambos estavam de acordo quanto à neutralidade do objeto, ideia que está gravada
epistemologicamente na prática do design desde a sua gênese. É este caráter de Verdade da
matéria, amplificado quando Maldonado o aproximou das ciências e cercou-o de metodologias
específicas para a resolução de problemas, resquício do discurso científico, que torna tão difícil
pensá-lo em suas dimensões políticas.
Esta visão pode ser apreendida da fala de Theo Van Doesburg (apud CROSS, 2006), um dos
pioneiros do desenho moderno e fundador do De Stijl:
(...) a nossa época é hostil a qualquer especulação subjetiva na arte, ciência, tecnologia etc.
O novo espírito, que já quase governa toda a vida moderna, é oposta à espontaneidade
animal, à dominação pela natureza, aos disparates artísticos. Para constituir um novo objeto
precisamos de um método, ou seja, um sistema objetivo (p. 1, tradução minha)
A ideia de que os processos de design devem ser presididos por um sistema objetivo e
despidos de qualquer subjetividade é responsável por ampliar sua distância de uma prática
política. Se o objeto é neutro e está dado no mundo, cabendo ao Homem vê-lo, interpretá-lo ou
“escrevê-lo em linguagem matemática”, e o design nada mais seja que uma espécie de
engenharia reversa desta forma “neutra” de observação e interpretação do mundo, deve ser
neutro também o produto de design. Aqui o compromisso com a materialidade moderna passa
ao largo da compreensão de que o próprio sensível é enformado por uma série de vetores
perfeitamente históricos e políticos. Adiante veremos porque esta dimensão do pensamento
burguês, entranhado nas vísceras dos processos de design, impedem que ele possa desempenhar
uma função política a seu alcance, mas antes analisemos o pensamento de dois autores
contemporâneos que procuram construir teoricamente concepções daquilo que seria um design
político.
Tomemos os trabalhos da socióloga Ann Thorpe (2011), que apresenta as possibilidades de
atuação política do design através do que ela chama de design-ativismo. Grosso modo, sua
potência política estaria em atingir a sustentabilidade de três formas: promover a mudança
social, aumentar a consciência sobre valores e crenças (alterações climáticas, sustentabilidade,
etc.) e questionar as restrições de produção em massa e do consumismo sobre a vida cotidiana
das pessoas. Carl DiSalvo (2012), por sua vez, insere o design nesta discussão através da teoria
política de Chantal Mouffe, para quem “a política” estaria contida nas estruturas que
possibilitam uma governamentalidade, tais como as leis, enquanto “o político” seria uma
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
36
condição da sociedade, em constante oposição e debate, e que se materializa em atos de
resistência, confronto etc. A partir desta ideia, DiSalvo cria uma distinção entre “Design para a
Política”2, aquele que contribui para os mecanismos de uma governamentalidade, e “Design
Político”3, cujo objetivo é o de criar “espaços de contestação”. Esta distinção é interessante,
uma vez que há uma tentativa de separar o design usado como ferramenta dos políticos e aquele
que suscita algo como a “democracia radical pluralista” de Mouffe, em que os incessantes
embates políticos levem a uma reformulação constate dos limites de igualdade e liberdade.
Se Ann Thorpe analisa o design através de algumas de suas consequências sociais tangíveis,
mas externas aos meios e processos epistemológicos do design, DiSalvo deixa claro em suas
análises que o design é visto como mera ferramenta para tratamento e exposição de dados. Neste
caso talvez o elemento político esteja mais nos dados que se planeja veicular, e que o design
ajuda a organizar da forma mais funcional possível. Se o conteúdo exposto pelo “design
político” pode criar os “espaços de contestação” almejados por Mouffe, ainda é mantida uma
verdade indisputável e uma relação de intencionalidade com as possibilidades sentidos que se
pretende dar aos dados.
Pensar uma política da estética para o design significa conceber, a cada vez, meios de
produção que possibilitem alguma opacidade interna. São de interesse da política os produtos de
design que deflagrem um embate contra este “desejo de linguagem”4, que suscitem a dúvida,
resistindo a um total controle sobre o sentido. A prática da política só é possível quando deixa
espaços para que o sujeito se produza no embate com aquilo que está diante de si. Os
imperativos de uma eficiência da comunicação, tão buscados pelo design gráfico, se tornam
aqui obsoletos, e entra em jogo a procura por objetos que produzam dissenso. Tanto para Ann
Thorpe quanto para Carl DiSalvo os processos de design são vistos em sua transparência, como
resolução unívoca de problemas, mas será que ele precisa se limitar a isso? Em ambos os casos,
falta questionar o design em suas vísceras, trazer à tona de que forma uma reflexão sobre seus
processos internos ou “meios de produção” (BENJAMIN, 1994), passo fundamental para sua
constituição enquanto forma política.
A ideia de que o artista deve tomar as rédeas dos meios de produção, e não apenas se colocar
ao lado da “tendência justa”, da ideologia correta, é o que norteia a fala de Walter Benjamin em
“O autor como produtor”, proferida em uma conferência no ano de 1934, curiosamente um ano
após o fechamento da Bauhaus. O filósofo discute uma querela recorrente na sua época, e que
serviria perfeitamente para refletir sobre as mais diversas filiações políticas do design através da
história: a do artista que coloca sua arte em prol da Revolução mas que não é capaz de
problematizar e repensar os próprios dispositivos internos envolvidos em seus processos de
produção. Desta forma, acabam reproduzindo ou alimentando os meios de produção burgueses,
ainda que acreditem estar fazendo algo pelo proletariado, e ao seu lado. Segundo ele,
Um dos fenômenos mais decisivos dos últimos dez anos foi o fato de que um segmento
considerável da inteligência alemã, sob a pressão das circunstâncias econômicas,
experimentou, ao nível das opiniões, um desenvolvimento revolucionário sem, no entanto,
2
Design for politics, no original
3
Political design, no original
4
Expressão apropriada de Barthes (2003).
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
37
poder pensar de um ponto de vista realmente revolucionário seu próprio trabalho, sua
relação com os meios de produção e sua técnica. Estou me referindo, é obvio, à chamada
inteligência de esquerda, e limito-me aqui à fração que podemos designar como inteligência
burguesa de esquerda (BENJAMIN, 1994, p.125).
Para Benjamin o teatro de Bertold Brecht teria sido capaz de pensar o conteúdo
revolucionário para além de um tema, mas como parte constituinte dos meios e processos do
artista. Apenas efetuando um pensamento sobre os meios de produção, a partir dos processos
que resultam no fato artístico, é possível pensar uma política da estética para além da dicotomia
forma/ conteúdo. A forma está definitivamente imbricada no conteúdo, é impossível pensá-los
separadamente: a política faz necessário afirmar esta imanência. Lançar um pensamento sobre
os processos internos permitiria, portanto, que a gênese da matéria política se dê de maneira
espantosamente progressista:
Brecht criou o conceito de “refuncionalização” para caracterizar a transformação de formas
e instrumentos de produção por uma inteligência progressista e, portanto, interessada na
liberação dos meios de produção, a serviço das lutas de classes. Brecht foi o primeiro a
confrontar o intelectual com a inteligência fundamental: não abastecer o aparelho de
produção, a serviço da luta de classes, sem o modificar, na medida do possível, num sentido
socialista. No prefácio de Versuche (Ensaios), esclarece Brecht: “a publicação deste texto
ocorre num momento em que certos trabalhos não devem mais corresponder a experiências
individuais, com o caráter das obras, e sim visar a utilização (reestruturação) de certos
institutos e instituições” (BENJAMIN, 1997, p.127).
3. Design e a Verdade da matéria
Se a criação política no âmbito da arte depende de um pensamento a partir do interior dos
meios de produção, esta reflexão também deve servir para o design, cuja relação com a esfera
produtiva parece bastante clara. Entretanto, é importante frisar que aqui os meios de produção
não se referem apenas aos processos realizados em uma fábrica, mas ao pensamento que se
desenvolve no interior da concepção de produtos. Neste sentido, devemos voltar à questão da
neutralidade do objeto, que participa ativamente de uma epistemologia dos métodos em design,
como apontado anteriormente, e que arrasta consigo as bases do pensamento científico,
limitando uma possível ação política do design. Nos atentemos então, para as formas desta
limitação.
O momento atual é exatamente o da nossa libertação de algumas destas maneiras de
estruturar o pensamento, incluindo a semiótica tradicional, em que a linguagem seria neutra,
instrumental. Hoje entendemos que somos “mestres e escravos” da linguagem e estamos
expostos aos seus “fascismos” (BARTHES, 2004). Esta consciência talvez possa se refletir no
entendimento do objeto de design enquanto linguagem, procurando excluir a possibilidade de
sua neutralidade. Para entender as bases epistemológicas sobre as quais o design se constitui,
Bruno Latour também remete à visão de materialidade que a Idade Moderna construiu e da qual
o método científico foi certamente herdeiro. Grosso modo, ele suporta como sintoma do “quão
bem tem se saído o modernismo” o fato de aos poucos estarmos vendo objetos - entidades
objetivas - como coisas5 ou, em outras palavras, que matters of fact se transformam em matters
5
Segundo a acepção heideggeriana de “coisa”.
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
38
of concern6. Para ele, esta mera mudança de visão significaria a possibilidade de pensar as
questões políticas envolvidas nas coisas. Para Latour
A estética dos matters of fact sempre foi exatamente isso: uma estética historicamente
situada, uma forma de iluminar os objetos, de enquadrá-los, de apresentá-los, de situá-los
em relação ao olhar dos observadores, de elaborar os interiores nos quais eles são
apresentados – e, é claro, a política com a qual eles são (eram) tão fortemente associados.
(...) se cada aspecto se tornou um matter of concern em disputa e não pode mais ser
estabilizado como um matter of fact indisputável, então nós estamos obviamente entrando
em um território político completamente novo (LATOUR, 2014, p. 15).
Apesar de ser um campo de saber extremamente ideologizado, as bases epistemológicas do
design moderno sempre estiveram ancoradas sobre uma ideia metafísica de Verdade, inerente a
todo e qualquer discurso científico, que Latour afirma não passarem de formas de se olhar para
objetos, portanto subjetivas, frutos de disputas políticas. Para os modernistas, a equação
segundo a qual a forma deveria seguir a função pressupõe uma espécie de Verdade única e
indisputável sobre esta bipartição essencial que curiosamente nos faz lembrar a dicotomia
corpo/ alma ou o mundo platônico dividido entre as essências e as aparências. Sabemos que toda
construção de verdade é histórica e que qualquer forma de naturalizar verdades também pode
ser entendida como exercício de poder.
Em Mitologias, Roland Barthes analisa e destrincha de que forma a sociedade burguesa
escamoteia imposições e relações de poder a partir da criação de imaginários e mitologias, das
quais seus ideários muito específicos de verdade a-histórica são servos:
(...) a própria ideologia burguesa, o movimento pelo qual a burguesia transforma a realidade
do mundo em imagem do mundo, a História em Natureza. E esta imagem é, sobretudo,
notável pelo fato de ser uma imagem invertida. O estatuto da burguesia é particular,
histórico: o homem que ela representa é universal, eterno; a classe burguesa construiu
justamente o seu poder sobre progressos técnicos e científicos, e uma transformação
ilimitada da natureza: a ideologia burguesa devolve uma natureza inalterável; os primeiros
filósofos burgueses impregnavam o mundo de significações: tudo era submetido a uma
racionalidade, porque tudo era destinado ao homem; a ideologia burguesa é cientificista ou
intuitiva, constata o fato ou reconhece o seu valor, mas recusa a explicação: a ordem do
mundo é suficiente ou inefável, nunca significativa (BARTHES, 2003, p. 233).
Esta transformação da “realidade do mundo em imagem do mundo, a História em Natureza”
à qual Barthes se refere, parece ser um ponto central na teoria elaborada por Jacques Rancière,
em que a política aparece contíguo aos regimes de visibilidade, da Estética. O filósofo entende
que o regime do sensível, do comum, não é algo dado, mas uma partilha em disputa, onde o
dissenso pode tomar lugar e enunciar uma nova forma de visibilidade que não tem parte.
É isso o que chamo dissenso: não um conflito de pontos de vista nem mesmo um conflito
pelo reconhecimento, mas um conflito sobre a constituição mesma do mundo comum, sobre
o que nele se vê e se ouve, sobre os títulos dos que nele falam para ser ouvidos e sobre a
visibilidade dos objetos que nele são designados (...). Assim pode se explicar, no meu
entender, a racionalidade da ação política. Ela é a ação que constrói esses mundos
litigiosos, esses mundos paradoxais em que se revelam juntos dois recortes do mundo
sensível (RANCIÈRE, 1996, p. 374).
6
“Uma matter of concern é o que acontece a uma matter of fact quando você adicionar a ela toda a sua
cenografia, como deslocar a sua atenção do palco para toda a maquinaria de um teatro (...) matters of fact
eram indiscutíveis, obstinadas, simplesmente lá; matters of concern são discutíveis, e sua obstinação
parece ser de um tipo totalmente diferente: elas se movem, elas te levam para longe, e, sim, elas também
importam” (LATOUR, 2008, p. 39, tradução minha).
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
39
Tudo aquilo que entendemos por política Rancière prefere chamar de polícia, ou seja, o
“conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades,
a organização dos pobres e a gestão das populações, a distribuição dos lugares e das funções dos
sistemas de legitimação dessa distribuição” (Idem, p.372). Mas polícia não se restringe às
formas de governamentalidade. Ela inclui todos os vetores que operam uma continuidade na
ordem do sensível, tudo o que contribui para que se mantenha aquilo que tomamos como dado
de realidade. Neste sentido, o próprio discurso da ciência moderna, que postula a neutralidade
do objeto e ignora que o sujeito nele projeta suas concepções históricas e sociais de mundo, atua
como polícia.
Já a noção de política para Rancière é muito mais restrita e caracteriza o
conjunto das atividades que vêm perturbar a ordem da polícia pela inscrição de uma
pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa pressuposição é a igualdade de
qualquer ser falante com qualquer outro ser falante. Essa igualdade, como vimos, não se
inscreve diretamente na ordem social. Manifesta-se apenas pelo dissenso, no sentido mais
originário do termo: uma perturbação no sensível, uma modificação singular do que é
visível, dizível, contável (...). Antes de ser um conflito de classes ou de partidos, a política é
um conflito sobre a configuração do mundo sensível na qual podem aparecer atores e
objetos desses conflitos (RANCIÈRE, 1996, p. 372).
Desta forma, o filósofo enuncia que as formas de resistência ou perturbação da ordem podem
ser realizadas pelos sujeitos políticos através da sobreposição de diferentes regimes sensíveis. O
pensamento de Rancière pode ser valioso para a construção de um design político ao
desnaturalizar a constituição do tecido sensível, aquilo que gere e possibilita um mundo comum,
abrindo a possibilidade de interferências e deslocamentos pelos sujeitos que fazem parte desta
partilha. É justamente aí que a fórmula modernista para a atuação política do design mostra sua
impotência, pois para ela a configuração material do objeto acompanhava sua função, algo dado,
da ordem de uma Verdade, portanto neutra. A política lhe era um dado externo, macropolítico,
decorrente da reconfiguração social que a produção em série poderia possibilitar, mas que nunca
se verificou. Enquanto isso, os processos de design não eram concebidos de modo a repensarem
a política que as próprias configurações formais implicam. Tampouco questionam as bases
epistemológicas que fazem do design uma matéria intrinsecamente verdadeira. Afinal, cada
escolha estética já está imbuída de uma continuidade ou ruptura na ordem sensível e é inegável
que o design tenha um lugar privilegiado na constituição desta partilha, como o próprio autor
coloca:
O que me interessa é o modo como, traçando linhas, dispondo palavras ou repartindo
superfícies, desenham-se também partilhas do espaço comum. A maneira como, reunindo
palavras ou formas, definem-se não só formas de arte mas ainda certas configurações do
visível e do pensável, certas formas de habitação do mundo sensível. Essas configurações
são ao mesmo tempo simbólicas e materiais, atravessam as fronteiras entre as artes, os
gêneros e as épocas (RANCIÈRE, 2012, p. 101).
4. Estética e subjetividade
Cabe aqui uma ressalva. Se poderíamos afirmar que todas as práticas de design são políticas,
uma vez que empreendem articulações materiais (KESHAVARZ, 2015), os pressupostos
teóricos de Jacques Rancière nos permitem diferenciar aquelas que estabelecem relações de
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
40
continuidade ou ruptura com a partilha do sensível, agindo de forma policialesca ou política.
Eles se estabelecem, portanto, como uma ferramenta conceitual importante. Mas só é possível
traçar esta relação estreita entre a estética e a política em um período histórico que o filósofo
denomina por “regime estético das artes”. Este momento é marcado por aquilo e que Terry
Eagleton chama de “ideologia da estética”, isto é, a dimensão acentuadamente política que a
estética assume e que a consolida como “protótipo secreto da subjetividade na sociedade
capitalista incipiente” (EAGLETON, 1993, p. 13).
Tanto os fundamentos da disciplina estética em gênese7, quanto o cerne do pensamento
político burguês são baseados em vetores ao mesmo tempo individualizantes e coletivos,
estando intimamente imbricados aos princípios de liberdade e individualidade da ética burguesa.
Mas se por um lado o nascimento do design enquanto disciplina está intrinsecamente ligado ao
crescimento da produção industrial, as configurações subjetivas burguesas também participam
de suas condições de possibilidade. Embebido desta ideologia da estética, o designer se
especializa em projetar objetos de desejo, configurações palpáveis que materializem as
representações que os indivíduos almejam para si mesmos.
Assim, ainda que de forma inconsciente, o designer passa a dar forma aos anseios simbólicos
de uma sociedade pautada pelas posses materiais, e por isso é difícil dissociar a atividade do
designer de um pensamento estético oriundo dos modos burgueses de subjetividade. Mas se o
indivíduo procura no consumo de objetos uma forma de expressão dos seus anseios subjetivos,
o design não trabalha apenas na representação e materialização destes vetores que se encontram
suspensos no imaginário social. Ele participa da conformação destas possibilidades de expressão
íntima dos sujeitos. É instaurada uma ambiguidade entre a expressão de um certo estado de
coisas instituído e sua reprodução e materialização, de modo que fica difícil saber se é a
sociedade que impõe ao design seus anseios, ou se é ele que apresenta as possibilidades daquilo
que se pode ansiar. Não por acaso alguns teóricos explicitem o caráter apaziguador do design,
que majoritariamente suscita uma continuação do status quo.
5. Design como sutura
Façamos uma pequena digressão para entender de que forma a vocação do design para
fundar imaginários, criar e alimentar arquétipos, rituais, identidades e explorar fantasias,
geralmente usada a serviço do mercado, pode servir como importante artifício político. A
serviço do mercado, o design se tornou uma ferramenta poderosa de marketing para a venda de
produtos industriais.
O design é a linguagem que uma sociedade usa para criar objetos que reflitam seus
objetivos e seus valores. Pode ser usado de formas manipuladoras e mal-intencionadas, ou
criativas e ponderadas. O design é a linguagem que ajuda a definir, ou talvez a sinalizar,
valor (SUDJIC, 2010, p.49).
7
Ainda que a Estética já existisse na filosofia grega, é apenas com os ideais iluministas que ela se coloca
enquanto ciência e nos termos de uma autonomia das obras e dos sujeitos, muito próximo aos ideais
democráticos. O juízo de gosto também é um elemento central da Estética burguesa. Como mito fundador
podemos citar o livro Meditações Filosóficas Sobre as Questões da Obra Poética, escrita pelo filósofo
Gottlieb Baumgarten em 1735.
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
41
O historiador inglês Adrian Forty (2007) explicita de que forma o design se alimenta de toda
uma sorte de mitos, estas resoluções reconfortantes de “contradições perturbadoras que surgem
entre as crenças das pessoas e suas experiências cotidianas” (Idem). Mas ao contrário da mídia
efêmera, escrutinada por Barthes em Mitologias, o design tem “a capacidade de moldar os mitos
numa forma sólida, tangível e duradoura, de tal modo que parecem ser a própria realidade”
(Ibidem). Sudjic (2010) tem um entendimento semelhante do caráter associativo do design:
Os arquétipos podem proporcionar associações assim como o gatilho o faz. Mas também
podem oferecer o conforto menos específico de uma lembrança, e as complexas atrações de
uma ideia de familiaridade. Trabalhando dentro de uma estrutura de arquétipos, é possível
levar alguma profundidade psicológica e emocional para o design de objetos. Mesmo que
os objetos que possuímos não envelheçam bem, e estejamos continuamente os substituindo,
os designs que evocam arquétipos dão uma ideia consoladora de continuidade. Introduzem
uma história pronta para o objeto (Idem, p. 76).
Ou, como afirma Bomfim (1997) de forma mais assertiva:
O design seria, antes de tudo, instrumento para a materialização e perpetuação de
ideologias, de valores predominantes em uma sociedade, ou seja, o designer,
conscientemente ou não, re-produziria realidades e moldaria indivíduos por intermédio dos
objetos que configura, embora poucos aceitem essa faceta mimética de sua atividade (p.
32).
Nas palavras de Fuad-Luke, “ao dar forma às normas sócio-políticas e sócio-econômicas
dominantes, o design confere simultaneamente significado e valores, e afirma o paradigma
dominante. A contenção de um paradigma dominante pressupõe a existência de uma contra-
narrativa” (FUAD-LUKE, 2009, p. 36). Desta forma, o design predominantemente participa das
dinâmicas que Rancière chamaria de polícia, pois realiza suturas no imaginário, conforta as
contradições entre as crenças e as experiências, e promove uma ideia consoladora de
continuidade, organizando a distribuição do sensível em seus lugares pré-definidos. Não é
objetivo das manifestações corriqueiras do design operar dissensos e redistribuições de ordem
estética.
6. Design como ficção
Deste momento em diante a proposta do presente artigo é a de articular, de forma
desorganizada e inacabada, possibilidades para um design-político ao avesso das suturas de
práticas corriqueiras e irrefletidas do design apontadas por Forty, Sudjic, Bomfim e Fuad-Luke.
Em um primeiro momento tendemos a sugerir que o design-político deve gerar rupturas, mas
não as mesmas que o modernismo propunha, entretanto. Enquanto estas tinham um cunho
revolucionário, reformador, estrutural, o design-político deve engendrar rupturas cirúrgicas,
sobre o fino tecido de uma microfísica do poder. Mas de que forma as vocações do design para
operar dentro dos mitos e imaginários podem ser usadas para, se não desconstruí-los, ao menos
questioná-los? Como o design pode produzir afetos outros, capazes de reorganizar uma
distribuição do sensível e produzir dissensos?
Certamente podemos tomar como ponto de partida a ruptura com o ideal de Verdade que
preside as práticas de design, levando consigo os imperativos de uma funcionalidade unívoca de
seus produtos e do profundo “desejo de linguagem” que elas tanto encarnam. Da mesma forma
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
42
como Barthes defendia que a literatura é “absolutamente, categoricamente realista: ela é a
realidade, isto é, o próprio fulgor do real” (BARTHES, 2004, p. 18), talvez o design também
precise se basear sobre suas ficções, de assumir abertamente a performance do designer, em
seus desejos e vontades imperiosas, aporéticas, que dispensam qualquer necessidade de
racionalizá-las.
Algo que se assemelhe às propostas de Peter Eisenman (2008), cuja potência reflexiva
corroborou em poderosos trabalhos que levam a arquitetura para outros lugares. É ele mesmo
que propõe uma arquitetura como “dissimulação”, que ao contrário das “simulações”
modernistas, está ciente do seu teor ficcional. As obras de Eisenman secretam uma potência
política, sem lidar com ela de forma panfletária, mas justamente operando na reorganização dos
lugares do sensível. Arquiteto com uma reflexão crítica impressionante, ele é capaz de
refuncionalizar os projetos de arquitetura, pensando seus processos desde suas bases
epistemológicas.
Descolando o design da ideia de Verdade seria possível criar um design ficcional, que
prescindisse da resolução de problemas, mas que colocasse problemas irresolutos, sempre
revisitáveis, inesgotáveis, dissensuais. Esta ideia é abordada por Haldrup et al (2015),
sustentando que o design teria uma potência especulativa que precisa ser mais explorada.
Segundo os autores:
Deslizando de um paradigma voltado para a solução de problemas a um paradigma onde
podemos começar a repensar as normas fundamentais que sustentam nossa sociedade, o
design nos ajuda a estimular e facilitar nossas imaginações. “Os melhores casos de design
especulativo fazem mais do que comunicar, eles sugerem possíveis usos, interações e
comportamentos, nem sempre óbvios em uma rápida olhada”, Dunne e Raby [2013]
discutem. O que eles apresentam em seu livro (...) é a mudança do design enquanto uma
ideia conceitual para uma multidão de protótipos que exploram o conceito global,
substituindo a pergunta “como?” por “e se?” (HALDRUP et al, 2015, p. 2, tradução minha).
A vocação do design estaria, portanto, em sua capacidade de construir múltiplas
possibilidades de um futuro real, micro-utopias de futuros desejáveis. Esta noção de utopias
prototípicas sugere que elas sejam feitas no mundo, não além dele, como seriam os projetos
utópicos metafísicos dos modernos, de modo a apontar possíveis direções diferentes da atual. Os
autores defendem a criação de “mundos futuros dentro do mundo existente”, que apontariam
para uma ideia de realidade assincrônica, em que o presente está permeado de possíveis futuros.
Se para Rancière (1996) a política podia se manifestar no tempo e no espaço, talvez esta seja a
possibilidade de uma ação que se afirma nas duas dimensões.
Haldrup et al apresentam uma noção de ruptura que parece em consonância com as ideias
apresentadas anteriormente:
Remixar utopia exige engajamentos de ordem material, intervenções e interrupções, a fim
de explorar perspectivas plausíveis, preferíveis ou (im)possíveis. O designer como ativista.
(Des)organizador. Inventor. Subversivo. Catalisador. Trapaceiro. Bloqueador. Sirene. (...) E
se nós repensarmos o design como um ruído na comunicação propagando ideias de um
futuro desejável? (...) E se imaginarmos o designer como um ativista dos espaços,
perturbando e transformando a estreita relação entre o desenvolvimento econômico das
cidades e o urbanismo, orquestrando processos (HALDRUP et al, 2015, p. 4, tradução
minha).
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
43
Entretanto, a concepção destas práticas ficcionais de design não significa apenas uma
contraposição dialética ao design como Verdade, seu teor político está em tornar possível que
múltiplos significados e afetos emerjam do embate com o sujeito ativo, pois o objeto não
encerra em si todas as possibilidades de sentido. É justamente deste embate que proliferam
sujeitos, e o design assume e toma as rédeas dos modos de subjetivação que é capaz de
engendrar. Estes dispositivos de subjetivação, por sua vez, performam deslocamentos sensíveis
mínimos, trabalhando em nível micropolítico. Afinal, como afirma Jacques Rancière, “a política
é assunto de sujeitos, ou melhor, modos de subjetivação. Por subjetivação vamos entender a
produção, por uma série de atos, de uma instância e de uma capacidade de enunciação que não
eram identificáveis num campo de experiência dado” (RANCIERE, 1996b, p. 47). Aqui o
designer toma as rédeas dos meios de produção e passa a atuar de forma consciente de sua
potência de produzir afetos, mas sem almejar controle sobre aquilo que está sendo gerado no
outro. Talvez esse designer político tenha que encarnar a figura do Prometeu Cauteloso, trazida
por Latour.
Considerações finais
Ao final, vemos que os aspectos políticos relativos ao design não podem ser tomados de
forma simplista, mas devem habitar o âmago de seus processos e modos produtivos. Esta é uma
questão complexa e vem sendo largamente discutida no meio da arte, em teorizações sobre seus
aspectos estético-políticos. Contudo, talvez por constituir um campo teórico muito recente, o
pensamento sobre estas dimensões no âmbito do design ainda é pouco explorado, embora a
importância da estética na constituição dos objetos seja um dado consensual. Dada a
complexidade dos tentáculos microfísicos do poder, toda a questão se torna ainda mais difícil.
Ao acreditar estarem realizando um design social ou um engajado com altíssimo valor político,
muitos designers não se dão conta de estarem reproduzindo outros mecanismos de dominação e
contribuindo para a máquina biopolítica.
Por outro lado, é importante compreender que é inviável exigir uma efetividade facilmente
esboçada em índices quantitativos ou mudanças sociais claras advindas de uma política da
estética. Sua atuação é micropolítica e subjetiva, ela está envolvida nos aspectos ligados aos
sujeitos. Entretanto, Felix Guattari nos ensina que exsite uma relação dialógica que une micro e
macropolítica. Não é apenas um regime político que impõe uma certa conformação subjetiva
para se manter no poder, mas ele depende de um determinado arranjo subjetivo para se
perpetuar (GUATTARI & ROLNIK, 1986). Ainda que de forma bastante confusa, pouco
unívoca e lenta, operações micropolíticas podem suscitar mudanças a nível macropolítico.
Mas se é bem simples compreender de que forma o design atua nos sujeitos enquanto
polícia, porque não somos capazes de tão facilmente deduzir dele uma atuação política? Se a
arte em seu regime estético é intrinsecamente política, poderíamos afirmar o design como
campo eminentemente policialesco? Como o design pode engendrar afetos que não estejam
restritos a uma intencionalidade unívoca, mas que abriguem uma multiplicidade de possíveis
sentidos e interpretações? É difícil responder se o meio do design já enforma as possibilidades
de recepção pelos sujeitos, destinando-o definitivamente ao devir policialesco. Basta lembrar de
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
44
exemplos banais, como os ready mades duchampianos: o que determina a abertura de potências
é o deslocamento do objeto da banalidade do uso comum para o meio da arte. Ou se a
refuncionalização do design admite que ele atue no palco da política.
Vemos filósofos importantes se interessando pelo design, tais como Bruno Latour e Jacques
Rancière, algo que pode arejar e renovar as teorias do design ao trazer visões externas com
embasamento filosófico mais sólido. Entendidas a teoria e a prática do design em suas
recíprocas relações de intercâmbio, talvez seja importante que teorias de fora deste campo
venham a informar a prática de designers. Para além de sua possibilidade de aplicação, o
questionamento do que é um design político pode trazer uma importante reflexão sobre alguns
procedimentos epistemológicos de suas práticas que parecem por vezes naturalizados,
cristalizados e imutáveis.
Não que seja o objetivo deste artigo mudar radicalmente aspectos de ordem epistemológicas
que acompanham o design há mais de um século, isto seria um desejo utópico. Se o presente
artigo se constrói mais como uma estrutura de ausências, cuja saída da ficção como
possibilidade política do design pareça uma resposta ainda incipiente e pouco satisfatória, ao
menos ele abre espaço para que sejam pensadas novas linhas de fuga. E é justamente o que se
espera daqueles que o leem, que sejam afetados. A ideia de um design político trazido aqui deve
ser tomada como um objeto que se subverte ao praticá-lo.
Terminamos com uma frase de Michel Foucault, sobre o papel do intelectual:
O papel do intelectual não é mais o de se colocar "um pouco na frente ou um pouco de
lado" para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra as formas de poder
exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na ordem do saber, da
"verdade", da "consciência", do discurso.
E por isso que a teoria não expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática; ela é uma
prática. Mas local e regional, como você diz: não totalizadora. Luta contra o poder, luta
para fazê−lo aparecer e feri−lo onde ele é mais invisível e mais insidioso. Luta não para
uma "tomada de consciência" (há muito tempo que a consciência como saber está adquirida
pelas massas e que a consciência como sujeito está adquirida, está ocupada pela burguesia),
mas para a destruição progressiva e a tomada do poder ao lado de todos aqueles que lutam
por ela, e não na retaguarda, para esclarecê−los. Uma "teoria" é o sistema regional desta
luta (FOUCAULT, 1989, p. 71).
Referências
BARTHES, Roland. Aula: aula inaugural da Cadeira de Semiologia Literária do Colégio de
França. São Paulo: Cultrix, 2004.
Mitologias. Rio de Janeiro: Difel, 2003.
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas, Vol. 1 - Magia e Técnica, Arte e Política. São
Paulo: Brasiliense, 1994.
BOMFIM, Gustavo Amarante. Fundamentos de uma Teoria Transdisciplinar do Design:
morfologia dos objetos de uso e sistemas de comunicação. In: Estudos em Design, Volume
5, n 2, dez 1997. p. 27-41.
CROSS, Nigel. Designerly Ways of Knowing. London: Springer, 2006.
DISALVO, Carl. Adversarial design. Cambridge: MIT Press, 2012.
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
45
EAGLETON, Terry. A Ideologia da estética. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1993.
EISENMAN, Peter. “O fim do clássico: o fim do começo, o fim do fim”. In: NESBITT,
Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura - antologia teórica (1965-1995). São Paulo:
Cosac Naify, 2008.
“O pós-funcionalismo”. In: NESBITT, K (Org.). Uma nova agenda
para a arquitetura - antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2008.
FORTY, Adrien. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac &
Naify, 2007.
FOUCAULT, Michel & MACHADO, Roberto (org). Microfísica do Poder. Rio de Janeiro:
Graal, 1989.
FUAD-LUKE, Alastair. Design activism: beautiful strangeness for a sustainable world.
London: Earthscan, 2009.
GREENBERG, Clement. Pintura Modernista. In: Glória Ferreira e Cecília Cotrim (orgs) -
Clement Greenberg e o Debate Crítico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997
GUATTARI, Felix & ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis:
Vozes, 1986.
HALDRUP, Michael et. al., Remix Utopia: Eleven Propositions in Design and Social
Fantasy. Nordes 2015: Design Ecologies. Nordic Design Research, n.6, 2015.
KESHAVARZ, Mahmoud, Design-Politics Nexus: material articulations and modes of
acting. Nordes 2015: Design Ecologies. Nordic Design Research, n.6, 2015.
LATOUR, Bruno. Um Prometeu cauteloso? alguns passos rumo a uma filosofia do design
(com especial atenção a Peter Slotedijk). Agitprop: revista brasileira de design, São Paulo, v.
6, n. 58, jul./ago. 2014.
What Is the Style of Matters of Concern? Two Lectures in Empirical
Philosophy. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2008.
RANCIÈRE, Jacques. O dissenso. In: NOVAES, Adauto (Org.). A crise da razão. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996.
. O Desentendimento: política e filosofia. Sao Paulo: Ed. 34, 1996b.
. O Destino das Imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
SUDJIC, Deyan. A linguagem das coisas. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.
THORPE, Anne. Defining Design as Activism. Artigo submetido ao Journal of
Architectural Education, 2011.
Sobre os autores
Denise Berruezo Portinari
Psicanalista, Doutora em Psicologia Clínica (PUC-Rio, 1998), Graduação e Mestrado em
Psicologia (PUC-Rio, 1987), docente nos cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu
do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio. Líder do Grupo Barthes de pesquisas em
corpo e gênero, sexualidade e formas de subjetivação.
denisep@puc-rio.br
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
46
Pedro Caetano Eboli Nogueira
É formado em Desenho Industrial – Projeto de Produto pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (2009-2014) e cursa o mestrado em Design e Sociedade da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (2015-2017).
pceboli@gmail.com
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 24 | n. 3 [2016], p. 32 – 46 | ISSN 1983-196X
Você também pode gostar
- Trilha Estratégica CNU BLOCO 7Documento39 páginasTrilha Estratégica CNU BLOCO 7Adriana SouzaAinda não há avaliações
- PI - Aula 1Documento16 páginasPI - Aula 1Ruth NogueiraAinda não há avaliações
- SamaelAunWeor O Livro Da Morte EDISAWDocumento140 páginasSamaelAunWeor O Livro Da Morte EDISAWAnonymous hhRXsJS43z100% (1)
- Atividade 2 - Engenharia Do Produto - 512024Documento9 páginasAtividade 2 - Engenharia Do Produto - 512024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações
- GamagrafiaDocumento81 páginasGamagrafiaBruniAinda não há avaliações
- ÉTICA - ARTIGO - Um Olhar Moraniano Sobre A Educação Do Século XXIDocumento5 páginasÉTICA - ARTIGO - Um Olhar Moraniano Sobre A Educação Do Século XXIzlma225100% (1)
- A Pratica de Leitura Coletanea de Materi PDFDocumento84 páginasA Pratica de Leitura Coletanea de Materi PDFLeandro VieiraAinda não há avaliações
- Carlos KaterDocumento4 páginasCarlos KaterLuziane Dos SantosAinda não há avaliações
- Relatório Final Estágio - 10.12Documento17 páginasRelatório Final Estágio - 10.12carlastumm0% (1)
- Tempos Dificeis No Olimpo - Jan Val EllamDocumento174 páginasTempos Dificeis No Olimpo - Jan Val EllamJoãozinho Severo100% (2)
- 11 Manual de Utilização MyfleetDocumento61 páginas11 Manual de Utilização MyfleetEduardo UlissesAinda não há avaliações
- Selvagem Doc 2Documento36 páginasSelvagem Doc 2Susy SilvaAinda não há avaliações
- Teoria Cognitiva Do Amor - Luiz Antonio - IBH Outubro 2014Documento27 páginasTeoria Cognitiva Do Amor - Luiz Antonio - IBH Outubro 2014MagnoMendesAinda não há avaliações
- Distinguir Descrição de AvaliaçãoDocumento4 páginasDistinguir Descrição de Avaliaçãoclaudalmendra6388Ainda não há avaliações
- Ancestralidade e Encantamento - Por Uma Outra Epistemologia Do EducarDocumento13 páginasAncestralidade e Encantamento - Por Uma Outra Epistemologia Do EducarJhonata Costa SilvaAinda não há avaliações
- Prefeitura Edital 25028Documento10 páginasPrefeitura Edital 25028Gilvan CarlosAinda não há avaliações
- Ms Rdlo Rdlo V A1387 8pDocumento21 páginasMs Rdlo Rdlo V A1387 8prodolfonejur100% (1)
- Aventura Pixie TroubleDocumento4 páginasAventura Pixie TroubleRomulo PaulinoAinda não há avaliações
- 14 - Florais Do HawaiiDocumento3 páginas14 - Florais Do HawaiiMarcos MartiniAinda não há avaliações
- Contos Da ProvinciaDocumento678 páginasContos Da ProvinciaTina SilvaAinda não há avaliações
- Os Relatos JornalísticosDocumento13 páginasOs Relatos JornalísticosMariana AraújoAinda não há avaliações
- IdheaDocumento158 páginasIdheaMICAEL MJAinda não há avaliações
- William Somerset Maugham Meu Diário de GuerraDocumento105 páginasWilliam Somerset Maugham Meu Diário de Guerratenho que comentaAinda não há avaliações
- 2012 Ed.77 - Capacidade Operacional de Colhedoras de Cana-de-Açúcar - Modelagem Matemática em Função Da Produtividade Agrícola e Da Vida Da Máquina PDFDocumento4 páginas2012 Ed.77 - Capacidade Operacional de Colhedoras de Cana-de-Açúcar - Modelagem Matemática em Função Da Produtividade Agrícola e Da Vida Da Máquina PDFnatanaellcarvalhoAinda não há avaliações
- Relatório de Procedimento-De-Analise-De-Acidentes-E-IncidentesDocumento32 páginasRelatório de Procedimento-De-Analise-De-Acidentes-E-IncidentesAlfredo Luiz Costa100% (1)
- Como Mapear A Prova Da EtecDocumento9 páginasComo Mapear A Prova Da EtecJuju AndradeAinda não há avaliações
- Ft7analise Graficos-1 PDFDocumento2 páginasFt7analise Graficos-1 PDFElisabete GarciaAinda não há avaliações
- Lei Do Caminhão de LixoDocumento6 páginasLei Do Caminhão de LixoPsi Paula VianaAinda não há avaliações
- Teste Felicidade ClandestinaDocumento6 páginasTeste Felicidade Clandestinamonicapatmelo67% (3)
- Tekken 4 - Os SecretosDocumento7 páginasTekken 4 - Os SecretosIgor Delano dos Santos CardosoAinda não há avaliações