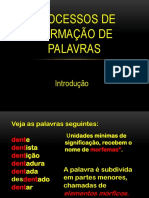Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Filologia E Suas Diferentes Formas
A Filologia E Suas Diferentes Formas
Enviado por
As AmefrikanasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Filologia E Suas Diferentes Formas
A Filologia E Suas Diferentes Formas
Enviado por
As AmefrikanasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A FILOLOGIA E SUAS DIFERENTES FORMAS
A filologia é o conjunto das atividades que se ocupam metodicamente da linguagem do homem e
das obras de arte compostas nesta linguagem. Como é uma ciência muito antiga e a linguagem pode
ser tratada de muitas formas diferentes, a palavra filologia tem um sentido muito amplo e compreende
muitas atividades diversas. Uma de suas formas mais antigas, a forma, por assim dizer, clássica e que,
até agora, é vista por alguns eruditos como a mais nobre e a mais autêntica é a edição crítica de textos.
A necessidade de constituir textos autênticos se faz sentir quando um povo de uma alta
civilização toma consciência dessa civilização e quer preservar dos estragos do tempo as obras que
constituem seu patrimônio espiritual; salvá-las, não somente do esquecimento mas também de
modificações, mutilações, acréscimos e adições ocasionadas, fatalmente pelo uso popular, ou pelo
descuido dos copistas. Essa necessidade já se fez sentir na época helenística da Antigüidade grega, no
século III A . C., quando eruditos, que tinham seus centros de atividade em Alexandria redigiram os da
antiga poesia grega, principalmente Homero, sob uma forma definitiva. Desde então, a tradição da
edição de textos antigos existiram durante toda a Antigüidade; teve grande importância quando se
tratou de constituir os textos sacros do Cristianismo.
Nos tempos modernos, a edição de textos é uma criação da Renascença, quer dizer, dos séculos
XV e XVI. Sabe-se que, nessa época, o interesse pela Antigüidade greco-latina renasceu na Europa, se
bem que nunca tenha deixado totalmente de existir. Não obstante, antes da Renascença, não se
trabalhava sobre os textos originais dos grandes autores, mas antes, sobre remanejamentos e
adaptações secundárias. Por exemplo, não se conhecia o texto de Homero; possuía-se a história de
Tróia, nas redações da Baixa Idade Média, que não passavam de novas epopéias adaptadas, mais ou
menos ingenuamente, às necessidades e aos costumes da época. Quanto aos preceitos da arte literária e
do estilo poético, não eram estudados nos autores da Antigüidade Clássica, que estavam quase
esquecidos, mas no manuais de uma época posterior, seja da Baixa Antigüidade, seja da própria Idade
Média e que davam apenas um pálido reflexo do esplendor da cultura greco-romana.
Por diferentes razões, esse estado de coisas começou a mudar na Itália, a partir do século XIV.
Dante ( 1265-1321 ) recomendava o estudo dos autores da Antigüidade Clássica a todos que desejavam
escrever, em sua língua materna, obras de estilo elevado. Na geração seguinte, o movimento se tornou
geral entre os poetas e os eruditos italianos; Petrarca ( 1304-1374 ) e Boccacio ( 1313-1375 )
constituem já o tipo do escritor artista, esse tipo que se chama humanista; pouco a pouco, o movimento
ultrapassou os Alpes e o humanismo europeu teve seu apogeu no século XVI.
O esforço dos humanistas tendia a estudar e a imitar os autores da Antigüidade Greco-latina e a
escrever num estilo semelhante ao deles, quer em Latim, que era a língua dos eruditos, quer em sua
língua materna, que eles querem enriquecer, ornar e modelar para que ela fosse tão bela e tão própria a
enunciar os altos pensamentos, como o foram as línguas antigas. Para atingir esse fim, seria necessário
possuir esses textos antigos, que se admiravam tanto e possuí-los na forma autêntica. Os manuscritos
escritos na Antigüidade tinham quase todos desaparecido nas guerras, catástrofes, negligências, e
esquecimento; restavam, apenas, cópias, devidas, na maioria dos casos, a monges, e dispersos por
bibliotecas dos conventos; elas estavam, muitas vezes incompletas, sempre inexatas, algumas vezes
mutiladas e fragmentárias. Muitas obras, então célebres, perderam-se para sempre; outras só
sobreviveram em fragmentos; não há praticamente autor da Antigüidade cuja obra inteira tenha
chegado a nós e muitos livros antigos só existem em uma única cópia, muita vezes, incompleta. A
tarefa que se impunha aos humanistas era, primeiramente encontrar os manuscritos que ainda
existissem, em seguida compará-los e tentar extrair a redação autêntica do autor. Era uma tarefa muito
difícil. Alguns manuscritos foram localizados pelos colecionadores, outros perderam-se. Séculos
transcorreram até que se reunisse tudo que existia. Um grande número de documentos só foi
descoberto muito mais tarde, nos séculos XVIII e XIX e nos chamados Papirus do Egipto, que, ainda
recentemente enriqueceram nosso conhecimento dos textos, sobretudo na Literatura Grega. Em
seguida, foi necessário comparar e julgar o valor dos manuscritos. Eram, quase todos, cópias de cópias
feitas sobre cópias e essas já tinham sido escrita numa época em que a tradição já estava muito
obscurecida. Muitos erros foram introduzidos nos textos; alguns copistas não sabiam ler bem a
escritura de seu modelo, anterior, às vezes, de vários séculos. Há troca de palavras, mudanças de
posição e modificações arbitrárias. por falta de correto entendimento; os manuscritos podem também
ser alterados por censura, gastos pelo tempo e pelos vermes. A partir dos humanistas, um método
rigoroso de reconstituição foi estabelecido. Hoje em dia, é possível fotografar os textos, o que evita
novos lapsos. Quando o filólogo tem, diante de si, várias versões do mesmo manuscrito, é preciso
compará-las, por um método preestabelecido. O trabalho do filólogo é o de um genealogista. É preciso
estabelecer o ancestral, ou arquétipo do manuscrito em questão. Estabelece-se a edição crítica que
deve mencionar as variantes. As lacunas podem ser reconstituídas pela lógica, com a devida indicação.
Há manuscritos em papel, pergaminho, madeira etc. Naturalmente, as obras escritas antes da invenção
da imprensa apresentam maiores dificuldades. Para as obras antigas, muitas vezes é necessário
conhecer uma língua morta, ou uma forma muito antiga de uma língua viva. No caso de haver várias
edições, a melhor é a última em vida do autor. Há também casos de manuscritos a que o autor não deu
importância: cartas, esboços, tudo que por qualquer motivo não foi publicado, às vezes sem qualquer
revisão do autor. Principalmente no caso de texto teatral, muita vezes o autor era também ator e
diretor, introduzindo modificações a cada apresentação.
O editor, isto é, o transmissor de textos, tem necessidade do auxílio de várias outras ciências,
como: paleografia, lingüística, gramática, direito, história, teologia etc.
A filologia germânica, praticada por Grimm, e a filologia românica de Diez e seus discípulos
eram, basicamente edições e comentários de textos antigos, com base em textos literários. Essa
situação modificou-se por diversas razões:
1) O Positivismo e o Evolucionismo, que quiseram fazer do estudo da linguagem uma ciência exata.
2) O espírito democrático e socialista, combatendo o aristocracismo literário, interessou-se pela língua
do povo e tendia a explicar os fenômenos lingüísticos pela sociologia.
3) O nacionalismo de pequenos povos que, querendo cultivar sua tradição nacional, dedicavam-se ao
estudo de sua língua, valorizando-as.
4) Enfim, o impressionismo que se dedicou a compreender a linguagem como criação individual, como
expressão da alma humana.
Numa fase mais recente, temos:
_ um estudo sistemático, estático e descritivo, na Escola Genebrina de Ferdinand de Saussure;
_ a escola dita idealista, de Vossler, inspirado pela estética de Croce, que considerava a fala e não a
língua, considerada do ponto de vista histórico; houve dificuldades em encontrar um método claro e
uma terminologia exata;
_ o estudo dos dialetos iniciado na França por Gilliéron tem também uma concepção dinâmica da
linguagem, com inspiração na biologia e, por outro lado, no estudo geográfico combinado das palavras
com os objetos que elas designam; esse estudo deu contribuições valiosas para o estudo da história dos
povos sua agricultura, seus ofícios etc.
A BIBLIOGRAFIA E A BIOGRAFIA
A bibliografia, utensílio indispensável da ciência literária, lista autores com suas obras, e os lista
da maneira mais sistemática possível. A bibliografia de um autor deve conter, primeiramente, a lista de
suas obras autênticas, com todas as edições que delas foram feitas; a seguir, as obras duvidosas, que
lhe são atribuídas; também os estudos de outros autores que lhe são consagrados. Se há manuscritos, é
necessário assinalar onde os manuscritos se encontram. Enfim, todos as indicações suplementares que
variam de acordo com o caso.
A biografia é, como a bibliografia, uma ciência auxiliar da filologia. A biografia contém, na
maioria dos casos, informações bibliográficas. De uma coletânea de biografias pode-se obter uma
verdadeira história da literatura.
Leia mais:
AUERBACH, Erich. Introdução aos estudos literários. S. Paulo: Cultrix, 1972.
BASSETO, Bruno. Filologia Românica. S. Paulo: EDUSP, 2000.
CÂMARA Jr. J. M. História e estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1980.
MELO, G. C. de. Iniciação à filologia e à lingüística portuguesa. Rio: Ao Livro Técnico, 1997.
MIAZZI, M. L. Introdução à lingüística românica. S. Paulo: Cultrix, 1976.
WALTER, H. A aventura das línguas no ocidente. S. Paulo: Mandarin, 1997.
Você também pode gostar
- Semiotica e Midia EbookDocumento257 páginasSemiotica e Midia Ebookpati4c80% (5)
- Tudo Que Tenho Do FrancêsDocumento5 páginasTudo Que Tenho Do FrancêsTiago MedeirosAinda não há avaliações
- Estrutura e Formacao de PalavrasDocumento8 páginasEstrutura e Formacao de PalavrasAnderson RangelAinda não há avaliações
- Casos Gramaticais e DeclinaçãoDocumento5 páginasCasos Gramaticais e Declinaçãoolive22100% (1)
- Tempos Verbais - Modo IndicativoDocumento1 páginaTempos Verbais - Modo IndicativoJoyceAinda não há avaliações
- ATIVIDADE Estrutura e Formacao de PalavrasDocumento4 páginasATIVIDADE Estrutura e Formacao de PalavrasBanda ChikanakamaAinda não há avaliações
- Fonemas e LetrasDocumento8 páginasFonemas e LetrasValdirene MoreiraAinda não há avaliações
- GRamática 12Documento14 páginasGRamática 12Natasha RamosAinda não há avaliações
- Ditongo-Tritongp e HiatoDocumento6 páginasDitongo-Tritongp e HiatoAna Cristina SouzaAinda não há avaliações
- Exercicios FoneticaDocumento6 páginasExercicios FoneticamrcmauricioAinda não há avaliações
- Separação Silabica - ExercícioDocumento3 páginasSeparação Silabica - ExercícioRaíAinda não há avaliações
- Semiótica Narrativa e TextualDocumento4 páginasSemiótica Narrativa e TextualGustavo de CastroAinda não há avaliações
- Para Ler GreimasDocumento1 páginaPara Ler GreimasGustavo de CastroAinda não há avaliações
- RICOEUR, P. O Si-Mesmo Como Um Outro.Documento5 páginasRICOEUR, P. O Si-Mesmo Como Um Outro.Gustavo de CastroAinda não há avaliações
- Zeluis Texto Imigração 2016Documento23 páginasZeluis Texto Imigração 2016Gustavo de CastroAinda não há avaliações
- Capitvlvm Secvndvm 1Documento5 páginasCapitvlvm Secvndvm 1Gustavo de CastroAinda não há avaliações
- Power Point Consciência FonológicaDocumento32 páginasPower Point Consciência FonológicaquintaruaAinda não há avaliações
- Metaplasmos em Chico BentoDocumento9 páginasMetaplasmos em Chico BentoAnonymous gp78PX1WcfAinda não há avaliações
- Língua, Linguagem e EnunciadoDocumento14 páginasLíngua, Linguagem e EnunciadoFelipe AccioliAinda não há avaliações
- Contradições MassorahDocumento0 páginaContradições Massorahgedeoli100% (1)
- Plurals OKDocumento6 páginasPlurals OKAndrews CavalcantiAinda não há avaliações
- Acentuação GráficaDocumento26 páginasAcentuação GráficaMárcia OliveiraAinda não há avaliações
- Aula 09 - Gramática Vestibular e EnemDocumento4 páginasAula 09 - Gramática Vestibular e EnemIsaquia FrancoAinda não há avaliações
- Microsoft Word - PROCESSOS de FORMAÇÃO de PALAVRAS 50 Q.doc Pages 1 - 7Documento7 páginasMicrosoft Word - PROCESSOS de FORMAÇÃO de PALAVRAS 50 Q.doc Pages 1 - 7Leonardo SilvaAinda não há avaliações
- Exercicios - Formacao de Palavras - Unlocked - 2Documento5 páginasExercicios - Formacao de Palavras - Unlocked - 2Marcos Bruno SilvaAinda não há avaliações
- Estilística Reticência e HipálageDocumento3 páginasEstilística Reticência e HipálageFabiano Donizeti IdemAinda não há avaliações
- ATIVIDADE AVALIATIVA - LinguagensDocumento2 páginasATIVIDADE AVALIATIVA - Linguagensluana.belemAinda não há avaliações
- Geometria Plana Questoes de Concursos MilitaresDocumento40 páginasGeometria Plana Questoes de Concursos MilitaresHarry KaneAinda não há avaliações
- Vidos - Manual de Linguistica RomanicaDocumento168 páginasVidos - Manual de Linguistica RomanicaCarolina P. FedattoAinda não há avaliações
- Atividades Sobre Figuras de LinguagemDocumento2 páginasAtividades Sobre Figuras de LinguagemDenise RoldãoAinda não há avaliações
- Programa Fonologia Variação e Ensino Profletras FinalDocumento6 páginasPrograma Fonologia Variação e Ensino Profletras FinalAdriana MeloAinda não há avaliações
- Parônimos e HomônimosDocumento6 páginasParônimos e HomônimosFernanda MonteroAinda não há avaliações
- Quantos Fonemas Tem A PalavraDocumento14 páginasQuantos Fonemas Tem A PalavraSilasRodrigues100% (2)
- Processos FonológicosDocumento3 páginasProcessos FonológicosDiogo NunesAinda não há avaliações
- Evolução Do Sistema Vocálico Do Latim Clássico PDFDocumento22 páginasEvolução Do Sistema Vocálico Do Latim Clássico PDFSidney Ead Enseñanza del EspañolAinda não há avaliações
- Acentuação GráficaDocumento10 páginasAcentuação GráficaAna Cristina Ramos0% (1)