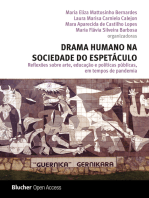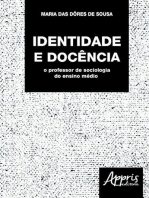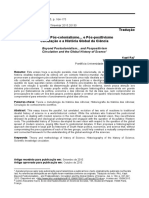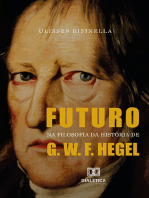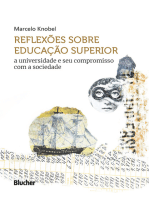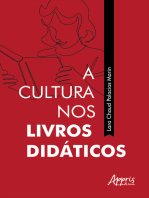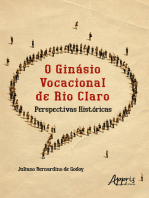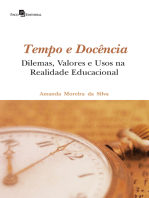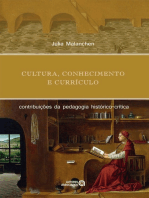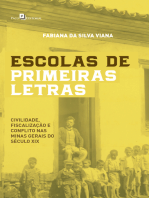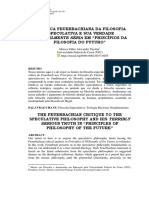Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Filosofia, Cidadania e Emancipação
Enviado por
MARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Filosofia, Cidadania e Emancipação
Enviado por
MARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauDireitos autorais:
Formatos disponíveis
COLETÂNEA GT ÉTICA E CIDADANIA
Filosofia,
Cidadania e
Emancipação
Antonio Glaudenir Brasil Maia
Marcos Fábio Alexandre Nicolau
O RG A NI Z A DO RES
PROMOÇÃO DA SAÚDE: um tecido bricolado
UFPB UFPI
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 1 06/11/2016 13:24:57
Filosofia, Cidadania e Emancipação
2016 copyright by Antonio Glaudenir Brasil Maia, Marcos Fábio Alexandre Nicolau (Orgs.)
Impresso no Brasil/Printed in Brazil
Efetuado depósito legal na Biblioteca Nacional
Reitor
Fabianno Cavalcante de Carvalho
Vice-Reitora
Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque
Diretor da Imprensa Universitária
Marcos Fábio Alexandre Nicolau
Conselho Editorial
Agenor Soares e Silva Junior
Aline Vieira Landim
Antonio Glaudenir Brasil Maia
Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque
Marcos Fábio Alexandre Nicolau
Maria Somália Sales Viana
Maristela Inês Osawa Vasconcelos
Virgínia Célia Cavalcante de Holanda
Revisão
Raimundo Francisco Gomes
Ilustração da Capa
A chuva das horas – Wescley Braga
Serviços gráficos
SertãoCult
Bibliotecário responsável: Neto Ramos CRB3/1374
F524 Filosofia, cidadania e emancipação / Antonio Glaudenir Brasil
Maia, Marcos Fábio Alexandre Nicolau (Orgs.). -
Sobral: Edições UVA, 2017.
316 p.:
ISBN.: 978-85-87906-93-9
1. Educação para a cidadania. 2. Emancipação. 3.
Pensamento latino-americano. I. Maia, Antonio Glaudenir Brasil. II.
Nicolau, Marcos Fábio Alexandre. III. Título.
CDD 370.1
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 2 06/11/2016 13:24:57
COLETÂNEA GT ÉTICA E CIDADANIA
Filosofia,
Cidadania e
Emancipação
Antonio Glaudenir Brasil Maia
Marcos Fábio Alexandre Nicolau
O RG A NI Z A DO RES
PROMOÇÃO DA SAÚDE: um tecido bricolado
UFPB UFPI
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 3 06/11/2016 13:24:57
Sumário
GT Ética e Cidadania: uma caminhada de longos anos...........................6
Cecilia Pires, Jovino Pizzi e Glaudenir Brasil
Apresentação........................................................................... 10
Etica y emancipación.................................................................. 13
José María Aguirre Oraa
Justiça e Ética: condições de emancipação na América Latina................. 35
Cecilia Pires
Justiça anamnética e emancipação das vítimas Dilemas e dívidas de nossa
América Latina......................................................................... 53
Castor M.M. Bartolomé Ruiz
Cultura democrática e emancipação na América Latina: entre Habermas e
Amartya Sen............................................................................ 79
José Marcos Miné Vanzella
El consenso democrático de Habermas. Debates frente a la demanda por el
reconocimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas en América
Latina................................................................................... 102
Juan Jorge Faundes Peñafiel
O sujeito pronominal descaracterizado: filosofia da consciência e
individualismo......................................................................... 125
Jovino Pizzi
Novos desafios no trato dos direitos humanos: As tensões entre mera formalidade
e demandas por sua efetividade (Uma análise ético-filosófica sob viés crítico-
realista)................................................................................ 143
Lorena Freitas
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 4 06/11/2016 13:24:57
Direitos humanos e filosofia: integração e diálogo intercultural.............. 164
Enoque Feitosa
Alteridade Ecosófica e Cidadania Sul-Americana: Fundamentos para uma Ética
da Vida................................................................................. 177
Neuro José Zambam e Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino
Do mundo-da-vida à educação da cidadania ativa............................... 195
Anderson de Alencar Menezes
Formar o Cidadão: sociedade civil, cidadania e educação nas Linhas
Fundamentais da Filosofia do Direito de G. W. F. Hegel........................ 214
Marcos Fábio Alexandre Nicolau
O resgate do saber teórico e prático e a legitimação de uma comunidade
política................................................................................. 232
Ysmênia de Aguiar Pontes e Marcos Onete Fontenele Moreira
Para além das diferenças de gênero: o enfoque político da ética do cuidado...253
Maria da Penha Felício dos Santos de Carvalho
Política e Filosofia em Arendt e Vattimo.......................................... 268
Antonio Glaudenir Brasil Maia e Ricardo George Araújo Silva
O totalitarismo como negação da liberdade política: compreensão e abertura
no pensamento de Hannah Arendt................................................. 288
Alberto Dias de Souza, Natércia Sampaio Siqueira e Renata Albuquerque
Lima
Sobre os autores...................................................................... 309
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 5 06/11/2016 13:24:57
GT Ética e Cidadania: uma caminhada de
longos anos
Cecilia Pires
Jovino Pizzi
Glaudenir Brasil
O GT Ética e Cidadania, desde seu início, reuniu
pesquisadores, estudiosos, professores e alunos interessados
em debater assuntos do âmbito cultural latino-americano.
No Congresso da ANPOF em que o GT foi criado, a intenção
manifesta era produzir um espaço de saberes, em que não
apenas as ortodoxias do pensamento filosófico e os clássicos
estivessem presentes, mas havia o entendimento de que outras
abordagens filosóficas pudessem se fazer ouvir, de parte de
outros continentes e não restrito ao Continente Europeu.
A motivação evidenciava as questões do Brasil, da
América Latina e de problemas relacionados com a África e a
Ásia. Após diversos encontros, eventos e a criação de grupos
de estudos sobre o tema da Filosofia Política, cria-se o GT (em
1988). Entre os objetivos, destacam-se a) a criação, o fomento
e o apoio a grupos integrados de pesquisadores aglutinados em
torno do núcleo temático de ética e cidadania; b) a releitura
crítica, e socialmente comprometida, da tradição filosófica,
visando contribuir para a universalidade do debate filosófico;
c) o fomento do diálogo em torno da emancipação humana e
ecológica.
A partir dos anos 90, além da participação no Congresso
Nacional da ANPOF, o grupo realiza eventos do próprio GT. Os
encontros bianuais ocorrem no ano subsequente ao encontro
nacional. A cada encontro (na ANPOF e específico), há uma
publicação. Na verdade, o GT está organizado de tal modo
6 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 6 06/11/2016 13:24:57
que os resultados das pesquisas e dos relatos dos participantes
sejam publicados como livro. Em alguns casos, os textos foram
publicados em revistas da área.
As produções do GT são o resultado dos encontros ocorridos
nos eventos da ANPOF e nos Encontros específicos do GT, que
acontecem no interstício do Encontro Nacional da ANPOF. Tem-
se, pois números especiais de Revistas e Coletâneas que ora
um ou outro membro do GT organiza, para divulgar a produção
coletiva. Na maioria das vezes, essa organização fica a cargo do
Coordenador do Grupo.
Inicialmente, as publicações denotavam a temática
latino-americana como predominante. À medida em que
novos membros foram integrando o GT, novos olhares foram se
expressando e assim ampliou-se o arco teórico-epistemológico,
que se traduz em diferentes pesquisas e contribuições teóricas
dos integrantes do Grupo.
Desse modo, o rol de publicações se apresenta ao público
acadêmico com a intenção de estabelecer diálogos cognitivos e
políticos, na medida em que a Filosofia pensada pelo grupo não
sofre de síndrome insular, de isolamento de qualquer tipo. Não há
um selo ideológico no grupo, de modo a impedir a manifestação
teórica dos pesquisadores que buscam referenciais outros, que
não só a abordagem da Filosofia Latino-Americana. Enseja-se
sempre que o tema originário não seja abandonado, o pensar da
Latino-América, como foi o desejo do inspirador, Professor José
Sotero Caio. Assim, ao longo dos anos, os encontros realizados
pelo Gt resultaram, na sua maioria, em publicações coletivas
com a participação direta de seus membros e de convidados
conferencistas dos cenários nacional e internacional.
No rol das publicações do GT, destacam-se:
- Olhares da Filosofia Latino-Americana, foi o primeiro
Filosofia, Cidadania e Emancipação 7
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 7 06/11/2016 13:24:58
livro, organizado por Cecilia Pires, publicado em 1999;
- Vozes Silenciadas. Ensaios de Ética e Filosofia Política,
também organizado por Cecilia Pires, publicado em 2003;
- Desafios éticos e políticos da cidadania. Ensaios de Ética
e Filosofia Política II, organizado por Cecilia Pires e Jovino Pizzi,
publicado em 2006;
- ETHICA, Cadernos Acadêmicos com trabalhos do III
Encontro Nacional do GT, organizado por Maria da Penha
Carvalho dos Santos, publicado em 2007;
- Violência e perspectivas éticas da sociedade, organizado
por Fernando Jader Magalhães, publicado em 2009;
- Temas do Capitalismo Tardio. Ensaios de Ética e Filosofia
Política, organizado por Maria da Penha Carvalho dos Santos e
Jovino Pizzi, publicado em 2011;
- Ética e Filosofia Crítica na construção do Socialismo do
Século XXI, organizado por Antonio Rufino Vieira, publicado em
2012;
- Filosofia latino-americana: suas potencialidades, seus
desafios, livro organizado por Daniel Pansarelli, publicado em
2013;
- Diálogo Crítico-Educativo. Desafios éticos e os
descompassos da democracia na América Latina, livro organizado
por Jovino Pizzi, publicado em 2015;
- A dialética entre Valores e a forma jurídica, livro
organizado por Marcos Miné Vanzella, publicado em 2015;
- Anais do VII Encontro Nacional do Gt Ética e Cidadania,
organizado por Antonio Glaudenir Brasil Maia, publicado em
2015 (Cf. https://encontrogtecanpof.wordpress.com/);
- Na Coleção do XVI Encontro ANPOF, o GT também
8 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 8 06/11/2016 13:24:58
contou com publicações on line, com organização de Marcelo
Carvalho, Jovino Pizzi, Maria Constança Peres Pissarra e Ricardo
Bins di Napoli (Cf. http://anpof.org/portal/images/Colecao_
XVI_Encontro_ANPOF/ANPOF_Etica_e_Filosofia_Politica.pdf),
publicado no ano 2015;
- Democracia, tolerância e direitos culturais na América
Latina, organizado por Daniel Pansarelli e Neuro Zambam,
publicado em 2016.
Com a realização da VII edição do Encontro do Gt Ética
e Cidadania, no ano de 2015, na cidade de Sobral/Ceará, o Gt
mantém a regularidade dos eventos e que todas as publicações
serão classificadas como Coletânea Gt Ética e Cidadania.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 9
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 9 06/11/2016 13:24:58
Apresentação
Os textos do presente livro são frutos da realização do
VII Encontro Nacional e IV Encontro Internacional do Gt Ética e
Cidadania da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia
(ANPOF), realizado em 2015, na cidade de Sobral/Ceará, com a
temática Filosofia, Educação e Emancipação Humana: a ética e
a cidadania no contexto da América Latina.
Com a organização desta obra, o Gt Ética e Cidadania/
ANPOF mantém a tradição de contribuir com a comunidade
acadêmica e o público em geral através da publicação das
reflexões e dos debates ocorridos no seu encontro anual, cuja
ressonância é impossível mensurar, mas, sem dúvida, será
objeto de intensas leituras e servirá como fonte de pesquisa, não
apenas no âmbito da academia pela importância da temática
abordada.
A proposta da temática teve como um dos principais
objetivos, além de reunir professores, pesquisadores e
debatedores de diferentes instituições, apresentar reflexões
sobre as questões pertinentes a situação da ética, da cidadania,
da democracia, da justiça, dos direitos humanos, da política,
da educação, dentre outros, que contribuam para a efetiva
emancipação humana. A categoria da emancipação, de forma
direita e indireta, constituiu o eixo articulador das reflexões,
dos mais diversos pontos de vistas dos colaboradores, dentro
e fora do contexto da América Latina, por considerá-la valor
irrevogável e precípuo para a existência humana.
Aos autores, nosso agradecimento pela contribuição
valorosa para a viabilização do livro. Os temas tratados por eles
10 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 10 06/11/2016 13:24:58
evidenciam a importância do diálogo com diferentes correntes e
sistemas de pensamento, cuja interlocução presume a abertura
para o discurso plural, a atitude dialógica que consegue agregar
diferentes pensadores e pesquisadores, sem olvidar em discutir,
de forma crítica, as questões filosóficas que permitam fazer
justiça à emancipação e no reconhecimento de todos. Eis a
marca inconfundível do Gt Ética e Cidadania.
É importante aqui ressaltar o significativo apoio que a
CAPES, o CNPq, UVA, UECE e da Faculdade Luciano Feijão para
a realização do evento e para a publicação de mais um livro do
Gt.
À todos, uma excelente leitura.
Os organizadores.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 11
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 11 06/11/2016 13:24:58
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 12 06/11/2016 13:24:58
Etica y emancipación
José María Aguirre Oraa
La constitución intersubjetiva humana.
El tema de la interpersonalidad se presenta en las
reflexiones de la filosofía contemporánea no como tarea de
una disciplina filosófica, sino como el cometido de la filosofía
«primera». La existencia humana se nos aparece, y no de
manera aleatoria, como constitutivamente intersubjetiva. Para
ello se pueden tomar en consideración y analizar en profundidad
diferentes fenómenos de la existencia humana como el amor,
el trabajo o el saber, pero también podemos centrarnos en la
constatación del hombre como el ente que piensa-habla. El
lenguaje, como expresión del pensamiento, sólo tiene sentido
en una situación de estricta interpersonalidad, ya que implica
la estricta alteridad de quien, desde su intimidad subsistente,
«responde». La comunidad de quienes hablan y dialogan es
forzosamente una comunidad de auténticos yos. Por tanto
el lenguaje pone de manifiesto a la persona ex-sistiendo
constitutivamente en la esfera de la interpersonalidad o del
«nosotros».
Si analizamos con atención las preguntas antropológicas
fundamentales, planteadas por Kant: ¿qué puedo saber, qué debo
hacer, qué puedo esperar?, veremos que en estas cuestiones se
pregunta realmente no qué soy yo, sino qué somos nosotros. En
primer lugar el saber es auténtico saber en la verdad cuando
implica universalidad y necesidad. Implica que lo «sabido» y
«expresado» en el juicio está ex-puesto a la comunidad de los
sujetos racionales que pueden enjuiciar mi juicio. En segundo
lugar la pregunta por mi comportamiento moral implica
Filosofia, Cidadania e Emancipação 13
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 13 06/11/2016 13:24:58
esencialmente un saber del «otro» (¿como cosa, medio o fin
en sí mismo?) y sólo tiene sentido en relación al «otro» en la
medida en que me pregunto cómo debo comportarme ante
él. Finalmente la esperanza tiene una urdimbre constitutiva
comunitaria e interpersonal. Qué será de mí implica qué será
de nosotros, ya que mi yo -mi vida, mi felicidad o mi desdicha-
está indisolublemente ligado a lo que será -la vida, la felicidad,
la desdicha- del «otro» con el que estoy vinculado y forma parte
de mi yo.
La presencia del «otro» en la propia constitución del yo
es por otra parte un dato fenomenológicamente verificable: en
el niño primeramente acontece la vivencia de los «otros» que
le rodean y posteriormente se distancia de ellos, descubriendo
que él no es el «otro» y que subsiste en sí mismo, como principio
de sus actos. En esta autoconstitución del yo actúa también
decisivamente la «llamada» de los «otros» que le interpelan
y se comunican con él. Dicho en términos trascendentales, el
«nosotros» es el ámbito en el que se determina el yo como yo.
Gabriel Marcel lo ha formulado así: «No puedo pensarme a mí
mismo como existente, sino en tanto en cuanto me concibo como
no siendo los otros, como “otro” que ellos... El yo no existe,
sino en tanto en cuanto se trata a sí mismo como siendo para
el “otro”, en relación al otro; por consiguiente en la medida en
que reconoce que escapa a sí mismo» (MARCEL, 1935, p. 151).
El yo se realiza ex-sistiendo en el mundo y con los «otros»
con los que comparte totalmente el mundo. Es claro que el yo
sólo puede realizarse en los comportamientos de saber, amor,
fidelidad, respeto, trabajo... pero éstos, a su vez, resultan
inconcebibles e imposibles sin la presencia de los «otros». El
amor, por ejemplo, sólo es posible en la presencia inmediata
del otro, en estricta alteridad (como auténtico tú) y en la
unidad sin confusión del «nosotros», en el sentido del amor
como «identidad heterogénea» o «la más profunda unidad en
14 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 14 06/11/2016 13:24:58
perfecta dualidad».
Aunando las perspectivas trascendental y dialógica el
«otro» se evidencia como un auténtico tú (otroidad, alteridad),
en presencia inmediata, en reciprocidad de autoposición y
afirmación (lenguaje, relación ética y amor) y en el que el yo
se constituye. El «otro» no aparece como producto o término
de una relación intencional, ni unilateral, ni recíproca,
sino que se actualiza en el encuentro en el que ambos se
afirman recíprocamente. Con ello queda superada de raíz
toda concepción del yo como esencia completa que no posea
referencia constituyente al «otro». El tú es tan originario como
el yo, el cual sólo es ex-sistiendo ante el tú. Negar al tú sería
negar la propia mismidad personal. Habría que corregir la
perspectiva de Descartes y decir a partir de él abiertamente:
cogito (totalidad de la vida de la conciencia: pensamiento y
volición), ergo sumus.
La afirmación incondicional del otro.
El hombre, por ser libertad, se encuentra frente a la
libertad del otro. La afirmación de la libertad del otro es mi
condición óntica, aquello a lo que constitutivamente, quiera o
no, estoy «atado» o, según Sartre, forzosamente «condenado».
Dicho en otros términos, ni mi libertad ni la libertad del otro se
me presentan, ni pueden en este estadio existencial primario
ser afirmadas como valor o bien, como algo que debe ser. La
libertad tiene que someterse a esta «forzosidad» e incluso
aceptarla como tal, pero no tiene por qué afirmarla como un
valor de calidad. Por consiguiente es absolutamente necesario
realizar un salto (quizás sea la mejor expresión) de nivel o
estamento óntico.
Pero, ¿se realiza o se actualiza tal salto? ¿Aparece la
libertad como bien en sentido estricto, como algo que exige
ser afirmado de modo que su afirmación no se me «imponga»
Filosofia, Cidadania e Emancipação 15
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 15 06/11/2016 13:24:58
como una necesidad, sino como un «con-vencimiento»?1.
Esta es la pregunta radical en cuya respuesta nos jugamos la
fundamentación de una ética emancipadora. En esta relación
intersubjetiva, en la que yo estoy frente al otro, el otro se me
aparece no solamente como una exigencia puramente de hecho,
una realidad fáctica, que se impone a mi libertad, sino como
una exigencia en sí misma justificada. La libertad ajena se me
presenta, de hecho, no como algo que simplemente está-ahí,
en mera donación fáctica, sino como algo que está-ahí (frente
a mí) debiendo ser, como algo que no sólo es o tiene que ser
afirmado por mi libertad, sino como algo que debe ser afirmado
por mi libertad.
Este momento de deber-ser o de la libertad del otro
como bien moral no se puede reducir al momento anterior
del mero estar-ahí o tener-que-ser fáctico. De ahí que la
aprehensión de este momento de deber-ser exige una nueva
actualización aprehensiva que es distinta, que es heterogénea
cualitativamente de la aprehensión en que caigo en la cuenta o
«soporto» la libertad ajena. Ahora bien, y ésta es una pregunta
radical y fundamental: ¿cómo sé que la libertad ajena es, en
sí misma, algo que debe ser, cuál es el fundamento este deber
ser? La única respuesta razonable a esta pregunta me parece la
siguiente: porque así se me presenta y así la veo. Estamos aquí
ante un dato originario e irreductible de la constitución del
ser-hombre, en el que la reflexión filosófica sólo puede tener
la misión de referir o conducir a esta visión. Ahora bien, esta
conducción se puede llevar a cabo de dos formas: de manera
positivo-indirecta y de manera negativa.
De una manera positiva-indirecta esto se realizaría
1 En esta argumentación sigo de manera libre los planteamientos delineados
por José Manzana Martínez de Marañon (1928-1978), un gran filósofo maestro de
pensamiento y amigo, muerto joven en un accidente de montaña, en su tentativa
de fundamentar racionalmente la afirmación absoluta del otro.
16 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 16 06/11/2016 13:24:58
poniendo a cada uno de nosotros ante el rostro concreto
del otro y preguntándole si no ve que debe afirmarlo, si la
exigencia que se hace presente en tal rostro no es justificada
como algo que debe ser «obedecido», si afirma en serio que es
indiferente violentar, borrar, destruir, manipular esta libertad
que está presente ante él; en definitiva se trata de preguntar
si considera que ello es simplemente una «comprensión»
subjetivo-emocional o se trata de una opción o exigencia en sí
misma justificada.
De una manera negativa se puede conducir a esta visión
mostrando, por el proceso lógico anteriormente descrito,
que la destrucción de la libertad o del rostro ajeno es la
autodestrucción de mi libertad y de mi rostro, la renuncia a mi
mismidad como presencia ante mí y libertad. No hay libertad
propia posible si no hay libertad del otro real, si no existe un
universo de libertades.
Con este planteamiento alcanzamos un momento
fundamental en la intelección del ser-hombre. El reconocimiento
de la libertad ajena como bien, como exigencia en sí misma
justificada o, si se quiere, como digna de ser afirmada, me
patentiza la dignidad y valor de mi libertad. El otro me libera o
me eleva sobre la mera facticidad o forzosidad de mi libertad y
me hace en verdad libre. Me hace en verdad libre porque hace
posible que yo me afirme como libre, esto es porque quiero, en
el sentido más pleno del término, no simplemente porque soy
libre o estoy forzado a ser libre, sino porque es bueno que sea
libre. El querer no es aquí una imposición o un vencimiento,
sino un con-vencimiento. Por el reconocimiento como bien de
la libertad del otro puedo decir «así sea» (y no simplemente no
tengo más remedio que) a mi libertad. Por lo tanto, el momento
decisivo es la visión-afirmación de la libertad del otro.
Ahora bien, sería un error entender esta visión-afirmación
Filosofia, Cidadania e Emancipação 17
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 17 06/11/2016 13:24:58
de la libertad ajena o propia como visión-afirmación de un
mero contenido objetivo o valor que está ahí dado. El valor o lo
valorado no es originariamente algo objetivo frente al hombre,
sino la existencia humana misma. Lo que se afirma no es,
propiamente, un contenido, sino la actualidad en que yo y el
otro nos constituimos como libres o si se quiere como yo y tú. Y
la «evidencia» o «justificación» de esta afirmación, coincidente
con la constitución del ser hombre, se patentiza en el mismo
acto. Este es el núcleo de lo que se puede considerar una
fundamentación antropológica de la moral, un desvelamiento
de la afirmación moral de la libertad ajena o del otro, como
constitutiva del ser-hombre.
El alcance social y político de esta perspectiva
fundamentada es enorme. Cualquier organización humana social
y política debería medirse por el respeto escrupuloso y real de
la intersubjetividad humana, sin cosificar, esclavizar o aniquilar
al «otro» que somos todos, al «prójimo» que somos todos. Como
dice José Manzana: «La presencia del otro en mi mundo revela
la “injusticia” de mi yo como mero poseedor-dominador de mi
mundo [...] Sólo la aceptación del otro en mi mundo (la fraterna
hospitalidad y comunicación del mismo mundo con el otro) me
libera del “salvajismo” en que yo mismo me desprecio y me
permite afirmarme en dignidad. Mi justificación es la práctica de
la justicia» (MANZANA, 1976, p. 32).
De ahí que la afirmación del otro constituye el contenido
nuclear de toda moralidad tal como la vive la conciencia en
el discernimiento entre el bien y el mal. Por eso el contenido
definitivo y terminal de la afirmación moral no es un mundo de
valores que remitiría a mi subjetividad dominadora como fuente
de valorización, sino el tú concreto e individual que me sale al
encuentro y me constituye humanamente. Lo que se afirma no
es una idea, una legalidad o un valor, sino la persona concreta e
individualmente ahí presente, el tú inmediato que está ante mí
18 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 18 06/11/2016 13:24:58
y la comunidad real de los hombres que me rodean en su directa
mismidad.
Por otra parte hay que destacar también el carácter
incondicionado de esta afirmación moral del otro. Afirmar al otro
incondicionalmente en su mismidad concreta e individual, es
afirmarlo independientemente de toda circunstancia y situación
y, por lo tanto, con exclusión de toda posible excepción. Siempre
será absolutamente malo cosificar y reducir al otro a la condición
de medio o instrumento de mi capricho, de mi interés o de mi
sistema de ideas y valores. En caso contrario la utilidad, aunque
sea social y «mayoritaria», tiene la última palabra y queda muy
alicorta.
Creo que desde tal afirmación moral del otro como
deber ser pueden indicarse determinadas líneas generales
de conducta moral. Además la base que se ha puesto es lo
suficientemente positiva como para no fundar la moralidad en
una mera formalidad, y al mismo tiempo es lo suficientemente
amplia como para permitir la decisión, es decir, precisamente
el riesgo de la decisión moral. Siempre será absolutamente
malo esclavizar, oprimir, degradar, expoliar, frustrar, asesinar,
embaucar, timar, chantajear o enrolar forzosamente a la persona
individual, como simple material humano, en una empresa terrena
o pretendidamente «divina» que él no afirma ni sostiene. En
palabras de Levinas: «El yo humano se implanta en la fraternidad:
que todos los hombres sean hermanos no se agrega al hombre
como una conquista moral, sino que constituye su ipseidad.
Porque mi posición de yo se efectúa en la fraternidad, el rostro
puede presentarse como rostro. La relación con el rostro en la
fraternidad en la que el otro aparece a su vez como solidario con
todos los otros, constituye el orden social...» (LEVINAS, 1977, p.
287).
Esta fundamentación moral no es ni individualista ni
Filosofia, Cidadania e Emancipação 19
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 19 06/11/2016 13:24:58
abstracta, puesto que la afirmación del otro es la afirmación de
todo el otro en el mundo real en el que ex-siste. Además esta
fundamentación puede dar lugar a una moral no cerrada, sino
abierta; precisamente por no ser afirmación moral de valores
concretos, este planteamiento impone al hombre la tarea de
buscar, en comunidad, los «modos» concretos mundanos de
afirmación real y efectiva de la libertad de todos.
Por último quisiera señalar que, en mi opinión, toda
persona moral vive en esta presencia afirmante de la libertad,
o más ampliamente del rostro del otro. Sólo he buscado
explicitar esta motivación realmente actuante en toda persona
moral y mostrar tanto su carácter cognitivo (elevarla al ámbito
cognitivo más allá de lo arbitrario-opcional y de lo subjetivo-
emocional y por encima de la consideración científico-fáctica)
como sus implicaciones antropológicas. Porque de eso se trata,
de no dejar esta perspectiva fundamental moral al socaire de
una decisión de valor o de un sentimiento de fraternidad; no
se trata exclusivamente de una cuestión de sentimientos, de
afectividad (cosa que tampoco habría que rechazar), sino de
una cuestión de razón, de interés de razón, de razón práctica.
Esta es una argumentación que la conciencia moral aprehende
directamente: la indignación ante la injusticia y la opresión
surge vitalmente para toda conciencia que no se haya embotado
con el suave envoltorio de la conformidad o la resignación o que
no se haya embrutecido con el salvajismo de la dominación y la
injusticia.
Ética crítica
Es necesario, por tanto, reivindicar un concepto amplio
de razón donde la razón práctica (ética y política) pueda ser
considerada al mismo nivel que la razón teórica (en el sentido
de razón «científica») y pueda aparecer como capaz de romper
incluso las unilateralidades y las limitaciones de esta última.
20 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 20 06/11/2016 13:24:58
André Berten lo señala con gran perspicacia: «La modernidad
occidental debe ser comprendida como una racionalización
selectiva de la sociedad y como una extensión indebida de una
forma particular de racionalidad, la racionalidad instrumental,
a todas las esferas del actuar social. Esta extensión patológica
es la que ha frenado el desarrollo de una ética universalista y la
que explica, por ejemplo, que los «neoconservadores» puedan
disociar la modernización social de la modernidad cultural,
aceptando plenamente los efectos del progreso técnico y el
desarrollo de la economía capitalista y rechazando absolutamente
las exigencias de universalidad de la moral» (BERTEN, 1990, p.
362). Una modernización económica y política monomaníaca,
fundamentada en el monopolio casi exclusivo de la racionalidad
instrumental, debe ser contestada y reorientada, aún teniendo
en cuenta sus aciertos, por una racionalidad práctica que sepa
indicar y profundizar sus exigencias de universalidad en los
terrenos de la moral y de la política.
Existen perspectivas filosóficas que yo reivindico y que
no separan la ética de la razón, sino que las articulan. Hay
una articulación unitaria de la razón, reivindicando la tradición
kantiana y fichteana, que muestra y justifica incluso una cierta
primacía de la «razón práctica» sobre la «razón teórica».
Quizás pudiera ocurrir que el destino ético del hombre sea la
entraña más secreta de la historia humana, pues la ética es
una dimensión constitutiva de la existencia humana y no una
adición exterior pegada a la existencia «natural», biológica, del
hombre. La ética no es un lujo cultural, ni un instrumento de
dominio de sacerdotes y poderosos, ni un producto de mentes
mediocres y resentidas, aunque históricamente haya sido
utilizada en estos sentidos. La ética es más bien el esfuerzo de
la razón humana por pensar su emancipación y realizarla. «Hay
una conexión estrecha entre la razón y la ética, pues la razón
no es solamente el esfuerzo, en nosotros, por comprender la
Filosofia, Cidadania e Emancipação 21
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 21 06/11/2016 13:24:58
totalidad y descifrar su sentido. También es el poder que nos
hace responsables de nosotros mismos y el esfuerzo por el que
intentamos igualarnos a la exigencia que pone de manifiesto
esta responsabilidad. Y es que la razón no es solamente lo que
nos hace participar en lo universal, el lugar de una comunicación
en principio sin límites, sino que es también este lugar secreto,
en el que en cada vida se escucha el llamamiento singular que
la concierne en su más íntimo ser y se decide lo que la razón
hará en definitiva e irrevocablemente de sí misma» (LADRIÈRE,
1977, P. 10-11).
Las reflexiones de Herbert Marcuse ofrecen la posibilidad
de fundamentar la ligazón profunda entre ética y emancipación.
Marcuse, en el transcurso de unas conversaciones mantenidas
con estudiantes alemanes y con Habermas, nos proporciona dos
indicaciones claras para sostener una fundamentación justificada
de la razón ética. La primera sería: «En la exigencia de la razón
no resuena otra cosa que una vieja verdad, a saber, la exigencia
de crear una organización social en la que los individuos regulen
en común su vida de acuerdo con sus necesidades [...]. Cuando
apelamos al derecho de la humanidad a la paz, al derecho de
la humanidad a acabar con la explotación y la opresión, no se
trata aquí de intereses especiales de grupo, que el mismo grupo
haya definido, sino que se trata de intereses de los que se puede
demostrar que constituyen un derecho universal» (HABERMAS,
1985, p. 290 y 296). Las exigencias éticas surgen del mismo
terreno habitado por las exigencias de la razón, no son extrañas
a la razón, sino más bien constitutivas de ella. Por otra parte
las exigencias éticas pueden ser universalizables, capaces de
satisfacer las exigencias que requiere nuestra razón respecto
a cualquier enunciado con pretensión universalista. En este
sentido el campo de la razón queda ampliado y no se restringe
al ámbito de los enunciados que sólo pueden ser corroborados o
verificados por la realidad «empírica».
22 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 22 06/11/2016 13:24:58
Más tarde, en la misma tentativa de examinar, explicar
y justificar los fundamentos normativos de una teoría crítica,
ligada a la liberación humana, Marcuse, rodeado de aparatos
en una clínica y ya cerca de la muerte, nos proporciona otra
indicación sugerente: «¿Ves? Ahora sé en qué se fundan nuestros
juicios valorativos más elementales: en la compasión, en
nuestro sentimiento por el dolor de los otros» (HABERMAS, 1985,
p. 296). La ubicación antropológica de la ética aparece con
nitidez, abriéndose al campo de la intersubjetividad humana.
La pasión por la dignidad humana, la com-pasión por el dolor de
los otros es fundamento de una ética que no acepta la opresión
y la alineación, sino que busca la emancipación.
La perspectiva fenomenológica de Jean Ladrière nos
señala un camino similar. «La presencia del otro en el campo de
la acción provoca un descentramiento radical de la existencia;
ahora es otra existencia la que se convierte como tal en apelación
concreta, singular, imponiéndose de manera irrevocable. [...]
El otro nos interpela en su existencia misma, no en tal o cual
forma de falta, sino simplemente en su calidad de ser él mismo
una existencia, por tanto de estar asignado a una tarea que hace
valer en ella misma una exigencia ineludible, estar constituido
como fin en un sentido radical. El llamamiento que viene del
otro es reconocido en un sentimiento que es la resonancia
inmediata, en la afectividad, de una presencia que se impone
como interpeladora y fundamentando una responsabilidad»
(LADRIÈRE, 1997, p. 157). El otro está presente a nuestra
existencia integral, a nuestra afectividad y a nuestra razón,
como un fin a respetar y a promover absolutamente. Una moral
que considere al ser humano como un medio, de una u otra
forma, acaba negándolo. Y negando también las experiencias
de amor humano, que son características propias de la
humanidad. Aquí es donde, según Javier Sádaba, se fundamenta
una moral que no sea mero cálculo o arreglo pragmático. «La
Filosofia, Cidadania e Emancipação 23
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 23 06/11/2016 13:24:58
razón estriba en que ser moral supone considerar a la persona
como valor en sí mismo [...] La justificación última de la
moral, la más convincente, aquella que supera a las demás,
es aquella que supone ciertos derechos morales en todos los
sujetos. Tenemos, en suma, mejores razones para justificar, por
ejemplo el enunciado “no se debe torturar” apoyándonos en la
idea de que todo ser humano es un fin en sí mismo que en la
noción utilitarista de que la tortura, a la corta o la larga, trae
mayores males para la comunidad. Y en este caso hablamos de
razones...» (SÁDABA, 1995, p. 42-43).
¿No existe también un núcleo ético fundamental en las
perspectivas de emancipación proclamadas por Marx, a pesar
de sus duras críticas contra el socialismo utópico? Curiosamente
y aunque Marx no lo reconozca expresamente por su obsesión
de fundamentar «científicamente» (con grandes dosis de
positivismo) un análisis de las sociedades humanas y de su
historia que busque una salida humana para el género humano,
la emancipación humana no es un dato que se deriva sin más
de un análisis material de las contradicciones inherentes a las
formaciones sociales, sino también un asunto de ética y de
razón. De «razón amplia» evidentemente, como acertadamente
indica Jean Ladrière (raison élargie), no de razón positivista,
pero de razón a fin de cuentas2. El análisis concreto, material
y «materialista» (anti-idealista) de las causas y de las raíces
sociales de la alienación y de la explotación humanas en las
2 La acertada denominación de «raison élargie» (razón amplia) pertenece
a Jean Ladrière. Ver a este respecto LADRIERE, 1973, p. 29-30; LADRIÈRE,
1977, p. 193-196. Reproduzco un texto de este último libro: «Aunque la
razón científica está fuertemente valorada, ella no está considerada corno
la instancia única que tendría que fijar en última instancia las finalidades
sociales. Ella no es aprehendida más que como un componente de una razón
más amplia, que debe dar una interpretación global de la condición humana
y de la historia y proporcionar a la acción política las finalidades a largo plazo
de valor ético de las que el desarrollo científico mismo debe recibir su sentido
y su orientación». El subrayado es mío.
24 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 24 06/11/2016 13:24:58
formaciones sociales capitalistas busca superar esta situación
inhumana, injusta, para llegar a un estado emancipado,
liberado, donde cada hombre y cada mujer puedan encontrar su
dignidad, su humanidad perdida, su libertad propia, su dimensión
interpersonal. Quizás estas perspectivas, de manera irónica, se
han mostrado demasiado «idealistas», si analizamos la historia
del socialismo, pero creo que ellas se apoyan, sin reconocerlo
de manera explícita, en una concepción ética mínima de justicia
y de reciprocidad entre los hombres. ¿Quién se ha movilizado
social y políticamente por el sólo análisis social, aunque sea
absolutamente necesario para radicar efectivamente el sentido
de nuestra acción?, ¿no existe en el fondo de toda lucha
contra la injusticia una pasión de humanidad, un empeño de
emancipación, que mueve nuestra existencia?
Dentro de otro horizonte filosófico, ¿qué otra cosa indican
las reflexiones de la Escuela dialógica, las reflexiones de Martin
Buber, de Gabriel Marcel, de Enmanuel Levinas. El hombre se
constituye en cuanto hombre ante el otro y con el otro, en el
respeto absoluto del otro. «El yo no existe, sino en tanto en
cuanto se trata a sí mismo como siendo para el “otro” y en
relación a él» (MARCEL, 1935, p. 151). El yo se realiza existiendo
en el mundo y con los «otros» con los que comparto el mundo.
El «otro» y yo nos actualizamos en el encuentro en que ambos
no nos negamos, sino que nos afirmamos recíprocamente.
Emmanuel Levinas lo indica con claridad y con contundencia:
«La experiencia irreductible y última de la relación me parece
que está en otra parte: no en la síntesis, sino en el cara a cara
de los humanos, en la socialidad, en su significación moral.
Pero es preciso comprender que la moralidad no viene como
una capa secundaria, por encima de una reflexión abstracta
sobre la totalidad y sus peligros; la moralidad tiene un alcance
independiente y preliminar. La filosofía primera es una ética»
(LEVINAS 1982, p. 71).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 25
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 25 06/11/2016 13:24:58
La existencia humana es una existencia no realizada, que
descubre la necesidad, en virtud de su constitución esencial,
de determinarse para realizarse. El movimiento profundo (el
telos) que lleva a la existencia siempre más allá de sí misma
tiene por sentido conducirla hacia su bien. Y el bien del ser
humano es la realización integral de la humanidad en él, es
decir la realización de todas las condiciones que deben permitir
que su existencia efectiva coincida con lo que está exigida por
su modo de ser específico. En este sentido es preciso añadir
que esta realización de la existencia es una tarea confiada a la
misma existencia, a su propia responsabilidad. La existencia es
responsable de su propio advenir. Y al mismo tiempo experimenta
que está realización constituye el núcleo más esencial de
su existencia, ya que se trata en definitiva del destino de su
ser mismo, de su libertad, de su naturaleza de ser espiritual.
«Si hay una problemática ética, es porque la existencia está
constitucionalmente atravesada por un deseo fundamental,
por un querer profundo que apunta a la realización auténtica
de sí misma y que correlativamente tiene la tarea de asumir
por sí misma, en la acción, esta realización. Dicho de otro
modo, la problemática ética se refiere a la adecuación entre el
querer profundo de la existencia y su querer efectivo, es decir
la responsabilidad que le es confiada respecto a su propio ser
[...] Pero, el ser que ha recibido es un ser de iniciativa, fuente
de determinaciones nuevas, que se afecta continuamente
a sí mismo por lo que hace. Es un ser llamado a construirse
a sí mismo en su acción. Se podría decir que lo que está en
juego en esta construcción no es la simple realidad de su ser,
que, hay que recordarlo, le está dada, sino la calidad de su
ser. De ella depende esta calidad. La expresión “vida buena”
designa precisamente una forma de vida en la que la existencia
se confiere efectivamente la calidad que está en su vocación
darse» (LADRIÈRE, 1997, p. 34).
26 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 26 06/11/2016 13:24:58
Ética y emancipación
El pensamiento filosófico de Jürgen Habermas en su primera
época (luego esta perspectiva ha quedado a mi juicio diluida, si
no liquidada) señalaba con claridad la íntima ligazón que existe
entre razón y emancipación. «El interés por la emancipación
no es solamente una vaga idea; puede ser vislumbrado a priori.
Aquello que nos distingue de la naturaleza, es cabalmente la
única realidad que podemos conocer según su naturaleza: el
lenguaje. Con la estructura del lenguaje es planteada para
nosotros una exigencia de emancipación. Con la primera frase
pronunciada se expresa inequívocamente también una voluntad
de consenso universal y sin coacciones. La emancipación
(autonomía) es la única idea de que disponemos en el sentido
de la tradición filosófica. Quizás sea ésta la razón por la cual
el lenguaje del idealismo alemán, para el cual el concepto de
«razón» comporta los dos momentos de la voluntad y de la
conciencia, no está finalmente superado. Razón quería significar
al mismo tiempo voluntad de razón» (HABERMAS, 1984, p. 177).
Razón y voluntad, racionalidad y deseo íntimamente unidos. La
razón no es sólo razón de comprensión de la realidad, es deseo
de transformación de la realidad, es voluntad de emancipación.
El movimiento profundo que conduce a la existencia
humana siempre más allá de sí misma tiene por sentido
conducirla hacia su bien. El bien es, por tanto, un telos, un
término finalizante que indica hacia dónde tiende la dinámica
existencial humana, la dinámica de su libertad. Paul Ricœur
señala con absoluta perspicacia: «La vida ética es una perpetua
transacción entre el proyecto de libertad y su situación ética
dibujada por el mundo dado de las instituciones [...] Sin
embargo, una hermenéutica que por su parte se desligara de
la idea de emancipación, no sería más que una hermenéutica
de las tradiciones y en este sentido una forma de restauración
filosófica [...] La relación entre el proyecto de libertad y la
Filosofia, Cidadania e Emancipação 27
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 27 06/11/2016 13:24:58
memoria de sus conquistas pasadas constituye un círculo
vicioso solamente para la comprensión analítica, no para la
razón práctica» (RICŒUR, 1973, p. 164-165). La filosofía es
una autoreflexión radical y crítica que animada por su interés
emancipador asume con decisión un papel histórico de guardián
de la racionalidad tanto en el ámbito cognitivo, como en el
ámbito práctico y expresivo-estético. Ahora bien, para realizar
esta tarea, es preciso rehabilitar la práctica racional, hacer
aparecer la unidad profunda y substancial, aunque sea tensional,
entre «razón teórica» y «razón práctica», entre la problemática
de la verdad y la de la justicia. La razón no solamente tiene un
ámbito de comprensión, sino que está habitada por un horizonte
de realización, de voluntad de emancipación.
Si la idea de emancipación es una idea central en la
reflexión filosófica, si la razón comporta de manera indisoluble
los dos momentos de la conciencia y de la voluntad, la
conciencia ética, la conciencia práctico-política no debe
quedar excluida del ámbito de la razón, del ámbito de lo
racional. La conciencia ética no debe ser expulsada fuera de
la «ciudad científica», como si fuera una «razón espuria».Y
cuando la conciencia ética analiza y denuncia la irracionalidad
de un sistema socio-económico que aplasta a las grandes
mayorías, cuando pone de relieve el carácter no racional de
este sistema porque no se ajusta a las exigencias de respeto
por todos que se derivan de la razón práctica, la conciencia
denuncia de manera justa, en conformidad con las exigencias
de la razón. Evidentemente defiendo un concepto de razón que
no la restringe a lo que se podría denominar razón «científica
o positiva». Defiendo un concepto de razón «amplia», como
ya he indicado anteriormente, pero no porque se trate de una
ocurrencia intelectual deslumbrante o porque quiera mantener
planteamientos estrambóticos, sino porque la dinámica de la
razón así nos lo muestra. En una dialéctica permanente entre
28 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 28 06/11/2016 13:24:58
sus propias exigencias y los análisis de realidad efectuados, la
conciencia encuentra en sí misma la llamada de un deber ético,
la exigencia de desactivar los mecanismos de irracionalidad, y
experimenta la necesidad de buscar caminos de liberación, de
racionalidad humana.
En esta dinámica la conciencia se convierte también en
praxis de liberación, en esfuerzo de emancipación, en definitiva
en voluntad de razón. Por consiguiente, la conciencia ética no
desarrolla un conocimiento contemplativo, frío y abstracto,
sino un conocimiento ligado íntimamente a la transformación,
un conocimiento «práctico», un conocimiento con interés de
emancipación. Nos lo sugiere Paul Ricœur, cuando reivindica el
papel destacado de la afectividad, de los sentimientos morales,
en la existencia humana y en el ámbito práctico. «El respeto
no constituye, a mi entender, más que uno de los móviles
susceptibles de inclinar a un sujeto moral a “hacer su deber”.
Sería preciso, si fuera posible, desplegar la gama entera de los
sentimientos morales, como comenzó a hacer Max Scheler en su
Ética material de los valores. Se puede nombrar la vergüenza,
el pudor, la admiración, el coraje, la dedicación, el entusiasmo,
la veneración. Yo desearía poner en un lugar de honor un
sentimiento fuerte, como el sentimiento de indignación, que
tiene como objetivo en negativo la dignidad del otro así como
la dignidad propia; el rechazo de humillar expresa en términos
negativos el reconocimiento de aquello que constituye la
diferencia entre un sujeto moral y un sujeto físico, diferencia
que se llama dignidad y cuya amplitud estimativa lo aprehende
el sentimiento moral de manera directa. [...] ¿Por qué no
se desearía hacer el bien al otro? ¿Por qué no se encontraría
placer en saludar la dignidad de los humillados de la historia?»
(RICŒUR, 2000, p. 108-109). El sentimiento de la indignación
ante las injusticias cometidas a los otros o a uno mismo no
puede tener más norte que la desaparición de la injusticia y la
Filosofia, Cidadania e Emancipação 29
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 29 06/11/2016 13:24:58
conquista de la dignidad, no puede tener otro horizonte que el
horizonte de la emancipación. ¿Qué es esto en definitiva, sino
conciencia y voluntad de emancipación?
En los asuntos humanos y en las cuestiones sociales
y políticas todos somos participantes, todos estamos co-
implicados. La conciencia ética se manifiesta en toda la
amplitud de su racionalidad práctico-humana: exigencias de
emancipación, análisis de situación, voluntad de emancipación.
José Manzana lo indica de manera clara y contundente: «La
finalidad del esfuerzo humanista es la humanización de la realidad
de la vida humana en común, superando tanto la disociación
entre la interpersonalidad humana y la sociedad, como la
falsa subsistencia abstracta de «evidencias» que giran sobre sí
mismas y se alimentan de su propia substancia «desencarnada».
En consecuencia, el esfuerzo humanista deberá poner en
evidencia los condicionamientos sociales y las implicaciones
mundano-sociales de las relaciones interpersonales y buscar la
mediación y el paso de las exigencias morales al ámbito de las
decisiones prácticas» (MANZANA, 1981, p. 339).
La realidad se convierte progresivamente en una realidad
mundial, «planetaria». El pensamiento, en consecuencia,
debería también convertirse en planetario, «cosmopolita». Lo
dice con claridad un poeta de la liberación, Pedro Casaldáliga:
«Esa conciencia mundializada nos ayuda a comprender que
debemos transformar el mundo. No vale con cuidar sólo la
propia casa y el propio país. La utopía se hace así más posible,
porque ya es una utopía con visión política, de solidaridad, con
actitudes concretas. Años atrás, ¿quién podría pedir un gobierno
mundial? Hoy, hablar de ello ya no es tan utópico. La utopía es
hija de la esperanza. Y la esperanza es el ADN de la raza humana.
Pueden quitárnoslo todo menos la fiel esperanza. Ahora bien, ha
de ser una esperanza creíble, activa, justificable y que actúa»
(CASALDÁLIGA, 2007, p. 28). Buscar una ética de dimensiones
30 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 30 06/11/2016 13:24:58
sociales y políticas, dentro de una realidad planetaria y con
una conciencia planetaria, consiste fundamentalmente en
responder a los desafíos que tienen planteados las mayorías de
nuestro planeta, a su grave situación de pobreza, de explotación
y de inhumanidad, si no querernos permanecer enclaustrados
en nuestra ceguera etnocéntrica «occidental».
Tal debe ser uno de los hilos conductores de un pensamiento
«planetario». Éste era también el esfuerzo permanente y casi
«obsesivo» de un filósofo de la liberación, Ignacio Ellacuría,
asesinado por los enemigos habituales de la liberación: se trata
de articular y pensar para nuestro tiempo la tríada formada por
la razón, la ética y la emancipación. Ellacuría fue siempre un
radical, en el sentido de adentrarse y profundizar en las raíces
de la realidad. El sufrimiento y la explotación tienen profundas
raíces estructurales y esas raíces deben ser erradicadas y
transformadas para que se establezcan la fraternidad y la
emancipación. En su última conferencia de 1989 en Barcelona
Ellacuría señaló la necesidad de un nuevo proyecto histórico:
«Desde esta perspectiva universal y solidaria de las mayorías
populares, el problema de un nuevo proyecto histórico que se
va apuntando desde la negación profética y desde la afirmación
utópica apunta hacia un proceso de cambio revolucionario,
consistente en revertir el signo principal que configura la
civilización actual» (ELLACURÍA, 1989, p. 1076).
Solamente a partir de una reflexión implicada vitalmente
(de manera afectiva e intelectual) con la situación de las mayorías
populares y de los pueblos oprimidos se hace posible producir
fermentos de liberación capaces de establecer un espacio social
verdaderamente humano para todos. Dar la prioridad teórica
y práctica a las mayorías populares y a los pueblos oprimidos
constituye uno de los criterios hermenéuticos fundamentales
de la realidad, si se quiere precisamente ser fiel a la realidad y
a las exigencias éticas. La filosofía, el pensamiento en general,
Filosofia, Cidadania e Emancipação 31
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 31 06/11/2016 13:24:59
no pueden hacer oídos sordos al desafío y al impacto teórico y
práctico que representa este criterio fundamental. Este círculo
entre reflexión y praxis (auténtico círculo hermenéutico) sólo
puede resultar «vicioso» e inane para los activistas irreflexivos
o para los teóricos desencarnados, no para los que aspiran
a reflexionar las coordenadas de su tiempo y de su historia
con el fin de poder abrir brechas de emancipación en la vida
humana. Un pensamiento encerrado en su torre de marfil no
sería auténtico pensamiento, sino elucubración intelectual. El
pensamiento filosófico se ve siempre remitido al «mundo de
la vida» o de la experiencia humana en el que se plantean y
tienen que solventarse las cuestiones filosóficas. La filosofía es
la vida misma cuando en la estricta ordenación de un sistema
intuitivo conceptual alcanza la plenitud de su autocomprensión.
Filosofar es pensar en nuestro tiempo y para nuestro tiempo.
Buscar una superación de las alienaciones y de las injusticias
no constituye una tarea ilusoria de la reflexión humana y de la
práctica que la acompaña, sino más bien el deber más íntimo
y más noble de todo verdadero pensamiento. El pensamiento
no es sólo, según la famosa concepción hegeliana, el búho de
Minerva que se levanta al oscurecer de la vida y de la historia
de los hombres para explicarlas, para pensarlas. El pensamiento
puede tener también una función prospectiva, como defendía
Kant, y alzarse como el centinela de la aurora, que otea los
resplandores y las posibilidades del nuevo día y espera el nuevo
amanecer. Hay que subrayar también este carácter prospectivo
de la razón, entendido no con pretensiones desmesuradas,
sino con modestia y con su entraña finita e histórica. «La
autocomprensión de la realidad humana por ella misma no se
lleva a cabo de un sólo golpe; no sabemos de una vez por todas
lo que tal proyecto puede significar exactamente. Se trata de
un proyecto que debe comprenderse en su realización y esta
realización está necesariamente vinculada al desarrollo general
32 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 32 06/11/2016 13:24:59
de la cultura; solamente en ella las posibilidades de la razón se
ponen de manifiesto y toman configuración» (LADRIÈRE, 1973,
p. 21).
Es cierto que actualmente los caminos de liberación no
aparecen con claridad y que los horizontes no se muestran
despejados. Por eso hay que aguzar todos los sentidos humanos
y reactivar la fuerza de la reflexión, porque quizás sea el
momento de oportunidades históricas de emancipación nuevas
e inexploradas. Siempre nos queda la fuerza de la esperanza y
de la utopía. Todavía estamos en estadios históricos en que la
libertad de unos pocos está fundada en la negación de la libertad
de muchos. La libertad de todos para todo se logra por la vía de
la liberación. La liberación es el camino de las mayorías, que
sólo accederán a la verdadera libertad, cuando se liberen de
un mundo de opresiones y cuando se den las condiciones reales
para que todos puedan ejercitar su libertad.
Bibliografía
BERTEN A. - LENOBLE J., Philosophie de la norme sociale et
théorie du langage, Université de Louvain, Centre de Philosophie
du Droit, 1986.
______, «De la ética puritana a la ética de la fraternidad:
Weber y Habermas», en AGUIRRE J. M. - INSAUSTI X. (Ed.),
Pensamiento crítico, ética y Absoluto, Vitoria, Ed. Eset, 1990.
CASALDÁLIGA P.,« Pueden quitárnoslo todo menos la fiel
esperanza», Pueblos, n.º 39, septiembre 2009.
ELLACURÍA I., « Historización de los derechos humanos desde
los pueblos oprimidos y las mayorías populares», en AGUIRRE J.
M. - INSAUSTI X. (Ed.), Pensamiento crítico, ética y Absoluto,
Vitoria, Eset, 1988.
______, «El desafío de las mayorías populares», en Estudios
Filosofia, Cidadania e Emancipação 33
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 33 06/11/2016 13:24:59
Centroamericanos, 493-494 (1989).
HABERMAS J., La ciencia y la técnica como ideología, Madrid,
Cátedra, 1984.
HABERMAS J., Perfiles filosófico-políticos, Madrid, Taurus,
1985.
LADRIÈRE J., Vie sociale et destinée, Gembloux, Duculot, 1973.
______, Les enjeux de la rationalité, Paris, Aubier-Unesco,
1977.
______, «Les figures de la raison», en FLORIVAL Gh. (Ed.), Figures
de la rationalité, Louvain, Institut Supérieur de Philosophie,
1991.
______, L’éthique dans l’univers de la rationalité, Namur-
Genève, Artel -Fides, 1997.
LEVINAS E., Totalidad e infinito, Salamanca, Sígueme, 1977.
______, Éthique et infini, Paris, Fayard, 1982.
MARCEL G., Être et avoir, paris, Aubier, 1935.
MANZANA J., La intersubjetividad, Manuscrito inédito, 1976.
______, «De la sobriedad empírica a la razón empírica, en
Scriptorium Victoriense, 28 (1981).
RICŒUR P., «Ethics and Culture. Habermas and Gadamer in
Dialogue», en Philosophy Today, 1973.
______, «De la morale à l’éthique et aux éthiques»,
en AA.VV. Un siècle de philosophie. 1900-2000, Paris,
Gallimard, 2000.
SÁDABA J., El perdón. La soberanía del yo, Barcelona,
Paidós, 1995.
______, El hombre espiritual, Barcelona, Martínez Roca,
1999.
34 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 34 06/11/2016 13:24:59
Justiça e Ética: condições de emancipação
na América Latina
Cecilia Pires
Situando o tema
Os temas da Justiça e da Ética são fundamentais para
pensar as condições pelas quais podem ser enfrentados os
desafios de um projeto de emancipação. As questões associadas
a direitos e valores convocam-nos para refletir sobre as relações
democráticas na sociedade civil.
O impacto da razão iluminista, entre os séculos XVII
a XIX, parece ter fracassado e esse movimento evidencia a
fragilidade do sujeito, que não conseguiu triunfar em seu
projeto individualista de emancipação, bem como se viu às
voltas com totalitarismos e ditaduras que dificultaram avanços
políticos e econômicos significativos. A nossa América Latina
atesta essa situação ainda de opressão e dominação em setores
importantes, como democracia, educação e tecnologia, para
ficarmos nos elementos mais debilitados nesse universo de
avanços e recuos culturais.
Quais condições de emancipação podem ser pensadas,
hoje, na América Latina? Para análise dessas condições,
tomamos os setores problemáticos como eixos de análise
e assim referimos democracia, educação e tecnologia, de
uma forma vinculante, porque entendemos que são os eixos
necessários que conduzem ao debate sobre a imprescindível
autonomia política e econômica dos povos latino-americanos.
A questão reiterativa dos direitos humanos fundamentais ainda
se faz presente, no âmbito dessa análise, uma vez que os
eixos referidos se associam nas compreensões teóricas e nas
atividades práticas à ideia de direitos e de valores.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 35
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 35 06/11/2016 13:24:59
Se isto é assim, há que ser discutida a forma de um
pensamento que emancipa, ajustada a uma prática que liberta,
fruto não só de razões discursivas, mas de razões comprometidas
com o alargamento de direitos por razões de vida digna.
Uma das formas de emancipação dos povos ocorreu pelos
pequenos e necessários avanços que a humanidade fez sobre si
mesma, sobre a natureza, ao desvelar mundos desconhecidos
e realizar experiências inimagináveis. Que outros cérebros
pensaram o que nós aplicamos é uma evidência importante a
ser registrada.
O saber desenvolvido sempre esteve aliado às circunstâncias
determinadas, que emularam a produção de conhecimento.
Hélène Védrine (1977) adverte que, ao pensarmos no âmbito da
Filosofia da História, não podem deixar de ser consideradas as
condições nas quais os sujeitos se encontravam ao produzirem
o saber. O saber sempre foi tributário das ideologias, das
rupturas e das contradições, lembra a autora. Além disso,
outros conhecimentos e ensinamentos resultaram de uma
espécie de fracasso de modelos de poder, por exemplo, ou ao
ser constatada a impossibilidade de que eles se efetivem.
Pensar a história da América latina, no cenário da
colonização vivida, requer que tomemos os elementos de uma
história que não pode ser ignorada. São questões que devem
ser examinadas, não de um modo linear, mas compreendidas
como questões contraditórias, pelos paradoxos que se mostram
na realidade. É um ensinamento que brota do fracasso de um
modelo colonial de poder.
Para entendermos o cenário da colonização da América
Latina e os movimentos de emancipação, ou seja, para lermos
sua história, é preciso superarmos dogmas, sejam eles de
quaisquer natureza. Pelo seu dinamismo, os acontecimentos
históricos produzem novos saberes e os sujeitos descobrem
36 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 36 06/11/2016 13:24:59
novas funções políticas e exercem diversos papéis sociais. Isto
tudo, evidentemente, não elimina os paradoxos dos sujeitos e
das instituições.
Estamos longe de (e, talvez, não nos interesse) sonhar
com a reconciliação do modelo hegeliano, em que a classe
universal composta por funcionários públicos elimina as lutas
em benefício do Estado. Ao contrário, o Estado continua sendo
esse lugar social e político da discórdia, da não-emancipação.
Situadas essas compreensões demarcatórias, queremos
identificar, no contexto latino-americano, as situações
dogmáticas, resultantes das experiências civilizatórias de
cunho cultural e religioso, agregadas às vivências ditatoriais,
que penalizaram o continente. O saldo negativo foi o
distanciamento funesto entre a sociedade civil e o Estado,
mergulhado em modelos populistas tão autoritários quanto as
recentes ditaduras militares.
É importante reiterar que os pequenos e necessários
avanços, realizados com vistas à emancipação, tornaram-se
razão suficiente para que pudéssemos desejar mais, realizar
muito e tentar resolver nossas ambiguidades culturais, de modo
especial no âmbito da filosofia.
A tensão entre teorias universalistas e práticas singulares
ainda hoje é vivida, o que nos torna impotentes para entendermos
a racionalidade de nossos países. O atraso existente em vários
setores da política e da economia movimenta a dinâmica
interna dos países para uma expectativa de desenvolvimento,
com um traço subserviente às nações ricas e desenvolvidas, que
nos subsidiam.
Fomos apresentados ao mundo como uma tese fechada, a
de um povo atrasado e que precisava ser conquistado e dominado
em seus costumes e crenças. Durante todo esse tempo, desde
Filosofia, Cidadania e Emancipação 37
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 37 06/11/2016 13:24:59
que a Europa nos chamou de América, insistimos em outro vir-a-
ser, tentando delinear nossa resistência, produzindo mediações
e buscando construir o processo de nossa emancipação.
Nossa antítese começa a ser vista como um marco de
nossa racionalidade, não mais de povo dominado, mas de povo
resistente, ainda que assolado por malandragens, ambiguidades,
heteronomias. Nosso desejo de reconhecimento enfatiza
nosso carisma face às adversidades e postula uma consciência
de autonomia, especialmente na esfera do poder instituído.
Não nos conformamos com as determinações que impedem
nossos avanços, embora ainda não estejamos suficientemente
organizados em torno de nossas compreensões de liberdade e
igualdade, para consolidar a democracia.
Para pensarmos o presente, temos que vislumbrar nossa
síntese não como momento definitivo, fechado em hermetismos
partidários e doutrinários que a nada conduzem, mas com vistas
a valores de uma vida digna, apesar das relações de mercado,
das crises conjunturais e das práticas políticas desoladoras.
Há que ser reafirmada a compreensão de que um pensamento
emancipatório e uma prática libertadora são os ingredientes
da tarefa que nos cabe, agora, para criarmos as condições de
emancipação na realização da justiça e da ética.
O Pensamento latino-americano e a conjuntura econômica e
política
Como a filosofia está vinculada às questões do seu tempo,
ela não abdica de se pronunciar sobre as situações de crise,
próprias de cada etapa da história. Assim ocorreu desde os
gregos antigos e ocorre até os dias atuais, quando se sucedem
análises acerca dos problemas público-civis, como as questões
do Estado e da governabilidade, e das questões político-
econômicas, como os ciclos do capitalismo.
38 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 38 06/11/2016 13:24:59
Alejandro Serrano Caldera (1984) alerta para a dificuldade
de pensarmos em tempos de crise. Enfatiza: “A crise do homem
é a crise do mundo que ele habita e o mundo muda, porque o
homem nele alojado o transforma na conduta histórica” (1984,
p.11). Podemos perceber, portanto, que a crise não é estranha
ao homem; é inerente à dinâmica da vida humana, o que nos
impulsiona a enfrentá-la. Desafiador é fazer filosofia num mundo
em crise, no entanto, o ato teórico é um ato com repercussões
políticas e históricas.
Na época do Renascimento, os pensadores produziram suas
reflexões, estimulados pela fertilidade dos acontecimentos.
O mesmo observamos no século XX, especialmente devido ao
episódio das duas guerras mundiais. Todavia, é importante
salientar que nenhuma doutrina demonstrou-se suficiente para
explicar as crises históricas. Os representantes das principais
escolas filosóficas analisaram, debateram, mas não conseguiram
definir verdades estabelecidas, definitivamente.
Ainda hoje, como resultado das guerras já referidas do
século XX, cujos respingos chegaram até o nosso continente,
sofremos desigualdades e não conseguimos resolvê-las nem no
âmbito interno de nossos países, nem na esfera internacional. A
Europa recebe hoje, com estranheza, o fenômeno da imigração,
sem assumir sua responsabilidade colonialista e exploradora
sobre os povos asiáticos e africanos. Não entendeu o efeito
bumerangue de suas ações de domínio e trata os imigrantes
como a escória social que vêm contaminar seu mundo branco,
organizado e desenvolvido.
Para Robert Kurz
A humanidade europeia não produziu até
hoje nenhuma crítica definitiva acerca
do acontecimento ao qual deu o nome
de “descoberta da América”. As missões
jesuíticas já haviam legitimado, de
Filosofia, Cidadania e Emancipação 39
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 39 06/11/2016 13:24:59
antemão, o mundo europeu como o único
verdadeiro. Essa elevada auto-estima, ao
ser secularizada, ganhou uma vigorosa
continuidade com as ideias do iluminismo,
até hoje determinantes tanto para a ideologia
oficial burguesa como para a teoria crítica
de sua Intelligentsia. Em seu alvorecer,
a modernidade ocidental deveria expor a
verdade última, por fim descoberta, acerca
do espírito e da sociedade. O pensamento
burguês, com seu racionalismo abstrato, e a
civilização dos livres e iguais proprietários
de mercadorias, passaram a encarnar a
ideia mesma da razão e da civilização.
Em contraposição a ambos, tanto os povos
naturais do Pacífico e das florestas tropicais
quanto as culturas avançadas da Ásia, da
África e das Américas podiam ser sempre
desqualificadas como “bárbaras”, seguindo
a velha e gasta tradição europeia. (KURZ,
1997, p. 38)
Qual o pronunciamento da filosofia sobre essa situação? A
quem cabe a efetividade de Justiça nessas circunstâncias? No
que nos diz respeito, como povo latino, vivemos aparentemente
uma situação social melhor que os africanos e asiáticos, embora
sejamos tratados ainda sob os cânones dos imperativos da
razão de mercado, que estabelece as coordenadas do nosso
desenvolvimento. Recebemos nota de bom ou mau pagador,
conforme os ajustes fiscais que fizermos para contentar os
interesses do grande capital.
Como trabalhar o imaginário da sociedade civil, mediante
as sucessivas crises de governabilidade que o Estado, com toda
sua tecnologia gerencial, não conseguiu resolver, para fortalecer
as ideias republicanas ou democráticas?
Em que medida os avanços revolucionários, no âmbito
da tecnologia estão a serviço dos cidadãos? Qual pensamento
40 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 40 06/11/2016 13:24:59
filosófico seria adverso ao fato dos bens conquistados estarem a
serviço de todos? Como se poderá pensar a filosofia como práxis
da libertação?
Num evento como este, em que se reúne um Grupo
de Trabalho sob a consigna Ética e Cidadania, para debater
Filosofia, Educação e Emancipação Humana, com foco na ética
e na cidadania no contexto da América Latina, não podemos
deixar de enfrentar as questões da crise política e econômica
no âmbito do pensar filosófico.
Sabemos que as teses humanistas dos países ricos, no seu
racionalismo abstrato, produziram um hiato entre os postulados
teóricos e a vida prática. Não tivemos aqui, em nossa América
Latina, uma forte presença do iluminismo esclarecedor, que
procurava libertar os homens do medo, conforme a conhecida
análise de Adorno e Horkheimer. Não tivemos, pois, uma razão
das luzes a clarear nossos caminhos de libertação. Como desafio,
temos que estabelecer o nosso pensamento crítico, que não
está dissociado do mundo globalizado, mas que precisa ter
referência na nossa singularidade cultural de povo colonizado
e invadido.
O pensamento latino-americano não precisa se cercar de
muros. Quer interagir em condições de igualdade com outras
formas de pensar. A esse respeito, Caldera (1984, p.28) reitera:
“A filosofia latino-americana não pretende provincializar temas
de reflexão filosófica, mas indicar uma perspectiva, a partir de
uma situação espaço-temporal que se abre para o mundo”.
A nossa dialética, já referimos, terá que ser mais exigente
do que a mera rebelião do escravo diante do senhor. Requer
um juízo de valores frente a uma industrialização que não
se efetivou em benefícios para nós e diante de um modo de
produção capitalista, que passa por seus diversos ciclos, dos
quais recebemos mais o ônus do que o bônus.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 41
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 41 06/11/2016 13:24:59
O liberalismo econômico, com todas as suas nuances,
legitima jurídica e politicamente o capitalismo. No entanto,
para alguns produz todas as benesses, para a maioria propõe
ações paliativas, ajustadas em atitudes filantrópicas. Na América
Latina, o pensamento liberal padece de certo raquitismo, pois,
nem mesmo sendo o pensamento dominante, consegue resolver
as desigualdades, subjugado que está a um pensamento externo
com propósitos de uma mais-valia atrasada.
Kurz nos ajuda na análise:
Ora, se na história colonial o capitalismo veio
ao mundo, para usar uma expressão de Marx,
“sujo e encharcado de sangue”, e legitimou
com o Iluminismo sua própria superioridade
civilizatória, é claro que as contradições
geradas por esse processo não podiam
passar desapercebidas. Uma das primeiras
testemunhas da insensata crueldade da
civilização é o famoso manifesto do bispo
Bartolomé de Las Casas, publicado pela
primeira vez em 1552, que traz o árido título
de “Brevíssimo relato sobre a destruição das
Índias Ocidentais” (KURZ, 1997, p. 40)
O avanço da democracia, como democracia de massa,
estimulou a dimensão assistencialista do Estado, o que desagrada
aos liberais. O desejo dos liberais é manter o capitalismo, num
sistema democrático, que lhes seja favorável. O individualismo
dos liberais exige uma sociedade submetida ao mercado, com
um Estado diminuído para ser melhor controlado. Menor e mais
forte, esse é o Estado almejado.
Nossa dialética, insistimos, não se tornará dinâmica
lutando em torno de conceitos abstratos, mas necessita propor
os antagonismos entre o que domina e o que liberta. Antes,
éramos chamados de Terceiro Mundo. O eufemismo atual nos
tornou associado aos países em desenvolvimento, que participam
42 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 42 06/11/2016 13:24:59
de consórcios com siglas mais simpáticas, como G-20. Com tudo
isso, ainda permanece uma visão etnocêntrica que se opõe
à outra visão defendida pelos que se sentem portadores de
direito e exigem a saída da marginalidade econômica, social
e cultural, porque se sabem sujeitos de sua própria história. A
América Latina se inclui nesse processo.
Condições necessárias para a emancipação
Para pensarmos nas condições de emancipação da
América Latina, hoje, temos que alinhar, junto a propósitos e
projetos, os desafios. Temos eixos referenciais de análise, cujas
carências incidem sobre nossa situação de países emergentes,
com questões fundamentais a serem resolvidas.
Democracia, educação e tecnologia são eixos centrais, que
demandam problemas para a vida pública civil, num continente
ainda marcado pelos processos histórico-culturais vividos.
Talvez devamos lembrar o chamamento de José Martí (1981),
quando alerta que, para pensarmos nossa América, trata-se de
envolver-se com “a razão de todos nas coisas de todos e não a
razão universitária de uns sobre a razão campestre de outros“.
É evidente que a fala de José Martí, em Nuestra América
estava ancorada naquela América ainda muito atrasada.
Todavia, se pensarmos nos avanços e conquistas culturais e
científicas experimentadas, no último século, por nossos povos,
nos vemos ainda às voltas com problemas na área da educação
e da tecnologia, que demonstram nossa condição de atraso e
fragilidade social, o que atinge a nossa nascente democracia.
Nossa democracia custa a amadurecer e anda sempre
às voltas com ameaças de toda espécie, seja no âmbito da
liberdade, seja na esfera da igualdade. Nossas experiências
democráticas custam a crescer e demoram a afirmar-se, devido
ao controle que o capitalismo realiza sobre a governabilidade,
Filosofia, Cidadania e Emancipação 43
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 43 06/11/2016 13:24:59
nas mais diversas formas da economia política.
Slavoj Zizek, filósofo esloveno, no seu livro Primeiro como
tragédia, depois como farsa (2011), analisa o estágio atual do
capitalismo.
Embora as crises e os desastres financeiros
sejam lembretes óbvios de que a circulação
do capital não é um circuito fechado que
pode se sustentar por conta própria – que
pressupõe uma realidade ausente no qual os
bens reais que satisfazem as necessidades
das pessoas são produzidos e vendidos
–, sua lição mais sutil é que não podemos
retornar a essa realidade, apesar de toda a
retórica do “vamos sair do espaço virtual da
especulação financeira e voltar às pessoas
de verdade, que produzem e consomem”.
O paradoxo do capitalismo é que não se
pode jogar fora a água suja da especulação
financeira e preservar o bebê saudável da
economia real. (ZIZEK, 2011, p.25)
Se o capitalismo apresenta esses paradoxos de manter
tanto a especulação financeira, quanto uma economia saudável
e eficaz, no gerenciamento de nossos países, áreas como
educação e tecnologia se ressentem sobremodo em função
das carências de recursos necessários para um projeto de
desenvolvimento sustentável e digno, no horizonte de uma
democracia limitada por resultados.
Na Educação também vivemos situações paradoxais,
que denotam a decalagem existente entre os que possuem
privilégios e os que necessitam de uma base mínima para iniciar
um processo de inclusão social. Isso é assim no Brasil e em alguns
dos países latino-americanos, cuja formação filosófico-cultural
ainda se ressente de boas escolas e universidades públicas,
onde a população possa ter o acesso viabilizado.
É comum o discurso da crise na educação. Tal discurso,
44 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 44 06/11/2016 13:24:59
ao mesmo tempo em que destaca as emergências e busca de
soluções, pode permitir certo descaso repetitivo pelos gestores
da coisa pública. A crise aparece como algo reiterativo na agenda
financeira dos gestores, sem maiores responsabilidades.
Utilizamos o conceito de emergência proposto por Arturo
Roig (1994), filósofo argentino, que constrói o conceito de
“moral de emergência” baseado na cultura e na tradição moral
vivida no continente latino-americano. Nossa situação de crise
requer ações de emergência.
O filósofo elabora a categoria emergência para referir
a um pensamento ético e uma forma de práxis que trabalhe
a ideia de emergência, como quebra de opressão, como a
tentativa afirmadora de inclusão e igualdade social. Como
nossa ilustração não se deu conforme os cânones europeus,
vivemos, pois, a polarização colônia-metrópole, na tentativa
de encontrar nosso caminho de afirmação ética, buscando na
dignidade um conceito forte, sem alinhamento ao “reino dos
fins”, de Kant.
Roig estabelece alguns comparativos entre a moral
emergente e a teoria do discurso, mostrando as diferenças.
A ética do discurso se apoia no próprio discurso, no ato
comunicativo, para formular um princípio ético, enquanto que a
moral de emergência aponta para a reconstrução de um mundo
de vozes que todo discurso transmite, ao integrar um universo
discursivo, convergente.
Destaca coincidências entre ambas ao apresentarem
uma preocupação social e afirmarem a história e a cultura
como elementos aproximativos de uma universalidade.
Fundamentalmente, Roig evidencia que a moral de emergência
quer reunir a pluralidade étnica no espaço ético da América
Latina. Trata-se de quebrar o patriarcalismo como totalidade
única e criar polifonias.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 45
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 45 06/11/2016 13:24:59
Para o autor, é possível recorrer ao conceito de “homem
natural”, pensado por José Martí, na obra Nuestra América
(1981), que não é o homem fora da história, nem a figura do
bom selvagem, mas é o homem indignado que busca resolver as
emergências de um continente.
Roig refere esse conceito de Martí para analisar que esse
homem natural
é a expressão da consciência moral
enfrentando as leis estabelecidas [...] é o
homem estranho à cidade, um camponês
com uma consciência moral, fruto de sua
submissão, de sua exploração e de sua
miséria que através de rachaduras de sua
própria alienação, surge como uma voz
de protesto e de denúncia. (ROIG, 1994,
p.177)
Servimo-nos desses postulados de Arturo Roig para refletir
sobre as emergências latino-americanas situadas nos eixos
democracia, educação e tecnologia, por entendê-los como
condições necessárias e estruturantes para a emancipação
social.
Se tivermos presente nosso contexto de povos dominados
e todo o caminho realizado para quebrarmos a opressão, há
necessidade de situarmos as carências que se transformam em
desafios para atingirmos o patamar de dignidade proposto pela
moral de emergência. Os filósofos liberacionistas trabalham com
essa percepção, criam um outro cógito para o entendimento
das culturas dominadas
Isto posto, podemos avançar para o entendimento
da crise como espaço da crítica, ou seja, a crítica assinala
medida, critérios que podem ser dimensionados no território
da normalidade, se bem administrados. O que inquieta é a crise
sistêmica, sem horizontes de intervalos, sem perspectiva de
46 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 46 06/11/2016 13:24:59
solução. É isto: ou tememos, ou enfrentamos. Este é o fenômeno
que dificulta a realização da justiça e da ética, quando a crise
se alinha, apenas, como expressão expansionista, no sentido da
ausência de algo direcionado para o bem.
Sobre uma crise expandida, Zizek refere:
Na educação, assistimos ao desmantelamento
gradual do aparelho ideológico do Estado da
escola burguesa clássica: o sistema escolar
é cada vez menos uma rede compulsória
elevada acima do mercado e organizada
diretamente pelo Estado, portadora de
valores esclarecidos [...] em nome da
fórmula sagrada de ‘menor custo, maior
eficiência’, vem sendo cada vez mais tomado
por várias formas de PPP (parceria público-
privada). (ZIZEK, 2011, p.10)
Essa entrega gerencial da educação ao mercado contribui
para o agravamento da diferença social, oportunizando
um modelo educacional poroso, debilitado em qualidade e
sem competência para viabilizar um avanço tecnológico de
qualidade.
E, então, que fazer? Como entender a crise e a crítica?
Como superar o discurso da crise? Família, escola, governo,
igreja, partidos políticos, em todas essas instâncias organizativas
se ouve ou se vê a fala da crítica ou o anúncio da crise. Como
administrar tudo isso? Como nos sentimos chamados a reavaliar
nossos critérios éticos, no contexto dessas crises estruturais e
conjunturais que estamos vivendo?
Nesse sentido, podemos perguntar: até que ponto a Ética
é bem vista na sociedade? Quais os interesses que sustentam a
efetividade da justiça? Em que medida o sujeito se libertou da
natureza e se acomodou numa cultura produtivista?
Parece que o homem era um feliz ignorante, submetido à
Filosofia, Cidadania e Emancipação 47
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 47 06/11/2016 13:24:59
ordem das necessidades, o homem da natureza, do instinto. E que
o homem da cidade, pertencente ao corpo político, cumpridor
das normas sociais é um infeliz cerceado em sua liberdade:
o homem das leis. Será assim? Como resolver o problema das
nossas ambivalências, neste momento de progresso tecnológico,
em que a humanidade não usa mais os instrumentos primitivos,
eis que chegou a era da nanotecnologia?! Qual o espaço da ética
na construção da justiça, nesse tempo em que ainda buscamos
a emancipação pela democracia e pela educação?
Estas questões direcionam-se para as situações atuais, que
são responsáveis pelo desejo de aumento do espaço da ética
na sociedade contemporânea. Elas demonstram que as análises
comportamentais não se restringem à esfera privada ou grupal,
mas envolvem a esfera pública, societária. A ética deixou de ser
um assunto reservado a especialistas e passou a ocupar todos os
espaços, de todas as profissões, nas concentrações de grupos,
nos debates da mídia. Da ecologia à engenharia genética, do
aborto ao homossexualismo, da administração pública ao rito
religioso, tudo passou a ser interessante para o debate ético.
Cada ação dos sujeitos sociais, hoje, tem repercussão
significativa, a partir da informatização do mundo. As
conjunturas históricas relativizaram os valores éticos. A moral
do imperativo da lei perdeu sua validade, a não ser numa
situação de vigilância. O formalismo da lei tornou-se distante da
realidade social contemporânea. As inovações da cultura e da
ciência produziram novos conteúdos para a lei, que assim sofre
as alterações históricas, até mesmo necessárias, se pensarmos
na escravidão, no isolamento social das mulheres e das crianças,
no poder absoluto dos patrões sobre os empregados, na
necessidade de transparência da gestão pública, para ficarmos
nos problemas mais cruciais.
Que pronunciamentos pode fazer a educação sobre esta
48 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 48 06/11/2016 13:24:59
realidade atualíssima da crise de valores morais? Que papel
pode a educação desempenhar em face desse termômetro de
crise ética e de lacunas democráticas? Reprodução da eficácia
desejada pelo capitalismo ou criação de alternativas?
A emancipação necessita de ações coletivas, de modo
a obstaculizar o procedimento individualista, próprio dos
que buscam apenas o lucro e a eficácia. A democracia para
se fortalecer e a educação para se afirmar necessitam dessa
autonomia. A perda da autonomia implica na ausência de
espaços críticos e na ausência de perspectiva. Cabe a cada país
situar seus problemas e começar o enfrentamento nos níveis em
que se apresentam.
As questões como a diversidade das culturas, a geração
de oportunidades de trabalho e emprego, o interesse por uma
vida sustentável não podem prescindir de um pensamento
comunitário voltado para uma educação que vincule teoria e
práxis. Este é o desafio.
Considerações finais
Falamos no início desse texto sobre a importância do
pensar próprio como avanço cultural, bem como a significativa
condição da tecnologia para o bem-estar de povos e culturas.
Não podemos descurar, no entanto, das condições históricas
nas quais nos constituímos sujeitos do fazer filosófico. Todo
nosso ímpeto pela emancipação está ligado ao encobrimento
em que vivemos, ao sermos colonizados. A razão cartesiana,
que estabeleceu nosso ordenamento cultural, impediu que
tivéssemos a nossa própria experiência originária como um povo
que pensa. Fomos obrigados a adotar os cânones da razão que
nos dominou por muito tempo.
Nossa identidade latino-americana não se fortaleceu
como deveria e crescemos anêmicos, com falta de nutrientes
Filosofia, Cidadania e Emancipação 49
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 49 06/11/2016 13:24:59
adequados ao nosso crescimento, resultado da situação de
alheamento de nós mesmos.
Filósofos latino-americanos (Leopoldo Zea, Arturo Roig,
Arturo Ardao, Enrique Dussel, Raúl Fornet-Betancourt, Ricardo
Salas, Alejandro Serrano Caldera, para ficarmos no século XX)
denunciaram essa prática que nos foi imposta. Tal denúncia não
é para que fiquemos insulados num continente, construindo uma
espécie de paraíso perdido de selvagens, nem tão bons assim.
Ao contrário, os estudos desses pensadores demonstram a
importância e a urgência de nos sentirmos sujeitos do próprio
pensamento, como os outros povos e, para isso, tornou-se
imprescindível a formação de uma consciência histórica auto-
afirmadora, não guiada, apenas pela concepção universalista,
cuja matriz europeia se expandiu pelo planeta. Não se trata,
pois, de reivindicar uma filosofia particular, cercada por muros
simbólicos, com objetivo de impedir interlocuções. Essa atitude
iria contra a universalidade do pensar filosófico.
O que identifica o humanismo latino-americano é a
apropriação de nossos valores para pensarmos a democracia,
a educação e a tecnologia que são absolutamente necessárias
para a nossa emancipação. Essas são as razões históricas do
nosso pensar e fazer filosóficos, que foram impelidos pelo
sentimento de urgência, em que as soluções imediatas se
fizeram necessárias. Cabe aqui a crítica ao capitalismo, cuja
ideologia contribuiu para a dominação.
Conforme descreve Zizek:
O capitalismo é um sistema que não tem
pretensões filosóficas, não está em busca da
felicidade. A única coisa que diz é: ‘Ora, isto
funciona”. E, para quem quer viver melhor,
é preferível usar esse mecanismo, porque
funciona. O único critério é a eficiência.
(ZIZEK, 2011, p.33)
50 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 50 06/11/2016 13:24:59
Como não desejamos apenas a eficiência, mas a
emancipação, precisamos compreender a importância da
democracia que fundamentará a educação e o desenvolvimento
das tecnologias sustentáveis. Os perigos estão aí para ameaçar
os que pensam de forma diferente. Como nos informa Todorov
(2012, p. 121): “A nuvem de Chernobyl atravessou sem
impedimento todas as fronteiras europeias. A vontade coletiva
que orienta as decisões para o amanhã também deve situar-se
nessa escala continental”.
Essa advertência do pensador búlgaro situa o compromisso
planetário que todos devem ter com todos, como assinalará
José Martí. Afinal, destruir o planeta, ameaçar milhares de vida
pelo descaso ou pelo descompromisso, afeta a todos os que
desejam pensar e viver a emancipação.
Nenhum modelo educacional será bem-vindo se não for
para consolidar a democracia para todos e implantar uma
tecnologia de acordo com a vida sustentável, além dos acordos
de um capitalismo sem pretensões filosóficas, conforme
assevera Zizek.
Nesse sentido, concordamos com Leopoldo Zea, que nos
convoca, enquanto pensadores da América Latina, a sermos
protagonistas em nossa forma de filosofar, a fazermos uso de
nossa palavra e não sermos aquela parte da humanidade que
apenas toma emprestado a palavra dos outros.
Criemos as condições para que a Justiça e a Ética
aconteçam também aqui em nosso continente.
Referências
CALDERA, Alejandro Serrano. Filosofia e Crise. Pela filosofia
latino-americana. Petrópolis: Vozes, 1985.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 51
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 51 06/11/2016 13:24:59
KURZ, Robert. Os últimos combates. Petrópolis: Vozes, 1997.
ROIG, Arturo. La “Dignidad Humana” y la “moral de la
emergencia” en América Latina. In: SIDEKUM, Antonio. Ética do
discurso e Filosofia da Libertação. Modelos Complementares.
São Leopoldo:EdUnisinos, 1994.
TODOROV, Tzvetan. Os inimigos íntimos da democracia. São
Paulo: Companhia das Letras, 2012.
VÉDRINE, Hélène. As Filosofias da História. Decadência ou crise.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1977.
ZEA, Leopoldo. La filosofía américana como filosofía si más.
México: Siglo Veintiuno, 1992.
ZIZEK, Slavoj. Primeiro como tragédia, depois como farsa. São
Paulo: Boitempo, 1975.
52 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 52 06/11/2016 13:24:59
Justiça anamnética e emancipação das
vítimas
Dilemas e dívidas de nossa América Latina
Castor M.M. Bartolomé Ruiz
Introdução a um dilema
Há uma linha de continuidade na violência vivida e sofrida
numa sociedade que perpetua a violência como normalidade
institucional ou cotidiana quando é ocultada por atos políticos
de esquecimento. A história moderna dos povos latino-
americanos foi inaugurada como tragédia de uma conquista
e continuada por uma história de violências. O mais recente
episódio de violência Estatal foi vivido de forma generalizada
em toda a América Latina nas ditaduras que, a partir da década
de sessenta do século XX, se espraiaram como sementes do
mal na quase totalidade dos países. O Brasil registra a fatídica
data de 1 de abril de 1964, na qual os militares destituíram
o governo legítimo de João Goulart. Argentina o 28 de julho
de 1966, Uruguai 27 de junho de 1973, Chile 11 setembro de
1973, data do assassinato de Allende pela ditadura de Pinochet,
Bolívia 21 de agosto de 1971, e ainda Paraguai tinha seu ditador
particular, Alfredo Stroessner, que se perpetuou no poder desde
1954 até 1989. Estas são as tristes datas que conectam o Cone
Sul do continente latino-americano em torno de uma estratégia
política de violência de Estado.
Cabe-nos analisar traços comuns a está violência de Estado
com o objetivo de captar alguns dos fios ocultos da violência
estrutural. Esta análise crítica da violência nos permitirá
desenhar estratégias que possam neutralizá-la. Num primeiro
ponto, penetrando pela fina capa dos eventos históricos, nos
propomos mergulhar na análise de uma das constantes da
Filosofia, Cidadania e Emancipação 53
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 53 06/11/2016 13:25:00
violência, que denominamos potencial mimético da violência.
Num segundo ponto, desenvolveremos as cumplicidades da
mimese violenta com o esquecimento. Num terceiro ponto,
apresentaremos a potência da memória para neutralizar a
mimese violenta. Na sequência, analisaremos as possibilidades
éticas da memória para constituir uma justiça a partir das
vítimas, uma justiça anamnética. Concluiremos mostrando
a importância do testemunho das vítimas como potência
neutralizante da violência.
A mimese da violência
O primeiro aspecto que nos propomos analisar criticamente
diz respeito aos mecanismos de naturalização da violência nas
instituições e práticas de nossas sociedades. Constatamos
que a violência não é um fato pontual que desaparece
simplesmente ao cessar o ato violento. A violência não se
apaga sincronicamente ao virar a página do tempo. A violência
tem uma persistência diacrônica cujos efeitos perduram no
tempo. A lógica do tempo linear não se aplica à violência,
seu passado é presente. A violência continua a existir mesmo
quando termina o ato violento. Ela lateja como potência ativa
nos sujeitos e sociedades que contaminou. A violência contém
uma consistência tal que contamina as estruturas, instituições
e pessoas que toca.
Para entendermos criticamente a história de violência e
barbárie que assola nosso continente, assim como para pensar
estratégias que possam neutralizar a violência de Estado,
temos que analisar suas entranhas da Górgona, sua potência
mimética.
A violência não desaparece, sem mais, quando se
termina de violentar o outro. Ela tem uma vigência, qual eco
contaminador, nas seqüelas que deixa tanto nas vítimas como nos
54 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 54 06/11/2016 13:25:00
violadores1. Esse caráter inconcluso de toda violência, costura
uma línea de continuidade entre a violência do passado e nossa
violência presente. Embora nos pareça imperceptível, essa línea
alimenta muitas das condutas violências que atualmente nos
apavoram. Ela está ativa nas práticas de violência institucional
de muitos corpos do Estado e também na violência social que
impregna nossas sociedades. A violência foi muito mais do que
o mito fundador de nossas sociedades latino-americanas, ela
foi a barbárie legitimadora de suas instituições, que começou
nas lógicas colonialistas e teve continuidade nos Estados
autoritários.
A violência do nosso presente está conectada com a
violência histórica mal resolvida. Uma sociedade violenta, com
agentes violentos, com instituições violentas, com valores e
hábitos sociais violentos, se quiser entender-se criticamente,
tem que procurar sua gênese para além do imediatismo do seu
presente. Há algo de intangível na nossa história de violência
que dificulta sua neutralização e se perpetua como sombra da
nossa realidade.
Os estados de exceção vividos nas últimas décadas do
século XX, no conjunto dos países do cone sul latino americano,
não devem ser lidos como meros episódios pontuais da violência
histórica. A simples análise política dos fatos, sendo importante,
não possibilita uma compreensão plena de porque a violência
continua sendo uma técnica de governo tão comum em nossos
estados. A tortura, a repressão, a truculência dos aparatos do
Estado ou de agentes do Estado, e ainda de milícias paramilitares,
continuam assombrando a vida cotidiana de nossos povos.
Temos que reler a barbárie sofrida nas últimas ditaduras (e sua
continuidade no nosso presente) na seqüência de uma violência
endêmica que assola nossas sociedades. Ela está enquistada
1 Sobre a potência mimética da violência remetemos à obra de GIRARD,
René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra/UNESP, 1990.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 55
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 55 06/11/2016 13:25:00
nas estruturas do Estado, nas lógicas institucionais, nas práticas
políticas e até nos valores sociais e práticas cotidianas de
muitos sujeitos. Nesse caso, e antes de pensarmos práticas
políticas eficientes para neutralizar a violência, é pertinente
nos perguntar como a violência consegue estabelecer uma
linha de continuidade nas instituições, nas estruturas, nos
comportamentos sociais e nos hábitos culturais? Talvez
possamos encontrar um princípio de resposta a esta questão se
entendermos que a violência contém o que denominaremos de
potência mimética.
A mimese pode ser definida como o impulso a repetir por
imitação a conduta externa. O que caracteriza a mimese é a
reprodução imitativa do comportamento externo. A violência
não é um ato asséptico que se anula na execução do ato. Pelo
contrário ela possui um impulso próprio que tende a sua auto-
reprodução, o que confere à violência uma potência mimética!2
A mimese é uma pulsão que tende a repetir aquilo que a origina
ou ainda imitar aquilo com o qual se relaciona3. No caso da
violência, a tendência mimética tende a reproduzir a violência
praticada ou sofrida como se fosse uma forma de ação e reação
2 Ainda que concordemos com Rene Girard a respeito da potência mimética
da violência, discordamos do caráter naturalista e compulsório que lhe
outorga. Cf. Id. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra/UNESP, 1990,
p. 182 ss. Entendemos que todo desejo humano é, também, uma produção
simbólica de sentido que possibilita sua reconstituição para além da mera
mimese. Sobre este ponto cf. RUIZ, Castor M.M. Bartolomé. Por uma crítica
ética da violência. São Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 87-112.
3 Walter Benjamin analisa a capacidade mimética do ser humano como uma
característica própria de nossa aprendizagem. Daí a responsabilidade que
temos ao propor ou impor determinadas práticas que tenderão à imitação
mimética dos outros. “A natureza engendra semelhanças: basta pensar na
mímica. Mas é o homem que tem a capacidade suprema de produzir as
semelhanças. Na verdade, talvez não haja nenhuma de suas funções superiores
que não seja decisivamente co-determinada pela faculdade mimética”.
(BENJAMIN, Walter. “A doutrina das semelhanças”. In. Id. Obras escolhidas I.
Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 108).
56 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 56 06/11/2016 13:25:00
instintiva do ser humano4. A violência, uma vez praticada ou
até sofrida, desencadeia no sujeito e na sociedade uma espécie
de instinto violento que tende a reproduzi-la e até perpetuá-
la. A potência mimética naturaliza a violência como um ato
de normalidade. A normalização inerente à potência mimética
torna a violência algo natural. A violência gera violência,
desencadeia a violência como atitude normal de reação e
hábito de conduta. O resultado dessa espiral é a normalização
da violência. Nessa condição ela pode ser praticada como se
fosse um comportamento natural à escala social, institucional,
e até exaltá-la como valor social.
A mimese, por definição, produz um impulso que tende
a imitar um comportamento como se fosse algo natural5. A
mimese naturaliza o comportamento, neste caso violento, e o
reproduz de forma inconsciente como algo normal. A mimese
normaliza a violência tornando-a um componente normal da
vida social ou uma tática natural para o governo institucional.
A potência mimética produz a violência e a reproduz de forma
natural. A mimese naturaliza a violência, outorgando-a uma
aparência de naturalidade, ocultando desse modo sua gênese
histórica. A naturalização da violência confere-lhe uma espécie
de transcendentalidade com uma aparência de fatalidade
inevitável. Nos bastidores da presumida naturalidade da
violência, age um dispositivo mimético. Nas tramas ocultas da
normalização da violência, opera a mimese como potência auto-
reprodutora. Se a violência fosse uma mera estratégia racional
4 Destacamos a ênfase que Benjamin outorga à capacidade mimética do
ser humano como possibilidade de repetir as semelhanças, que no caso da
violência implica numa reprodução de si mesma: “O dom de ser semelhante,
do qual dispomos, nada mais é que um fraco resíduo da violenta compulsão, a
que estava sujeito o homem, de tornar-se semelhante e de agir segundo a lei
da semelhança”. (BENJAMIN, Walter. Op. Cit. p. 113).
5 Cf. GEBAUER, G.; WULF, C. Mimese na Cultura. São Paulo, Annablume,
2004.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 57
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 57 06/11/2016 13:25:00
dos sujeitos ou das instituições, seria relativamente fácil
neutralizar seus efeitos, incentivando novos discursos racionais
contrários a ela. Os discursos formais contra a violência, assim
como as declarações institucionais, se desmancham no ar quando
confrontadas com a potência mimética de uma violência que se
reproduz nos porões inacessíveis das estruturas sociais e das
consciências dos sujeitos. A mimese, ao naturalizar a violência,
a legitima como uma estratégia inevitável de governo. Se
quisermos neutralizar o potencial destrutivo de qualquer
violência, teremos que alcançar essa potencia mimética que a
naturaliza ao ponto de normalizá-la no comportamento habitual
e estratégia institucional.
A potência mimética da violência opera sobre todos que a
contatam. Ela os contamina de modo a torná-los naturalmente
violentos. Todos os que de uma ou de outra forma são tocados
pela violência tendem a reproduzi-la como meio normal de
comportamento. O potencial mimético da violência tende a se
reproduzir naqueles que a praticam, fazendo do ato violento
uma forma natural de agir, o que torna a estratégia da violência
uma técnica normal de governo.
A violência atinge, em primeiro lugar, as vítimas. A
violência é perversa porque nega a alteridade humana. No
sentido estrito não se comete violência contras as coisas, mas
só contra as pessoas. A violência existe como produtora de
vítimas6. Há muitos atos agressivos que destroem coisas, mas
só os atos violentos atingem ao humano. A violência existe
correlativamente à negação total ou parcial da alteridade
6 Uma das derivações políticas da potência mimética é a teoria do sacrifício
necessário. Muitas das perseguições, torturas e mortes de opositores se
legitimam como parte do sacrifício necessário para salvar o corpo social de um
perigo que o ameaça. Neste sentido, a teoria do bode expiatório continua a
ser utilizada como técnica política para justificar a repressão e até a morte de
opositores. (cf. GIRARD, René. O bode expiatório. São Paulo: Paulos, 2004).
58 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 58 06/11/2016 13:25:00
humana. Este é o primeiro e principal efeito de toda violência.
O fato de a violência existir como destruidora do humano, a
torna intrinsecamente perversa. Ela faz das vítimas seu efeito
necessário. Sem vítimas não há violência, sem violência não
há vítimas. Para além de todas as casuísticas que podermos
pensar sobre os tipos de violência e as modalidades das vítimas,
só há violência quando se produz uma negação da condição
humana, uma vítima. Só existe a vítima porque um ato violento
negou nela, total ou parcialmente, sua alteridade humana. A
potência mimética da violência induz a sua prática como ato
de normalidade, normalizando a existência das vítimas como
um subproduto inevitável das sociedades. A mimese naturaliza
as vítimas como efeitos colaterais de práticas estruturais
naturalizando-as qual paisagem cotidiana de nossas sociedades.
A repetição mimética dos atos de violência, desde a tortura
institucional até a violência familiar, a torna algo corriqueiro
com o que parece teremos que nos acostumar, como parte
constitutiva do nosso ser cultural ou social. Este é primeiro
efeito da mimese.
Outro efeito mais perverso da potência mimética da
violência se manifesta quando inclusive algumas vítimas
tendem a reproduzir nos outros a violência que eles sofreram,
como algo natural. Por exemplo, muitas vítimas da violência
familiar tendem a reproduzir a violência vivida ou sofrida sendo
eles verdugos contra outras vítimas da sua própria família. Esta
espiral perversa do mimetismo da violência está no âmago de
muita violência familiar contra a mulher, crianças e idosos que
se reproduz com naturalidade sem que o violento tenha remorso
da sua barbárie. O potencial mimético da violência induz o
violento a cometê-la de forma trivial. A mimese normaliza a
violência como um comportamento natural das pessoas, de
grupos sociais e até de sociedades inteiras.
Ainda há um terceiro efeito da violência, desta vez sobre
Filosofia, Cidadania e Emancipação 59
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 59 06/11/2016 13:25:00
aquele que a comete, o violento. O potencial mimético da
violência afeta diretamente o violento. Ninguém sai imune da
prática da violência. O violento não poderá praticar a violência
sem sentir seus efeitos perversos. A violência provoca no
violento uma progressiva desumanização de modo que a cada
ato de violência se internaliza nele a barbárie como um ato
normal. Isso já é um efeito do mimetismo. Ao internalizar a
violência como comportamento normal, o mimetismo provoca,
no agressor, uma perda de sensibilidade sobre o outro. A mimese
desumaniza o violento ao ponto de apagar sua capacidade de
reconhecer no outro um semelhante. A potência mimética da
violência vai anulando a capacidade de reconhecer no rosto do
outro uma alteridade humana. O violento, na medida que pratica
a violência como um ato normal, se embrutece ao extremo de
não reconhecer no olhar do outro o rosto de um semelhante. A
violência apaga no violento a capacidade de enxergar no olhar
do outro um lampejo de humanidade. Para o violento, o rosto
do outro não passa de uma máscara vazia sem significado7. A
mimese da violência apaga nele uma parte da capacidade ética
de reconhecer no outro um ser humano como ele. A repetição
mimética da violência vai se tornando para ele um ato normal.
Ele se normaliza como violento e normaliza a violência como
método legítimo, natural e eficiente para conseguir os fins que
pretende. Cada ato de violência o afunda num embrutecimento
desumanizador sem limite definido.
Todas as estratégias de barbárie requerem táticas de
embrutecimento e desumanização dos violentos ou verdugos.
A mimese é uma potência inerente à violência que se presta
eficazmente a esta tarefa. A reprodução mimética da violência
7 Neste ponto remetemos aos estudos de Emmanuel Levinas a respeito da
violência como negação da alteridade humana em que o rosto tem um significado
além da mera face. O rosto é o símbolo através do qual reconhecemos a
revelação da humanidade do outro e vemos nele um semelhante diferente.
(Id. Totalidade e infinito. Lisboa: Ed. 70, 2000).
60 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 60 06/11/2016 13:25:00
consegue que o violento veja na vítima um mero objeto
negativo que deve ser negado. Ao normalizar a violência, o
violento apaga os rasgos humanos do outro e reduz seu rosto a
um conceito sem significado. Ele é um bandido, um subversivo,
um marginal, um terrorista, um ser sem significado. A mimese
apaga a significação do rosto humano8. Um rosto insignificante
está exposto a uma violência natural. A insignificância do rosto
torna o ser humano vulnerável a toda violência. Ainda poderia
se dizer que a violência só é possível porque houve um trabalho
prévio de apagamento da significância do rosto do outro. Quando
o violento se confronta com um rosto com significado para ele,
a potência mimética da violência se dilui. A diminuição da
potência mimética da violência é proporcional ao significado do
rosto. Um rosto com pleno significado dissolve a possibilidade
de qualquer violência. É muito difícil cometer violência quando
se reconhece no outro alguém com um significado importante
para mim. Para que a violência aconteça é necessário produzir
o violento como um ser que repete a violência de forma
mimética. O violento é um produto, desumanizador, da própria
mimese violenta que ele pratica. Ele, ao praticar a violência,
se produz a si mesmo como um ser embrutecido, capaz de
cometer a barbárie de forma mimética sem qualquer remorso. A
potência mimética apaga nele a capacidade de indignar-se com
o sofrimento do outro e ativa o dispositivo da normalização que
legitima a violação do outro como um ato natural para um fim
desejado. Esta é uma lógica biopolítica amplamente difundida
nas sociedades modernas. O embrutecimento do violento é uma
condição necessária para que a violência possa se reproduzir
como um ato de normalidade institucional e pessoal.
8 Para Levinas o rosto tem uma relação não violenta, desarma a violência:
“O rosto recusa-se à posse, aos meus poderes. Na sua epifania, na expressão,
o sensível ainda captável transmuda-se em resistência total à apreensão”.
(Id. op.cit. p. 176)
Filosofia, Cidadania e Emancipação 61
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 61 06/11/2016 13:25:00
Neste ponto, cabe lembrar que os torturadores têm que
ser produzidos como tais. A terrível Escola das Américas tinha (e
ainda tem) como objetivo primeiro produzir o torturador como
um ser insensível para o outro. As técnicas para insensibilizar
o torturador são muitas e sofisticadas, cientes de que delas
depende a eficiência futura da tortura. Todas estas técnicas de
tortura foram amplamente ensinadas, durante as ditaduras, em
muitos dos corpos de seguridade dos Estados do cone sul. Ainda
na atualidade, por um efeito mimético não neutralizado, tais
técnicas se transmitem de forma subterrânea, clandestina, entre
agentes do Estado. Guantánamo é o símbolo contemporâneo
dessa continuidade mimética no continente. A prática habitual
da tortura como técnica de interrogatório contra suspeitos
consentida e até legitimada em Guantánamo não é um ato
pontual irrelevante, senão a ponta do iceberg que reproduz
mimeticamente uma prática de Estado. O fato de ela se cometer
num território ocupado fora dos EEUU, também não é casual.
Guantánamo é o paradigma do campo biopolítico que representa
a continuidade das torturas praticadas neste continente durante
os últimos estados de exceção. Os torturadores de Guantánamo
são discípulos daqueles que na Escola das Américas ensinaram
técnicas de tortura aos militares do Cone Sul e outros países
latino-americanos. Guantánamo é o paradigma da reprodução
mimética do campo em que a vida humana se torna pura vida
nua no estado de exceção.
A potência mimética não se detém na subjetividade
humana, ela contamina também as instituições e estruturas
sociais. A potência mimética tende a contaminar o conjunto
das relações sócias tornando a violência um hábito cultural.
Ela inocula-se nos âmbitos institucionais do Estado sob o
manto de tática normal para governar as vidas perigosas. A
legitimação da violência no Estado contém um potencial que a
torna mais perigosa já que o Estado detém o monopólio legal
62 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 62 06/11/2016 13:25:00
da violência. A ele lhe cabe o direito exclusivo a monopolizar
toda a violência, como dispositivo para defender da violência
dos outros9. A coexistência, no Estado, do monopólio legal da
violência e a persistência de uma potência mimética, produz
uma combinação sombria e ameaçadora para o conjunto
da sociedade. A potência mimética permanece oculta nas
instituições do Estado sob o véu do naturalismo, tendendo
a consolidar o que podemos denominar de uma cultura da
violência. As instituições não estão isentas desta contaminação.
Pelo contrário, na medida em que o mimetismo da violência se
torna algo normal numa sociedade, as instituições tendem a ser
naturalmente violentas. A violência tende a incorporar-se como
parte natural de seu agir institucional.
O potencial mimético da violência também se inocula nas
práticas institucionais ao ponto de torná-las práticas normais
de governo. Ao deter o monopólio legal do uso da violência,
o Estado se arbitra como uma forma de violência legal cuja
única legitimidade é a de defender de outra qualquer violência
que ameace a vida humana inocente. Mas quando a mimese
da violência latente em muitas instituições do Estado induz a
praticar a violência como uma tática de governo, a potência
letal dessa violência se multiplica ao extremo. A combinação
de mimese e monopólio da violência, quando devidamente
articulada, se torna uma temível máquina biopolítica de
controle humano em grande escala. A barbárie em grande
escala das últimas ditaduras militares se explica, em grande
parte, porque o mimetismo da violência não foi desconstruído
e continua contaminando muitas das instituições públicas do
9 Este seria um dispositivo imunitário que a biopolítica utiliza como
mecanismo para sacrificar umas vidas, que considerar ameaçadoras, para
preservar as vidas normais. Sobre a dimensão da biopolítica (cf. ESPOSITO,
Roberto. Immunitas. Protección y negación de la vida. Madrid: Amorrurtu,
2005)
Filosofia, Cidadania e Emancipação 63
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 63 06/11/2016 13:25:00
Estado, notadamente as áreas de segurança, polícia e defesa.
A prática da violência como método de governo biopolítico de
populações perigosas nunca deixou de praticar-se. Ainda pior,
as práticas de violência, os métodos de tortura, as táticas de
repressão, entre outras, nunca deixaram de ensinar-se nas
escolas militares ou policiais e sempre foram consideradas uma
possível tática de governo. O imaginário social da violência
necessária sobreviveu na reprodução mimética de uma prática
não reconhecida. O potencial mimético da violência também
pode embrutecer as instituições sociais e o próprio Estado
quando interiorizam a violência como uma prática habitual de
governo institucional.
O embrutecimento produzido pelo mimetismo tira a
capacidade crítica dos próprios atos, impede aos agressores e
violentos perceberem que suas práticas são atos de violação da
alteridade do outro. Eles as justificam como práticas normais e
necessárias para resolução de conflitos. Este é o ponto cego a
que conduz o mimetismo da violência e o ponto álgido da lógica
biopolítica.
O esquecimento, cúmplice da mimese da violência
Após a análise crítica sobre o mimetismo da violência e
sua lógica biopolítica, a questão que nos colocamos é como
neutralizar o potencial mimético da violência. O desafio que
nos cabe é esboçar uma estratégia eficiente para tal finalidade.
Se assim o fizermos, talvez poderemos quebrar a espinha dorsal
de uma violência histórica que vem assolando nossas sociedades
desde suas origens modernas.
Entre as tentativas ensaiadas para neutralizar o potencial
mimético da violência, destacamos duas práticas políticas que
se mostraram ineficientes e ainda cúmplices de tal mimese.
Um caminho que se mostrou ineficiente para neutralizar o
potencial mimético da violência foram os discursos formais e
64 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 64 06/11/2016 13:25:00
racionalistas. A mimese da violência não se neutraliza através
da confecção de instrumentos jurídicos formais de caráter
procedimental10. Por mais que estes sejam importantes e até
necessários, são insuficientes para neutralizar o potencial
mimético da violência. Por exemplo, as seqüelas da violência
que os séculos de escravidão provocaram não se anularam
através do ato formal da libertação dos escravos. Os decretos
da Nova República no Brasil não apagaram as marcas da
violência histórica e estrutural. De igual modo, não foram
as transições formais das últimas ditaduras que apagaram
o potencial mimético da violência institucional no Estado.
Muitas dessas transições foram meras transações11 negociadas
pelos interesses dos militares para perpetuar sua influência no
Estado e ainda comandar todo o processo de modo a não serem
julgados por seus atos de violência e manter o poder de agir com
violência, se o considerarem pertinente. O caráter transacional,
negociado pela força, de nossas democracias as torna muito
vulneráveis à continuidade da potência mimética da violência
nas suas instituições. A dificuldade de realizar uma autêntica
justiça transicional dos regimes autoritários encontra seu
maior obstáculo no caráter transacional imposto pelos próprios
militares. A transação histórica dos estados de exceção para as
novas democracias carregou consigo uma parte importante do
potencial mimético da violência institucional.A transação não
permitiu fazer uma transição. Não houve um trânsito para a
democracia senão que se negociou a continuidade de uma lógica
10 Compartilhamos com Reyes Mate que “o traço mais característico da
justiça moderna – traço que comparte com a justiça dos antigos – é a alergia
ao passado”. (MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. São Leopoldo: Nova
Harmonia, 2005, p. 267).
11 Devo esta observação crítica entre transição e transação, como figura
semântica e política das ditaduras latino-americanas, a Jair Krischke,
Coordenador do Movimento Justiça e Direitos Humanos, na sua conferência
no XIII Corredor das Idéias do Cone Sul, realizado 14/09/2011, na Unisinos,
São Leopoldo –RS.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 65
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 65 06/11/2016 13:25:00
autoritária enquistada ainda na violência institucional que
ameaça as frágeis democracias e se manifesta na truculência e
tortura praticadas por muitos elementos do Estado. Não são os
atos formais de governo que neutralizam o potencial mimético
da violência, ainda que se reconheça sua importância para
articular o modelo institucional de qualquer sociedade. Não é
o aumento de discursos racionalistas que dissolvem a potência
mimética da violência. Há algo que permanece nas instituições
quando as mudanças se restringem a meras arquiteturas formais
do direito.
Também não são o incremento de códigos morais,
que só conseguem normatizar ainda mais a vida dos sujeitos
sujeitando-os aos interesses institucionais, que possibilitam
neutralizar a mimese da violência. Não devemos confundir a
formalidade do discurso com sua eficiência nas subjetividades e
nas instituições. No caso da violência, o vácuo que existe entre
ambos é grande ao ponto de tornar o discurso algo vazio quando
a violência entra em ação.
A segunda prática política que consideramos ineficiente
e ainda cúmplice da violência é o esquecimento. A mimese da
violência tem no esquecimento um ponto neurálgico para a
sua existência. O esquecimento é o grande aliado do potencial
mimético da violência. A amnésia é condição necessária para a
perpetuação da violência. Amnésia e violência coexistem como
aliados estratégicos.
É comum propor o esquecimento da violência como o meio
eficiente para neutralizá-la e evitar seqüelas posteriores. Porém,
é justamente o esquecimento que possibilita a perpetuação da
violência. A potencia mimética da violência nunca pode ser
esquecida senão que fica recalcada. O esquecimento não anula
a violência senão que a recalca. O recalque é um dispositivo
antropológico e político que oculta uma realidade como
66 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 66 06/11/2016 13:25:00
inexistente, embora ela continue ativa. O recalque da violência
a oculta possibilitando sua persistência na sombra. A violência
recalcada pelo esquecimento se perpetua como potência ativa
nas estruturas e nas práticas sociais. O recalque provocado pelo
ato formal de esquecimento comprime a violência nas sombras
do inconsciente humano ou nos porões das instituições, mas
não a neutraliza. Pelo contrario, o recalque esconde a potência
mimética da violência com a aparência de esquecimento quando
na verdade ela permanece como potencia ameaçadora que
virá a se perpetuar em atitudes individuais ou em segmentos
institucionais.
O esquecimento não neutraliza a violência, pelo contrario,
é seu cúmplice mais eficiente. O esquecimento é condição
necessária para que a violência se perpetue. O esquecimento
sempre opera como um mecanismo formal de silenciamento
oficial dos atos de violência cometidos, mas não consegue
neutralizar o potencial mimético de sua reprodução. Ao impetrar
um ato formal de esquecimento, a violência fica recalcada na
interioridade dos hábitos individuais e institucionais, ainda que
clandestinamente. A sombra do recalque dá uma aparência
de superação da violência quando na verdade ela permanece
ativa como potencia ameaçadora pronta para reaparecer em
qualquer circunstância. O recalque é sempre clandestino, o que
torna seus efeitos mais imprevisíveis.
A violência da barbárie que fundou nossas sociedades não
foi apagada pela passagem do tempo. Ela nunca foi esquecida
porque o esquecimento por si só não neutraliza a violência, pelo
contrário, a ativa como força oculta12. A violência se esconde
12 As teses de filosofia da história de Walter Benjamin insistem neste ponto,
como a Tese II: “[...] O passado traz consigo um indicador secreto que o
remete à redenção. Acaso não sentimos a lufada do mesmo ar que respiraram
aqueles que nos precederam?” (Id. Magia e técnica, arte e política. São Paulo:
Brasiliense, 1996, p. 223).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 67
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 67 06/11/2016 13:25:00
sob a capa do esquecimento para agir mais intensamente pela
potência mimética nos porões das instituições e das práticas
sociais. O tempo não apaga a violência, a esconde. Ocultada sob
aparência do esquecimento, a violência contagia as estruturas,
instituições, práticas e valores de nossas sociedades. As
contínuas tentativas de esquecer a violência só contribuem
para ocultar seu potencial auto-reprodutor. As políticas de
esquecimento como determinadas formas de anistia, eis de
ponto final, leis abolicionista, novos contratos, novas repúblicas,
pretendem passar páginas da história como se nada tivesse
acontecido. Porém o passado não se anula, ele é constitutivo
de nosso presente. Nenhuma sociedade parte de um ponto zero
da história, ela tem que apreender a carregar sua história como
parte de sua realidade. A temporalidade sincrônica que a noção
moderna de progresso propugna, desconhece que a história
contém uma temporalidade diacrônica pela qual o passado
nunca passou totalmente13. Os acontecimentos ocorridos são
parte constitutiva de nosso presente. O contrato social tende a
desconhecer a injustiça histórica e pretende partir de um ponto
zero de acordos políticos para apagar a história passada.
A diacronia inerente ao acontecimento histórico se
manifesta especialmente ativa nos eventos de violência. Para
o ser humano e para as sociedades, o passado nunca passa
totalmente. O tempo conecta o presente com o passado
através da experiência do acontecimento. O passado sempre
forma parte de nosso presente. Somos, em parte, o passado
que vivemos. O tempo não apaga os acontecimentos, pelo
contrário, os recompõe conectando as vivencias do presente
13 Neste ponto remetemos aos estudos de Benjamin, em especial suas Teses
sobre filosofia da história. Na tese V, diz: “A verdadeira imagem do passado
perpassa veloz. O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja
irreversivelmente, no momento que é reconhecido”. (Id. Magia e técnica,
arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 224).
68 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 68 06/11/2016 13:25:00
com as experiências do passado14. Por isso a barbárie não pode ser
apagada por contratos, nem esquecida por atos institucionais.
Não se nega de forma arbitrária a influência do passado no
nosso presente, nem se pode anular os efeitos diacrônicos que
a barbárie provocou. O passado da violência assombra nosso
presente, especialmente quando se pretende passar a página
através de atos voluntaristas e racionalistas de esquecimento.
O esquecimento não anula a violência, pelo contrário, a
esconde como potência oculta pronta para agir.
A ocultação da violência pelo esquecimento alimenta sua
reprodução e a perpetua como ameaça permanente. A violência
social e institucional do nosso presente não está descolada dos
episódios de violência histórica de passado. Todas as tentativas
de esquecimento político da violência histórica só contribuíram
para reforçar sua permanência como prática normalizada
das instituições sociais e do comportamento cotidiano.
Esquecimento e violência se atraem e se complementam
historicamente. A violência naturalizada faz da barbárie uma
forma natural de regulamentar as relações sociais e de resolver
os conflitos. A violência normalizada reduplica seus efeitos
ao se constituir em meio legítimo e fim justo para solução
de todos os conflitos sociais. Este é o objetivo original das
instituições que sancionam a violência como seu meio legítimo
para conseguir determinados fins políticos. O esquecimento da
violência perpetua a barbárie sob a forma de tradição natural.
Não poderemos entender muitos dos atuais episódios de
violência estrutural que assolam nosso país, como é o caso das
milícias armadas no Rio de Janeiro, da persistência da tortura
sistemática por parte de agentes da polícia, entre outras, se
14 Sobre a importância da temporalidade diacrônica para recompor a injustiça
histórica recomendamos a leitura: MATE, Reyes. Meia-noite na história.
Comentários às teses de Walter Benjamin sobre o conceito de história. São
Leopoldo: Unisinos, 2011.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 69
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 69 06/11/2016 13:25:00
não as compreendermos como efeitos decorrentes de uma
violência estrutural ocultada nas instituições por dispositivos
de esquecimento.
A violência é narrada desde a perspectiva dos vencedores
como uma violência natural da história para que avance de forma
progressiva a sociedade. O progresso se tornou uma categoria
manipulada pelos vencedores da história para naturalizar a
violência como meio legítimo da composição das sociedades. As
vítimas “meras florzinhas (sic) pisoteadas na beira da história”,
segundo Hegel, são olhadas como efeitos colaterais necessários
e inevitáveis. Desta forma, o esquecimento da violência e das
conseqüências trágicas que provoca para as vítimas, se tornou
a condição necessária da perpetuação da violência. Porque a
violência que se nega pelo esquecimento tornará a repetir-se
pela impunidade.
Memória e violência
Esboçadas as duas falsas soluções (atos racionalistas
formais e políticas de esquecimento) amplamente utilizadas
para neutralizar a violência, cabe nos perguntar se ainda
podemos ensaiar alguma proposta de solução para tamanha
potência destruidora. Podemos sustentar a tese de que se o
esquecimento é a alavanca mimética da violência, a memória
atua como seu freio. A memória consegue neutralizar, em
grande parte, a potência mimética que naturaliza a violência.
Cabe perguntar, como a memória consegue dissolver a potência
mimética da violência?
A memória contém uma potência anmanética que se opõe
de forma eficiente à potência mimética da violência. A amnámese
é a potência humana que consegue trazer para a luz aquilo que
o recalque tinha ocultado sob aparência de esquecimento. O
ser humano tem a possibilidade de reconstituir seu passado no
presente, presentificar o passado ao ponto de torná-lo atual.
70 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 70 06/11/2016 13:25:00
Essa potência absolutamente singular é a anámnese. A anámnese
não é a mera possibilidade de reter lembranças, como os
animais, senão a potência de trazer o passado para o presente.
A anámnese resgata os acontecimentos passados e os atualiza.
Ela consegue passar da mera lembrança animal à reconstituição
da memória. A memória é a possibilidade de significar o passado
a partir de nosso presente. A anámnese nos permite construir o
sentido de nossas lembranças. Ela nos dá o poder de significar
o nosso passado, de fazê-lo presente pelo sentido que ele tem
para nós hoje. Devido a essa potência diacrônica, a anámnese
penetra nos porões inacessíveis da violência recalcada e a traz
para a luz do presente expondo a sua brutalidade. A potência
anamnética desmascara a pretensa naturalidade de potência
mimética da violência. A anámnese recompõe o acontecimento
do passado como uma realidade que toca nosso presente.
A anámnese constrói as pontes significativas de uma história
ocultada pelo recalque. Deste modo, a amnanese neutraliza a
mimese da violência. A violência sobrevive através da amnésia.
Sua potência mimética se reproduz naturalmente porque
se ocultou amnesicamente. A potência mimética resgata as
conseqüências perversas de toda violência sobre a vida das
vítimas.
A memória é produzida pela história da mesma forma
que a história é produzida pela memória15. A memória produz a
história porque quebra a compulsão atemporal da inteligência
biológica animal e introduz a temporalidade na experiência
humana. Mas não é qualquer memória que neutraliza a potência
mimética da violência. Os violentos (os vencedores em geral)
também utilizam a memória como recurso para legitimá-la. A
memória dos violentos atua como mais um artifício ideológico
para legitimar a violência. A memória que tem possibilidade de
15 Sobre a relação entre memória e história, cf. RICOEUR, Paul. A memória,
a história e o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 71
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 71 06/11/2016 13:25:00
neutralizar a potência mimética da violência é a que decorre do
testemunho das vítimas. Aqueles que foram vítimas da violência
têm uma experiência única de sua barbárie. Seu testemunho
revela a perversão inerente ao ato de violência. O testemunho
da vítima atualiza anamneticamente o lado sombrio e terrível da
violência desarmando sua pretensa legitimidade. O testemunho
e a testemunha da violência contêm uma potência anamnética
singular que mostra a perversão da potência mimética da
violência. Só a potência anamnética das vítimas contém a
possibilidade de neutralizar a potência mimética da violência.
A memória dos violentos tende a ocultar os efeitos da
violência sobre a vida humana. A memória dos vitimários roduz
atos de legitimidade da violência. A potência anamnética das
vitimas contém um olhar próprio sobre a história que revela
o lado perverso da violência histórica. O desvelamento da
perversão oculta na história desconstrói a pretensa naturalidade
da violência mostrando a sua intrínseca inumanidade. A potência
anamnética das vitimas revela um lado oculto da história que
parecia não existir e que permitia à violência perpetuar-se
como algo natural. O lado sombrio da violência, revelado pela
memória das vítimas, traz consigo um novo imperativo histórico:
a urgência ética de neutralizar os dispositivos naturalistas da
violência.
A potência anamnética das vítimas tem o poder de desarmar
a potência mimética da violência porque ao confrontá-la com
as conseqüências da barbárie, a violência fica deslegitimada.
O rosto humilhado das vítimas é um operador ético que atua
como elemento neutralizante dos dispositivos de naturalização
e legitimação da violência. A memória das vítimas, a anámnese
de sua violação, tem a potência de desconstruir a reprodução
mimética da violência. Ao trazer para luz a perversidade da
violência, se inibe a sua reprodução mimética. O dispositivo
naturalizador da violência que a reproduz como algo normal
72 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 72 06/11/2016 13:25:00
fica desconstruído quando se rememoram as conseqüências
da barbárie. A tendência a continuar utilizando a violência
como um método normal de governo e de gestão política
fica profundamente questionada, desconstruída, quando
confrontada com a memória de suas conseqüências. Os atos de
memória atualizam as barbáries históricas como meio eficiente
para evitar sua repetição. A violência esquecida tende repetir-
se como ato de normalidade.
Considerações finais
Para concluir, temos que esclarecer que a potência
anamnética das vítimas não advém do ressentimento nem da
vingança, senão da justiça. Uma justiça que é muitas vezes
abafada pelos acordos políticos, pelos atos contratuais que
pretendem a passar página da história, apagando (ingenuamente)
os acontecimentos vividos. A memória das vítimas introduz
no debate uma nova perspectiva de justiça que é a justiça
anamnética16.
A memória da violência não tem por objetivo o
ressentimento. Se assim for, e poderá acontecer em casos
particulares, tal memória não contribuirá para fazer justiça
às vítimas, senão para recalcar nelas a dor na forma de
ressentimento insuperável. Há que diferenciar memória de
ressentimento. A memorização da violência não é motivada por
ressentimento senão por justiça. A justiça histórica só poderá
realizar-se ao se fazer uma memória da injustiça cometida
contra as vítimas17.
16 Sobre a justiça anamnética: cf. MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. São
Leopoldo: Nova Harmonia, 2005
17 Horhkeimer já desenvolveu a tese de que o crime é evidente a quem o
comete e a quem o sofre (vitimário e vítima), mas para que ele seja acessível
às gerações futuras será necessário alguém que dele faça memória. Sem a
memória o crime se apagará no esquecimento da história. Admite Horkheimer
que só Deus poderá conservar as injustiças olvidadas e deste modo fazer
justiça (divina) aos injustiçados da história. Ainda termina sua reflexão com
Filosofia, Cidadania e Emancipação 73
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 73 06/11/2016 13:25:00
O ressentimento é provocado pelo trauma. Sociedades
traumatizadas pela violência podem cair na tentação de
sobreviverem amedrontadas pelo ressentimento. O medo dos
ressentidos não supera a violência, pelo contrário, a possibilita.
O medo é amplamente utilizado como tática biopolítica de
controle social. Por isso em alguns casos particulares das vítimas
da violência, o esquecimento poderá ser o recurso final para
superar o trauma. O paradoxal é que o trauma existe porque
há uma violência recalcada no inconsciente pessoal ou social.
Ela parece estar esquecida, mas existe recalcada. O recalque
provoca a angústia do trauma. No trauma a violência não está
esquecida, sobrevive recalcada. Para superar o trauma, há que
se fazer memória do acontecimento. Só a memória, sempre
dolorosa, poderá liberar as vitimas e as instituições do trauma da
violência. Ao trazer para a luz a violência ocultada pelo trauma,
fica transparente a sua barbárie, o que representa o começo de
sua desconstrução. Os atos de esquecimento só serão eficazes
para superar o trauma da violência quando sejam conseqüência
dos atos de memória. De igual modo, os atos institucionais de
anistia só serão legítimos e ainda eficientes para neutralizar a
potência mimética da violência, quando decorram de atos de
memória história e de devidos processos de justiça.
Em segundo lugar, é conveniente afirmar que a memória
da violência não tem por objetivo a vingança. A memória
que invocamos não tem por objetivo vingar-se dos violentos
utilizando seus mesmos métodos. O objetivo da rememoração
da violência histórica é não cometer uma segunda injustiça
contras as vítimas da violência18. O esquecimento perpetra
uma grave questão: “Pode-se se admitir isto e não obstante levar uma vida
sem Deus? Tal é a pergunta da filosofia”. (Id. Apuntes. 1950-1969. Caracas:
Monte Ávila, 1976, p. 16).
18 Certamente, não poderemos naturalizar a memória como uma faculdade
intrinsecamente boa. Há perigos na memória e há perversões da memória, mas
isso não invalida sua absoluta pertinência para uma justiça histórica. Sobre
74 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 74 06/11/2016 13:25:01
uma segunda injustiça ao apagar da história a injustiça e a
violência cometida. Ao esquecer a injustiça histórica se apaga
da história os que sofreram a sua violência, as vítimas. O
esquecimento é uma segunda violência. Uma violência simbólica
que impede a justiça histórica.
A justiça das vítimas só pode ser feita pela memória
da injustiça sofrida19. Quando determinadas políticas de
“transação”, propõem o esquecimento da tortura, o olvido
dos mortos e desaparecidos, a negação da política repressiva
do Estado como parte dos acordos políticos, se comete uma
dupla injustiça. Se nega a brutalidade da injustiça perpetrada,
neste caso pelo Estado, e ainda se pretende a morte histórica
das vítimas condenando-as ao olvido. O olvido é uma segunda
morte das vítimas. É como proclamar oficialmente que elas
nunca existiram e que não têm relevância para nossa realidade
e nosso presente. Esquecer as vítimas e a violência contra elas
cometida supõe impetrar sua morte histórica. A morte histórica
das vítimas, seu olvido, é uma segunda injustiça, uma injustiça
histórica. Frente a isso, se contrapõem o testemunho e memória
das vítimas como meios para construir uma justiça histórica que
por ser tal há de ser uma justiça anamnética.
A memória das vítimas é condição necessária para a
superação dos traumas pessoais e sociais vividos pela violência.
Só a memória pode perdoar. Só a memória pode anistiar. O
olvido não pode perdoar porque não lembra. O esquecimento
simplesmente nega a realidade da violência. Só a potência
anamnética poderá fazer justiça histórica às vítimas, e ainda
desarmar a potência mimética da violência. Poderá se falar em
os perigos da memória: cf. TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memoria.
Barcelona: Paidós, 2000.
19 O paradoxal do esquecimento é que, como afirma Reyes Mate: “Sem
memória não há, pois, injustiça, mas tampouco justiça”. (Id. Tratado de la
injusticia. Barcelona: Trotta, 2011, p. 292).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 75
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 75 06/11/2016 13:25:01
anistia e perdão como resultado final da justiça anamnética.
Ainda tem que se diferenciar entre perdão e anistia. O perdão
sempre será direito das vítimas, o Estado poderá, como
máximo, anistiar legalmente mas não perdoar moralmente20.
O perdão é uma prerrogativa ética das vítimas, que pode ter
uma grande importância política, a depender dos contextos
históricos21. Só quem sofreu o trauma da violência tem a
possibilidade de perdoar como ato moral e político extremo.
De igual modo as vítimas da violência também tem o direito de
nunca perdoar. O perdão é uma dimensão ética (e teológica)
com potencialidades políticas nos contextos de reconciliação.
Mas são as vítimas que têm a iniciativa e o direito do perdoar
ou não22. O Estado poderá anistiar, ou não, legalmente, mas não
tem a prerrogativa do perdão. A efetivação do perdão pessoal
ou da anistia institucional só poderá acontecer através de um
ato de memória histórica do acontecido. Só a rememoração
possibilita a superação do trauma da violência. Só a potencia
anamnética pode desconstruir o poder mimético da violência.
A justiça anamnética exige o devido processo. Os torturadores
hão de ser julgados, processados e condenados. Só depois do
devido processo e da sentença emitida é que se poderá falar
na pertinência política da anistia e no direito moral do perdão.
Tanto o perdão como a anistia exigem justiça, e a justiça devida
20 Sobre as dificuldades e possibilidades políticas do perdão cf. o último
capítulo, “o difícil perdão” de: RICOEUR, Paul. A memória a história e o
esquecimento.Campinas: Unicamp, 2007.
21 Cf. ZAMORA, Jose A. ( Org.). El perdón y su dimensión política. In.
MADINA, Eduardo; MATE, Reye (org) El perdón, virtud política. En torno a
Primo Levi. Barcelona: Anthropos, 2008, p. 57-80.
22 Destacamos a posição de Derrida de que o perdão é incondicional, radical
no sentido semântico de que se perdoa o imperdoável ou não existe o perdão.
“Por acaso não tem que manter que um perdão digno desse nome, se é que
alguma vez se realiza, deve perdoar o imperdoável, e isso sem nenhuma
condição?”. (cf. DERRIDA, Jacques. “El perdón”. In: In. MADINA, Eduardo;
MATE, Reyes (org) El perdón, virtud política. En torno a Primo Levi. Barcelona:
Anthropos, 2008, p. 123).
76 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 76 06/11/2016 13:25:01
às vítimas exige o direito à memória e verdade das violências
cometidas.
No processo de justiça ananmética, os atos de memória,
os monumentos de memória, pessoal e coletiva, são quesitos
imprescindíveis para neutralizar a violência mimética que
permanece recalcada nos porões das instituições e na sombra
do inconsciente humano. A memória pessoal e institucional é
pré-requisito da justiça. Não pode haver justiça sem memória
da injustiça. A memória da barbárie é necessária para que se
inicie o devido processo de julgamento social e histórico do
acontecido. Ao reclamar a instituição da comissão da verdade,
a criação de memoriais da violência, o registro público em
praças, ruas, monumentos dos nomes dos vitimados (e não dos
ditadores e torturadores como ainda ocorre em nosso país), ao
exigir o julgamento, ainda que de difícil execução no nosso país,
dos responsáveis da barbárie, não se está querendo vingança,
nem se está pretendendo revanche. Os objetivos da justiça
anamnética são: neutralizar o potencial mimético da violência
e fazer justiça histórica às vítimas. Pois o que se oculta pelo
esquecimento, voltará a repetir-se pela impunidade.
Referências
BENJAMIN, Walter. “A doutrina das semelhanças”. In. Id.
Obras escolhidas I. Magia e técnica, arte e política. São Paulo:
Brasiliense, 1996.
DERRIDA, Jacques. “El perdón”. In: In. MADINA, Eduardo; MATE,
Reyes… (org) El perdón, virtud política. En torno a Primo Levi.
Barcelona: Anthropos, 2008, p. P.113-141.
ESPOSITO, Roberto. Immunitas. Protección y negación de la
vida. Madrid: Amorrurtu, 2005.
HORKHEIMER, Max. Apuntes. 1950-1969. Caracas: Monte Ávila,
1976.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 77
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 77 06/11/2016 13:25:01
GEBAUER, G.; WULF, C. Mimese na Cultura. São Paulo,
Annablume, 2004.
GIRARD, René. O bode expiatório. São Paulo: Paulos, 2004.
GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra/
UNESP, 1990.
LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Lisboa: Ed. 70,
2000.
MADINA, Eduardo; MATE, Reyes… (org) El perdón, virtud política.
En torno a Primo Levi. Barcelona: Anthropos, 2008.
MATE, Reyes. Meia-noite na história. Comentários às teses de
Walter Benjamin sobre o conceito de história. São Leopoldo:
Unisinos, 2011.
MATE, Reyes. Tratado de la injusticia. Barcelona: Trotta,
2011.
MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. São Leopoldo: Nova
Harmonia, 2005.
RICOEUR, Paul. A memória a história e o esquecimento.
Campinas: Unicamp, 2007.
RUIZ, Castor M.M. Bartolomé. Por uma crítica ética da violência.
São Leopoldo: Unisinos, 2009.
TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Barcelona:
Paidós, 2000.
78 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 78 06/11/2016 13:25:01
Cultura democrática e emancipação na
América Latina: entre Habermas e
Amartya Sen
José Marcos Miné Vanzella
A universalidade da democracia no enfoque abrangente da
cultura argumentativa
Propomos a questão da investigação da pretensa
universalidade da democracia unindo dois discursos que
possuem um viés pragmático e performativo reconstrutivo.
Primeiramente abordamos com Amartya Sem o viés pragmático
para na sequência atendermos a perspectiva de Habermas.
Sen (2010a, p. 53) afirma que “A democracia, é óbvio,
não se apoia apenas em um único ponto, mas envolve muitos
pontos inter-relacionados, porém, vale a pena perguntar,
qual é o eixo central da democracia? A questão-chave para
o autor indiano é não prender-se ao modelo institucional. “A
democracia, […] tem de ser vista […] primariamente em termos
de “racionalidade pública”, inclusive a oportunidade para
a discussão pública e também como participação interativa
e encontro racional.” (2010a, p. 54) Sen afirma que: Em sua
busca de objetividade política, a democracia tem de tomar
a forma de uma racionalidade pública construtiva e eficaz.
(2010a, p. 54) Pois além da eleição: “a força e o alcance das
eleições dependem crucialmente da existência de um debate
público aberto” (2009, p.12). A adequada compreensão do
debate público implica que os valores individuais podem mudar
durante a deliberação.
Sen passa a apresentar experiências, que estão presentes
Filosofia, Cidadania e Emancipação 79
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 79 06/11/2016 13:25:01
em várias partes do mundo para refutar aqueles que identificam
a democracia exclusivamente com o Ocidente. Ele afirma:
“temos de nos interessar pela história da participação popular
e da razão pública em diferentes regiões e países.” (2011, p.
356). Ele lembra que a experiência grega não teve impacto
imediato em Roma e a oeste da Grécia, porém, “por outro lado,
algumas cidades da Ásia – no Irã, Báctria e Índia – incorporaram
elementos de democracia em governos municipais em grande
parte sob influência grega.” (2010a, p. 55). O debate público
não floresceu apenas na Grécia, mas em diversas regiões e
civilizações antigas. Sen elenca alguns importantes exemplos
começando com a Índia.
O primeiro desses grandes conselhos teve
lugar em Rajagriha, logo após a morte do Buda
Gautama, 2500 anos atrás. O mais grandioso
desses conselhos – o terceiro – ocorreu sob os
auspícios do imperador Ashoka no século III
a. C. […] Ashoka também tentou codificar e
propagar o que deve ter sido uma das mais
antigas formulações de regras para discussão
pública – um tipo de versão antiga das Regras
de ordem de Robert do século XIX. (PPL p. 56)
Ele procura demonstrar que a democracia não é um
conceito totalmente grego e ocidental no caso específico
da Índia, ele lembra que em 1947 quando a Índia se trona
a maior democracia do século XX: Jawaharlal Nehru, por
exemplo, depositou particular ênfase nas regras políticas dos
imperadores Hindus, tais como Ashoka e Akbar. (2009, p.25).
Naquele contexto, o presidente da comissão que elaborou o
rascunho da constituição estudou detalhadamente a história
dos governos democráticos locais e lançou mão de princípios
universalistas desenvolvidos no Ocidente para configurar a
atual constituição da Índia, sem, porém, abandonar sua história
e tradição. Mas o que importa reconhecer aqui é que o ideal do
80 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 80 06/11/2016 13:25:01
debate público está fortemente ligado às práticas sociais. E é
esse debate público que mantém esse funcionamento ele está
enraizado em antigas tradições culturais. É importante notar
que a implantação da democracia moderna na Índia não foi o
efeito de uma intervenção e expressão do domínio inglês, ela
também foi o reencontro com raízes profundas deste país de
cultura tão rica e diversa. Sen também lembra que:
[…] quando na década de 1590 o grande
imperador mongol fazia seus pronunciamentos
na índia sobre a necessidade de tolerância, e
se ocupava com a promoção do diálogo entre
pessoas de fé diversas […] a Santa Inquisição
ainda florescia na Europa. Giordano Bruno
era queimado em praça pública por heresia
me Campo dei Fiori, em Roma. (2010a p.58)
Outro exemplo significativo de tolerância e respeito
com as diferenças deu-se com o Imperador Saladino que
acolheu o filósofo judeu Maimónides, perseguido na Europa por
intolerância (2009, p.28). Sen também mostra que a discussão
pública já estava há muito tempo enraizada em outros países
não ocidentais como o Japão, que em 604 produziu a chamada
Constituição dos dezessete Artigos. (2010a, p.58). Também na
África, Sen lembra um testemunho do próprio Nelson Mandela
lembrando-se de sua tribo: “todo mundo que queria falar podia
fazê-lo era a democracia em sua forma mais pura.” (2010a,
p.58) No continente africano multiplicam-se os conselhos
tribais, segundo Sen, considerar a luta por democracia na África
como simples imposição ocidental mostra uma incompreensão
profunda. “O largo caminho até a liberdade de Mandela começa
claramente em casa” (2009, p.117). Sen escreve:
A compreensão de Mandela da democracia
não foi auxiliada pela prática política que
ele via a seu redor, no regime do apartheid,
controlado por pessoas de origem europeia
Filosofia, Cidadania e Emancipação 81
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 81 06/11/2016 13:25:01
que, talvez valha a pena recordar nesse
contexto, costumavam definir-se pelo termo
cultural “europeu” e não apenas “branco”. Na
verdade, pretória pouco podia contribuir para
a compreensão de Mandela da democracia.
(2011, p. 366)
Nas terras americanas e especialmente latino-americanas
e brasileiras, os povos indígenas frequentemente organizam-se
e continua se organizando em conselhos, como o Aty Guasu,
Grande Conselho do povo Guarani e Kaiowá, representando
os mais de 45.000 indígenas no Mato Grosso do Sul. (CAIAPÓ,
KAIOWÁ, 2015).
Sen afirma: “Em sua forma institucional, a democracia
pode ser muito nova no mundo – é praticada por não mais
de duzentos anos; contudo, como observou Tocqueville, ela
expressa uma tendência na vida social com uma história muito
mais longa e difundida.” (2011, p.357-358). Ele reconhece que
a ideia de valor universal da democracia é realmente nova e
produto do séc. XX. Entretanto, o argumento de que […] “a
democracia é uma norma peculiar do Ocidente – não afinada
com os valores fundadores de outras sociedades” (2010a, p.
53), mostrou-se insubsistente. Entendendo o papel construtivo
do debate público, entende-se que um país deve tornar-se
adequado mediante a democracia.
O enfoque abrangente da cultura argumentativa mostra que
a democracia é a forma de governar promotora da emancipação.
Torna-se evidente a discussão pública é importante instrumento
de aprendizado, convívio e emancipação humana, presente nos
vários povos do mundo, com diferentes configurações culturais.
Neste sentido, o governo, através da razão pública, não é coisa
imposta pelos ocidentais.
82 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 82 06/11/2016 13:25:01
A democracia e a compreensão e construção dos direitos no
pensamento de Amartya Sen
Vamos abordar agora a questão do papel positivo da
democracia moderna na compreensão e construção dos direitos.
Não temos uma acepção plenamente unívoca de democracia,
pois as democracias configuram-se diferentemente. Retornando
sua forma institucional, Sen apresenta um conceito nos seguintes
termos:
A democracia acarreta certas exigências,
como são certamente o direito ao voto e o
respeito mesmo aos resultados eleitorais;
[…] Mesmo assim, algumas eleições podem
resultar uma falácia se se produzem em um
marco onde as diferentes partes não contam
com a oportunidade adequada de apresentar
seus pontos de vista e seus programas, ou
se o eleitorado não goza de liberdade para
informar-se e considerar as colocações dos
contendentes. A democracia é um sistema
exigente e não só uma condição mecânica
[…] tomada de forma isolada. (2009. p.73,
tradução nossa).
Dentre as condições exigentes da democracia moderna,
estão os direitos políticos. Porém existe uma linha de
argumentação, que os direitos políticos de nada valem diante da
miséria. Coloca-se nesta linha de argumentação uma pergunta
falaciosa: “o que deve vir primeiro - eliminar a pobreza e a
miséria ou garantir liberdade política e direitos civis, os quais
afinal de contas, têm pouca serventia para os pobres?” (2010b,
p 194). Ele apresenta três considerações que conduzem a
preeminência dos direitos políticos:
1. Sua importância direta para a vida humana
associada a capacidades básicas (como ca-
pacidade de participação política e social)
2. Seu papel instrumental de aumentar o grau
Filosofia, Cidadania e Emancipação 83
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 83 06/11/2016 13:25:01
em que as pessoas são ouvidas quando ex-
pressam e defendem suas reivindicações de
atenção política (como as reivindicações de
necessidades econômicas);
3. Seu papel construtivo na conceituação de
“necessidades” (como a compreensão da
“necessidade econômica” em um contexto
social.) (SEN, 2010b p 195).
A democracia, pela afirmação dos direitos fundamentais
impacta diretamente a vida humana e as capacidades básicas.
Ela afirma direitos de educação e dignidade humana. As
exigências da democracia apontam para a superação de toda
situação de miséria que afronta a dignidade humana. Além,
disso, a participação política tem um valor intrínseco para a
vida e o bem-estar dos homens (2009, p.73) As reivindicações
políticas e sociais encontram mais canais de manifestação e
efetividade, tornando-se um instrumento eficaz, para afastar
as maiores iniquidades. Por fim, o aspecto construtivo diz
respeito a uma tomada de consciência mais aguda sobre os
direitos e a afirmação das ações necessárias para atendê-los
(2009, p.74). Nas palavras do autor: “O exercício de direitos
políticos básicos torna mais provável não só que haja uma
resposta política a necessidade econômica, como também
que a própria conceituação – incluindo a compreensão – de
‘necessidades econômicas possa requerer o exercício desses
direitos.” (2010b p. 202) Isso acontece porque os direitos civis
e políticos conduzem a eleições informadas e conscientes,
que permitem uma melhor avaliação dos problemas sociais e
políticos (2009, p.75).
As sociedades democráticas apostam nos ganhos da
cooperação, mas essa pode procurar ordens distintas, elas
precisam escolher entre a distribuição justa dos benefícios e
os arranjos possíveis. As realizações da democracia dependem
não só das regras e procedimentos que são adotados e
84 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 84 06/11/2016 13:25:01
salvaguardados, como também do modo como oportunidades
são usados pelos cidadãos (2010b, p. 204). Com a afirmação
de nossas democracias formais, abriram-se oportunidades
para afirmações substanciais da justiça e da igualdade. Sen
apresenta o exemplo da Índia onde o ativismo dos partidos
evitou as fomes crônicas (2010b, p.205). Amartya Sen retira
do papel construtivo da democracia, mais um argumento para
reforçar o valor universal da democracia. Ele também faz as
seguintes considerações:
Se a análise prévia é correta, então a
afirmação de que a democracia é um valor
universal não segue um só mérito particular.
Existe uma pluralidade de virtudes, incluindo
para iniciar a importância intrínseca da
participação e a liberdade política na
existência humana; segundo, a importância
instrumental da participação política para
garantir responsabilidade dos governos e a
prestação de contas; e terceiro, pelo papel
construtivo da democracia na formação
de valores e para o entendimento das
necessidades, direitos e obrigações. (SEN,
2009, p. 78, tradução nossa.)
Esta passagem soma três argumentos que valorizam
positivamente a democracia sintetizando sua abordagem nas
palavras, intrínseca, instrumental e construtiva. Essa exposição
nos permite observar que Amartya Sen adota uma perspectiva
de exposição pragmática dos motivos, argumentos e valores da
democracia. Ele não se apega ao conceito de democracia, mas
tenta mostrar seus vários usos nas várias culturas. Dos vários usos
extrai seu valor universal, como enfeixamento compreensivo do
sentido destas várias manifestações.
Ele também questiona o sentido usual de ‘universal’ nos
seguintes termos: “Quando Mahatma Gandhi proclamava o valor
universal da não violência, não estava discutindo a acepção em
Filosofia, Cidadania e Emancipação 85
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 85 06/11/2016 13:25:01
todo o planeta desta noção, apenas só que as pessoas dispunham
de boas razões para considerá-la algo universal” (2009, p. 79).
Nesta perspectiva qualquer pretensão de universalidade supõe
a possibilidade de argumento em contrário. Em sua perspectiva
Sen afirma que tem ocorrido grande mudança durante o séc.
XX em relação à aceitação da democracia. Além dos protestos
contra a supressão de direitos democráticos ocorrem movimentos
favoráveis à democracia. É evidente que a participação política,
permite que seus interesses sejam melhor atendidos. Como é
sabido, a democracia cria toda uma rede de proteção aos que
enfrentam dificuldades econômicas e tem mostrado significativo
êxito no combate à fome. Assim conclui:
Tentei discutir nestas páginas uma série de
assuntos relacionados com a afirmação da
democracia como valor universal. O valor da
democracia inclui sua importância intrínseca
na formação dos valores […] Estes méritos não
têm um caráter regional, nem local, como
tão pouco o tem a defesa da disciplina e da
ordem. A heterogeneidade dos valores parece
caracterizar a maior parte, se não que todas as
culturas. O argumento cultural não determina,
nem constrange em excesso as opções que
devemos escolher hoje. Escolher entre essas
opções tem que fazer-se aqui e agora, tendo
em conta o papel funcional da democracia,
do qual depende a causa do modelo
democrático no mundo contemporâneo. Se
trata de uma causa que possui uma grande
força e que não depende de contingências
locais. A potência desta ideia que reivindica
a democracia como valor universal reside, em
última instância, nesta força. É neste terreno
onde se situa um debate que não pode ser
descartado por imaginários tabus culturais,
nem por pretendidas predisposições de nossos
86 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 86 06/11/2016 13:25:01
respectivos passados. (SEN, 2009, p.90 -91,
tradução nossa).
Com a colocação da força da ideia de democracia ligada
à importância intrínseca na formação dos valores, na sua
heterogeneidade e na funcionalidade não se esgota a potência
da ideia da democracia que reivindica valor universal. Amartya
Sen em seu livro “A ideia da justiça” também nos possibilita mais
elementos significativos. Que começam com a afirmação do […]
papel central da argumentação pública para a compreensão da
justiça. Esse reconhecimento nos leva a uma ligação entre a
ideia de justiça e a prática da democracia, […]. (2011, p. 358)
Esse nexo corresponde, com as devidas ressalvas, em Habermas
ao nexo interno de direito e democracia. Para Sen: “Na verdade,
uma grande mudança na compreensão da democracia tem sido
provocada pelas obras de Rawls e Habermas, e por uma vasta
literatura recente sobre esse assunto,” (2011, p.358) trata-
se da ideia que desloca a democracia do modelo institucional
restrito ligado à eleição para o governo através da discussão.
Sen conecta a atual compreensão da democracia ocidental com
uma antiga abordagem indiana: Um exemplo com certo interesse
e relevância é uma importante distinção entre dois conceitos de
justiça encontrada na antiga ciência do direito indiana: niti e nyaya.
A primeira ideia niti, diz respeito tanto à adequação organizacional
quanto à correção comportamental, enquanto a última, nyaya, diz
respeito ao que resulta e ao modo como emerge, em especial, a vida
que as pessoas são realmente capazes de levar. (2011, p. 17)
Sen faz dois comentários muito significativos sobre
Habermas:
O tratamento habermasiano da argumentação
pública é em muitos aspectos, mais amplo que
o rawlsiano, como o próprio Rawls reconheceu.
A democracia também recebe uma forma
Filosofia, Cidadania e Emancipação 87
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 87 06/11/2016 13:25:01
processual mais direta na formulação de
Habermas do que em outras abordagens,
incluindo a de Rawls, […] No entanto Habermas
fez uma contribuição verdadeiramente
definitiva para o esclarecimento do amplo
alcance da argumentação pública e, em
particular, da presença dupla no discurso
político de “questões morais de justiça” e
“questões instrumentais de poder e coerção”.
(2011, p. 359)
Como podemos perceber a abordagem de Amatya Sen que
compreende o aspecto construtivo dos direitos está enraizado nas
teorias de Rawls e Habermas. Com a incorporação de elementos
significativos de Habermas ao lhe reconhecer contribuições
definitivas. Mas um elemento de conexão fundamental entre
esses autores é a relação entre justiça e argumentação pública.
Ligação desenvolvida por Habermas em “Direito e democracia”
e expressa por Sen nos seguintes termos:
O papel crucial da argumentação pública na
prática da democracia coloca todo o tema da
democracia em estreita relação com o tópico
central deste livro, isto é, a justiça. Se as
exigências da justiça só podem ser avaliadas
com a ajuda da argumentação pública, e se
essa argumentação está constitutivamente
relacionada com a ideia de democracia, então
existe uma íntima conexão entre justiça e a
democracia, que partilham características
discursivas. (2011, p 360)
Essa compreensão Cultural, contemporânea da democracia
enquanto governo por meio do debate público, inaugurada
na Alemanha por Habermas desde “Mudança estrutural da
Esfera pública” e nos Estados Unidos por John Rawls, permite
compreender que a cidadania se aprende praticando. A
88 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 88 06/11/2016 13:25:01
participação no debate público político é a grande escola da
emancipação.
A reconstrução da legitimidade entre facticidade e validade,
direito e democracia
Uma vez que a universalidade da democracia, a partir da
sua compreensão abrangente da cultura argumentativa, pode ser
apresentada como fato a partir de Amartya Sen. Pode-se agora
melhor compreender as contribuições de Habermas, referidas
pelo próprio Sen com a ligação entre a participação política, o
diálogo e a interação pública, a justiça e a democracia.
No autor alemão a questão da universalidade da democracia
deita raiz em sua teoria do agir comunicativo, na esfera pública
e no nexo interno entre direito e democracia. Habermas entende
que só no âmbito da tensão entre facticidade e validade é que
a questão da legitimidade de direitos pode ser adequadamente
pensada. Segundo o autor: “princípios normativistas correm o
risco de perder o contato com a realidade social, e princípios
objetivistas, deixam fora de foco qualquer aspecto normativo,
[…].” (1997a, p. 23) Porém, se guardadas as devidas reservas
vindas das abordagens desmascaradoras do capital e do poder,
pode-se manter a partir da teoria do agir comunicativo a
suposição: “Direito associação de membros livres e iguais,
cuja coesão resulta simultaneamente da ameaça de sanções
externas e da suposição de um acordo racional motivado.”
(1997a, p. 25) Neste sentido a abordagem do direito passa a ser
dupla, objetivadora e performativa. A questão da legitimidade
do direito deve ser abordada a partir do enfoque comunicativo,
sem que esse perca o contato com a perspectiva objetivista.
Segundo nosso autor: “O mundo como síntese de possíveis fatos
só se constitui para uma comunidade de interpretação cujos
membros se entendem entre si sobre algo no mundo, no interior
de um mundo da vida compartilhado intersubjetivamente.”
Filosofia, Cidadania e Emancipação 89
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 89 06/11/2016 13:25:01
(1997a, p. 31) Neste sentido, o entendimento precede e é
condição de qualquer agir estratégico. Porém, os falantes podem
dizer sim ou não na comunicação, contudo: os pressupostos
comunicativos […] têm de ser admitidos factualmente por
todos os participantes todas as vezes que desejarem entrar
numa argumentação, com pretensões de verdade ou validade.
(1997a, p. 34) Habermas demostra essa tese no capítulo III de
sua vasta obra Teoria do Agir comunicativo. (2012). “Quando,
porém, um ator deseja entender-se com outros atores sobre
condições a serem preenchidas em comum para que tenha
sucesso em suas ações, a regra amarra a sua ‘vontade livre’
através de uma pretensão de validade deontológica.” (1997a,
p. 51) Neste sentido a permissão para a coerção jurídica é
deduzida de uma expectativa de legitimidade vinda da vontade
livre. Habermas não esquece que: “Sociedades modernas são
integradas não somente através de valores, normas e processos
de entendimento, mas também sistemicamente, através de
mercados e do poder administrativo”. (1997a, p. 61) Por esse
motivo: “Com muita frequência o direito confere a aparência de
legitimidade ao poder ilegítimo” (1997a, p. 62) Entretanto, esse
juízo ético de um poder ilegítimo só pode ser coerentemente
alcançado numa abordagem que tendo objetividade não
descarte seu teor normativo. Neste sentido pode-se entender
como o direito moderno estrutura-se a partir de um sistema
de normas positivas e impositivas que pretendem garantir a
liberdade e estão associadas a uma pretensão de legitimidade e
não apenas a dominação. (Cf. 1997b, p.307).
Na compreensão habermasiana o nexo interno com agir
comunicativo, supera a concorrência entre direitos humanos e
soberania do povo, ambos são fundamentais para legitimar o
direito. Por isso: “A legitimidade do direito deve ser compatível
com os princípios morais da justiça e da solidariedade universal
bem como com os princípios éticos de uma conduta de vida
90 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 90 06/11/2016 13:25:01
auto-responsável.” (1997a p.132-133) O ponto de partida é a
constituição da autonomia do cidadão, na qual o ethos passa
pelo crivo de fundamentações pós-tradicionais. “Através do
médium de leis gerais e abstratas, a vontade unificada dos
cidadãos está ligada a um processo de legislação democrática
que exclui per se todos os interesses não universalizáveis.”
(1997a p.135-136) Habermas esclarece então o nexo interno
entre a soberania do povo e direitos humanos que não reside
simplesmente na autonomia política, mas em seu conteúdo
normativo, neste sentido a decisão da maioria tem que ser
compatível com os princípios morais e éticos. (1997a Cf.
p.137) Neste sentido também se esclarece o sentido da
cooriginalidade da autonomia privada e pública o qual ensina
“serem os destinatários simultaneamente os autores de seus
direitos.” (1997a p.139) A autonomia privada e pública, bem
como seus limites é definida no mesmo processo do exercício
autônomo da autonomia política, visto que os direitos privados
são intersubjetivos, constituídos no médium do próprio direito.
O princípio da democracia, que não pode ser opor aos direitos
humanos tem que preservar cada um dos parceiros do direito.
Os direitos políticos fundamentais têm que institucionalizar
o uso público das liberdades comunicativas na forma de direitos
subjetivos, direitos públicos e privados possuem, portanto
um nexo interno. Com isso se explicita no pensamento de
Habermas a ligação entre a participação política, o diálogo e a
interação pública, a justiça e a democracia como indicado por
Amartya Sen. Nesta reconstrução da legitimidade das ordens
políticas modernas, Habermas vincula a legitimidade do direito
democrático à racionalidade deliberativa e ao princípio da
justiça, bem como ao respeito aos direitos humanos. Trata-se
por tanto de uma nova compreensão da democracia que vai
muito além do modelo tradicional limitado às eleições. Ela
também mantém uma importante compreensão do Estado de
Filosofia, Cidadania e Emancipação 91
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 91 06/11/2016 13:25:01
direito segundo Habermas:
O Estado é necessário como poder de
organização, de sanção e de execução,
porque os direitos (individuais, políticos e
sociais) tem que ser implantados, porque
a comunidade de direitos necessita de uma
jurisdição organizada e de uma força para
estabilizar a identidade e porque a formação
da vontade política cria programas que tem
que ser implementados. (1997a, p. 171)
Pode-se verificar que o papel do Estado aponta para um
conjunto de prestações de serviços à população. “Somente
nesta forma anônima o poder comunicativamente diluído pode
ligar o poder administrativo do aparelho estatal à vontade
dos cidadãos” (1997a, p. 173). Situado perante uma esfera
pública mais ampla e independente o poder administrativo
pode distanciar-se dela. Contudo para Habermas; A produção
de um direito legítimo implica a mobilização das liberdades
comunicativas dos cidadãos (1997a p.185). Quando a opinião
pública se manifesta com veemência e as manifestações tomam
as ruas, elas podem orientar, mas não substituir as ações do
Estado fazendo frente aos condicionamentos sistêmicos do
poder e do dinheiro.
O direito ultrapassa as fronteiras dos discursos de justiça
e inclui problemas de auto-entendimento e de compensação de
interesses. Porém é preciso supor que os programas negociados
e obtidos discursivamente podem ser justificados moralmente.
O direito constitui o poder político e vice-
versa. Isso cria entre ambos um nexo que
abre e perpetua a possibilidade latente de
uma instrumentalização do direito para
o emprego estratégico do poder. […] No
entanto essas relações de troca alimentam-
92 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 92 06/11/2016 13:25:01
se de uma normalização legítima do direito,
a qual, conforme vimos, tem parentesco com
a formação do poder comunicativo. (1997a,
211-212)
Apesar do reconhecimento dos condicionamentos da
lógica do poder e da economia, não se pode esquecer que
o direito também é fruto do entendimento racionalmente
motivado. Habermas lembra os tipos de jogos de linguagem que
estão na base do direito: “Em negociações […] pode formar-se
uma vontade geral agregada; em discursos hermenêuticos de
auto-entendimento, uma vontade geral autêntica; em discursos
morais de fundamentação uma vontade geral autônoma.”
(1997a, p. 225) Entretanto, esses processos genéticos do direito
exigem ainda que “os discursos conduzidos representativamente
sejam porosos e sensíveis aos estímulos, temas e contribuições
informais e argumentos fornecidos por uma esfera pública
pluralista.” (p.227) Essa relação de porosidade à esfera
pública é importante fonte de legitimidade do direito, pois
nela manifesta-se a soberania do povo. Deste modo, o poder
administrativo conecta-se com o poder comunicativo, tanto
pelos discursos internos de negociações, auto-entendimento e
morais, como pelas manifestações externas da opinião publica
e da vontade.
A educação para a cidadania democrática deve ser
colocada a partir de seus fundamentos, princípios e valores
compartilhados por um lado, e condicionamentos sistêmicos
econômicos e políticos por outro. Habermas afirma: “nenhuma
espécie necessita de um período tão longo de educação no
seio de uma família e de uma cultura pública compartilhada
intersubjetivamente pelos semelhantes.” (2007, p. 19-20).
Coloca-se numa perspectiva transformadora: “Felizmente,
tal saber preliminar que adquirimos junto com o aprendizado
Filosofia, Cidadania e Emancipação 93
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 93 06/11/2016 13:25:01
de uma determinada linguagem não está definido de uma vez
por todas.” (2007, p. 22). As pessoas, na prática cotidiana, se
encontram com outras e assumem os vários enfoques pronominais
que lhes permite formar suas identidades pessoais e sociais. As
pessoas formam suas identidades pessoais e sociais mediante
narrativas, o agir comunicativo renova o saber cultural, social
e as identidades pessoais “As estruturas simbólicas do mundo
da vida se reproduzem pelos caminhos que dão continuidade
a um saber válido e que estabilizam a solidariedade grupal,
formando atores imputáveis.” (2012b, p. 252). Há assim
um desenvolvimento complexo e de conjunto, da cultura,
sociedade e personalidade. A ampliação da contingência pessoal
deve representar um incremento na liberdade e a renovação
das tradições passa a depender cada vez mais da capacidade
inovadora dos indivíduos. A personalidade passa a ter uma
identidade autodirigida, a partir da possibilidade de dizer
sim ou não em processos de interpretação e cooperação. Um
movimento similar acontece com as normas da sociedade, que
passam a depender dos processos de criação e fundamentação.
Tem-se um movimento dialético que pode ser descrito nos
seguintes termos: apresenta e critica a abordagem comunicativa,
exposição e critica a abordagem sistêmica, síntese dialética de
agir comunicativo e colonização do mundo da vida.
Luis Sergio Repa explica que o processo de formação dos
subsistemas controlados pelo dinheiro e pelo poder significou
para Habermas o desacoplamento do mundo da vida, o qual
eles encaram apenas como um mundo circundante, enquanto
seguem sua lógica própria. (2008, p. 66). Na sequência
Habermas comenta os dois grandes caminhos da modernização
que se desenvolveram pela via capitalista e pela via do poder
administrativo. Repa afirma que: “[…] é estruturalmente
possível modificar politicamente, por meio da esfera pública
e do direito, ou seja, no contexto de um Estado de direito
94 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 94 06/11/2016 13:25:02
democrático, as relações entre mundo da vida e sistema.” (2008,
p. 68). Para talhar essa mudança a teoria do agir comunicativo,
assume a ideia orientadora da possibilidade de processos de
aprendizagem (HABERMAS 2012b, p. 689).
A esfera pública critica lugar do aprendizado democrático
emancipador
O próprio Habermas, em “Mudança estrutural da esfera
pública” (1984), descreve a formação e da esfera pública política
e seu importante papel. Já no contexto tradicional fica claro
que é errôneo empregar o termo público no singular, pois desde
o início desenvolvem-se uma pluralidade de esferas públicas
concorrentes (1984, p. 9). Com a formação da esfera pública
burguesa, na Alemanha, forma-se desde o séc. XVIII uma esfera
pública de discussão, inicialmente com dimensão restrita, e
formação na leitura dos clássicos. No parágrafo 13, intitulado
Publicidade como princípio de mediação entre política e moral
(1984, 126ss) Habermas explicita o papel da publicidade em
Kant, mostra o papel dos professores e filósofos, perigosos para
o Estado, mas necessários para o progresso do povo. Habermas
entende que é preciso demonstrar como é possível, ao público
deflagrar um processo crítico de comunicação pública por meio
dessas organizações que também o vassalizam. (1999, p.19)
A pluralidade é uma primeira condição deste aprendizado
e contribuição. Outra condição reside no fato de que os ideais
do humanismo burguês foram remetidos para além da realidade
constitucional que os contradiz. Habermas entende a importância
dos diferentes recursos de integração social para estabelecer o
novo equilíbrio. Neste sentido um espaço público funcionando
politicamente depende da sustentação de tradições culturais
de modelos de socialização, de uma cultura política própria
a uma população habituada à liberdade. (1999, p.25) Mas o
mais importante ainda são as formas de institucionalização dos
Filosofia, Cidadania e Emancipação 95
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 95 06/11/2016 13:25:02
suportes de um espaço público não investido pelo poder. (1999,
p.26) Pois elas possuem independência, frente o poder político-
econômico. Desse modo, Habermas afirma:
O núcleo institucional da sociedade civil
é constituído por esses agrupamentos
voluntários fora da esfera do Estado e da
economia, que vão para citar apenas um
exemplo, das igrejas, das associações e dos
círculos culturais, passando pelas mídias
independentes, associações esportivas
e de lazer, clubes de debate, fóruns e
iniciativas, até organizações profissionais,
partidos políticos, sindicatos e instituições
alternativas. (1999, p. 25)
É evidente que são associações que contribuem para a
formação da opinião pública fora do Estado, e que exatamente
por isso podem cobrar do mesmo o que lhe falta em relação aos
ideais burgueses não cumpridos bem como dívidas para com um
passado não atendido. Já desde “Mudança estrutural da esfera
pública”, Habermas escreve:
[…] sob as condições da social-democracia
de massas, o contexto comunicativo de um
público somente há pouco fechado da opinião
“quase-pública” passa a ser intermediado
com o setor informal das opiniões até então
não públicas através de uma “publicidade-
crítica.” Em esferas públicas internas a
organização. (1984, p.290)
Aqui também entra a contribuição dos religiosos e
suas associações, que preservam potenciais de exigências
éticas e morais ao sistema funcional. Temática que será mais
desenvolvida no pensamento de Habermas em sua fase mais
recente. A educação política faz-se nas comunidades.
96 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 96 06/11/2016 13:25:02
Considerações finais
Após ter-se compreendido a argumentação de Sen
sobre a democracia, que não se reduz ao modelo ocidental,
nem a sua versão institucional, mas remete ao governo por
meio da discussão pública, presente nos vários povos. Foi
possível compreender o conjunto de valores que a democracia
apresenta, para sustentar sua universalidade. Inclui-se neste
conjunto de argumentos em prol da democracia, os nexos, entre
direito legitimo e democracia desenvolvidos por Habermas.
Desta forma compreende-se o nexo entre liberdades publicas e
privadas, direitos humanos e democracia, poder comunicativo
e administrativo.
Finalmente, pode-se apresentar a recepção da questão
do debate público na América Latina a partir de Dussel, o
qual o faz na: “Ética da libertação: na idade da globalização
e da exclusão”. Dussel propõe e de certa forma realiza um
amplo diálogo filosófico entre Norte e Sul e entre Sul-Sul.
Após longa exposição das várias correntes do pensamento de
nosso tempo lembra que o faz, como afirma Carlos Beorlegui
estabelecendo para este diálogo o critério formal da ética do
discurso (2010, p. 877). Elemento que compõe seu projeto de
ampliação da razão, o qual porém é pensado para além dos
horizontes europeus. Ele pretende uma filosofia alternativa, um
pensamento que acolha as colocações dos outros constituindo
uma filosofia “transmoderna”, com pretensões de maior
amplitude e universalidade que a pós-modernidade europeia,
por ser pensada a partir destas periferias do sistema mundo.
Segundo Dussel, não se trata de uma defesa da razão por ela
mesma. Se trata da defesa das vítimas dos sistemas presentes,
da defesa da vida humana em risco de suicídio coletivo. (1999,
p. 450). Segundo comenta Beorlegui para Dussel:
Filosofia, Cidadania e Emancipação 97
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 97 06/11/2016 13:25:02
A solução está em saber conjugar uma razão
universal baseada na defensa de toda vida
humana, e legitimada e concretizada a traves
do consenso de todos os afetados, com o
correspondente respeito às diferenças e ao
dissenso. Daí que conclui Dussel: «a cuestión
no é Diferencia ou Universalidade, mas sim
Universalidade na Diferencia, e Diferença na
Universalidad» (2010, p. 879)
Beolegui confirma que Dussel assim aponta para a
ampliação da razão, no sentido de ampliação do debate público
e da democracia, na defesa das vítimas e dos mais prejudicados
do sistema mundo. Trata-se das vítimas da modernidade, da
colonização e do capitalismo transnacional. Estes grupos de
diferentes aspiram não apenas seguir sendo diferentes, mas
uma nova ordem mundial. A Filosofia da libertação centra sobre
tudo no desenrolar de uma ética baseada na econômica, que
privilegia o princípio material da defesa de toda vida humana,
desde a constatação das vítimas do “sistema-mundo” que
domina a realidade (2010, p. 880). Neste sentido a emancipação
e a libertação apontam na América Latina, não para o
cancelamento da democracia, por ter raízes europeias, mas
para o reconhecimento de suas próprias raízes nos vários cantos
do mundo ligadas à ampliação da razão e da justiça, além do
sistema mundo, com maior atenção às vítimas, a universalidade
e a diversidade. Fica claro que trata de um aprendizado com
o outro que não o repete, mas lhe acrescenta algo a partir de
seu lugar hermenêutico. Ao receber a tradição da democracia a
filosofia da libertação procura ampliá-la e enriquecê-la a partir
da compreensão das vítimas do sistema mundo.
98 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 98 06/11/2016 13:25:02
Referências
BEORLEGUI, Carlos História del pensamiento latino americano.
Una busqueda incessante de la identidade. Biobao: Deuto,
2010. 3ed.
CAIAPÓ CAIOÁ. Disponível em http://nacaoindigena.
com/2015/06/09/carta-dos-conselheiros-guarani-e-kaiowa-
da-aty-guasu-para-o-presidente-da-comissao-de-direitos-
humanos-da-camara-dos-deputados/Acesso em 07/09/ 2015.
DUSSEL E. D. Ética da libertação na idade da globalização e da
exclusão. Petrópolis: Vozes 2002.
______. Vattimo: Postmodernidad y transmodernidad. Diálogos
com la filosofía de Gianni Vattimo , México, Universidad
Iberoamericana, 1999
HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. Trad. Luiz Repa. São
Paulo: UNESP, 2015.
______. Na esteira da tecnocracia. Trad. Trad. Luiz Repa. São
Paulo: UNESP, 2014.
______. Teoria do agir comunicativo. Trad. Paulo Astor Soethe
e Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: Martins Fontes, v1,
2012a.
______. Teoria do agir comunicativo. Sobre a crítica da razão
funcionalista. Trad. Paulo Astor Soethe. São Paulo: Martins
Fontes, 2012b. v. 2.
______. Ay, Europa! Trad. José Luis López de Lizaga, Pedro
Madrigal y Francisco Javier Gil Martin. Madrid: Trotta, 2009.
______. Entre naturalismo e Religião. Estudos Filosóficos. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro, 2007.
______. A crise de legitimidade do capitalismo tardio. Trad.
Valmireh Chacon. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 99
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 99 06/11/2016 13:25:02
______. Direito e Democracia: entre facticidade e validade.
Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro,1997a. v. 1.
______. Direito e Democracia: entre facticidade e validade.
Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro,1997b. v. 2.
______. Pensamento pós-metafísico. Trad. Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990ª.
_____. Prefácio. O espaço público, 30 anos depois. 1990b.
Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B-vWcDYCK
P5sMGUzYjQ3NDMtYTRiZC00ZjBlLWFmZDUtYzJmNGQ1N2QyMG
Ew/view?ddrp=1&hl=pt_BR>. Acesso em: 20 ago. 2015.
______. Mudança estrutural da esfera pública. Trad. Flávio R.
Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
MENDES, R. D. Apresentação. In: SEN, Amartya. Desigualdade
reexaminada. Tradução de Ricardo Doninelli Mendes. 3. ed. Rio
de Janeiro: Record, 2012.
REPA, L. S. Direito e teoria da ação comunicativa. In: NOBRE,
Marcos; TERRA Ricardo (Orgs.). Direito e democracia: Um guia
de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 55-71.
SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. Tradução de Ricardo
Doninelli Mendes. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2012.
______. A ideia de justiça. Tradução de Denise Bottmann e
Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras,
2011.
______. Temas chave do século XXI. In: in SEM, A; KLIKSBERG,
Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado.
Tradução de Bernardo Ajzemberg e Carlos Eduardo Lins da Silva.
São Paulo: Companhia das Letras, 2010a.
100 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 100 06/11/2016 13:25:02
______. El valor de la democracia. Trad. Javier Lomeli Espanha:
El Viejo Topo, 2009.
______. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura
Teixeira Motta. Revisão Técnica de Ricardo Doninelli Mendes.
São Paulo: Companhia das Letras, 2010b.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 101
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 101 06/11/2016 13:25:02
El consenso democrático de Habermas.
Debates frente a la demanda por el
reconocimiento de la identidad cultural de
los pueblos indígenas en América Latina
Juan Jorge Faundes Peñafiel.
Introducción
Este trabajo se enmarca en la búsqueda de un concepto
articulador del reconocimiento demandado por los pueblos
indígenas en América Latina, con cuyo propósito nos hemos
empeñado en dar cuenta de los debates teóricos más relevantes
y principales paradigmas en disputa frente al reconocimiento
de la diversidad indígena y las tensiones que ello supone en un
contexto democrático –labor que supera los objetivos de este
trabajo-, considerando, entre otras, las cuestiones de la libertad,
la igualdad, el multiculturalismo y la interculturalidad.
En particular, aquí revisamos los caminos y las eventuales
limitaciones que ofrece la racionalidad comunicativa y la
propuesta de deliberación democrática de Habermas. Para
ello, explicamos aspectos centrales de su noción de consenso
y de la legitimidad del derecho; luego entramos en la cuestión
del universalismo recogido desde el denominado “patriotismo
constitucional”, confrontándolo con algunos contrapuntos
teóricos que nos parecen pertinentes atendida la especificidad
de la demanda por reconocimiento de la identidad cultural de
los pueblos indígenas en Latinoamérica. Finalmente planteamos
algunas reflexiones a la luz de estos debates y procuramos
ofrecer respuestas posibles a un problema que sigue abierto.
102 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 102 06/11/2016 13:25:02
Racionalidad comunicativa y deliberación democrática,
conceptos centrales:
Habermas plantea una teoría de la democracia basada en
una ética comunicativa enlazada a los procesos de deliberación
colectiva, sostenida en la capacidad comunicativa de los sujetos
relacionados intersubjetivamente, como presupuesto de los
consensos en lo público, los cuales, a su vez, constituyen la
base de la construcción democrática.
En síntesis, Habermas plantea que es necesario distinguir
“la razón comunicativa” de la “razón práctica”. La razón
comunicativa ya no se limita solo al sujeto, ni se identifica
con un macrosujeto estatal-social. La razón comunicativa
se hace posible a través del medio lingüístico que permite
concatenar las interacciones y estructurar las formas de la
vida. La razón comunicativa “viene inscrita en el telos que
representa el entendimiento intersubjetivo y constituye un
ensemble de condiciones posibilitantes a la vez restrictivas”.
La racionalidad comunicativa, a diferencia de la razón práctica,
solo tiene un contenido normativo en la medida que quien
actúa comunicativamente “no tiene más remedio que asumir
presupuestos pragmáticos de tipo contrafáctico”. Concluye
entonces, por una parte, que “la tensión entre la idea y la
realidad irrumpe en la propia facticidad de las formas de la vida
lingüísticamente estructuradas” y, por otra, que la “la razón
comunicativa posibilita, pues, una orientación por pretensiones
de validez, pero no da ninguna orientación de contenido
determinado para la solución de tareas prácticas, no es ni
informativa ni tampoco directamente práctica” (2005, pp. 65-
66).
La ética comunicativa supone el reconocimiento mutuo
de la diferencia, la inclusión de la diversidad, mediante
la ilimitada comunidad de comunicación, en que todos los
Filosofia, Cidadania e Emancipação 103
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 103 06/11/2016 13:25:02
integrantes de la sociedad moderna participan de “una
cultura política que resuelve los conflictos discursivamente”,
cuyo presupuesto radica en que los participantes “se acepten
recíprocamente como iguales y reconozcan la responsabilidad
recíproca frente a los acuerdos logrados (ARAYA, 2011, pp. 88-
89). Como señala Habermas, “los participantes, a través de la
validez que pretenden para sus actos de habla, o bien se ponen
de acuerdo, o bien constatan disentimientos que en el curso
posterior de la interacción los participantes tienen en cuenta
de común acuerdo” (2005, p. 80). Entonces, el concepto de
entendimiento conduce “a un acuerdo racionalmente motivado
alcanzado entre los participantes, que se mide por pretensiones
de validez susceptibles de crítica” (1987, p. 110), en que la
construcción de la identidad personal coincide con los procesos
de socialización y la construcción de la comunidad” (ANDREU,
2012).
Habermas y el consenso democrático como fuente de
legitimidad:
Para Habermas, la teoría de la acción comunicativa busca
explicar “cómo puede efectuarse la reproducción de la vida
social sobre un terreno tan frágil como el de [las] pretensiones
de validez transcendedoras”, en que el derecho, en la forma
de derecho positivo, es el medio para tal explicación, porque
posibilita comunidades “que se entienden a sí mismas como
asociaciones de miembros libres e iguales, cuya cohesión descansa
en la amenaza de sanciones externas y simultáneamente en la
suposición de un acuerdo racionalmente motivado” (2005, p.
70). Luego expone que la interacción comunicativa se articula
por el estado de derecho y en él “se desarrolla la formación de
la voluntad política, la producción legislativa y la práctica de
las decisiones judiciales”, las cuales aparecen, así, “como parte
de un proceso más amplio de la racionalidad de los mundos de
la vida de las sociedades modernas” (2005, p. 67).
104 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 104 06/11/2016 13:25:02
En relación con la legitimidad y validez del derecho, la
legitimidad, por una parte, viene dada por la expectativa de
que las normas garanticen la autonomía por igual a todos los
sujetos -explica-. Y la validez de una norma jurídica, por otra,
se da cuando el estado garantiza, a la vez, que la norma sea
obedecida y que se den “las condiciones institucionales para que
la norma se produzca en términos de legitimidad” (HABERMAS,
2005, p. 646).
Luego, ante la pregunta de cuál es la fuente de
la legitimidad, especialmente frente a la diversidad de
las democracias pluralistas, señala que ella radica en el
procedimiento deliberativo democrático seguido para la
producción del derecho y ello se justifica, a su vez, porque
éste permite “el libre flotar de temas y contribuciones, de
informaciones y razones”, con lo que la formación del consenso
político queda en condiciones falibles de alcanzar resultados
“más o menos racionales” (HABERMAS, 2005, p. 646).
Agrega que esta proposición se funda en dos aspectos.
Primero, el derecho cumple funciones sociointegradoras, porque
“junto con el sistema político articulado en términos de Estado
de derecho, el derecho representa una especie de fianza o aval
que cubre funciones sociointegrativas”, el derecho articula
una especie de “trasmisión” a través de la cual estructuras de
reconocimiento recíproco se “transfieren de forma abstracta,
pero vinculante, a interacciones entre extraños que se han
vuelto anónimas y que vienen mediadas sistemáticamente”.
En síntesis, el derecho tanto estabiliza expectativas de
comportamiento, como “asegura las relaciones simétricas
de reconocimiento recíproco entre portadores abstractos de
derechos subjetivos” (2005, pp. 646-647). Segundo, porque
los ordenamientos jurídicos modernos solo pueden obtener su
legitimación a partir “de la idea de autodeterminación”, ya que
los ciudadanos en todo momento “han de poder entenderse
Filosofia, Cidadania e Emancipação 105
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 105 06/11/2016 13:25:02
también como autores del derecho al que están sometidos como
destinatarios” (HABERMAS, 2005, p. 647).
Los aportes de la teoría de la racionalidad comunicativa
de Habermas impactarán sobre las teorías de la democracia
constitucional, porque ella relevará la dimensión moral de la
democracia a partir de su visión de las acciones comunicativas
de la sociedad que se someten a la racionalidad procedimental
del derecho que, a su vez, se valida en la deliberación colectiva
desarrollada bajo el procedimiento democrático (ANDREU,
2012). Bajo este postulado, se entenderá que la esfera de lo
público es un espacio en que los excluidos pueden problematizar
la (su) condición de desigualdad mediante el principio de
deliberación societaria para construir consensos racionales
(VELÁSQUEZ, 2010, p. 63)
Habermas, ahondando en el problema de la legitimidad
del derecho, explica que un ordenamiento jurídico tiene que
garantizar tanto el reconocimiento recíproco en sus derechos
por todas las personas, como “leyes que sean legítimas en la
medida en que garanticen iguales libertades a todos” (2005,
p. 94). Agrega que las normas morales cumplen con este
requisito, pero en el caso de las normas del derecho positivo
es el legislador quien ha de cumplirlo, por lo que en el sistema
jurídico el auténtico lugar de la integración social es el proceso
de producción de normas (2005, p. 648). De ahí que a los
sujetos “se les exige que salgan del papel de sujetos jurídicos
privados” y, entrando en el papel de ciudadanos, adopten
el rol de “miembros de una comunidad jurídica libremente
constituida” en la que un acuerdo sobre los principios
normativos que regulan la vida en común (consenso) se pueda
alcanzar “mediante un proceso de entendimiento atenido a
reglas normativamente reconocidas” (2005, p. 94). Luego la
integración social se produce porque impone restricciones a los
sujetos que usan el lenguaje y los obliga “a exponerse a los
106 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 106 06/11/2016 13:25:02
criterios públicos de racionalidad propios del entendimiento
intersubjetivo” (HABERMAS, 2005, p. 94). La integración social
en este mundo de la vida –dice Habermas- se ve amenazada
“por una tensión explosiva entre facticidad y validez”. Se
trata de un riesgo de disentimiento siempre presente, “pues
viene escrito en el propio mecanismo del entendimiento” y
que conlleva altos costos a considerar. En consecuencia, en la
práctica comunicativa cotidiana, la contingencia, la crítica –
el conflicto-, interactúan continuamente contra “los patrones
de interacción sobre los que hay consenso, las lealtades y las
habilidades” (2005, p. 83).
Luego, continúa revisando las limitaciones de la
integración social como fundamento de la racionalidad
comunicativa. Explica que en la medida de la evolución
social, del crecimiento y complejización de las sociedades
contemporáneas, se amplían los espacios para el disentimiento,
cresen las condiciones de imposibilidad de la integración
social. Por ello, dicha integración, vista desde la perspectiva
de los mundos de la vida, solo logra explicar algunos “grupos
pequeños y relativamente indiferenciados”. Señala entonces
Habermas que se debe recurrir a la fuerza legitimadora del
derecho, como una racionalidad exenta de la moral, radicada
“en los procedimientos que institucionalizan exigencias de
fundamentación y las vías por las que ha de procederse al
desempeño argumentativo de tales exigencias” que se centran
en definitiva en el núcleo racional de la imparcialidad, moral y
práctica. No obstante lo anterior, aclara el autor que siempre
habrá una moralidad implícita en las “cualidades formales del
derecho”, como la fundamentación de normas y la aplicación
vinculante de ellas. Se establece consecuentemente una
“conexión constructiva entre derecho vigente, procedimientos
legislativos y procedimientos de aplicación del derecho” (2005,
p. 448). Así, “lo moral” del derecho, solo dice relación con que la
Filosofia, Cidadania e Emancipação 107
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 107 06/11/2016 13:25:02
racionalidad del procedimiento debe “garantizar la ‘validez’ de
los resultados obtenidos conforme a ese procedimiento. Pero los
procedimientos jurídicos se aproximan a las exigencias de una
racionalidad procedimental perfecta porque llevan asociados
criterios institucionales y, por tanto, criterios independientes,
conforme los cuales puede establecerse desde el punto de
vista de un “imparcial” si una decisión se produjo conforme
a derecho (2005, p. 557). Entonces, solo en la medida que el
consenso, como voluntad colectiva, sea generado de forma
comunicativa y producido por los mecanismos institucionales
como norma jurídica, es posible cumplir con la premisa ética
racional de que el derecho “solo puede conservar ya su fuerza
de integración social haciendo que los destinatarios de esas
normas jurídicas puedan a la vez entenderse en su totalidad
como autores racionales de esas normas” (HABERMAS, 2005, p.
96):
La conexión entre Estado de derecho y de-
mocracia se explica conceptualmente por-
que las libertades subjetivas de acción del
sujeto de derecho privado y la autonomía
pública del ciudadano se posibilitan recí-
procamente […] Para una praxis dadora de
Constitución no basta introducir un ‘princi-
pio de discurso’ a cuya luz los ciudadanos
puedan juzgar si el derecho que establecen
es legítimo. Antes es menester instituciona-
lizar a su vez jurídicamente precisamente
aquellas formas de comunicación en las que
haya poder formarse de modo discursivo una
voluntad política racional. Al tomar el prin-
cipio de discurso forma jurídica se transfor-
ma en un ‘principio de democracia’ (HABER-
MAS, 2005, pp. 652-653)
Al respecto, analiza Habermas que los derechos
fundamentales, como constitutivos de toda forma de organización
108 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 108 06/11/2016 13:25:02
entendida como comunidad jurídica “de miembros libres e
iguales” reflejan la vinculación horizontal de los ciudadanos,
en una especie de orden germinal. Pero señala que “este acto
autoreferencial de institucionalización jurídica de la autonomía
ciudadana” presenta falencias esenciales, como la imposibilidad
de estabilizarse a sí mismo. El mutuo reconocimiento de la
interrelación comunicativa quedaría solo en la retórica porque
“no puede ni consolidarse ni perpetuarse sin organizar, o sin
recurrir funcionalmente, a un poder estatal”. Conforme estas
prevenciones, para que la relación entre autonomía privada
y autonomía pública en que se desarrolla el sistema de
derechos logre constituir un continuo, el proceso institucional
de producción de normas tiene que incluir “al poder político
que el derecho presupone como medio”. A este poder político,
tanto la producción del derecho, como la potestad de ordenar
conforme el derecho, deben su “fáctica capacidad vinculante”
(2005, p. 199). Agrega a continuación que el “derecho a iguales
libertades subjetivas de acción se concretiza en derechos
fundamentales que, en tanto que derechos positivos” llevan
anexas amenazas de sanción que aseguran su cumplimiento
contra vulneraciones o intereses que les resisten. Se trata de la
reserva a la violencia institucionalizada cuyo ejercicio legítimo
corresponde al Estado. Luego, “el derecho a iguales derechos”
como miembros voluntarios de la comunidad jurídica, supone
un cuerpo colectivo delimitado en el espacio y el tiempo, “con
el que sus miembros se identifiquen y al que puedan imputar
sus acciones como partes de un mismo medio de interacción”.
Pero advierte Habermas que ese colectivo solo podrá ser
una comunidad jurídica si se articula por medio de un entre
central facultado para representar al todo. Por ello, el Estado
ejerce “su capacidad de organización y autoorganización para
mantener hacia el exterior y hacia el interior la identidad de la
convivencia jurídicamente organizada” (2005, p. 200), porque
Filosofia, Cidadania e Emancipação 109
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 109 06/11/2016 13:25:02
la conexión entre derechos fundamentales y soberanía popular
radica en que “la exigencia de institucionalizar jurídicamente
la autolegislación solo puede cumplirse con ayuda de un código
que a la vez implica el garantizar libertades subjetivas de acción
judicialmente accionables” y la igualdad en el ejercicio de
tales derechos y libertades, solo puede manifestarse mediante
un procedimiento deliberativo democrático (HABERMAS, 2005,
pp. 653-654).
El “patriotismo constitucional” y el reconocimiento de la
identidad cultural:
El concepto de patriotismo constitucional de Habermas no
se sitúa ni en lo étnico, ni en lo cultural o en un nacionalismo,
sino que se expresa en los principios democráticos de una Carta
Constitucional que respeta los derechos humanos de todos
como iguales, se abre a la pluralidad de sujetos a quienes
confiere el estatus de ciudadanos (2005, p. 628). El patriotismo
constitucional, visto como “una mirada no comunitarista”,
supone una cultura común basada en la aceptación de diversas
formas de vida y culturas, en el contexto de una república
inclusiva y pluralista (ARAYA, 2011, pp. 94-95). Habermas describe
el pluralismo como propio de una cultura política republicana
que permite la integración social de las identidades nacionales,
incorporando el respeto a las diversas formas de vida y variadas
tradiciones culturales, para organizar democráticamente una
sociedad multicultural, donde la identidad colectiva debe poseer
las características supranacionales o posnacionales. Plantea una
ética comunicativa como base de la construcción deliberativa
de los consensos en que el patriotismo constitucional supone
un régimen político democrático sostenido en el principio de
igualdad democrática y no la concepción de una comunidad
prepolítica étnico-nacional en que el componente cultural
110 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 110 06/11/2016 13:25:02
introduce el conflicto y erosionaría la misma posibilidad
democrática (ARAYA, 2011, p. 96)1.
El patriotismo constitucional de Habermas es la expresión
positiva de la legitimación procedimental de la generación
del derecho que hemos explicado, por lo tanto no es en sí un
presupuesto moral, pero sí normativiza la ética comunicativa,
y no debe suponer ningún proyecto (moral) ni pre ni supra
constitucional (étnico, cultural o nacional –que responda a
algún nacionalismo-). Este patriotismo constitucional se expresa
mediante los principios democráticos de una Constitución que
respeta y asegura la vigencia de los derechos fundamentales,
definidos deliberativamente, con lo que confiere un estatus de
“igual a los iguales”, de ciudadano.
Ahora bien, vale prevenir que el patriotismo constitucional
no sería, en principio, acultural, porque reconoce que los
sujetos se enmarcan en contextos culturales, pero propone una
identidad colectiva común, por sobre las identidades culturales
particulares, como las étnicas, una identidad ciudadana que
caracteriza la democracia liberal pluralista, sostenida en el
respeto de los derechos fundamentales como parte del eje
institucional generador, articulador y asegurador del derecho.
Para Habermas la universalidad de los derechos humanos
se basa en permitir la tolerancia, la solidaridad y la pluralidad
de las identidades particulares, lo cual para él es solo realizable
más allá de las costumbres de una comunidad (ARAYA, 2011, p.
89). Para él, el sistema de derechos fundamentales se extiende
a la totalidad de las personas que integran la comunidad
política y la validez del ordenamiento jurídico “apunta por
encima del Estado democrático de derecho y tiene por meta
una globalización de los derechos” (HABERNMAS, 2005, p. 654).
En consecuencia, bajo esta perspectiva, la solidaridad de la
1 En este mismo sentido véase: BENHABIB (2006), CORTINA (2010).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 111
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 111 06/11/2016 13:25:02
ética del discurso de Habermas comprendería la capacidad de
identificarse con el ‘otro’, quien debiera tener recíprocamente
las mismas posibilidades de articular sus necesidades y
argumentos.
De nuestra parte, formulando desde ya algunas
prevenciones, nos parece necesario observar que el
planteamiento precedente no advierte suficientemente de los
problemas teóricos subyacentes a la pretensión simultanea
del universalismo jurídico y el reconocimiento étnico, porque,
la “aceptación de diversas formas de vida y culturas”,
requiere el desarrollo de presupuestos políticos, sociales,
culturales e institucionales que no son factibles de incluir sin
enfrentar coyunturas de relevancia, entre otras, siguiendo la
perspectiva que llamaremos “intercultural”, implica asumir
que la convivencia en la diversidad supone conflictos (FORNET-
BETANCOURT, 2011, pp. 37-38). Incluso, como veremos, se
sostiene que la propuesta de Habermas involucra un proyecto
político civilizatorio europeo occidental (DUSSEL, 2006).
Así, nos preguntamos si el patriotismo constitucional
de Habermas logra fundamentar una democracia, más
que pluralista, que podamos calificar de multicultural o
intercultural, ya que solo opera “procedimentalmente”, como
fondo institucional para la articulación jurídica deliberativa de
un régimen democrático liberal que puede dar lugar o sostener
los más diversos programas políticos y subjetividades políticas,
sin necesidad de abrirse al reconocimiento de la cultura, a
dimensiones colectivas de ella o sin recurrir a un fundamento
étnico-cultural. En consecuencia, vemos en Habermas una
posición democrática liberal, consensual, podemos decir
“pluralista universalizante”, por cierto dialógica, pero que no
satisface del todo ni la perspectiva del “multiculturalismo”
112 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 112 06/11/2016 13:25:02
(liberal)2 y toma mayor distancia aún de la corriente del
reconocimiento intercultural que hoy sostiene la filosofía crítica
latinoamericana3, porque para desarrollar el proceso dialógico
deliberativo exige una renuncia a la identidad cultural4. Bajo
el enfoque intercultural que seguimos, un diálogo de orden
cultural está sujeto a porosidades, matices, aprendizajes y
desprendimientos, pero, al mismo tiempo, se sostiene desde la
identidad colectiva de los sujetos (Echeverría, 2005), abierta al
diálogo entre múltiples culturas. Sin identidad el diálogo merma
sus posibilidades de articulación, porque habría un interlocutor
en cuya esencia está ausente, una parte “sin parte” (RANCIÈRE,
1996).
Ahora bien, sí consideramos que, frente a una comunidad
política cuya historia ha experimentado el conflicto y la ruptura
(escenario de las demandas indígenas por reconocimiento en
América Latina), la búsqueda del patriotismo constitucional
radica en cómo dotarla de una nueva identidad colectiva
(ARAYA, 2011, p. 95). Pero, esta finalidad no es suficiente
para asumir una dinámica social pluralista abierta a las
distintas identidades culturales. Porque, hemos visto que la
búsqueda de Habermas refiere a una “identidad política
común”, democrática en la virtud procedimental de permitir la
deliberación colectiva, legitimándose en ella, pero que, como
racionalidad procedimental que es, precisamente, prescinde
del estadio de las justificaciones morales del derecho, donde
ubica las consideraciones culturales. Así, cuando incluye las
cuestiones culturales dentro de las cualidades de la identidad
del orden colectivo, las hace prescindir de su valor jurídico o
legitimador del derecho y las supedita a la identidad política
2 TAYLOR (1992), KYMLICKA (1995), BENHABIB (2006) y CORTINA (2010).
3 Entre otros: FORNET-BETANCOURT (2011); SALAS (2003); DUSSEL (1998).
4 En este mismo sentido, criticamos la propuesta de “Justicia Imparcial” de
Rawls (1995, pp. 37-50).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 113
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 113 06/11/2016 13:25:02
democrática común (HABERMAS, 2005, p. 628).
No obstante lo anterior, desde el punto de vista de su
innovación y su virtud de haber abierto las visiones clásicas
de la democracia formal, la introducción del principio de
deliberación “coloca en el seno de la discusión sobre la
democracia un procedimentalismo participativo que se apoya
en la pluralidad de formas de vida existentes en las sociedades
contemporáneas”, como una forma colectiva de ejercicio del
poder político basado en “un proceso libre de presentación de
razones entre iguales” (VELÁSQUEZ, 2010, p. 63). Luego, la
razón comunicativa, si bien no determina una forma de vida
en particular, sí haría posible que diferentes comprensiones de
éstas sean compatibles sin perder, por ello, la capacidad crítica
propia de la pluralidad democrática (ARAYA, 2011, p. 87).
Pero la negativa de Habermas a incorporar dentro de la ética
comunicativa la dimensión colectiva de la cultura, puesta en
valor político y jurídico, será vista por sus críticos, ya no como
una ampliación del pluralismo democrático, sino como una poco
comprensible oposición al reconocimiento de la diversidad, en
particular la indígena, porque, paradójicamente, la racionalidad
comunicativa de Habermas afirma la intersubjetividad y el
reconocimiento del otro, pero al mismo tiempo, excluye la
valoración normativa de la identidad cultural en su dimensión
colectiva (GÓMEZ, 2000).
Consenso y deliberación, debates frente al reconocimiento
de la identidad cultural:
En primer término, Dussel, al igual que Habermas,
busca respuestas para el problema de los procedimientos que
otorgan legitimidad a las acciones e instituciones políticas, la
democracia y el derecho. Así, plantea que el primer requisito
de legitimidad es la posibilidad de participación simétrica,
desarrollada conforme las éticas dialógicas basadas en la
114 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 114 06/11/2016 13:25:02
razón práctica discursiva. Pero se distancia de Habermas y
de la visión procedimental de la democracia, planteando una
concepción normativa de ella que repara en la necesidad de
asegurar las condiciones empíricas, materiales, de simetría
entre los ciudadanos, como condición de la participación
democrática deliberativa. Señala Habermas intentaría ajustar
los principios morales discursivos abstractos al principio
democrático o del derecho, con lo que solucionaría el problema
de la normatividad, pero cae en el formalismo, porque solo se
encontrarían “principios políticos formales: el democrático o
del derecho” (DUSSEL, 2006, p. 48). Mientras, para Dussel, la
democracia es “crítica, liberadora o popular” (2006, p. 55). En
términos históricos, el pueblo como actor principal cuestiona
sucesivamente el grado de democratización conquistado y
reinventa la democracia una y otra vez (2006, p. 75). Luego
respecto del consenso democrático, institucionalizado en la
deliberación legislativa, como fuente de legitimidad jurídica,
Dussel, si bien inicialmente acepta la noción de consenso en
términos ideales, luego con mucha claridad incorpora como
distorsión imprescindible la necesaria presencia y respeto de las
minorías (2006, p. 57). A continuación, en la misma línea, critica
la idea de consenso en Habermas y destaca la situación práctica
de la votación como “acuerdo imperfecto”, porque –sostiene-
no hay decisión perfecta, “la votación no es un acuerdo, sino
una suma de opiniones individuales ponderadas en relación
de la evaluación de cada uno, su responsabilidad y no por un
acuerdo”, porque la votación por definición cierra, interrumpe
una discusión que es por eso un proceso inacabado. Por lo tanto,
“la decisión adoptada por votación no es la verdad práctica,
sólo es el acuerdo alcanzado hasta el momento (imperfecto,
con efectos negativos inevitables)”, es un instrumento humano
finito en la búsqueda de otras decisiones mejores (DUSSEL,
2006, p. 57).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 115
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 115 06/11/2016 13:25:02
En consecuencia, concluye Dussel, el “principio de
legitimación crítico” o de una “democracia liberadora”,
se distancia mucho de la “democracia liberal”, se sostiene
en un “consenso crítico” que, por sobre la idea de consenso
deliberativo, liberal, se caracteriza “por la participación real y
en condiciones simétricas de los oprimidos y excluidos” (2006,
p. 75). Luego, -para Dussel- se trata de la demanda y el derecho
de “participar como iguales en un nuevo momento institucional
(el nuevo orden político)”. Así, no se lucharía por la inclusión,
en un sentido habermaciano, sino por la transformación (2006,
p. 75).
En otra línea de debate, Rancière, desde su racionalidad
del “desacuerdo” pone en duda la fundación de una filosofía
política democrática ensamblada en el principio de igualdad y,
desde ahí, cuestiona la ética comunicativa porque ésta supondría
el recurso a una igualdad ideal imposible entre interlocutores
que actúan bajo la distorsión que genera la propia interpelación
igualitaria (1996, 18). Luego, para él, la política supone siempre
una ruptura de la lógica del arkhè (2006, p. 63), una lucha
entre actores ya constituidos, un litigio enraizado incluso en
la disputa por el lugar ocupado y por el habla dentro de este
lugar (1996, p. 41-42). Por ello, en el pensamiento de Rancière
“el terreno de lo político” -en nuestro caso entendido como las
luchas por el reconocimiento-, sólo adquiere sentido cuando el
principio de “la igualdad de cualquiera con cualquiera” opera
como el fundamento de un orden determinado (DURÁN, 2010).
Entonces, bajo esta perspectiva, “no es la desigualdad la fuente
originaria de producción de identidades políticas litigiosas,
sino que precisamente su opuesto, esto es: la apelación al
principio igualitario” (DURÁN, 2010, p. 1). En consecuencia,
para Rancière se trata de un diálogo entre iguales que no
lo son, pero que se suponen en igualdad, como un espacio
de interacción y contradicción que llama la racionalidad del
116 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 116 06/11/2016 13:25:03
“desacuerdo” de la política (1996, p.7). Luego, a partir de
estas premisas, Rancière construirá su concepto de la política
y la democracia, como una lucha constante y rescilente por la
igualdad, imposible en su completud (1996, p. 23), inestable,
“en cuyo seno convive, amenazante y permanentemente, la
posibilidad de su colapso” (DURÁN, 2010, p. 1). Entonces, el
desafío radicaría en asumir una racionalidad política consiente
de las posibilidades agonísticas, pero abierta a la construcción
de consensos intersubjetivos (DURÁN, 2010, p. 1). Pero estos
consensos, a diferencia de la ética discursiva de Habermas,
no constituyen un presupuesto de la interlocución, sino que
participan de la interacción política de la construcción del
orden. Como concluye Durán, “lo cierto es que la racionalidad
política, pensada de esta forma, necesariamente tendrá como
horizonte el alcance de formas de equilibrio capaces de impedir
la fractura siempre posible de la convivencia democrática”,
como una interacción “de partes que actúan en su condición
de tales” dentro del cuerpo social. Pero no puede ser objeto de
diálogo ni negociación aquello que -como la igualdad- “opera
como presupuesto mismo de la interlocución” (DURÁN, 2010,
p. 1). Así, la racionalidad comunicativa se fundaría en un
presupuesto erróneo, porque, a la par de que tal igualdad no
existe en la facticidad social, tampoco es lógicamente posible,
salvo en términos de su enunciación como principio formal de
razonamiento: la igualdad en tanto poder “ser parte” que, a su
vez, convierte a la política en la lucha de “la parte sin parte”
por la igualdad (RANCIÈRE, 1996).
La dinámica política descrita por Rancière nos permite
explicar lo que para nosotros se involucra en la dinámica del
reconocimiento, porque el autor edifica una teoría que tomando
distancia de la racionalidad comunicativa de Habermas, piensa
la dominación y la intersubjetividad en toda su violencia y
potencialidad humana que, en definitiva, en una solución
Filosofia, Cidadania e Emancipação 117
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 117 06/11/2016 13:25:03
paradójica, resulta en una interpelación por la inclusión, por el
reconocimiento del otro.
Por su parte, Magdalena Gómez (2000), plantea
que la propuesta de Hábermas frente a la demanda por
reconocimiento de la diferencia cultural evidencia una
contradicción. Para ella, si bien el autor alemán formula una
propuesta para el reconocimiento, al mismo tiempo niega su
derecho a la diferencia, al excluir la identidad cultural como
un valor normativo. La autora se sorprende cuando Habermas
“prioriza el enfoque más convencional de la teoría jurídica
de los derechos individuales para rechazar el planteamiento
de los derechos colectivos”. Explica que Habermas en su libro
“La inclusión del Otro” lo que hace es limitar la inclusión, ya
que, si bien se abre al tema de “las minorías ‘nacidas’”, como
fenómeno que emerge en las sociedades pluralistas, en especial,
en las sociedades multiculturales, existen otros caminos para
el objetivo de una inclusión de esta naturaleza sí abiertos al
reconocimiento de la diferencia, sin que con ello se afecten
los principios constitucionales, como la igualdad (GÓMEZ, 2000,
pp. 1048-1049).
Laclau y Mouffe, siguiendo a Habermas5, se preguntan ¿Qué
valores sustantivos debiera compartir un grupo para distinguir
entre un nivel normativo referido al todo, al sistema legal general
y otro referente a las identidades culturales que existen como
particularidades al interior de ese orden?. Vayamos viendo.
Primero: Es perfectamente posible articular un orden social
democrático en que “muchas de las demandas de una identidad
5 Laclau y Mouffe (2004, p. 247) citan a Jürgen Habermas en (versión en
inglés) The Inclusión of de Other. Studies in Political Theory, Cambridge
(EEUU), MIT Press, 1998, p. 225 [trad. esp.: La inclusión del otro; estudios de
teoría política, Barcelona, Paidos, 2002]. Nosotros hemos tenido a la vista en
este trabajo la versión en español de 1999 de la misma obra que corresponde
a una traducción de la versión alemana de 1996 (Habermas, 1999).
118 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 118 06/11/2016 13:25:03
más global sean ‘universales’ en su contenido y atraviesen una
identidad de pluralidades étnicas” (LACLAU y MOUFFE, 2004, p.
246). Pero, estas identidades de pluralidades étnicas también
tienen sus propias suturas-parciales (pretensiones universales
no suturables totalmente) y sus propias articulaciones, con
el todo, sus lugares de poder y “con-entre” las otras partes.
Precisamente, la apertura a la diferencia colectiva requiere una
forma institucional de Estado de menor concentración del poder,
con mayores porosidades políticas e institucionales que permita
en forma blanda una mayor articulación de la diferencia. En lo
institucional se tratará de un Estado en que el lugar del poder, no
solo es vertical –hegemónicamente hablando- sino que también
teje, entrelaza, articula, edifica puentes, para construir una
suerte de homogeneidad de sus partes heterogéneas. Sin duda
cuando la identidad cultural juega un rol más preponderante,
la afirmación de una “estabilidad inestable” (DURÁN, 2010)
cobrará más fuerza. Segundo: nos parece posible el diseño de
un marco institucional intercultural en que la interculturalidad
puede ser, por una parte, el valor central acordado por la
comunidad política, axiológicamente instalado en el orden
normativo (regularmente en la Constitución), que como acuerdo
fundamental común de apertura a la diferencia cultural y a los
derechos que ella involucra, permite, al mismo tiempo, articular
los procedimientos y puentes para el reconocimiento recíproco
y el diálogo agonístico entre pueblos (particularidades), en
el marco del todo que siempre será parcial como comunidad
política organizada, democrática y multicultural.
Habermas y su contribución al reconocimiento de la diversidad
indígena latinoamericana:
Sin abandonar las cuestiones planteadas sobre nociones
como la del consenso, de la inclusión y sobre una ética que
en el afán de la pluralidad margina la dimensión cultural de la
política y del derecho, no podemos dejar de lado el esfuerzo
Filosofia, Cidadania e Emancipação 119
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 119 06/11/2016 13:25:03
de Jürgen Habermas, en a lo menos dos sentidos. El primero,
desde la mirada de la historia del pensamiento crítico, impacta
la reflexión del siglo XX, marcando una ruta que enriquece los
debates sobre el reconocimiento y el respeto de la diversidad.
El segundo, la racionalidad comunicativa de Habermas aportará
un instrumental epistemológico fundamental en la construcción
dialógica de una ética intercultural, por sobre las críticas y
deconstrucciones que se le plantean a la ética del discurso.
Como señala Salas, desde su enfoque de diálogo intercultural,
la ética discursiva contribuye como ética normativa, ya que
“asocia el vínculo entre la ciencia y la ética acerca de la
derivación de normas, y plantea explícitamente los problemas
generados por la racionalidad instrumental” y la crisis valórica
de la modernidad. Con todo, aún puede revisarse desde América
Latina cómo esta ética del mundo de la vida “puede responder
a una hermenéutica de la praxis” (SALAS, 2013, p. 43).
También es posible destacar el pensamiento habermasiano
por haber logrado instalar una crítica a las visiones que
reducen la democracia a un equilibrio mecánico de intereses y
preferencias, “manifestados a través de un voto que selecciona
a los líderes que llevarán a cabo las políticas escogidas”, porque
aquel sistema no logra explicar cómo las identidades políticas
son constituidas y reconstituidas a través de la deliberación en
la esfera pública, condición constitutiva de la política que exige
tener en cuenta las luchas de “la pluralidad de voces que una
sociedad democrática abarca” (LACLAU y MOUFE, 2004, p. 18).
Por otra parte, la propuesta de Habermas será clave
para el “liberalismo multicultural” (CORTINA, 2010) que
presentará relecturas en su tarea de considerar la diferencia
en la construcción del derecho, para la cual complejiza la
noción clásica de la igualdad, solo centrada en la libertad
individual, asumiendo que la construcción del derecho ya no
puede resolverse solo en la suposición de un pacto, sino que
120 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 120 06/11/2016 13:25:03
tal producción jurídica se realiza por sujetos comunicados y se
legitima por rumbos institucionales que establecen un marco
deliberativo, emergiendo la necesidad de incluir la dimensión
política junto a la jurídica. Pero, al mismo tiempo, deja abierta
una suerte de paradoja que, para sus críticos, más que freno, será
rumbo para nuevos desarrollos teóricos: ¿cómo abrir el derecho
a incluir la diferencia?, ¿cómo plantear una ética comunicativa
entre sujetos considerando sus identidades culturales?, ¿es
legítimo cerrar el marco conceptual a la posibilidad de derechos
colectivos que reconocen la diversidad?.
Conclusión
Habermas, desde su ética comunicativa, plantea una
propuesta que se ha calificado de pluralista, con un marcado
discurso de apertura a la diferencia en el plano individual,
pero que separa las luchas por el reconocimiento en el plano
colectivo, étnico y cultural, porque sostiene que con ellas se
estaría dando pié a un nacionalismo étnico que implicaría la
negación de la acción comunicativa (1999, p. 160). Pero esta
premisa introduce una fisura paradójica en la ética comunicativa,
porque, por un lado, se sostiene una ética que requiere el
reconocimiento recíproco de todos los interlocutores sociales,
pero, por otro, algunos de ellos no pueden formar parte plena
de la interlocución. Así el reconocimiento termina siendo
a lo menos parcial porque se omite una de las dimensiones
constitutivas del (de los) sujeto(s), su identidad cultural.
Finalmente, visualizamos dos presupuestos basales de
la democracia, concatenados paradójicamente y en tensión:
conflicto y diálogo (FAUNDES, 2015). Conflicto, propio de la
dinámica intercultural. Y diálogo, sostenido en el aseguramiento
de las condiciones materiales de existencia de todos los sujetos
(SALAS, 2003). El diálogo así, se sitúa en un campo de conflicto,
pero al mismo tiempo constituye un imprescindible para la
Filosofia, Cidadania e Emancipação 121
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 121 06/11/2016 13:25:03
deliberación democrática, para aquella articulación factible
y falible que arroja las formas normativas e institucionales,
siempre finitas y en transformación. Luego, nuestro enfoque
supone, entre otros aspectos, el consenso sobre ciertos mínimos
éticos y el establecimiento de un espacio común entre fronteras
culturales que, por cierto, son en igual medida fronteras
comunicativas articuladas por los propios actores sociales,
con lo que solo hay consenso si hay reconocimiento. Pero este
consenso supone asegurar condiciones materiales a los sujetos
y recoge el sentido de una propuesta intercultural, conflictiva
y dialógica. Así, la integración social radicada en el derecho
que postula Habermas sería solo “un orden deseado”, siempre
inacabado, una “utopía del consenso”, un “horizonte utópico”
de la democracia (LECHNER, 1984).
Bibliografía
ANDREU, Joan (2012). Teoría de la acción comunicativa, ética
del discurso y racionalidad democrática. Una aproximación a
alguno de los planteamientos de J. Habermas. En:
http://www.cesag.org/ghcs/tempsdecomunicar/?p=325 (28
febrero 2014).
ARAYA, Jorge (2011). Jürgen Habermas, Democracia, inclusión
del otro y patriotismo constitucional desde la ética del discurso.
Rev. chilena de derecho y ciencia política, N° 2, V.3 , pp. 85-
98.
BENHABIB, Seyla (2006). Las reivindicaciones de la cultura.
Igualdad y diversidad en la era global. Buenos Aires: Katz.
CORTINA, Adela (2010). Justicia cordial. Valencia: Trotta.
DURÁN, Carlos (2010). Proyecto desigualdades. Tendencias y
proyectos emergentes en la estratificación social. En:http://
122 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 122 06/11/2016 13:25:03
www.desigualdades.cl/wp-content/uploads/2009/09/
ponencia-carlos-duran-mesa-participacion-politica.pdf (1
febrero 2014).
DUSSEL, Enrique.
—. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización
y exclusión. Madrid: UNAM-Trota.
—. (2006). 20 tesis de política. En:http://www.ceapedi.com.
ar/imagenes/biblioteca/libros/282.pdf (22 de abril 2014).
ECHEVERRÍA, Bolivar (2005). Vuelta de Siglo. Mexico: Fundación
Editorial el perro y la araña.
FAUNDES, Juan Jorge. (2015) “Recomprensión intercultural de
los derechos humanos. Apuntes para el reconocimiento de los
pueblos indígenas en América Latina”. En, Justiça do Direito,
V. 29 N°1 1 (2015).
FORNET-BETANCOURT, Raúl (2011). La Filosofía Intercultural y
la dinámica del reconocimiento. Temuco: Ediciones Universidad
Católica de Temuco.
GÓMEZ, Magdalena (2000). Derecho indígena y constitucionalidad.
En, CASTRO, M. (comp.), Actas XII Congreso internacional de
de derecho consuetudinario y pluralismo legal: desafíos del
tercer milenio, Vol. II, pp. 1029-1050. Arica: U. de Chile, U. de
Tarapacá.
HABERMAS, Jünger.
—. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.
—. (2005 [1998]). Facticidad y Validez. Sobre el derecho y
el estado de derecho democrático en términos de teoría del
discurso. Madrid: Trotta.
—. (1999). La inclusión del otro. Estudios sobre teoría política.
Barcelona: Paidós.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 123
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 123 06/11/2016 13:25:03
KYMLICKA, Will (1995). Multicultural Citizenship. Oxford:
Oxford University Press.
LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal (2004 [1985]). Hegemonía y
estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
LECHNER, Norbert. (1984). La conflictiva y nunca acabada
construcción del orden deseado. Santiago: Flacso.
MOUFFE, Chantal (2003). La paradoja democrática. Barcelona:
gedisa.
RAWLS, Jhon. (2011[1995]). Liberalismo político. México:
Fondo de Cultura Económica.
Rancière, Jack. (1996). El desacuerdo. Política y Filosofía.
Buenos Aires: Nueva Visión.
—. (2006). Política, policía, democracia. Santiago: LOM.
SALAS, Ricardo.
—. (2003). Ética Intercultural. Santiago: Ediciones UCSH.
—. (2013). Antonio Sidekum y Raúl Fornet-Betancourt: Ética,
reconocimiento y discurso intercultural. Utopía y Praxis
Latinoamericana, Año 18, N° 60, pp. 41-55.
TAYLOR, Charles (1992). Multiculturalism and “the Politics of
Recognition”, Princeton University Press, Princeton.
VELÁSQUEZ, Fabio (2010). Democracia y particpación en América
Latina. En, Ciudadanía activa. Iniciativas para fortalecer la
democracia. Cartagena de Indias: Ed. Tec. de Bolivar.
124 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 124 06/11/2016 13:25:03
O sujeito pronominal descaracterizado:
filosofia da consciência e individualismo
Jovino Pizzi
Introdução
A teoria do agir comunicativo de Habermas suscitou – e
continua propiciando – uma infinidade de considerações. No
final do século passado, ela foi motivo de inúmeras análises.
Ainda hoje, é tema de estudos, pesquisas, encontros, textos
etc. A listagem é enorme e parece que não vai a se encerrar
tão cedo.
O que está por detrás da proposta de Habermas?
Em poucas palavras, Habermas pretende salientar um
tipo de “racionalização social em termos de reificação da
consciência” (2012, II, p. 3). Na verdade, sua preocupação
se volta a um tipo de racionalização, sublinha o aspecto
individual das pessoas. Como diz Habermas, a reificação da
consciência é uma das características das sociedades modernas
e atuais, e isso salienta o aspecto impessoal e meritocrático
dos indivíduos. A consequência é o esmaecimento do social e
da intersubjetividade comunicativa, a ponto de afiançar um
descompromisso com os demais.
Esse é um dos pontos chaves para entender a teoria do agir
comunicativo. Por isso, a manifestação em contra ou a favor não
pode ser o parâmetro de uma filosofia interessada no momento
presente. Nem mesmo a acusação de europeísmo ou de qualquer
outra característica regionalista pode esmaecer a repercussão
da teoria do agir comunicativo. Por certo, o pensamento de
Habermas não se resume à obra Teoria do Agir Comunicativo,
mas ela é, sem dúvidas, um dos aspectos fundamentais de sua
Filosofia, Cidadania e Emancipação 125
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 125 06/11/2016 13:25:03
filosofia em torno aos conceitos relacionados ao “contexto
histórico e teórico” de “uma teoria da ação” vinculada a
uma “comunidade de comunicação” (HABERMAS, II, p. 4).
Essa comunidade de comunicação apresenta um duplo rosto,
pois ela é, ao mesmo tempo, “ideal” e “real”. Daí, então, a
defesa de uma “intersubjetividade invulnerada” entre sujeitos
coautores, de modo a possibilitar o “entendimento não coagido
dos indivíduos entre si e da identidade de um indivíduo que se
entende livremente consigo mesmo” (HABERMAS, II, p. 4).
A pretensão deste artigo não é defender ou acusar, mas
apenas salientar um aspecto essencial na teoria de Habermas.
Trata-se de salientar que a “validade intersubjetiva” dos
proferimentos supõe uma relação comunicacional entre
sujeitos, na qual o uso dos pronomes pessoais indica uma forma
de reconhecimento entre os sujeitos coautores. Em outras
palavras, ao reconhecer os papéis de cada sujeito participante,
a inter-relação exige uma consideração equitativa entre os três
pronomes pessoais (singular e plural). A negação de tal equidade
permite aventar que a terceira pessoa (singular ou plural) seja
tratada como alguém estranho, antissocial ou indesejado.
No caso latino-americano, essa forma de descaracterização
do sujeito assume um tipo de dualismo, no qual a comunidade
de comunicação rejeita os coautores que estão vinculados
a um estilo de vida ou assumem um modus vivendi alheio à
tradição europeia. Embora a expressão “europeia” seja
genérica e polivalente, trata-se, então, de designar um modelo
eurocentrista e da influência exercida pela Europa sobre os
países de outros continentes.
Ao mesmo tempo, o século XXI reserva um aspecto
peculiar para a América Latina. A maior parte dos países
ibero-americanos do continente passou de ditaduras para
um modelo político democrático – ainda que insipiente.
126 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 126 06/11/2016 13:25:03
Embora a democracia também seja um termo controverso, a
proposta de pensar a América Latina pós-ditaduras não significa
simplesmente distinguir ou separar etapas históricas, e nem
mesmo esquecer a brutalidade dos regimes militares. A intenção
apenas deseja salientar as democracias insipientes e, por isso
mesmo, com resquícios autoritários e, ainda, sem preocupação
com a diversidade de suas gentes.
No fundo, a passagem das ditaduras militares a um
modelo democrático mantém os princípios do individualismo
possessivo – na linha de Macpherson – cuja característica é a
impessoalidade e a meritocracia. Embora as considerações a
respeito das políticas afirmativas – como é o caso do Brasil –,
ainda assim persiste um modelo individualista e cada vez menos
preocupado com o âmbito social. No fundo, o critério do agir
é demarcado pelo interesse pessoal e a busca de realização
profundamente individualizada, algo intrínseco à filosofia da
consciência.
Hume na era da filosofia da consciência
Na tradição liberal inglesa, David Hume (1711-1776) é,
sem dúvida, um dos expoentes mais sugestivos para delinear
o sistema das liberdades individuais. No entanto, o vocábulo
liberalismo, “como um ente abstrato é uma tarefa bastante
difícil pois, a rigor, existem tantos liberalismo quanto são seus
doutrinadores e mesmo quantas são as experiências sociais
concertas nas quais este paradigma é ou foi hegemônico”
(TAMBARA, 1998, p. 11). Embora de forma um tanto confusa,
o liberalismo defende a independência dos indivíduos. Por isso,
a necessidade de um tipo de contrato social, priorizando as
escolhas privadas (incluindo a opção de consciência, de opinião,
de manifestação e, inclusive, de organização). Os governos não
devem, pois, interferir em tais escolhas, porque a essência do
liberalismo consiste no “reconhecimento do desejo individual
Filosofia, Cidadania e Emancipação 127
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 127 06/11/2016 13:25:03
como fato básico de uma associação civil moderna” (MINOGUE,
1996, p. 422).
Na tradição ocidental, a Inglaterra realizou as mencionadas
“experiências sociais concretas” – de acordo com a expressão
de Tambara. Mas não foi só isso, pois também se destacaram
pensadores com um teor liberal muito acentuado. Nesse rol,
Locke seria um dos expoentes mais destacados. Todavia, em seus
desdobramentos, aparecem autores ligados ao Utilitarismo, por
sua vinculação com o ideal de felicidade, aspecto que levou
Rawls a escrever uma crítica significativa contra o próprio ideal
de utilidade (MINOGUE, 1996, p. 422-423).
Embora as modificações adverbiais do caráter semântico
e pragmático do liberalismo, sua constituição teórica nutre
a reificação da consciência individual. Para um leitor de
Habermas, existe uma considerável desconfiança relacionada
aos “limites dessa teoria”, haja vista a formação das identidades
dos sujeitos coautores na participação de uma comunidade de
comunicação. A formação das identidades é, pois, um processo
de interação, e não uma escolha individual.
Nessa linha, a desconfiança em relação a todos os autores
que dão prioridade ao individualismo como tal. Nessa linha,
um dos autores ingleses emblemáticos é Hume. Considerando
a teoria do agir comunicativo, pode-se afirmar que, em
Hume, o sujeito é caracterizado desde uma razão centrada
exclusivamente em si mesmo. Esse seria, pois, o postulado
básico da crítica aos pressupostos do filósofo inglês.
A “razão centrada no sujeito” aufere, nas palavras de
Habermas, uma sobrecarga excessiva ao sujeito individualizado
– ou seja, o individualismo possessivo – e, em decorrência,
mantém o sujeito metafisicamente isolado do seu contexto
intersubjetivo. É evidente que Habermas não está se referindo
a Hume. A inferência é nossa, presumindo a possibilidade de
128 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 128 06/11/2016 13:25:03
uma interpretação da filosofia em torno às três etapas do
seu desenrolar: a era do ser, a era da consciência e a era da
linguagem. Essa é a proposta deste texto.
No desenho apresentado por Habermas – entre as três
diferentes eras da filosofia –, Hume permanece na era da
consciência. Na verdade, os substratos da consciência acabam
esgotando-se e, então, acabam dissolvendo-se na “transição
para o paradigma da compreensão” (HABERMAS, 1990, p. 277).
A exaustão dos arquétipos da filosofia da consciência decorre,
principalmente, da pressuposição “sentimental de solidão
metafísica” e da discrepância ligadas a
oscilações febris entre as maneiras de ver
transcendentais e as empíricas, entre a auto-
reflexão radical e um incompreensível que
não pode ser recuperado reflexivelmente,
entre a produtividade de um gênero que
se gera a si próprio e um original anterior a
todo a produção (HABERMAS, 1990, p. 277).
Essas considerações podem auxiliar no balizamento
do lugar que Hume ocuparia no pensamento de Habermas.
Em primeiro lugar, o ato ou o efeito das “oscilações febris”
denota a forma de compreender o transcendentalismo como
uma idealização carregada de paixões. Em outras palavras,
trata-se de algo que ofusca a razão comunicativa. Em
segundo, esse turvamento decorre da autorreflexão individual
próprio do solipsismo, também nomeado de individualismo
metodológico ou, ainda – na esteira de Macpherson (1979) –, de
“individualismo possessivo”. Em terceiro lugar, a citação acima
reforça esse individualismo na medida em que a origem e a
supervisão dos fundamentos está no próprio indivíduo. Dessa
forma, as formulações e as postulações relacionadas a qualquer
argumento seguem as “ilusões isoladas”, de forma a impedir a
transparência da “totalidade de uma vida ou de um modo de
vida coletivo” (HABERMAS, 1990, p. 280).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 129
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 129 06/11/2016 13:25:03
Mais uma vez, é preciso frisar que tais considerações
de Habermas não têm Hume como foco. Em outras palavras,
trata-se de situar Hume no contexto da filosofia da consciência.
Suas considerações apontam a saída da filosofia do sujeito,
enfrentando dois tipos de racionalidade: a comunicativa e a
razão centrada no sujeito. Para Habermas, de Platão a Popper,
há uma espécie de logocentrismo unilateral; no caso de Hume,
a convergência volta-se aos sentimentos. Tal concepção impede
a compreensão da globalidade do mundo da vida (HABERMAS,
1990, p. 291).
Na linha de Habermas, a filosofia da consciência apresenta
outro aspecto preocupante. Trata-se da exclusiva compreensão
de saber como “saber de algo no mundo objetivo” (HABERMAS,
1990, p. 291). Em outras palavras, a racionalidade monológica
“encontra seus critérios em padrões de verdade e fatos que
regulam as relações do sujeito que conhecesse e age com o mundo
dos objetos possíveis ou dos estados de coisas” (HABERMAS, 1990,
p. 291). Deste modo, a concepção de bem e do justo encontram
respaldo quando houver uma correlação entre o idealizado pela
consciência do indivíduo e a sua demonstração empírica, ou
seja, a evidência dos fatos comprovados cientificamente. E esse
é um dos aspectos fundamentais da meritocracia, pois cada um
deve fazer por merecer o que possui e tem como próprio.
Para Hume (1984), há uma vantagem das ciências
matemáticas sobre as morais. Em outras palavras, “a exatidão
é sempre proveitosa à beleza e o raciocínio justo ao sentimento
delicado. [...] O caminho mais suave e pacífico da vida humana
segue pelas avenidas da ciência e da instrução” (HUME, 1984, p.
135). No caso, Hume está procurando justificar a considerável
vantagem da “filosofia exata” em detrimento ao obcurantismo
da “filosofia profunda e abstrata”, uma “fonte inevitável de
incerteza e erro” (HUME, 1984, p. 135).
130 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 130 06/11/2016 13:25:03
Em decorrência, o substrato do conhecimento evoca
a causalidade e a substância dos fatos, a ponto de rejeitar a
teoria das ideias gerais. De acordo com Hume, a ideia geral
(ou universal) deveria representar todos os indivíduos de
determinado tipo. Se, por um lado, haveria uma aproximação
entre os pressupostos de Hume e Habermas – no que tange à
desconfiança e à recusa da metafísica – o abismo entre eles
se evidencia quando se trata da subjetividade da mente (em
Hume) e a intersubjetividade relacional (em Habermas).
Para Hume, a conexão “que sentimos na mente, essa
transição costumeira da imaginação passando de um objeto
para o seu acompanhante usual, é o sentimento ou a impressão
que nos leva a formar a ideia de poder ou conexão necessária.
Nada mais há que descobrir aí” (Hume, 1984, p. 163). As provas
da existência de um objeto particular estão na sua conexão
com outro é a evidência suficiente que a mente deve ter e,
portanto, prova da compreensão de cada fenômeno em si.
Nesse caso, a prova é da experiência cujo processo faz com que
a mente consiga identificar a passagem do pensamento de um
objeto para outro (HUME, 1984, p. 164).
Evidentemente, há, no acima exposto, um debate mais
sistemático. Não é intenção defender ou acusar Hume. Apenas
deseja-se mostrar qual interpretação seria possível caso as três
eras (da filosofia), supostas por Habermas, sejam plausíveis. O
abandono dos pressupostos da filosofia da consciência reclama,
pois, a revisão do papel das ciências empírico-formais e da
própria razão centrada exclusivamente no sujeito. Em outras
palavras, “o princípio da subjetividade e a estrutura da
autoconsciência” (HABERMAS, 1990, p. 30) não são suficientes
para a filosofia prática. Na verdade, poder-se-ia afirmar que
os pressupostos da filosofia da consciência se associam a uma
concepção tecnocrática – impessoal e meritocrática, portanto
–, “segundo a qual o processo de modernização é orientado por
Filosofia, Cidadania e Emancipação 131
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 131 06/11/2016 13:25:03
imperativos de ordem objetiva, sobre os quais não é possível
exercer qualquer espécie de controle” (HABERMAS, 1990, p.
78).
Ao constatar essa estrutura funcional do pensamento
moderno, cuja base está na contraposição entre a subjetividade
monológica e o procedimento comunicativo, pode-se entender,
então, a distância – ou o completo abandono – de Habermas
em relação a Hume. No entanto, a tentativa de aproximação
significa o reconhecimento dos dois enquanto pensadores de
épocas distintas. Habermas insiste no diagnóstico de nosso
tempo e Hume retrata um contexto inglês do século XVIII.
O problema da autorregulação: o empoderamento do
individualismo
Como foi salientado, Hume se insere em um contexto
moderno. Entre outros aspectos, os acontecimentos ligados à
religião e seus desdobramentos na sociedade inglesa são de
per si significativos, pois podem contribuir para entender não
apenas a religião em si, mas também suas consequências. Por
exemplo, a queima dos hereges (aqueles que não acreditam na
doutrina católica) fez com que a religião passasse a receber,
principalmente na Inglaterra, um tratamento diferenciado.
Não se trata apenas da antipatia em relação aos católicos. O
impulso religioso substancial da Reforma Protestante deixou
patente que as famílias que continuassem no credo católico
seriam cosideradas adoradoras da “velha religião”. Na
prática, a convenção designava a continuidade da orientação
religiosa, mas em condições de máximo sigilo. Além de proibir
a construção de igrejas, os cristãos eram impedidos de celebrar
sua fé em lugares públicos e, nessa situação, desautorizados
a exercer atividades sociais. A transgressão era castigada com
penalidades, cujas sansões eram severas ao extremo.
Com o tempo, essa orientação possibilitou novas
132 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 132 06/11/2016 13:25:03
compreensões do papel da religião a ponto de o culto e a adoração
referirem-se a questões ligadas à consciência individual de
cada sujeito ou dos simpatizantes de cada credo ou orientação
religiosa. Esse é um fator importante para entender, ainda hoje
em dia, a disposição em considerar a fé como um ato voluntário
de caráter particular. Em outras palavras, a religião e todas as
matérias concernentes à fé devem reservar-se ao âmbito da
consciência particular.
O tema apresenta, sem dúvida, desdobramentos dos mais
variados. Mas há, de certa forma, um elemento importante: o
dilema entre a consciência individual e as objetivações práticas.
Em outras palavras, da perspectiva habermasiana, a releitura de
Hume o situaria no horizonte da filosofia da consciência e, por
isso, seus pressupostos não compactuam com as exigências de
uma interação mediada linguisticamente. Assim, a comunidade
de comunicação e a validade dos proferimentos se ressentem
de um reconhecimento geral. Neste sentido, não só a religião,
mas também o âmbito moral passaria a ser um tema de índole
subjetiva. Com isso, entende-se também as raríssimas menções
de Habermas a Hume.
Essa perspectiva resulta ser deveras controversa não
apenas para o âmbito moral, mas também para a política e
para a convivência social. No fundo, o modelo liberal defende
a autorregulação, uma espécie de força natural que ordena
as transações entre os indivíduos e, por isso, o parâmetro na
orientação do agir obedece a conjuminância dos interesses
particulares. No espaço familiar, os atores são identificáveis.
Todavia, em um horizonte mais amplo, os atores não podem
calcular os limites de seu agir. Por isso, os sujeitos experimentam
a sensação de estarem livres de qualquer imposição, isto é, uma
independência de qualquer constrangimento físico ou moral. Tal
estado de disponibilidade dos sentimentos revela uma atitude
de confiança no próprio indivíduo. A capacidade individual de
Filosofia, Cidadania e Emancipação 133
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 133 06/11/2016 13:25:03
autodeterminação é um desígnio “natural”, por assim dizer,
capaz de compatibilizar autonomia e livre-arbítrio.
Esse seria o sentimento ou a percepção do individualismo
monológico. Em outras palavras, a autonomia representa uma
forma audaciosa de agir, um empoderamento individualizado
que transforma o indivíduo em empreendedor. Na verdade, as
decisões têm em vista a execução de planos privados. Assim
como a religião, as metas obedecem convicções privadas. Esse
condicionamento natural afasta-o dos compromissos recíprocos
com os demais, de modo que o agir se transforma em atividade
voltada à satisfação de suas necessidades materiais. A relação
com os demais é, assim, pautada pela impessoalidade, ou
seja, um tratamento essencialmente impessoal. Nesse caso, a
distribuição dos bens não ocorre devido ao senso de justiça,
mas motivados por uma espécie de “providência” encarregada
de mover e ordenar os “esforços dispersos dos indivíduos na
busca de seus próprios benefícios e com sua própria – particular
– intenção” (CONILL, 2004, p. 102).
No fundo, a solução das disparidades de interesses viria
dessa liberdade natural, como “se” a espontaneidade refletisse
apenas uma intenção da vontade irrefletida. Essa inclinação
aparece também em Adam Smith. O modelo smithiano
caracteriza-se pelo modo de entender o indivíduo enquanto
alguém que não presume de objetivos comuns. Nesse sentido,
consolida os alicerces do individualismo metodológico, tal
como foi delineado por Macpherson, centrando-se muito mais
no alvitre individual de cada sujeito que na responsabilidade
moral do agir.
Essa perspectiva está delineada por Macpherson, cuja
“posição niveladora” garante a todos os indivíduos enquanto
possuidores de sua própria liberdade, uma exigência
para, através disso, aceitar a sociedade de mercado, mais
134 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 134 06/11/2016 13:25:03
precisamente, de rentistas (PIKETTY, 2014). Para Macpherson,
existe uma reiteração de que “o ser só é humano enquanto
único proprietário dele próprio. Só enquanto é livre de tudo,
menos das relações de mercado, é preciso se converter todos os
valores morais em valores de mercado” (MACPHERSON 1979, p.
278). Em sua análise, Macpherson menciona Hobbes, Harrington,
Hume e Bentham, autores que consolidaram as suposições de
que o indivíduo “é humano” apenas enquanto “proprietário de
sua própria pessoa”, aspecto que, no fundo, fortalece “relações
de mercado”, e nada mais (MACPHERSON, 1979, p. 283).
Em razão disso, a propositura de uma legislação para regular
a conduta se ressente, ainda hoje em dia, de duas percepções:
por um lado, um ceticismo radical e, por outro, de uma urgência
sem precedentes. Para os céticos, a sociedade está submetida
a uma série de tiranias, dominadas por oligopólios privados e
mega corporações (midiáticas, sindicatos, organizações da
sociedade civil etc.) às vezes mais poderosas que os Estados
nacionais, com o qual não há possibilidade nenhuma para
uma aposta democrática. Os que insistem em uma regulação
evidenciam um conjunto de “ideias reguladoras”, as quais
servem para orientar a ação dos sujeitos e, ao mesmo tempo,
definem critérios para validar as diferentes práticas de gestão,
as profissionais e, inclusive, as de controle regulamentário.
Esses aspectos levam a sublinhar a segunda perspectiva, ou
seja, insistir em um marco normativo capaz de indicar critérios
de ação e com idoneidade para valorizar as distintas práticas.
Na verdade, o dilema ou o déficit relaciona-se à questão: “o
que significa responder por...?” O individualismo possessivo (ou
metodológico), tão bem descrito por Macpherson, alimenta
uma perspectiva aterradora em relação à democracia e à
racionalidade pública. Os liberais mais persuadidos enxergam
na intersubjetividade comunicativa e no compromisso público
um fantasma, ou seja, algo que pode ser aterrador para suas
Filosofia, Cidadania e Emancipação 135
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 135 06/11/2016 13:25:03
pretensões particulares e, por isso, a democracia, participação
política, opinião pública e, inclusive, os movimentos sociais
se transformam em temas incômodos. Nesse sentido, alguns
setores, como é o caso dos mass media, disseminam uma
espécie de fobia ao cotidiano e ao popular. Não poucas vezes,
os próprios meios de comunicação se transformam em veículos
dessa espécie de satanização das manifestações de minorias ou,
inclusive, de lutas reivindicatórias de entidades, associações ou
grupos que aspiram por justiça social.
Para ele, embora seja difícil, talvez impossível admitir, é
necessário, todavia, propor um remédio adequado a ilimitada
liberdade de expressão (HUME, 2004, p. 105). No caso, a
aspiração de liberdade se reflete na manifestação individual
a respeito de qualquer assunto ou tema. Nesse sentido, sua
preocupação a respeito da liberdade de expressão é uma
inquietude que não trata exatamente de impor limites,
mas de estabelecer regras orientadoras não apenas para as
manifestações particulares e quaisquer governos democráticos,
mas também para os mercados. Sem regras mínimas, existe
somente desconfiança entre todos, um dos prolemas elementares
para qualquer sociedade. A falta de regras e princípios indica
que as bases das relações intersubjetivas permanecem nutridas
por um individualismo radical, ou seja, por um egoísmo sem
dialogicidade. Daí, então, a mão invisível, encarregada de
garantir o “bem geral”.
Os sentimentos morais e a falsa mão invisível
A literatura sobre a influência de Hume em Adam Smith
(1723-1790) é extensa. De certa forma, há uma aproximação
especial em relação às questões dos sentimentos morais. As
paixões ou os desejos são, para Hume, “as fontes diretas e
imediatas das ações” (CORTINA; MARTÍNEZ, 2005, p. 67). Eles
regem a vontade. Sua proposta trata de refutar o pensamento
136 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 136 06/11/2016 13:25:03
racionalista, tanto por ser demasiado idealista como pela sua
incapacidade em reconhecer a influência das paixões humanas.
Para Hume, o âmbito moral é questão de sentimentos subjetivos
de aprazimento ou desagrado e somente indivíduo pode saber o
que ele sente diante de fatos objetivos.
Apesar de tudo, não poucas vezes, os estudos sobre Smith
não refletem as duas dimensões de sua proposta. O “outro
Adam Smith” não é uma anedota (CONILL, 2004, p. 94). Na
maioria das vezes, a riqueza das nações parece ter prevalência,
enquanto a teoria dos sentimentos morais é relegada a um
segundo plano. Apesar das controvérsias entre as duas posições,
para Smith, economia e ética não podem andar dissociadas,
pois o sujeito moral possui também uma dimensão social. Em
outras palavras, “o indivíduo vive dentro de uma comunidade
humana, organizada política e economicamente, na qual
acredita descobrir um determinado ordenamento que parece
funcionar conforme princípios naturais” (CONILL, 2004, p. 95).
Por isso, o sujeito moral e social e o sujeito econômico
representam as duas faces da mesma moeda. Smith modifica a
percepção grega da economia, que identificava a “casa” como
o espaço das transações econômicas, para dar lugar ao mercado
e à empresa (fábrica), voltados para “a produção mediante a
divisão do trabalho, a distribuição, a troca de bens e o consumo
(CONILL, 2004, p. 95). Na verdade, o filósofo e economista
escocês se insere no contexto moderno, cuja abrangência
das relações políticas e econômicas apresentam um horizonte
mais abrangente. O novo cenário indica que o lugar habitual
das inter-relações deixou de ser a “morada” restritamente
familiar para alcançar esferas muito mais amplas, modificando
a percepção grega da oiko-nomia, isto é, uma tarefa restrita à
administração do lar.
Nessa orientação, Adam Smith oferece uma percepção
Filosofia, Cidadania e Emancipação 137
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 137 06/11/2016 13:25:04
política da economia. Não se trata, portanto, de uma mão
invisível. Seu ponto de partida é o indivíduo, isto é, um sujeito
que se move em um contexto social, cujos vínculos obedecem
à normatividade da liberdade natural. Para ele, o princípio que
motiva a interação advém da propensão a trocas e permutas. A
primazia dos bens acentua a impessoalidade nas relações com
os demais. Por isso, as percepções morais estão relacionadas a
maior ou menor capacidade de cada sujeito em sentir simpatia
com os hábitos dos outros. O vínculo mútuo entre os indivíduos
consiste na preocupação de como é possível uma sociedade de
sujeitos livres.
Ao tratar de separar utilidade e simpatia, Smith salienta
os aspectos motivacionais da atividade econômica, ligados,
todavia, a uma “sociedade comercial”. Nesse sentido, a
estrutura psíquica dos sentimentos e afetos necessita de uma
comunicação entre indivíduos e, além disso, de “mecanismos
de coordenação das relações que surgem da tendência ao
intercâmbio, que é o mercado”. Por isso, o interesse individual
necessita de mediações comunicacionais e “instâncias de
controle (como a justiça) que esse interesse individual necessita
na ordem social” (CONILL, 2004, p. 98).
Para Smith, as transações econômicas ocorrem da mesma
forma como “aconteciam nos céus”. Sob a proteção divina,
tudo ocorria em conformidade às “leis fixas que nenhum homem
inventou nem pode mudar” (ALVES, 1983, p. 175). Nesse sentido,
as atividades humanas, especialmente no campo da economia,
obedecem à orientação da mão invisível – “encarregada de
fazer com que tudo concorra para o bem geral” – e, por isso,
ninguém pode faltar ao cumprimento de seus ditames.
Como é possível perceber, a proposta de Smith sustenta
uma idealização que delimita a imanência dos fatos a um
determinismo transcendentalmente peculiar. A orientação do
138 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 138 06/11/2016 13:25:04
agir obedece a leis idênticas àquelas que harmonizam os céus.
Elas determinam as relações humanas a ponto de impor um
modo de pensar, de valorar e de conformar qualquer transação
econômica. Nesse sentido, as decisões dependeriam muito mais
dessa força invisível da motivação particular de cada sujeito,
e não propriamente da responsabilidade e do compromisso
mútuos.
Ao defender que as ações morais estão relacionadas
aos sentimentos, Smith deixa claro que há um elemento
fundamental para a vida humana: o aspecto interior do sujeito.
Essa proposta valora a faculdade sentimental, salientando o
aspecto invisível das ações humanas, pois os sentimentos se
relacionam às experiências afetivas de prazer e desprazer, de
simpatia e antipatia, de alegria ou sofrimento, etc. Esse aspecto
invisível se defronta com elementos objetivos da conduta
moral. Em outras palavras, o agir moral deve desvencilhar-se
das ingerências externas. O mérito e o demérito da conduta
humana se submetem a uma disposição interior, pois a mão
invisível se encarregaria de garantir para que tudo conflua para
o bem geral. No entanto, essa motivação interna responde a
um interesse nas relações de troca, ou seja, na reciprocidade
de considerações e serviços entre indivíduos análogos e afins.
Do contrário, cada indivíduo deveria prover sua absoluta
independência dos demais e a respeito de todas as coisas
necessárias e convenientes para seu próprio sustento.
A grande suspeita está em reduzir a fundamentação dos
juízos dos sentimentos, da conduta e, inclusive, do senso de
dever à invisibilidade, como se tudo obedecesse a essa mão
invisível. Essa invisibilidade se depara com a argumentação atual
das éticas da responsabilidade, que insistem nas consequências
das decisões e na imputabilidade das ações. Embora o risco de
os efeitos das ações serem opostos às intenções – consequências
não intencionadas –, “cabe esperar que cada parte cumpra sua
Filosofia, Cidadania e Emancipação 139
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 139 06/11/2016 13:25:04
função nas relações de troca” (CONILL, 2004, p. 100). Essa
exigência permite que o resultado dos mecanismos de troca
seja avaliado e, em vistas dessa confiança recíproca, as relações
entre as partes não cessem, isto é, prossigam futuramente.
Considerações finais
A interpretação de Hume pode ser exagerada. Mas há, sem
dúvida, motivos para a desconfiança. Os sintomas concernentes
às “convicções morais privadas” (HABERMAS, 2000, p. 385)
fazem parte de um contexto e, por isso, seus pressupostos
não se aproximam à filosofia da linguagem. No âmbito do agir
comunicativo, é necessário “uma fundamentação substancial que
escape da concepção da filosofia da consciência” (HABERMAS,
1997, p. 184). Ou seja, a preocupação consiste em consolidar
as bases de uma “sociedade e a racionalidade comunicativa”
(HABERMAS, 2000, p. 185). Nessa perspectiva, as estruturas
da cultura burguesa da França e da Inglaterra dos séculos
XVIII e XIX perderam seu lugar proeminente. Assim, o tipo de
liberalismo pressuposto por Hume e, inclusive, por Smith, não
encontra mais plausibilidade, pois carece sobremaneira de um
componente linguístico-comunicativo.
Em segundo lugar, a teoria do agir comunicativo é, sem
dúvidas, um referencial capaz de enfrentar o individualismo
atual. A defesa do indivíduo pode ocorrem frente à necessidade
de participação dos sujeitos enquanto coautores. A coautoria
significa o papel de todos os sujeitos, cujo tratamento
pronominal realça a interação entre todos. Essa ideia se
contrapõe a qualquer tipo de individualismo. Com isso, não há
impessoalidade ou meritocracia, pois a utilização dos pronomes
pessoais requer a equidade entre as três pessoas (singular ou
plural). Não há, portanto, um pronome pessoal na voz passiva,
neutro e/ou, por vezes, antissocial.
Ao mesmo tempo, a defesa do indivíduo encontra um
140 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 140 06/11/2016 13:25:04
substrato forte na perspectiva de um sujeito descentralizado.
Na verdade, isso significa uma revisão do antropocentrismo, a
ponto de transformar o humanismo – na melhor das hipóteses
– em um antropocentrismo mitigado. Embora as características
da filosofia ainda sejam antropocentristas, o ideal de uma
sociedade justa supõe uma intersubjetividade também com os
não humanos e a natureza, aspecto que conduz a reconhecer
esses sujeitos também como coautores da convivência em um
oikos-cosmos-logos.
Referências
ALVES, R. Filosofia da ciência. Introdução ao jogo e suas regras.
4 ed., São Paulo: Brasiliense, 1983.
CONILL, J. Horizontes de economía ética. Madrid: Tecnos,
2004.
CORTINA, A. e MARTÍNEZ, E. Ética. São Paulo: Loyola, 2005.
HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1990.
HABERMAS, J. Ensayos políticos. 3 ed., Barcelona: Península,
1997.
HABERMAS, J. Perfiles filosófico-políticos. Madrid: Taurus,
2000.
HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano. In:
Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 1131-
2002.
MACPHERSON, C. B. A teoria política do individualismo
possessivo. De Hobbes a Locke. São Paulo: Paz e Terra, 1979.
MINOGUE, K. R. Liberalismo. In: OUTHWAITE, W.; BOTTOMORE,
Filosofia, Cidadania e Emancipação 141
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 141 06/11/2016 13:25:04
T. Dicionário do Pensamento Social do Século XX. Rio de Janeiro:
Zahar, 1996, p.420-424.
PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Rio de Janeiro:
Intrínseca, 2014.
REACH, Angus Bethune. Manchester and the textile districts in
1849. Manchester: Helmshore Local History Society, 1972.
TAMBARA, E. Liberalismo. In: PIZZI, J.; KAMMER, M. (Org.).
Ética, economia e liberalismo. Pelotas: EDUCAT, 1998, p. 11-
22.
142 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 142 06/11/2016 13:25:04
Novos desafios no trato dos direitos
humanos: As tensões entre mera
formalidade e demandas por sua efetividade
(Uma análise ético-filosófica sob viés crítico-realista)
Lorena Freitas
Introdução
O objeto deste artigo é o exame da crise e dos limites
heurísticos da matriz liberal-individualista a qual, no que
concerne aos direitos humanos, tenta circunscrever sua
exegese a um caráter de mera promessa formal, confundindo
(deliberadamente ou não) o aspecto (necessário, porém não
suficiente) de sua garantia instrumental com as demandas
sociais por sua concretização.
Tal objeto será efetivado através do exame de um
problema secular em nosso país, qual seja a questão do acesso
à terra, isto é, da (não) implementação de uma reivindicação
histórica de nossa sociedade, a reforma agrária, a qual, por
mera via da aplicação da Constituição vigente, no que concerne
à função social da propriedade, andaria bastante naquilo que
envolve a sua expressão real na vida social.
Por isso, e para abordar o esgotamento teórico e prático
da mencionada matriz paradigmática liberal-individualista, é
que se faz uso dessa questão premente na realidade brasileira
- mais especificamente, nordestina a qual ganha a forma
do problema a ser enfrentado. Isto significa que se trata de
responder a seguinte questão: quais as causas pelas quais
o secular problema agrário resta como questão pendente de
solução em nossos tribunais, em termos de concretização
Filosofia, Cidadania e Emancipação 143
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 143 06/11/2016 13:25:04
jurídica?
A hipótese que norteia a pesquisa é a de que, embora a
questão agrária, por sua complexidade, demande esforço de
outras esferas estatais, cabe ao judiciário concretizá-la e à
doutrina, cuja função é inafastável para o direito, esclarecê-
la.
Mais especificamente: a filosofia (e a teoria do direito), em
suas vertentes centrais, tratam a função social da propriedade
como uma proposição genérica / abstrata, de caráter meramente
programático e, no geral, limitam-se a uma aplicação privatista
da Constituição, situação que pode ser pesquisada sob o viés
realista da racionalização legal da vontade e dos interesses que
estão no cerne de qualquer decisão.
Para testar tal hipótese, foram usados os recursos de um
aparato bibliográfico e decisional concernentes à organização
de uma pesquisa que tem produzido investigações - esse artigo
é uma delas - desde 2012 e que conformam observatório sobre
a função social da propriedade da terra.
Isso tem resultado em estudos que examinam e fornecem
argumentos no campo da teoria e da práxis sobre a concretização
da função social da propriedade enquanto direito fundamental
e suas repercussões positivas do ponto de vista social.
Isto porque o desvendar da temática proposta ancorado
num olhar descritivo, isto é, materialista / realista (sem, nem
por isso ou apesar disso, deixar de ser filosófico), notadamente
em questão tão premente quanto o conflito por terra, consegue
dar conta, com mais amplitude e profundidade, da compreensão
das matrizes sociais e jurídicas do conflito.
Tal olhar repercute na medida em que se opõe àquelas
perspectivas cujo foco é inteiramente voltado a apontar como a
legislação deveria ser ao invés de examiná-la como efetivamente
144 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 144 06/11/2016 13:25:04
é e compreendê-la em suas condicionantes sociais, sem que
isso signifique abrir mão da potencialidade crítica que tem o
desvelar do direito como ele objetivamente se apresenta ao
aplicador.
Por isso mesmo é que a hipótese de pesquisa será levada
adiante tendo em consideração um aspecto bastante peculiar,
pois, na medida em que consiste num estudo das práticas sociais,
visa desenvolver uma reflexão crítica acerca de um momento
específico, ou seja, a aplicação do direito e suas implicações
éticas.
Por isso, e para efeitos de delimitação do objeto, o conflito
por terra rural será sempre caracterizado por aquela situação
em que uma das partes recorre à tutela estatal, o que, em
um dado momento, requer decisão judicial e na qual a disputa
envolve, alternada ou cumulativamente, ações de resistência à
desocupação, enfrentamento pela posse, uso e propriedade de
terras.
No que concerne ao marco teórico, a abordagem será
pautada na convergência de matrizes filosóficas no campo da
ética prática que entendem o direito de propriedade enquanto
feixe de obrigações do titular perante a comunidade e cujo
marco se reflete numa atitude descritiva preocupada em
examinar, sob uma ótica realista e enquanto um dado de fato da
razão prática: juízes e tribunais são quem concretizam normas,
o que nada tem a ver com uma atitude apologética de um
decisionismo no qual a vontade é entendida de forma isolada e
colocada, em caso de conflito, acima do teor normativo.
Por critério metodológico dividiu-se o presente artigo em
três partes:
Na primeira, cuida-se de estudar como se expressa o
conflito entre direito de propriedade, sua função social e os
Filosofia, Cidadania e Emancipação 145
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 145 06/11/2016 13:25:04
motivos pelos quais ela leva a uma visão algo deslocada do que
efetivamente acontece nos “caldeirões dos tribunais”1.
Na segunda parte, serão examinadas as bases teóricas
pelas quais se trata o direito pelo foco descritivo e, com isso
se pretende contribuir filosoficamente com essa atividade,
esclarecendo-a e fornecendo-lhes argumentos que melhor a
qualifiquem. Aqui, o realismo será tomado apenas enquanto
uma resposta dentre outras, só que mais adequada e com
potencial heurístico mais ampliado para apontar caminhos e
compreender a forma jurídica.
Na terceira parte - em nosso ver, a principal - serão
examinados os padrões de argumentação e justificação, isto
é, um exame dos fatos sociais e como eles se expressam quer
numa realidade empírica, o Estado da Paraíba, sem relevar
de discutir o uso de topos e figuras retóricas para obtenção
de adesão dos destinatários, pois embora curial a existência
de um aparato estatal que vise garantir o cumprimento das
normas, quanto mais elas forem fundadas no consentimento e
menos na coerção, tanto melhor, na medida em que ganham em
legitimação (FEITOSA, 2012, p. 385-388).
Com isso, o objetivo geral do artigo constitui-se em fazer
uma análise em relação aos conflitos de terra, com o fim de
qualificar a atividade de decisão em questões dessa natureza -
da maior relevância social, dado o impacto social do conflito e
enquanto campo eminentemente teórico, cuja finalidade deve
ser esclarecer a práxis dos que decidem.
Direito de propriedade x função social – enquadrando
teoricamente o conflito
Nessa primeira parte se procura observar a repercussão
que a visão liberal – apologética – do direito de propriedade
1 A expressão “caldron of the courts” é de CARDOZO (2005, p. 6).
146 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 146 06/11/2016 13:25:04
teve e tem na interpretação privatística do mesmo, herdeira
que é de um modelo do século XVIII-XIX, a ideia da propriedade
como direito erga omnes, influência essa que marca, desde a
formação inicial, o operador de direito. Esse trato do direito,
que de certa forma perdura até hoje, é permeado por ilusões
de referência e por um discurso aparentemente neutro que
não leva em conta a ideologia contida na forma jurídica e que,
por isso mesmo, subestima o direito enquanto lugar de poder,
dominação e justificação.
Aparentemente de forma contraditória, tal perspectiva
liberal está mais focada em uma atitude prescritiva perante
o direito empiricamente verificável do que em entender como
ele efetivamente funciona, notadamente em seus padrões de
argumentação, justificação e tomada de decisões, desnudando
o fato que entre o compromisso da razão com a vontade, no
direito concreto, a segunda predomina.2
Como isso se reflete ao exame dos conflitos sobre direito
de propriedade privada de extensas porções de terra, como
ocorre no Brasil, que segue no que concerne a sua questão
agrária vitimada por um atraso secular, iniciando-se de logo
pelo status teórico do problema.
A questão da propriedade foi bem estabelecida - e segue
guardando atualidade – por um jusfilosófo que não pode ser
tido na conta de um “maximalista” – trata-se de Duguit. Ele,
ao criticar a concepção absoluta do direito de propriedade
privada, aponta algumas de suas consequências danosas, pois
diz que a propriedade não é direito subjetivo do proprietário:
é função social do possuidor de riquezas (DUGUIT, 2006, P. 147-
159, 173).
2 Sobre as concepções que discutem o direito como atividade da razão ou de
atos de vontade (que, quase sempre, são manejos retóricos da racionalidade
e de uma suposta “vontade geral”), ver: (KAHN, 2001, pp. 9 e 15; ELY, 2010,
p. 44ss).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 147
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 147 06/11/2016 13:25:04
Ora, tais conflitos não são problemas pontuais e têm
raízes longínquas, desde a primeira lei de terra promulgada no
país, a Lei 601/1850, que consagra em legislação específica, pela
primeira vez, a propriedade privada de terras, regulamentando
e consolidando o modelo de grande propriedade rural.
Os resultados contemporâneos dessa herança jurídica,
cultural e política são evidentes no país, no Nordeste e,
em especial, na Paraíba: a questão social - via de regra - é
tratada enquanto “caso de polícia” com o fim de proteger uma
infinitésima parte do corpo social, notadamente se se leva em
conta que, já no final da década passada, em nível nacional,
propriedades rurais com mil ou mais hectares de dimensão
representavam apenas 1,4% do total de propriedades. No
entanto, esses donos de grandes propriedades detinham 49,4%
das áreas rurais do país, ou seja, quase metade das terras nas
mãos de pouco mais de 1% de proprietários (CARDIM, 2013).
E essa problemática evidenciou-se claramente a partir da
Constituição de 1988, na medida em que esta buscou equilibrar,
em âmbito normativo, a tensão entre direito de propriedade
privada da terra, momento estático, quando ela é regulada em
lei em termos de pertença ao seu titular, ou seja, como um
poder subjetivo (questão, como se verá adiante, tratada em:
GRAU, 2001:248) com as exigências de sua função social, seu
momento dinâmico, isto é, de uso, na qual que é regulada em
razão do fim social a que se destina, ou seja, enquanto função
(GRAU, 2001, p.249; GRAU, 2000, p.197).
Com isso restaria compatibilizada a objeção de Duguit
entre o que o mesmo tachava de “noção realista de função
social” em dicotomia com uma possível “noção metafísica de
direito subjetivo” (DUGUIT, 2006, p.17-38, 167-198).
Essa questão é examinada, sob uma abordagem
brasileira, dentre outros, em Jorge Couto (1998, p.192-193,
148 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 148 06/11/2016 13:25:04
219-226, 262-267, 284-285, 299-305), ao analisar o que chama
de “a construção do Brasil” e também por Darcy Ribeiro
(1995, p.149-153, 228-240, 241-244, 447-455), quando analisa
a acumulação primitiva cuja base foi o massacre indígena, ao
início da colonização; a opressão aos negros como mão-de-obra
substituta dos índios e, por fim, o uso de imigrantes, os quais
tomaram o lugar dos antigos escravos.
A análise desses dados aponta para o conúbio entre o
latifúndio - caracterizado por Kautsky (1968, p.172-178) pela
centralização de grandes extensões de terra por um restrito
número de proprietários – e as instituições do Estado com o fim
de se manter uma ordem social fundada num suposto “direito
implícito de ter e manter terras improdutivas” (RIBEIRO:
1995:201), evidenciando, ao mesmo tempo, “as dores do parto”
e os “confrontos” para que se realize o que ele chama de “o
destino nacional” (RIBEIRO, 1995:447-455).
Diga-se, de logo, que há outras fontes referenciadas
quando da contextualização desse conflito secular dado que o
problema agrário não é apenas jurídico e sim histórico e social3.
E é em consequência dele que, hoje, o que se tem, e desde
a metade do final do século XIX, no Brasil, é uma agricultura
capitalista num país que não fez, ainda, sua reforma agrária. No
campo brasileiro, até por causa dessa conformação capitalista
da atividade, já não se tem mais, a não ser residualmente, o
pequeno camponês, isto é, aquele “que tem pequeno pedaço
de terra ou a arrenda, não maior o do que o possível de cultivar
3 Ainda no ‘estado de arte’ dessa pesquisa é obrigatório serem
mencionados: Caio Prado Jr (especialmente “A formação do Brasil
contemporâneo”, 2011), Nelson Werneck Sodré (“A Formação
histórica do Brasil”, 1968), Alberto Passos Guimarães (“Quatro séculos
de latifúndio”, 1989), Moisés Vinhas (“Problemas agrário-camponeses
do Brasil”, 1968) e Jacob Gorender (“O escravismo colonial”, 1976),
para citar alguns dos principais.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 149
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 149 06/11/2016 13:25:04
com sua família e o estritamente necessário para seu sustento”
(ENGELS, 1997, p.137).
Dessa não distribuição de terra, resultou um inchaço
das cidades, com a formação de enorme exército industrial de
reserva e mão-de-obra barata e uma política pública a ser feita,
para reverter esse ciclo: garantir terra, crédito e estrutura
aos trabalhadores rurais e camponeses, como modo, através
da aplicação da função social da propriedade, de se criar um
mercado interno dinâmico e não um país de esfomeados que
drena significativa parte de sua produção da agricultura para o
mercado externo (FREITAS, FEITOSA, 2012, p.303-304).
Os antecedentes (massacre dos indígenas, regime de
escravismo) e as consequências sociais dessa legislação,
notadamente no trato da questão da terra com a violência típica
dos landlords foram evidenciados pela literatura específica: no
início do século, através de Euclides da Cunha (1982, p.161-
181); depois por Alberto Passos Guimarães (1968, p.21-40)
e, mais recentemente, Darcy Ribeiro (1995, p.151, 201, 229,
242).
Assim, o marco teórico resulta da opção em valorar a
ideia de propriedade enquanto função ao invés daquela de
direito subjetivo de propriedade, a qual descomprometeria o
titular em relação à coletividade, ou seja, ainda que tenha “o
poder de empregar a riqueza que possui na satisfação de suas
necessidades individuais”, os demais atos, se não visarem à
utilidade coletiva da propriedade imóvel “serão contrários ao
direito de propriedade e poderão dar lugar a uma sanção ou a
uma reparação” (DUGUIT, 2006, p.186).
Direito e Ética entre descrição versus prescrição e olhar
interno versus perspectivas externas
Pelas razões que se procura examinar nesta secção as
150 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 150 06/11/2016 13:25:04
teorias descritivas do/sobre o direito que conseguem dar conta
mais adequadamente da compreensão dos modos e métodos
pelos quais as opções valorativas adentram nesse momento
decisório na medida em que não se prendem nas ilusões do
idealismo jurídico acerca de como o “bom” direito deveria
ser, cingindo-se a um recorte operacional cujo foco seria o de
examinar seu objeto como ele efetivamente é, procurando tão
só melhor compreender e qualificar, fornecendo argumentos
e dados, o papel e as funções dos seus diversos operadores,
isso porque combina, acerca do direito, tanto uma perspectiva
interna quanto a externa (aqui não no sentido que Hart
confere a essa distinção em “O conceito de direito”, mas sim
entendendo a perspectiva interna enquanto aquela que opera
no âmbito mesmo da dogmática jurídica, não questionando seus
alicerces e a perspectiva externa enquanto um olhar sociológico
e no qual as características, pressupostos e constrangimentos
dessa mesma atividade dogmática são questionados, situados
historicamente e entendidos enquanto construções culturais
cuja função é tão somente viabilizar o funcionamento social)4.
A aceitação de um olhar ou perspectiva externa confere um
potencial de se perceber o direito como atividade centralmente
determinada por atos de interpretação e aplicação, na qual
a atividade do legislador é um dado de entrada, como outro
qualquer (embora hierarquizados). E tal é assim na medida em
que o que confere sentido ao direito é a sua inserção enquanto
cultura, isto é, como crenças acerca de como ele equilibra razão
(expressada por certa justificação da atividade jurídica como
dotada de per si de racionalidade) e manifestação da vontade
(enquanto expressão geral da soberania popular) (KAHN, 2001,
4 Hart distingue uma perspectiva da outra com base na observação pela
qual se deve diferir o fato de um grupo reconhecer determinadas regras e
praticá-las (perspectiva interna) daquela outra situação (perspectiva externa)
na qual um observador não as compreende, não as pratica e acha-as sem
sentido (HART, 2005, p. 65).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 151
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 151 06/11/2016 13:25:04
pp. 38, 52 e KAHN, 1992, p. 1-8).
Como lembra Hart, acerca da perspectiva interna ao
direito, “uma sociedade com direito abrange os que encaram
as suas regras de um ponto de vista interno, como padrões
aceites de comportamento” (HART, 2005, p.217-218) e não
como predições fidedignas do que as autoridades lhes irão
fazer, se as desobedecerem5. A primeira concepção deriva de
uma perspectiva centrada na lei, a segunda, a da predição,
numa outra perspectiva, focada na decisão.
Assim, o que realmente os juristas fazem – e fizeram sempre
– é, diante dos casos, decidir (se forem aptos a praticarem atos
de vontade / poder) ou propor decisões, como faz o advogado
que, através de interpretação enquanto ato de conhecimento,
sugere aos juízes e tribunais o caminho a tomar, ou ainda, numa
outra hipótese, através de sua atividade teórica, fornecem às
partes e aos que decidem argumentos para aplicarem uma ou
outra regra e decidirem um dado caso de uma ou outra forma.
Por isso que, nesse terreno, deve-se ter o devido
destaque, como dotado de maior instrumental quanto ao manejo
da justificação como correlato da decisão, a combinação do foco
teórico-metodológico proposto pelo realismo com uma análise
marxista, isto é, histórico-dialética do direito enquanto parte
da totalidade social e por ela condicionada, ao fornecer se não
a resposta, mais uma referência para o exame dos problemas
que aqui se constituem em objeto de pesquisa, como a seguir
se passará a examinar.
Por isso, aqui se trata de verificar a aplicabilidade do
princípio da função social da propriedade, quando confrontado
com a regra que protege o seu caráter privado e teoricamente
unitário, ao invés de pluralista, bem como de que formas e
5 “The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more
pretentious, are what I mean by the law” (HOLMES JR, 2009, p. 6).
152 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 152 06/11/2016 13:25:04
com base em que teorias da eticidade esses conflitos são
examinados.
Nesse aspecto, a influência doutrinária no judiciário é
claramente delimitada em torno de uma matriz explicativa
unitária para a questão da propriedade e na qual se reitera a
existência de um disciplinamento comum e de caráter geral da
propriedade, na qual se evidencia, por toda uma corrente, a
influência de PERLINGIERI (1971, p. 59, 138, 150, 153), muito
embora este autor não deixe de falar, em vários trechos de sua
obra acerca do tema que “no âmbito de uma situação concreta,
a noção de função social, desenvolve papel claramente jurídico
e menos político, visto que a atividade proprietária seria
valorada in concreto” (PERLINGIERI, 1971, p. 77).
Ressalve-se que desde o início da reflexão aqui proposta,
sobre o exame descritivo da atividade judicial ao exame do
direito de propriedade 6, percebeu-se sua amplitude e que,
em consequência, ela precisava se tornar mais restrita. Por
isso, dentre a gama de direitos tidos como fundamentais e
que servisse de teste para a hipótese de pesquisa se escolheu
aqueles que confrontassem o direito individual à propriedade,
sua necessária função social e como a ponderação de ambos
é tratada na primeira instância e nos Tribunais Estaduais,
em comparação com seu exame nas instâncias superiores do
judiciário.
Isso porque sendo o direito de propriedade uma
manifestação material da vida social, acaba por se tornar uma
temática crucial para a concepção de sociedade democrática
que se defende e, ao mesmo tempo, fruto de acirrados debates
6 Reflexão esta cujos primórdios já se desenvolveram em livros do Grupo
de Pesquisa do proponente, juntamente com o Grupo de Pesquisa “Realismo
Jurídico e direitos humanos”, coordenado por Lorena Freitas, docente do
quadro permanente do nosso programa de pós-graduação (FEITOSA; FREITAS,
2009 e 2012).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 153
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 153 06/11/2016 13:25:04
no Judiciário. Não é a toa que já se assinalou que a propriedade
pode ser estudada em dois aspectos: o estrutural e o funcional:
A dogmática tradicional [...] preocupa-
se somente com a estrutura do direito
subjetivo, [...] dispõe sobre os poderes
do titular do domínio, fixando o aspecto
interno ou econômico [...] e outro,
externo, o aspecto propriamente jurídico
da estrutura da propriedade. O primeiro
aspecto, interno ou econômico, é composto
pelas faculdades de usar, fruir e dispor. O
segundo, jurídico, traduz-se na faculdade
de exclusão de ingerências alheias. Esses
dois aspectos, o interno e o externo,
compõem a estrutura da propriedade,
em seu aspecto estático. Já o segundo
aspecto, mais polêmico, é alvo de disputa
ideológica, refere-se ao aspecto dinâmico
da propriedade, a função que desempenha
no mundo jurídico e econômico, a chamada
função social da propriedade (1997, p. 311).
Grifo nosso
Por isso, se trata de verificar com mais detalhes como cada
um dos fundamentos e em que nível e grau, estão relacionados
à visão de mundo dos decididores, por um viés pragmático que
objetive, em seu final, fornecer um quadro teórico acerca de
como essas decisões são tomadas e dos fatores que a orientam
e, com isso, fornecer referências estratégicas para a orientação
dos que atuam nessas lides.
No âmbito específico dos problemas do direito de
propriedade, notadamente no campo, há que se registrar a
existência de um entendimento eminentemente privatista de
tal instituto e que desconsidera sua interpretação à luz da
Constituição (FEITOSA, FREITAS, 2012, p. 303-330).
Assim, além de verificar o conteúdo das interpretações
154 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 154 06/11/2016 13:25:04
por parte dos tribunais, aqui se faz necessário se examinar as
justificações que os tribunais se valem quando da interpretação
e aplicação concreta da regra. Em resumo, se trata de
verificar como os juízes pensam esse direito fundamental e os
aplicam quando há conflito entre direitos, quais as formas de
argumentação utilizadas, como isso pode ser analisado do ponto
de vista de uma interpretação voltada a garantir a efetividade
dos direitos sociais e da função social da propriedade como
direito fundamental.
Pretende-se, com essa estratégia de análise, mostrar as
bases teóricas segundo as quais se concretizam as regras que
equilibram direito de propriedade e função social. Entretanto,
acerca dessa concretização - e no que concerne a propriedade
privada de terras – não basta a prova de regularidade formal de
seu título aquisitivo “para que a Administração se sinta impedida
de investigar a adequação do exercício desse direito”(ALFONSIN,
2000, p. 205).
Note-se ainda, conforme assinalado por Edson Fachin,
que “inexistindo garantia constitucional àquela propriedade
que descumpre sua função social será razoável concluir que o
alcance dessa expressão não admite interpretação ou aplicação
de uma regra inferior que contrarie o seu sentido”, isto é, o
sentido da norma superior, em razão de que, “em cada época,
a propriedade constituiu-se de contornos diversos, conforme
as relações econômicas e sociais de cada momento” (FACHIN,
2000, p. 284-285 e 1988, p. 18).
A Ética Prática e o exame de uma situação concreta:
justificação jurídica e realidade empírica
Em 2010, o número de famílias envolvidas em conflitos
de terra era de 1.276 famílias, o que significa que o número de
conflitos dobrou num curto espaço de tempo.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 155
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 155 06/11/2016 13:25:04
Em 2009, a Paraíba ficou entre os quatros estados
brasileiros em que o número de acampados mais cresceu, atrás
apenas de São Paulo, Goiás e Pará. Note-se que em 2012, o
número cresceu em valores absolutos e relativos, na Paraíba
(3.165 conflitos) e no Brasil (cujo total de conflitos foi de
92.113), entendendo-se por “conflito por terra” a ocorrência
de despejo e expulsões, as ameaças de realizar esses, os atos
de pistolagem, os acampamentos e as ocupações (COMISSÃO,
2012, p. 88) 7.
Relatório da Comissão Pastoral da Terra – Nordeste II,
órgão vinculado à CNBB, dá conta da ocorrência de sete grandes
conflitos por terra envolvendo 2.435 famílias, cinco ocupações
envolvendo 630 famílias e a existência de um acampamento
com 100 famílias. Ou seja, um total de 13 conflitos (média de
1 por mês!) e 3.165 famílias envolvidas, só no ano de 2012, na
Paraíba.
Assim, a importância de tal abordagem, para além da
gravidade do histórico problema da ocupação e uso da terra,
em nosso país, reside também na necessidade, nesse caso,
de se conhecer com mais clareza os valores hegemônicos na
magistratura a respeito de um tema tão premente, com densa
repercussão social e, no próprio direito, em sua prática, em
seu ensino e na construção de uma cultura jurídica de viés
democrático, na medida em que nos parece curial que não
há democracia plena sem resolução da questão agrária, o que
implica em tratar da questão – há que se insistir - sob o foco da
interpretação do direito de propriedade, em nosso ordenamento
jurídico, enquanto condicionado por sua função social (CF 88,
art. 5º, XXIII; art. 170, III; arts. 184 a 186; Lei 4504/1964, arts.
2°, 12, 13 e 47 e Lei 8629/93), seu comprometimento ambiental
e com a dignidade de seu uso e do trabalho ali exercido, enfim,
7 Especialmente a tabela 4. Para uma análise dos dados históricos acerca da
questão, ver: STÉDILE, 2002, p. 103-128.
156 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 156 06/11/2016 13:25:04
como direito fundamental que só adquire sentido se tratrado
enquanto feixe de atribuições cujo cumprimento é quem
confere sentido a sua existência e não com o viés privatista,
incondicionado e erga omnes, que lhes quer atribuir alguns.
Como aponta Mário Losano, referindo-se a Constituição:
[o artigo 186] é de uma importância
fundamental na medida em que fixa os
critérios com base nos quais se decide
se uma propriedade fundiária cumpre ou
não sua função social. Deve-se assinalar
que estes critérios são os fundamentos de
qualquer ação e devem ser respeitados
todos ao mesmo tempo.
Decorre, por essa razão, a necessidade de não se
subestimar a reflexão jus-filosófica, pelo viés da prática, em
torno dos conflitos entre direito de propriedade e a necessária
função social da mesma e nos quais as partes envolvidas sempre
reivindicam, quer para um, quer para outro ponto de vista e
interesse envolvido, ou o caráter fundamental do direito de
propriedade privada (que, diga-se, é pressuposto da própria
função social, visto que não haveria de se falar em necessária
“função social da propriedade” sem que, previamente,
se garantisse o direito de propriedade privada) ou a sua
desapropriação em razão de – no segundo ponto de vista, sua
função social ter sido violada.
Daí a relevância de se de evitar, como ocorre, em geral,
na manualística, a mera descrição genérica sobre o direito de
propriedade como algo sagrado e intocável, quase que uma
expressão máxima dos direitos.
A opção por essa abordagem metodológica está ligada à
ideia de que o Direito deve ser apreendido na realidade. E essa
é a realidade, é a vida social e, com isso, não se descure do
Filosofia, Cidadania e Emancipação 157
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 157 06/11/2016 13:25:04
papel estratégico da filosofia do/sobre o direito em oferecer
argumentos dado à relevância desse campo enquanto lugar
privilegiado de reflexão sobre aquela atividade.
Dessa forma, não cabe a sociedade procurar os valores de
do direito em conceitos abstratos, mas sim, na gênese do próprio
conflito. Seguindo essa linha, trata-se de indagar o objeto, isto
é, de pensar a forma jurídica por uma via metodológica de
matriz realista aplicável ao conjunto de questões que envolvem
o direito à propriedade em choque com sua função social, eixo
basilar de nosso ordenamento e sem o qual a proteção jurídica
ao seu exercício privado perde inteligibilidade.
Por fim, é de se frisar, ainda que incidentalmente, que
cabe ao direito, na atualidade brasileira, um papel importante
na busca de solução para os graves impasses no aprofundamento
da democracia, que não pode se contentar com promessas
formais de promoção do desenvolvimento regional e nacional.
A questão da terra é carente, ainda, de solução social,
política e jurídica e – portanto – trata-se de apontar essas
demandas jurídicas e forjar conhecimentos específicos para a
sua adequada resolução, medidas que garantam crescimento
econômico com desenvolvimento humano.
É este o papel de uma filosofia do direito comprometida
com o mundo da vida: de efetiva intervenção para a invenção
de processos de inserção social no país e tal não se faz sem a
compreensão do trato a um problema crucial que é a questão,
no campo, da tensão entre direito de propriedade e a finalidade
social que ela deve ter - algo que os tribunais ainda lidam sob
uma ótica privatista e cuja solução teórica aponta bem mais
na direção da teoria e da filosofia do direito. Nesse contexto, é
de pouca utilidade um direito que somente se preocupa com o
estudo da natureza jurídica dos institutos tradicionais.
158 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 158 06/11/2016 13:25:04
À guisa de conclusão: conflitos sociais e regulação jurídica:
entre o determinante e determinado
Para o trato das questões humanas e sociais, importam as
contribuições de uma teorização de viés social acerca dos direitos
fundamentais, entre eles, o direito à terra e ao trabalho. Assim,
a iniciativa de fomentar o debate proposto no presente artigo
dá-se no conjunto da necessidade de interlocução dos vários
tipos de conhecimento para que se consiga uma comprensão
real e aprofundada da questão, seguramente uma das mais
importantes agendas para a erradicação da miséria, como se
pretende / propala, para os próximos anos na medida em que
a reflexão cosntruída por vias isoladas e estanques entre sí,
típico de uma concepção filosófica jus-idealista e que concebe o
direito com espécie de deus ex machina não consegue enfrentar
eficazmente esse que é um dos problemas mais complexos da
realidade brasileira.
Isso porque a especialização e complexidade das
demandas e dos conflitos sociais, tem exigido de todos que
pensam o direito um grau de interlocução com outros dados
da realidade. E isso decorre, entre outros fatores da quase
completa carência, como já se mencionou anteriormente, de
uma visão realista /materialista no estudo das questões e de
um ensimesmamento dos juristas com sua própria atividade,
como se ela fosse absoluta e conteudisticamente (e não apenas
metodologicamente) autorreferente.
Essa visão formal e isolacionista retira dos juristas uma
percepção historicamente situada dos fatos, principalmente
aqueles meandros concernentes ao enfrentamento político
das questões de conflitos entre dois direitos quando estes são
mutuamente excludentes ou mesmo, no caso do direito de
propriedade de terras versus sua função social, que convivem
num ordenamento único, a segunda pressupondo a primeira, a
Filosofia, Cidadania e Emancipação 159
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 159 06/11/2016 13:25:04
sua visão privatista sendo considerada prevalente, em choque
a um só tempo com o texto normativo, com a realidade dos
fatos e com o sentido e alcance que o legislador contituinte, de
forma evidente, impôs no texto.
A reflexão acerca da questão agrária, no momento em
que o país se ufana pela situação de estar entre as dez maiores
potências do mundo, visa contribuir em promover uma nova
tomada de posição diante do problema, sem negligenciar o
aspecto do desenvolvimento humano.
Assim, há que se enfrentar, sob a égide das novas demandas
sociais do século XXI, as políticas sociais (ou a ausência delas)
e o novo papel do Estado brasileiro notadamente naquilo que
concerne a questão da agricultura familiar, especialmente os
aspectos jurídicos envolvidos nos projetos agrários existentes
para a região nordeste e os reflexos humanos e sociais da
exploração do trabalhador rural e do não cumprimento da função
social da propriedade, o que demanda uma abordagem ancorada
na análise de temas como exclusão social, desenvolvimento
humano, valores democráticos e cidadania e o papel que a
reforma agrária cumpre nas suas promoções, notadamente
para os trabalhadores e trabalhadoras rurais e a necessidade
de se encontrar novas formas de regulação de conflitos, bem
como a otimização dos instrumentos de defesa dos valores não
enquanto tais mas porque constitucionalmente expressos.
Referências
BENTON, Ted (edited by). The greening of marxism. New York:
Guilford press, 1996.
CARDIM, Silvia; VIEIRA, Paulo de Tarso; Viegas, José. Análise da
estrutura fundiária brasileira. In: Boletim interno do Ministério
de Desenvolvimento Agrário / INCRA.Texto disponível em:
160 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 160 06/11/2016 13:25:05
http://www.mda.gov.br/portal/nead/arquivos/view/textos-
digitais/Artigo/arquivo_95.pdf. Acesso: 1.12.2010.
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA / CONFERÊNCIA NACIONAL DOS
BISPOS DO BRASIL. Conflitos no campo: Brasil 2012. Goiânia:
CDTB, 2012. Disponível em: http://www.cptne2.org.br/index.
php/component/jdownloads/finish/4-caderno-conflitos/195-
conflitos-no-campo-brasil-2012.html?Itemid=19 Acesso em
05.05.2013.
COUTO, Jorge. A construção do Brasil. Lisboa: Cosmos, 1998.
CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha de Canudos. São
Paulo: Abril, 1982.
DUARTE, Rodrigo. Marx e a natureza em ‘O capital’. São Paulo:
Loyola, 1995.
DUGUIT, Léon. Las transformaciones generales del derecho
privado desde el código de de Napoleón. Pamplona: Analecta,
2006.
ENGELS, Friedrich. O problema camponês na França e na
Alemanha. In: Marx & Engels – Obras. (1º v.) São Paulo: Edições
Sociais, 1997.
_____. A MARCA [1882]. In: Crítica marxista, nº 17. Rio de
Janeiro: Revan, 2004.
FACHIN, Luiz Edson. A justiça dos conflitos no Brasil. In:
STROZAKE, Juvelino José (Org.). A Questão Agrária e a Justiça.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.
FEITOSA. Enoque. Direito e humanismo nas obras de Marx no
período de 1839-1845. Dissertação de Mestrado. Recife: UFPE,
2004.
________. O discurso jurídico como justificação: Uma análise
marxista do direito a partir da relação entre verdade e
Filosofia, Cidadania e Emancipação 161
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 161 06/11/2016 13:25:05
interpretação. Recife: EDUFPE, 2009.
FEITOSA, Enoque. Bobbio e a crítica de Marx aos direitos
humanos: o que e quais são os direitos humanos? In: Norberto
Bobbio: Democracia, direitos humanos, paz e guerra. João
Pessoa: EDUFPB, 2011.
FREITAS, Lorena (et alli, orgs.). Direitos humanos e justiça
social. João Pessoa: UFPB, 2012.
FREITAS, Lorena. Além da toga: uma pesquisa empírica sobre
ideologia e direito. Recife: Bagaço, 2009.
______. As ilusões referenciais do juspositivismo e do
jusnaturalismo. In: A filosofia e o trágico. Recife: EDUFPE,
2010.
_____; FEITOSA, Enoque. Marxismo, realismo e direitos
humanos. João Pessoa: UFPB, 2012.
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática,
1976.
GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio
[1968]. São Paulo: Paz e Terra, 1968.
KAUTSKY, Karl. A questão agrária. São Paulo: Laemmert, 1968.
LOSANO, Mario. Función social de la propriedade y latifundios
ocupados: los sin terra de Brasil. Madrid: Dykinson, 2006.
MARX, Karl. Selected writings in sociology & social philosophy
(Edited by Tom Bottomore and Maximilien Rubel). London:
MacGraw-Hill, 1964.
_____. Formações econômicas pré-capitalistas. São Paulo: Paz
e Terra, 1975.
_____. “Crítica ao Programa de Gotha”. In: MARX, Karl; ENGELS,
162 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 162 06/11/2016 13:25:05
Friedrich. Textos. V.1. São Paulo: Edições Sociais, 1977.
_____. O capital: crítica da economia política (volume 3, 2º
tomo). São Paulo: Abril, 1983.
______. La ley sobre los robos de leña. In: Escritos de juventud.
México: Fondo de Cultura, 1987.
______.; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: teses sobre
Feuerbach. São Paulo: Centauro, 2005.
NABUCO, Joaquim. Campanha abolicionista no Recife: eleições
de 1884. Brasília: Edições do Senado Federal, volume 59, 2005.
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo:
colônia [1942]. São Paulo: Companhia de Letras, 2011.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do
Brasil. São Paulo: Companhia de Letras, 1995.
SCHMIDT, Alfred. El concepto de naturaleza en Marx. Madrid:
Siglo XXI, 1976.
SODRÉ, Nelson Werneck. Formação histórica do Brasil [1962].
São Paulo: Brasiliense, 1968.
STÉDILE, João Pedro. Landless battalions: The ‘sem-terra’
Movement of Brazil. In: New left review. Nº 15, may-june 2002.
VINHAS, Moisés. Problemas agrário-camponeses do Brasil. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
VVAA. COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo: Brasil
2010. Disponível em: http://www.cptpe.org.br/index.php/
downloads/viewdownload/4/190.html. Acesso em 05.01.2011.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 163
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 163 06/11/2016 13:25:05
Direitos humanos e filosofia: integração e
diálogo intercultural
Enoque Feitosa
Também o leão deverá ter quem conte a sua
história. Não só o caçador (ACHEBE In GENTILI,
1999, p. 7)1.
Introdução
Este trabalho é fruto de uma experiência de intercâmbio
entre as culturas jurídicas brasileiras e moçambicanas. Três
pressupostos orientam a tese especifica aqui defendida e estão
conectados na medida em que procuram tratar de questões
correlatas entre si: o primeiro deles é que os atuais processos
de integração e complementaridade econômica em vigor no
mundo, embora não recentes e dirigidos para o aprofundamento
e não para a eliminação de desigualdades, têm chamado nossa
atenção na medida do que significam em termos de trocas de
experiências entre contextos sociais que, embora de uma raiz
social comum, portuguesa, tiveram interações distintas, as
quais moldaram diversamente cada uma das culturas jurídicas;
o segundo busca apontar para os esforços de integração
horizontal, por exemplo, entre nosso país e países latinos
1 No livro “O leão e o caçador: uma história da África subsaariana dos séculos
XIX e XX”, a pesquisadora Ana Gentili menciona Chinua Achebe, famoso
escritor nigeriano. Ela recorda-nos, com essa sugestiva metáfora, que “a
história da África subsaariana foi quase sempre interpretada a partir dos feitos
da penetração, da conquista e das exigências colonizadoras das colonizadoras
das potências européias”. O contexto da citação se coaduna com as funções de
controle e dominação que a cultura jurídica do colonizador cumpriu naquela
região. Como temos defendido em outros trabalhos, o direito das potências
imperiais se tornou instrumento da dominação e da institucionalização “por
cima” do controle social (Ver: FEITOSA, 2008, passim).
164 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 164 06/11/2016 13:25:05
(MERCOSUL), países emergentes (BRICS) e a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, cuja expressão acadêmica é a
AULP – Associação das Universidades de Língua Portuguesa; por
fim, o terceiro pressuposto trata de ter em conta como se
dá a consolidação dessa integração, na forma de criação de
redes que impliquem não apenas em troca de experiências, mas
que também permita a circulação de idéias, sem pretensões
hegemônicas.
O direito é examinado nas duas culturas sócio-jurídicas
enquanto discurso de justificação, com o que se permite
entender o uso que dele se faz como instrumento de solução
de conflitos e de convencimento social acerca dessas mesmas
soluções, o que proporciona uma realista e intercultural da
atividade judicial, acentuando sua compreensão enquanto
fenômeno social no qual não se pode relevar sua imbricação
com a política, o que permite o aprofundamento dos elementos
ideológicos contidos no próprio discurso dogmático que, mesmo
cumprindo na sociedade humana um papel civilizatório, não
tem porque nublar os elementos não neutros e de controle
social nele embutidos.
Por fim, restaria incompleto o entendimento do direito
se ele não é visto enquanto exercício de interlocução entre
diversos atores sociais. Com isso, é preciso que se diga que,
mesmo de forma incidental, este trabalho procura atingir
uma questão polêmica entre os juristas dos dois países,
notadamente aqueles que cuidam da reprodução deste saber,
isto é, aqueles que ensinam: para o direito atingir plenamente
sua funcionalidade é necessário que reflita as necessidades de
cada cultura específica, o que aponta para a necessidade de um
diálogo intercultural.
Ética prática, direitos humanos e integração
O sentido de integração que aqui se pretende discutir
Filosofia, Cidadania e Emancipação 165
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 165 06/11/2016 13:25:05
pode se viabilizar a partir de uma filosofia dos direitos
humanos sem pretensão hegemônica e que busque estabelecer
esses diálogos entre a realidade e a experiência brasileiras e
moçambicanas no que concerne a construção de democracias
substantivas, algo possível num ambiente dialógico e que tenha
como perspectiva a concretização dos direitos humanos não só
enquanto garantias formais, mas enquanto conjunto de políticas
que podem contribuir na melhoria da realidade das pessoas,
bem como afastado de pretensões prescritivas, preocupando-se
com um foco realista de examinar o direito que se tem em cada
sociedade e não querer ensinar as outras culturas e vivências
como o seu direito “deveria ser”.
Assim, se examina discursivamente o direito, num dos
sentidos propostos em Ballweg, isto é, como parte das atividades
sociais persuasivas com as quais preenchemos as funções básicas
da vida em comum – voltada para o ensino e a reprodução dos
meios de persuasão, isto é, como atividade prática (BALLWEG,
1991, p. 176-177).
Com isso, não é minimamente necessário para que se
examine o direito enquanto forma que cada cultura constrói,
que também se assimile todo aquele compêndio de ilusões que
caracterizam o “senso comum teórico dos juristas” (WARAT,
1994, p. 13)2 visto que a fixação de determinadas crenças não
têm o condão de dar mais eficácia nas formas e meios de se
utilizar o objeto.
Ao contrário: compreender o direito, seus objetivos e
finalidades enquanto tecnologia de solução de conflitos ao despir
o jurista prático das chamadas ilusões referenciais permite que
ele aperfeiçoe sua ferramenta de trabalho em atendimento as
2 A expressão em aspas foi proposta por Warat no sentido de “que se possa
contar com um conceito operacional que sirva para mencionar a dimensão
ideológica das verdades jurídicas”.
166 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 166 06/11/2016 13:25:05
especificidades sócio-históricas do agrupamento no qual vive e
atua.
Claro que tal opção de encarar o direito – enquanto
fenômeno contextual - deixa o jurista sem a segurança das
crenças pré-estabelecidas, mas, por outro lado, permite-lhe
se apossar do “ceticismo esclarecido” (HOLMES, 1970, p. 196),
colocando no próprio indivíduo a responsabilidade das escolhas
que faz acerca de como dotar de maior eficácia a ferramenta
social que tem diante de si.
Ao mesmo tempo, uma visão crítica do direito serve para
prevenir contra a onipotência que leva o jurista a seguir sentindo-
se ou Atlas ou Hércules - com a dura opção de, ou carregar
o mundo nos ombros ou de realizar tarefas inimagináveis - e
adotar uma atitude mais tranquila, porque centrada em seus
limites, de ser um operador do direito voltado a descobrir,
muitas vezes por meios tortuosos, os caminhos3 que o leva à
decisão que resolva o problema da forma mais eficaz, operativa
e socialmente útil que for possível.
Embora se reconheça um objetivo prático de se buscar
a persuasão nas lides jurídicas, tais questões necessitam, de
forma premente, de serem socialmente justificadas no interior
de cada cultura jurídica específica.
Assim, as formas de persuasão que cada grupo social
acata não seriam mais do que meios de realizar o intento da
justificação, na medida em que seria pouco provável que quem
quer que seja tivesse êxito numa demanda, se acerca dela não
conseguisse oferecer boas razões.
3 A metáfora acerca das opções dos operadores do direito em ser Atlas,
Hércules ou Hermes, figuras da mitologia grega que, na fantasia humana
acerca da criação do mundo, cumpriram diversos papéis, é abordada, com
pequenas diferenças da que aqui se faz, ao preferir-se a figura de Atlas, ao
invés de Júpiter, em: OST, 1993, p. 169-194.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 167
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 167 06/11/2016 13:25:05
Entender o direito como discurso social de justificação –
similarmente a moral social, mas dela diferindo dado o elemento
da possibilidade de uso de coação legal - implica em notar que a
noção essencial aqui contida é de que se deve sempre oferecer
boas razões, ainda que em contextos sócio-jurídicos diversos,
para justificar aquilo que se pleiteia4.
Daí decorre a importância da argumentação, se valendo
tanto dos apelos à razão (o logos), quanto dos sentimentos e
afetos (o pathos) e mesmo do caráter daquele que pleiteia, o
orador, através de seu ethos. Isso porque - como os realistas
apontam - e independente de nossas valorações acerca disso, o
direito acaba sendo, em última análise, o que juízes e tribunais
assim definem enquanto tal, de forma que as instâncias de
persuasão social acabam por serem fundamentais, no sentido
de em que direção caminhará a atividade decisória.
Cultura dialógica e interpretação
Assim, se pretende examinar e avançar na consolidação do
diálogo no sentido de troca de experiências com uma realidade
com a qual o Brasil pouco interage qual seja a dos povos do
continente africano, que junto com a América Latina devem se
constituir em campo privilegiado de diálogo e intercâmbio não
apenas econômico, mas também acadêmico.
Trata-se, pois, de refletir nessa secção os motivos
pelos quais a interpretação cumpre, na experiência de cada
cultura mencionada, menos um papel de descobrir sentido ou
alcance da norma, intenção do texto ou do legislador e muito
mais um papel de justificação do direito e do poder que lhe é
consectário.
E desde logo se atente para o objetivo em que será
trabalhada, nesta secção, a afirmação de que a interpretação
4 É o caso de: MACCORMICK, 2006, p. 19-23.
168 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 168 06/11/2016 13:25:05
cumpre um papel de justificação. Ela é trabalhada no sentido
de fundamentação política do direito, mas também no que lhe
atribui Wróblewski ao tratar da oposição entre a justificação
ou fundamentação interna e a sua justificação externa, onde
a primeira se refere à validade de uma inferência a partir
de premissas dadas e a segunda a que põe a prova o caráter
menos ou mais fundamentado dessas mesmas premissas. A
primeira seria mera questão dedutiva e a segunda vai além, na
medida em que argumentar no interior da forma jurídica exige
a observação de certos padrões de justificação (WRÓBLEWSKI,
1985, p. 57-68) 5.
Dessa forma, em toda ocasião em que for chamado a
discutir os problemas que envolvam interesses materiais (e
esses são a base fundamental do direito em qualquer cultura
jurídica), compete ao jurista combinar o exame adequado da
forma jurídica com sua justificação interna.
Isso porque o direito pode ser comparado ao mito de
Janus, divindade Greco-romana, cuja face bifronte que olha
em direções opostas, remete à descoberta dos acessos e
saídas,6 o que também pode se apresentar ligado a uma espécie
de “mitologia da verdade” visto que Janus representava a
divindade dos portões e portas.
Tal faz sentido na medida em que a religião, com seu
apego ao rito, e o mito, como forma criada pelo imaginário
social para tentar explicar o desconhecido, não podem ser
5 No mesmo texto WRÓBLEVSKI reflete sobre tais questões abordando-as
mediante três categorizações: a) Teoria descritiva da interpretação legal,
b) Teoria normativa [prescritiva] da interpretação legal e, c) ideologia da
interpretação legal. Ver obra mencionada, no capítulo “Teoría e ideología de
la interpretación”.
6 A raiz do nome é usada, por exemplo, como radical da palavra
“Janeiro”, o mês que “olha” para os dois anos, o que passou e o novo
ano (GRIMAL, 1982, p. 115, 118).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 169
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 169 06/11/2016 13:25:05
subestimadas em suas influências no direito. Mito e crença são
ingredientes fundamentais para a compreensão dessa atividade
social que é o direito.
Para um exame filosófico, não eurocêntrico e não-prescritivo
das culturas jurídicas periféricas
A consolidação dessa integração, no que concerne ao campo
acadêmico passa, por isso mesmo – para além da consolidação
de uma concepção realista e, portanto, não-prescritiva do
direito, visto que se pretende um diálogo intercultural e não
um transplante de uma cultura jurídica em outra realidade
social - pela formação de redes que impliquem não apenas em
troca de experiências, mas que também permitam atividades
de intercâmbio de idéias, diálogo entre as fontes, dentre tantas
e várias formas, através de mobilidade de ambos, produção
acadêmica e circulação jurídica, sem pretensões hegemônicas,
mas fundamentalmente visando aumentar a aproximação entre
o Brasil e uma das importantes vertentes que constituíram o
povo brasileiro, o qual – no que concerne aos afro-descendentes
– derivou de três grandes grupos: a) os sudaneses, b) os que
representavam culturas islâmicas e c) os provenientes da área
que hoje corresponde a Angola e os da chamada contra costa,
que corresponde ao atual território moçambicano.
Note-se que essa aproximação tem um caráter sócio-
histórico acentuado e joga na direção de, em ambos os países,
combater a exclusão, estimulando a inclusão e a cidadania.
Hoje, se trata de aprofundar novas formas de cooperação.
Isso por que ainda se afirmando – como se defende nesse
artigo, que direito seja - e efetivamente é - poder e dominação,
ele também pode evitar o arbítrio e o abuso na medida em que
para além do poder ele também se constitui enquanto campo
discursivo que argumenta em torno de fatos, mas lida com
relatos e no qual a verdade é o que as decisões de juízes e
170 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 170 06/11/2016 13:25:05
tribunais reconhecem como tal.
Ora, para enfrentar, nas duas culturas em diálogo (ou
em quaisquer outras) a questão do direito como discurso
de justificação, os pressupostos dos quais se partiu para
construção deste artigo giraram em torno da questão de tomar
o uso do direito como instrumento de solução de conflitos e de
convencimento social acerca dessas soluções na medida em que
o direito é uma “linguagem social”.
Além disso, a compreensão do direito só se viabiliza
enquanto fenômeno social. É pela sua inserção como fato
também político que se um aprofundamento dos elementos
ideológicos contidos no próprio discurso dogmático que, apesar
de seu papel civilizatório, não tem porque desconsiderar esses
elementos ideológicos.
Por fim, as relações o entendimento do direito enquanto
exercício de interlocução entre diversos atores sociais confere
centralidade aos problemas de se deter principalmente nas
formas como o direito se apresenta em cada formação social
em exame, dado que as mesmas são complementares e não
antagônicas entre si, conforme é o entendimento que se
defendeu ao longo do texto.
No exame das duas realidades sociais, com seus
rebatimentos jurídicos, éticos e filosóficos, a opção em focar
o direito enquanto campo voltado à dominação e ao exercício
do poder7, que legitima não dispensa e nem põe em segundo
plano o caráter eminentemente democrático da atividade;
7 Com menciona Eduardo Mondlane - moçambicano que se doutorou em
Sociologia nos Estados Unidos, onde se tornou alto funcionário da “Divisão
de Territórios Sobre Administração da ONU” e que posteriormente fundou e
foi primeiro presidente da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) –
lembrando um dito popular de seu país: “Quando os brancos chegaram a nosso
país, nós tínhamos a terra e eles a bíblia, agora nós temos a bíblia e eles a
terra” (MONDLANE, 1995, p. 31).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 171
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 171 06/11/2016 13:25:05
ao contrário, o âmbito jurídico se efetiva inclusive no ato
de aplicação da norma, o que demanda como é óbvio, atos
fundamentados de interpretação.
Por isso mesmo é prudente assinalar que beira à
ingenuidade a crença pela qual tal atividade envolve, de forma
calculadamente planejada, uma estratégia de dominação, como
se os juristas fossem meros propagandistas do poder material e
de seu elemento formal de controle, o direito.
O fenômeno é mais complexo: os juízes agem e decidem
conforme determinadas crenças e valores – que geralmente se
manifestam no discurso jurídico através de termos vagos tais
como justiça e direito, isto é, conforme ideologia, mesmo que
disso não tenham plena consciência.
Claro que faz parte desse arsenal de crenças justificadoras
do direito a afirmação que juízes e tribunais decidem a partir
da regra e do caso concreto que lhes cabem apreciar. Mas o
processo pelo qual qualquer ser humano usa a razão prática,
mostra que entre prováveis decisões a tomar, seleciona-se uma
delas dentre variados processos de ponderação que começam
pelas hipóteses iniciais de decisão.
O que ocorre é que, por imposição do direito moderno,
juízes apresentam – em qualquer ordem jurídica - suas decisões
de forma dedutiva: da norma abstrata à regra concreta (a
decisão), mas o processo ocorre, de fato, exatamente pelo
caminho inverso, o que torna a decisão muito próxima de um
contexto de descoberta e a sua apresentação de um contexto
de justificação.
Por isso é que esse mesmo discurso jurídico cumpre
função importante na formação de um modelo de justificação
das decisões, dado o constrangimento legal de fundamentá-
las. Dessa forma é que se torna possível não só reconstruir a
172 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 172 06/11/2016 13:25:05
formação do raciocínio e das decisões como fazer uma crítica
eficaz à objeção segundo a qual seu processo de formação é
inteiramente irracional e sujeito tão somente ao arbítrio dos
juízes.
Para o direito, portanto, se trata de produzir decisões que
façam fazer sentido em termos práticos e que funcionem para
os jurisdicionados, bem como para juristas, como possibilidades
de traçar previsões, ou, como preferia Holmes, profecias acerca
daquilo que juízes e tribunais farão nos casos sob sua apreciação.
O ponto crucial é que tal entendimento não se antepõe, ao
contrário, coaduna-se com uma atividade que é dialógica,
cultural, social e interpretativa e – por isso mesmo - em tudo
e por tudo, fundamental para o próprio direito, enquanto essa
forma parcial de convivência humana for necessária.
Considerações Finais
Por fim, é oportuno, a partir de agora, procurar sintetizar
os desdobramentos do que foi, até aqui, desenvolvido, neste
trabalho, o que conduz à formulação das seguintes conclusões
específicas: A primeira visou expor que o discurso jurídico atua
socialmente – em qualquer ordem jurídica - como justificação,
não apenas do poder estatal, mas daquilo que se poderia chamar
de um “funcionamento ótimo” das decisões judiciais como
expressão de valores abstratos tais quais justiça e correção e
não como a exata expressão do domínio da competência da
verdade de quem decide e da interpretação que este constrói
da norma.
Como temos testado no desenvolvimento das experiências
proporcionadas pelo projeto de um diálogo jus-filosófico entre
Brasil e Moçambique, essa peculiaridade permeia todos os
debates que demandavam o uso do raciocínio judicial, cujo
ponto central consiste em não subestimar a necessidade de
argumentar também a partir das categorias jurídicas. Dessa
Filosofia, Cidadania e Emancipação 173
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 173 06/11/2016 13:25:05
forma, a busca, nas teorias mais tradicionais de direito, em
atribuir-lhe uma suposta neutralidade e de considerá-lo em
separado do Estado é o contraponto desta primeira conclusão.
A segunda traz subjacente a reflexão pragmática pela
qual sendo a atividade jurídica um campo de experimento
dos efeitos práticos que uma determinada decisão implica,
tal concepção coaduna-se com uma atitude ceticamente
esclarecida em relação ao direito que, além de questioná-lo
em seus fundamentos, examina-o em suas manifestações, isto
é pelo viés de suas consequências no mundo concreto.
Por isso que chama atenção o fato de que no curso da
evolução social dos dois países, o âmbito jurídico de cada um
acabou por desenvolver uma legislação extensa que, de forma
aparentemente independente, extrai sua justificação da própria
existência e que fundamenta sua evolução, não das condições
concretas, mas de si mesma.
Assim, se abstrai que o direito tem por origem as condições
de vida e que foi o desenvolvimento da legislação como um
conjunto complexo que acarretou uma nova divisão do trabalho
social com a formação de uma casta de juristas profissionais e,
com eles, a ciência do direito que constrói suas próprias regras
de verificação de seus critérios.
Assim, para os propósitos deste artigo, o que importou
foi verificar se o exame das duas ordens jurídicas poderia se
explicar por uma visão realista do direito, pelo que se tornou
secundário abordar outras compatibilidades entre ambas.
A terceira, que atuou em reforço do argumento acima
mencionado, pretendeu mostrar como a justificação no direito
se expressa através do caráter instrumental da forma jurídica
e no âmbito do que dizem juízes e tribunais, com o que – nas
duas ordens jurídicas - a aplicação de uma regra de direito a
174 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 174 06/11/2016 13:25:05
um caso particular é na realidade uma confrontação de direitos
antagonistas entre os quais o Tribunal deve escolher um.
Se alegado que tal posição tornaria a atividade jurídica
irracional, necessário se faz notar - e esta é a quarta conclusão
– que a racionalidade do direito é constituída no interior do
debate jurídico. Logo, não é algo prévio, que o antecede e
lhe confere fundamento, sendo, portanto racional aquilo que
a comunidade e os seus agentes encarregados de dirimir os
conflitos jurídicos assim interpretarem e decidirem, o que,
como já se viu na terceira conclusão, logo acima, trata-se muito
antes de ser uma disputa teórica, de um problema de fato.
Referências
FEITOSA, Enoque. O discurso jurídico como justificação: uma
análise marxista do direito a partir das relações entre verdade
e interpretação. Recife: EDUFPE, 2008.
GENTILI, Anna Maria. O leão e o caçador: uma história da
África subsaariana dos séculos XIX e XX. Maputo (Moçambique):
Arquivo Histórico, 1999
HOLMES Jr., Oliver W. Collected legal papers. New York: Harper,
1970.
MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito.
São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Cartas filosóficas. México:
Grijalbo, s / d.
MONDLANE, Eduardo. Lutar por Moçambique. Maputo
(Moçambique): Centro de Estudos Africanos, 1995
OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez.
In: Doxa – Cuadernos de filosofía del derecho. Alicante: UA,
1993.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 175
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 175 06/11/2016 13:25:05
WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito (volume 1).
Porto Alegre: SAF, 1994.
WRÓBLEWSKI, Jerzy. Constitución y teoría general de la
interpretación jurídica. Madrid: Civitas, 1985.
176 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 176 06/11/2016 13:25:05
Alteridade Ecosófica e Cidadania
Sul-Americana: Fundamentos para
uma Ética da Vida
Neuro José Zambam
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino
Introdução
Este artigo tem o objetivo de apresentar o Tratado da União
de Nações Sul-Americanas - UNASUL – como uma alternativa
política e sustentável para a organização das nações latino-
americanas a partir da cidadania compartilhada. Sabendo das
diferenças que caracterizam o continente, especificamente,
a tradição e formação cultural e, com igual evidência, as
desigualdades gritantes que assolam a maioria da população.
É necessário a proposição de um modelo de planejamento e
atuação de forma integrada e com perspectiva de entendimento
e efetivação de longo prazo que alcancem além das fronteiras
territoriais. Esse contexto demanda um modelo de organização,
desenvolvimento e relações entre os povos que abarque além
dos seres humanos, a relação com os recursos naturais e
ambientais, o direito dos animas, o direito das culturas e as
futuras gerações orientadas pela sustentabilidade.
A Natureza, especificamente, precisa ser reconhecida
como sujeito a ser respeitado pelas suas próprias
características. Nota-se que se interpõem um novo contexto
e outra dinâmica, menos antropocêntrica, e mais integrada e
interdependente. Num cenário com essa característica opera-
se uma transformação na dinâmica da ação política, do direito
e das relações interpessoais e dos povos.
A Alteridade Ecosófica é a [nova] matriz que orienta, ou
Filosofia, Cidadania e Emancipação 177
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 177 06/11/2016 13:25:05
seja, é um exercício necessário para além das capacidades e
proposições dos homens, em vista de estabelecer as condições
para uma Ética da Vida. O reconhecimento de outros seres,
dotados de “valor próprio”, sinaliza a urgência de se modificar
o atual status criado por humanos e para humanos o qual
determina um cenário de alta exclusão e reificação. Tudo
é objeto, ou, pior, mercadorias. Não existe, sob essa lógica,
nenhum modo de vida sustentada e sustentável.
O objetivo geral deste estudo é determinar como a
Cidadania Sul-Americana, por meio da Alteridade Ecosófica
tem as condições de estabelecer novas referências para a
convivência na América Latina considerando os inúmeros atores
que até o presente não compunham o cenário social e das
decisões, assim como, sabendo dos novos cenários e práticas
de interação entre todos os seres vivos para uma vida com mais
qualidade e, por consequência, um ambiente social com mais
justiça e interação.
Os objetivos específicos permitirão a instrumentalização
do objetivo geral na medida em que se: a) Definir o que é a
Cidadania Sul-Americana; b) Definir o que é a Alteridade
Ecosófica; c) Reconhecer a Natureza como “ser dotado de valor
próprio”; d) Identificar como a atitude moral humana institui
uma Ética da Vida, cuja proteção não se limita aos seres
humanos, mas para todos os seres que compõem a Comunidade
Viva da Terra1.
1 “[...] A vida humana, com todos os seus atributos construídos em bilhões de
anos, é condição absoluta de possibilidade, conteúdo e critério universal para
toda vivência ética. E a vida dos outros seres torna-se valor ético na medida
em que, além de tudo, interfere na vida humana. E de tal maneira o é, que
cada cultura, cada comunidade ou grupo, constitui-se num modo (histórico)
de sua reprodução. Isso quer dizer que, se temos uma longa histórica atrás de
nós, construímo-la (malgrado toda debilidade) coletivamente”. (OLIVEIRA,
Jelson; BORGES, Wilton. Ética de Gaia: ensaios de ética socioambiental. São
Paulo: Paulus, 2008, p. 138).
178 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 178 06/11/2016 13:25:05
Por esse motivo, é necessário destacar o problema de
pesquisa pela seguinte indagação: Qual modelo de Cidadania se
deseja constituir para ampliar o reconhecimento da Natureza
como “ser próprio” e fundar outro ethos capaz de compreender
a integridade ecológica e ecosófica da vida?
A resposta provisória para essa pergunta designa, como
apropriado para o argumento proposto para este estudo, o
modelo sugerido pelo Tratado Constitutivo da União de Nações
Sul-Americanas quando se suscita uma Cidadania ativa pela
participação e responsabilidades comuns no citado território.
É a partir desse agir comum, e fundamentado pelos saberes
dos povos originários andinos, que a Natureza é reconhecida,
inclusive pela legislação, como “ser próprio”. O desvelo desse
“novo sujeito” precisa, de modo permanente, ser exercitado
pela Alteridade Ecosófica. Esse, como se percebe, são os
pressupostos de um outro ethos que funda essa identificação
sul-americana: a Ética da Vida.
A fundamentação da temática em questão prioriza a
contribuição de pensadores latino-americanos, Boff, Gudynas
e Estermann a fim de demonstrar que a produção jurídica e
filosófica local tem condições de orientar essa conjugação de
interesses, organizações, acordos e outros em diálogo tenso e
respeitoso entre todos e, interagir com outras produções, sejam
com abordagens diferenciadas, seja com concepções de outros
centros de reflexão e pesquisa com realidades diferenciadas.
Essa é uma dinâmica que afirma, questiona e amplia as
concepções locais, ampliando seus horizontes e contribuindo
eficazmente para as reais condições de justiça numa região
complexa, sofrida, desigual. Esse contexto ocorre num
território que abriga uma ampla biodiversidade, tradições
culturais e experiência histórica. Existem várias adversidades
Filosofia, Cidadania e Emancipação 179
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 179 06/11/2016 13:25:05
que nem sempre são favoráveis à consolidação da Democracia2
na América do Sul, mas essa condição não significa, em nenhum
momento, o abandono da proximidade cultural e natural capaz
de sintetizar a unicidade vital da identificação de seus povos,
da sua fauna e flora, de seus diferentes ecossistemas.
Utilizar-se-á, como método de abordagem, o Hipotético-
Dedutivo. No tratamento dos dados, escolheu-se o Método
Cartesiano. As técnicas de pesquisa são Pesquisa Bibliográfica
e Documental3, Categoria4, Conceito Operacional5 e o
Fichamento.
Por uma Cidadania de Responsabilidades comuns na América
do Sul
Numa perspectiva de participação democrática, não
é possível que a Cidadania implique tão somente num status
político e jurídico indiferente com todas as misérias causadas
contra o Homem e a Natureza. Ser cidadão, hoje, começa a
ganhar contornos de responsabilidade os quais avançam sobre
os limites territoriais do Estado-nação.
Na medida em que se observam temas cada vez mais
2 No sentido próprio de Democracia, Zambam rememora: “A democracia é uma
opção vital para a justiça social e seu valor moral se amplia, se aprofunda e se
fortalece quanto mais seus valores e princípios se integram na vida das pessoas, nas
relações que cada uma constrói e no aprimoramento das respectivas instituições”.
ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento
sustentável. Passo Fundo: IMED, 2012, p. 238.
3 Segundo o mencionado autor: “[...] Técnica de investigação em livros,
repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.” PASOLD, Cesar Luiz.
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: Conceito
Editorial, 2011, p. 207.
4 Nas palavras de Pasold: “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração
e/ou expressão de uma idéia”. (PASOLD, 2011, p. 25). (Grifos originais da obra
em estudo).
5 Reitera-se conforme Pasold (2011, p. 37): “[...] uma definição para uma
palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os
efeitos das idéias que expomos [...]”.
180 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 180 06/11/2016 13:25:05
complexos e transversais entre as culturas, a ação destinada
a criar perspectivas de integração não pode insistir no atual
modelo de consumo, de produção, de trabalho (semiescravo).
Nessa linha de pensamento, veja-se as palavras de Gudynas6:
Uno de los factores de mayor peso en generar
esta ciudadanía de “baja intensidad”
se debió a las reformas de mercado que
tuvieron lugar en América Latina desde
mediados de la década de 1970. Es
importante revisar algunos aspectos claves
de ese proceso desde la ecología política, ya
que explican muchas situaciones actuales.
La perspectiva neoliberal acepta un
conjunto mínimo de derechos individuales,
bajo una expresión negativa, y por lo tanto
no reconoce la existencia de derechos
sociales, y menos los referidos al ambiente.
También se rechaza cualquier forma de
intervención social, en tanto no existe el
conocimiento adecuado y suficiente como
para justificar esas acciones. Se entiende
que las personas actúan esencialmente
como agentes individuales, y em lugar de
ciudadanos los individuos se comportarían
como “consumidores”. Entonces resulta
que el ámbito de interacción privilegiado
es el mercado, donde compran y venden
bienes y servicios, los que supuestamente
les asegurarían la calidad de vida. Apenas
se acepta la presencia estatal únicamente
para garantizar un conjunto de derechos
mínimos, tales como la seguridad o salud,
y para asegurar el funcionamiento del
mercado.
Sob semelhante argumento, e no desejo de se criar, mais
e mais, um progresso medido por um crescimento infinito,
especialmente na Economia, o ser humano explora e domina
6 GUDYNAS, Eduardo. Cidadania ambiental e metas cidadanias ecológicas.
Revista de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, Universidade Federal
do Paraná – UFPR, n. 19, p. 58/59, jan./jun. 2009.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 181
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 181 06/11/2016 13:25:05
a Natureza sem qualquer espécie de reconhecimento como ser
próprio que é. Josef Estermann7, nessa linha de pensamento,
propõe uma alteridade cuja base é a Ecosofia8 a fim de saber que
o mundo natural não pode ser medido por critérios econômicos,
estéticos, morais a partir do nosso ponto de vista:
[...] considero que la filosofía andina no
es solamente un asunto etno-folclórico, ni
netamente histórico, sino una necesidad
epistemológica para poder “develar” los
puntos ciegos de una tradición enclaustrada en
un solipsismo civilizatorio, fuera éste llamado
“eurocentrismo”, “occidentocentrismo” o
“helenocentrismo”. El tema de la alteridad
(u “otredad”), planteado por el filósofo
judío lituano “marginado” respecto al
mainstream occidental, Emmanuel Lévinas,
y recuperado por la analéctica de la
Filosofía de la Liberación latinoamericana,
me parece fundamental a la hora de tocar
el tema de la Naturaleza. Y esto sería ya
una ampliación del tema de la alteridad
desde las tradiciones indígenas, saliendo
del andro- y antropocentrismo todavía
vigentes en Lévinas y parte de la filosofía
liberacionista, incluyendo en las reflexiones
también al otro y la otra no-humanos, es
decir la alteridad ecosófica. Me parece que
uno de los puntos “ciegos” de la tradición
dominante de Occidente, al menos desde el
7 ESTERMANN, Josef. Ecosofía andina: Un paradigma alternativo de
convivencia cósmica y de Vivir Bien. FAIA - Revista de Filosofía Afro-In
do-Americana. España, VOL. II. N° IX-X. AÑO 2013, p. 1/2.
8 A proposição da Ecosofia em Guattari é essa articulação ético-política
entre três registros ecológicos: o ambiental, o das relações humanas e o
da subjetividade humana. Segundo o mencionado autor, somente nessa
interação - conflituosa, trágica - entre o “Eu” interior (subjetividade) e o
mundo exterior “[...] - seja ela social, animal, vegetal, cósmica - que se
encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral de implosão
e infantilização regressiva. A alteridade tende a perder toda a aspereza”.
(GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução de Maria Cristina F. Bittencourt.
Campinas, (SP): Papirus, 1990, p. 8).
182 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 182 06/11/2016 13:25:05
Renacimiento, ha sido justamente el tema de
la alteridad “ecosófica”. Aunque la tradición
semita (judeocristiana) haya introducido
al discurso ontológico determinista y
cerrado de la racionalidad helénico-romana
las perspectivas de la “trascendencia”,
“contingencia” y “relacionalidad”, es decir:
la no-conmensurabilidad entre el uno y el
otro, entre el egocentrismo humano y la
resistencia de la trascendencia cósmica,
religiosa y espiritual, la racionalidad
occidental moderna se ha vuelto
nuevamente un logos de la “mismidad”, del
encerramiento ontológico subjetivo, de la
fatalidad que tiene nombres como “la mano
invisible del Mercado”, “coacción fáctica”
(Sachzwang), “crecimiento ilimitado” o “fin
de la historia”.
Quando agir cidadão é fundamentado pelo cuidado e
responsabilidade por outro sujeito no qual aparece diante
de sua consciência, é improvável que haja a continuidade
dessas atitudes exploratórias ou de “colonização do Outro”,
especialmente o mundo natural, pois a sua comunicação não
ocorre nem na dimensão da fala, tampouco da língua. Os
clamores da Terra são ainda mais silenciosos quando se criam
“ouvidos seletivos”.
Por exemplo: que espécie de Cidadania9 é capaz de
engajar, de estimular, de fazer com que as pessoas participem
contra os abusos das atividades extrativistas, sejam as minerais,
animais ou vegetais? Veja-se: aqui há uma dupla preocupação: a
violência na qual se produz contra a Natureza é, também, contra
o Humano, pelo trabalho excessivo, mal remunerado e com más
condições para exercer o labor, mas, principalmente, contra a
9 “A la altura de nuestro tiempo parece conveniente admitir incluso propugnar
esse ‘colecionismo’ de ciudadanías, o sustituir la ciudadanía unilateral, por
una ciudadanía multilateral. Esta última consistiría en ir más allá de una mera
ciudadanía diferenciada [...], en el interior del Estado, [...]”. (PEREZ-LUÑO,
Antonio Enrique. La tercera generación de derechos humanos. Cizur Menor
(Navarra): Editorial Arazandi, 2006, p. 239/240).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 183
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 183 06/11/2016 13:25:06
sua saúde biopsíquica10. Novamente, rememora Acosta11:
El punto de partida de esta cuestión radica,
en gran medida, en la forma em que se
extraen y se aprovechan dichos recursos, así
como en la manera em que se distribuyen
sus frutos. Por cierto que hay otros
elementos que no podrán ser corregidos.
A modo de ejemplo, hay ciertas atividades
extractivistas como la minería metálica a
gran escala, depredadora en esencia, que
de ninguna manera podrá ser “sustentable”.
Además, un proceso es sustentable cuando
puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda
externa y sin que se produzca la escasez
de los recursos existentes. Sostener lo
contrario, aunque se sostenga esta posición
en una fe ciega en los avances tecnológicos,
es practicar un discurso distorsionador. La
historia de la región nos cuenta que este
proceso extractivista ha conducido a una
generalización de la pobreza, ha dado
paso a crisis económicas recurrentes, al
tiempo que ha consolidado mentalidades
“rentistas”. Todo esto profundiza la débil
y escasa institucionalidad democrática,
alienta la corrupción, desestructura
sociedades y comunidades locales, y
deteriora gravemente el medio ambiente.
Lo expuesto se complica con las prácticas
clientelares y patrimonialistas desplegadas,
que contribuyen a frenar la construcción de
10 “Tudo é feito mercadoria. E somente pode ter acesso aos bens de mercado
quem tem poder aquisitivo. A grande maioria está fora do mercado, porque o
poder aquisitivo é insuficiente. O mercado, nesse sentido, é sacrificialista. É
como um Moloc que cria vítimas e exige mais e mais vítimas. Entre as vítimas
estão a própria natureza e a humanidade como um todo, cujo futuro se vê
seriamente ameaçado”. (BOFF, Leonardo. Ética da vida: a nova centralidade.
Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 50).
11 ACOSTA, Alberto. Extractivismo e neoextractivismo: dos caras de la
misma maldición. Disponível em: http://www.cronicon.net/paginas/
Documentos/paq2/No.23.pdf. Acesso em 20 de agosto de 2015.
184 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 184 06/11/2016 13:25:06
ciudadanía.
O fundamento para uma Cidadania Sul-Americana12, como
aduz o artigo 18 da União de Nações Sul-Americanas – UNASUL,
se revela por essa liberdade continental para se compreender
as virtudes e vícios de outras culturas, mas, principalmente,
de des-vendar a Natureza, essa Mãe generosa, como sujeito
próprio, inclusive de direitos, como se observa nas constituições
do Equador e Bolívia.
Somente uma Cidadania de feições multilaterais, que
consolide a atitude moral humana, respaldada, ainda, pela
sua dimensão política e jurídica continental, é que cria
possibilidades de ampliar e reconhecer outros “atores” nesse
theatrum mundi os quais não se limitam pela indiferença dos
contornos territoriais do Estado-nação. O tema da Natureza e
sua importância como “ser próprio” é transversal.
Não é possível que apenas uma entidade estatal seja capaz
de trazer respostas satisfatórias diante da alta complexidade que
essa preocupação sugere. As diferentes redes que se constituem
entre os seres vivos perpassam a lógica burocrática e legislativa
criada pelas soberanias nacionais e necessitam de outra lógica
a qual favoreça essa relação inter-espécies. É preciso, sim, de
uma Cidadania cuja lógica seja do cuidado13.
A composição dessa unidade a partir da biodiversidade
12 “A Cidadania continental demanda uma introspecção maior do nosso
sentimento de filiação pela natureza humana inscrita na diversidade
antropológica e biológica do único local que nos acolhe: o Planeta Terra. Viver
continentalmente desvela a clareza de um fato ainda obscuro: a nossa Pátria
comum é a Terra”. (AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. O direito em busca
de sua humanidade: diálogos errantes. Curitiba: CRV, 2014, p. 30).
13 Para Boff, essa condição se traduz como “[...] desvelo, solicitude,
diligência, zelo, atenção, bom trato. [...] O cuidado somente surge quando
a existência de alguém tem importância para mim”. BOFF, Leonardo. Saber
cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 15. ed. Petrópolis, (RJ):
Vozes, 2008, p. 91.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 185
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 185 06/11/2016 13:25:06
terrestre reivindica uma postura ética por parte do ser
humano cujo epicentro não é a dimensão antropológica, mas
outra na qual o diálogo interespécies suscite cumplicidade,
complementaridade, cuidado, respeito e responsabilidades
comuns. Os cenários de intensas fatalidades no mundo e,
especialmente, na América do Sul, suscitam esse desprezo de
nossas ações morais no sentido de proteger e preservar outros
seres próprios além da família humana. O preço dessa omissão
desmedida é a implacabilidade da Natureza contra todos.
Alteridade Ecosófica: o projeto para uma Ética da Vida
O ethos fundante – seja na acepção dos costumes ou da
“casa”, da “habitação” – se manifesta por meio da Alteridade
Ecosófica. Essa é a imagem de uma Cidadania que contribui
para a manutenção dos povos os quais coexistem, de forma
harmoniosa, com a Natureza, sem desprezá-la, marginalizá-la
ou destruí-la.
O des-velo dessa proximidade e reconhecimento conduz
para uma Dignitas Terrae. Não pode admitir, num cenário de
ampla biodiversidade - compreendida, nesse momento, pela
diversidade de espécies, de ecossistemas e da genética na
qual constitui o mundo da vida – que apenas a voz humana
ressoe por todos os territórios. Em cada lugar, existe um saber
que esclarece, mais e mais, essa proximidade entre os seres
e constitui a integridade ecológica da Terra e não pode ser
desprezado ou ignorado.
Por esse motivo, é necessária uma Alteridade Ecosófica,
cuja matriz não seja apenas entre aqueles que pertencem
exclusivamente à família humana, mas reconhecem suas origens
biológicas. A partir dessa (demorada) epifania, Nessa linha de
pensamento, Boff destaca:
A vida, como vimos, é frágil e vulnerável.
Está à mercê do jogo entre o caos e o cosmo.
186 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 186 06/11/2016 13:25:06
A atitude adequada para a vida é o cuidado,
o respeito, a veneração e a ternura. [...] São
essas atitudes que nos abrem à sensibilização
da importância da vida. Elas implicam a
mudança do paradigma cultural vigente,
assentado sobre poder-dominação, e a
introdução de um paradigma de convivência
cooperativa, de sinergia, de enternecimento
por tudo o que existe e vive. Em razão dessa
viragem, urge redefinir os fins inspirados na
vida e adequar os meios para esses fins. Só
assim a vida ameaçada terá chance de salva-
guarda e promoção. (BOFF, 2008, p. 75-76)
A constituição de uma Ética da Vida por meio da Alteridade
Ecosófica torna significativa à proposição de uma Cidadania Sul-
Americana. A partir desse novo cenário, o qual se projeta para
o mundo, as posturas indiferentes criadas – e imobilizadas –
pelo status político e jurídico daquela Cidadania tradicional,
de caráter Liberal ou Republicana, aos poucos, esmaece diante
de uma compreensão alargada desse estar-junto-com-o-Outro-
no-mundo.
Esse argumento se desenvolve, ainda, devido à
preocupação internacional para se desenvolver outros modos
de uma convivência sadia entre humanos e não humanos.
Dois exemplos acerca da uma Ética da Vida, pautada por uma
Alteridade Ecosófica, surgem em dois documentos: o primeiro é
reconhecido pela Organização das Nações Unidas – ONU – desde
1983 denominada como Carta da Terra14. O segundo representa
14 “I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA. 1. Respeitar a Terra e a
vida em toda sua diversidade. a. Reconhecer que todos os seres são interligados
e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua utilidade para
os seres humanos. [...] 2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão,
compaixão e amor. a. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar
os recursos naturais vem o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente
e de proteger os direitos das pessoas. b. Assumir que o aumento da liberdade,
dos conhecimentos e do poder implica responsabilidade na promoção do bem
comum. II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA. 5. Proteger e restaurar a integridade
Filosofia, Cidadania e Emancipação 187
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 187 06/11/2016 13:25:06
expressão da vontade dos povos sul-americanos aprovado em
2010 na cidade de Cochabamba. Esse documento é intitulado
Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra15.
Na medida em que o ser humano é tomado pela epifania
de que não está separado da Natureza, mas é Natureza também,
cria-se condições de uma saudável e harmoniosa convivência
socioambiental, legada para tudo e todos e não apenas os seres
dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade
biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida”. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf.
Acesso em 15 de nov. de 2015. Grifos originais do documento estudado.
15 “Artigo 1 A Mãe Terra é um ser vivo. A Mãe Terra é uma comunidade
única e indivisível, autorregulada, de seres interrelacionados, que sustém,
contém e produz todos os seres; Cada ser se define por suas próprias relações
como parte integrante da Mãe Terra; Os direitos inerentes da Mãe Terra são
inalienáveis e derivam da mesma fonte de existência; A Mãe Terra e todos
os seres têm seus direitos reconhecidos nesta Declaração, sem distinção e
nenhum tipo de discriminação entre seres orgânicos e inorgânicos, espécie,
origem, uso para os seres humanos ou qualquer outro status; Todos os seres da
Mãe Terra têm direitos, que são específicos à sua condição e apropriados para
sua região e função, dentro da comunidade nas quais existem; Os direitos de
cada ser estão limitados pelos direitos de outros seres e qualquer conflito
entre esses direitos devem se resolver de maneira a manter a integridade,
equilíbrio e a saúde da Mãe Terra. Artigo 2 Direitos inerentes da Mãe Terra. A
Mãe Terra e todos os seres que a compõem têm os seguintes direitos inerentes:
Direito à vida e existência; Direito de ser respeitada; Direito à continuação
de seu ciclo e processos vitais, livre das alterações humanas; Direito de
manter sua identidade e integridade como ser diferenciado, autorregulado
e interrelacionado;-Direito à água como fonte de vida; Direito ao ar puro;
Direito à saúde integral; Direito a estar livre da contaminação, da poluição e
de dejetos tóxicos e radiativos; Direito de não ser alterada geneticamente e
modificada em sua estrutura, ameaçando sua integridade ou funcionamento
vital e saudável; Direito a uma restauração plena e pronta pelas violações aos
direitos reconhecidos nesta Declaração, causadas pelas atividades humanas;
Cada ser da Mãe Terra tem direito a um lugar e a desempenhar seu papel em
Pacha Mama, para seu funcionamento harmônico; Todos os seres têm o direito
ao bem estar e a viver livre de tortura ou trato cruel pelos seres humanos”.
Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/
declaracao-universal-direitos-mae-terra-551452.shtml. Acesso em 15 de nov.
de 2015. Grifos originais do documento estudado.
188 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 188 06/11/2016 13:25:06
humanos, sejam nas gerações presentes ou futuras.
Veja-se: nenhum ser humano tem capacidade alta
mediúnica de prever, com precisão, quais serão as necessidades
futuras da Humanidade, mas o mínimo possível para a
perpetuação da Vida constitui preocupação permanente
no momento presente: água, ar e terra. As medidas que se
direcionam a manter padrões de Vida sadios para todos os
seres vivos representam uma atitude cidadã transversal a qual
não se limita às determinações jurídicas nacionais de votar e
ser votado. Ao contrário, amplia-se essa dimensão ativa para
verdadeira participação porque se conhece as características
de um projeto cujo ponto central de preocupação é vida para
tudo e todos.
Considerações finais
A legitimidade de acordos internacionais depende de
inúmeras circunstâncias que precisam ser consideradas de
forma integrada, das quais se podem destacar, as referências
democráticas, a intensidade da participação dos envolvidos, os
compromissos assumidos e as condições para a sua efetivação.
As demandas de integração na América Latina são históricas
e existem diversas iniciativas para a solução, por exemplo, o
Tratado do Mercosul.
Em período recente, operou-se o Tratado da União de
Nações Sul-Americanas - UNASUL – com as credencias importantes
para o aprimoramento das suas relações entre os povos, não
restritas à diplomacia oficial e dependente da atuação do Estado
limitado ao território, com suas características peculiares e com
condições de construírem de forma democrática, integrada e
cooperativa às condições de justiça entre os povos, culturas e
nações caracterizadas por inúmeras diferenças. A Justiça, nesse
contexto, não conseguirá diminuir as desigualdades, se, antes,
não compreender a integridade da vida.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 189
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 189 06/11/2016 13:25:06
A introdução da Natureza com sua diversidade e seus
recursos na condição de sujeito implica a mudança de
comportamento individual, comunitário e social em vista da
construção de novos referenciais de relacionamento. O princípio
da Alteridade Ecosófica que fundamenta essa concepção precisa
ser esclarecido, assimilado e praticado no interior de cada
espaço territorial.
Uma relação pautada pela condição de sujeitos, isto é,
entre os humanos e a natureza, dinamiza a forma de pensar
e agir obrigando o exercício da alteridade no seu sentido
genuíno, qual seja, uma relação entre iguais, sabendo da
sua incapacidade de igualar-se. A explicitação das diferenças
expõe a alteridade e cria as condições para a tolerância, o
entendimento e a solidariedade, valores caros à humanidade e
à democracia.
O Homem, tradicionalmente visto como o agente principal
e com os poderes de domínio e uso sobre os demais, tem sua
identidade pautada pela responsabilidade, respeito, prudência e
devotamento para com os demais. Ocorre, como consequência,
uma relação que chamamos de imbricada e sistêmica porque
é interdependente, solidária e cooperativa. As diferenças
não mais são ameaçadoras ou precisam ser eliminadas, mas
integradas e contribuem para o equilíbrio social, a maturidade
humana e a administração equitativa dos recursos disponíveis.
A UNASUL, antes de ser uma inovação política e
administrativa, é um tratado com caráter didático e pedagógico
para o continente latino-americano, que adota o bem-comum
no seu sentido amplo e inclusivo. As condições de bem viver
incluem as culturas, os cidadãos, a natureza, as instituições e,
especificamente, as futuras gerações.
Estas, embora não existam, clamam para uma educação
moral e política a partir das suas reais condições de existência.
190 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 190 06/11/2016 13:25:06
Esse é um apelo que contempla o presente em sua totalidade
e advoga pela atuação a partir da Alteridade Ecosófica. Um
ator ainda não-existente é uma referência moral capaz de
questionar, interpor e orientar a justiça no continente sul-
americano e, numa escala maior, latino-americano em vista da
sua existência real, possível e com graus de certeza precisos.
Não se trata, em nenhum momento, de uma utopia abstrata
ou quimérica, mas concreta a qual expressa, principalmente, a
cultura de povos ancestrais que habitam, há séculos, as terras
da América do Sul.
Por esse motivo, percebe-se que a hipótese apresentada
no início deste estudo está confirmada porque é a cultura sul-
americana e o desejo de sua integração, afirmada pelo Tratado
Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas – UNASUL – que
se torna possível elaborar e exigir uma Cidadania comum aos
povos deste continente.
Essa (nova) atitude demanda reconhecimento de outros
seres que interferem – positivamente – na nossa manutenção
biopsíquica e rememoram que a Comunidade da Vida é plural.
O Homem participa na sua melhoria, mas deve respeitar
seu “tempo próprio”, ou seja, seus ciclos de reprodução,
regeneração, a sua singularidade estrutural, seus processos,
as suas funções, entre outros. É a partir dessa condição que
se enxerga a unicidade da expressão integridade ecológica da
Vida.
Esta América Latina, cujo passado é dominado pela
escravidão, violência e abusos contra tudo e todos, será capaz
de vencer a voracidade dos pseudo-sujeitos da atualidade e
assumir a UNASUL como a sua identidade e o território como a
sua casa comum? A resposta para essa indagação somente surge
com o estímulo e a viabilidade de mecanismos os quais insistam
nas responsabilidades comuns de cidadãos sul-americanos, os
Filosofia, Cidadania e Emancipação 191
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 191 06/11/2016 13:25:06
quais, a partir da Alteridade Ecosófica, incluam outros “atores”
nesse diálogo e se funde, de maneira perene, numa Ética da
Vida.
Referências
AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. O direito em busca de
sua humanidade: diálogos errantes. Curitiba: CRV, 2014.
BOFF, Leonardo. Ética da vida: a nova centralidade. Rio de
Janeiro: Record, 2009.
_____. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra.
15. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2008.
ESTERMANN, Josef. Ecosofía andina: Un paradigma alternativo
de convivencia cósmica y de Vivir Bien. FAIA - Revista de
Filosofía Afro-In do-Americana. España, VOL. II. N° IX-X. AÑO
2013.
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução de Maria Cristina
F. Bittencourt. Campinas, (SP): Papirus, 1990.
GUDYNAS, Eduardo. Cidadania ambiental e metas cidadanias
ecológicas. Revista de Desenvolvimento e Meio Ambiente,
Curitiba, Universidade Federal do Paraná – UFPR, n. 19, jan./
jun. 2009.
OLIVEIRA, Jelson; BORGES, Wilton. Ética de Gaia: ensaios de
ética socioambiental. São Paulo: Paulus, 2008.
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e
prática. 12. ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011.
PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique. La tercera generación de
derechos humanos. Cizur Menor (Navarra): Editorial Arazandi,
2006.
ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e
desenvolvimento sustentável. Passo Fundo: IMED, 2012.
192 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 192 06/11/2016 13:25:06
Filosofia, Cidadania e Emancipação 193
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 193 06/11/2016 13:25:06
Do mundo-da-vida à educação da
cidadania ativa
Anderson de Alencar Menezes
Introdução
O artigo parte de um pressuposto fundamental da
epistemologia habermasiana, a categoria de Mundo da Vida
(Lebenswelt) que na sua atribuição específica representa no
pensamento habermasiano o lugar da cultura, da arte, da
estética e principalmente da sedimentação de valores como a
cooperação e a solidariedade.
O nosso intuito fundamental é de reconhecer os
pressupostos da análise habermasiana no que tange a uma
possível leitura e interpretação das biografias educativas e da
possibilidade de uma educação não-escolar relidas a partir dos
parâmetros habermasianos.
De fato, o contexto não-escolar ou a ideia dominante
de território educativo pode nos ajudar a compreender outras
dimensões da teoria habermasiana aplicada ao contexto
educativo. O que nos faz recuperar a ideia de ator social dentro
deste prisma de interpretação de uma educação que prima pelo
esclarecimento e pela emancipação.
Mundo-da-Vida e Território Educativo: Uma Leitura
Habermasiana
O mundo-da-vida é um tema particular em Husserl, e que
é retomado por Habermas. Na acepção deste último, o mundo-
da-vida compreende a esfera da cultura e das relações pessoais
espontâneas que ocorrem cotidianamente entre as pessoas,
194 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 194 06/11/2016 13:25:06
Ele diz respeito àquela esfera das auto-
evidências, onde as pessoas se comunicam e
se entendem sobre algo no mundo (objetivo;
social ou subjetivo), sem a necessidade de
ter de pôr em questão os seus proferimentos
linguísticos (MUHL, 2003, p. 17).
O mundo-da-vida contém em seu interior a própria
educação, compreendida, em sentido amplo, como uma das
principais formas de expressão da cultura humana. O mundo-
da-vida, o educativo para além da escola, pode suscitar a
seguinte indagação: quais as condições de possibilidade para
que um ato educativo, por fazer parte do mundo-da-vida e
ser concebido como ato espontâneo e assistemático, possa
ser crítico e emancipatório? No contexto natural do problema
em questão, a pergunta seria: em que sentido o ato educativo
pode fazer frente à colonização do mundo-da-vida? O mundo-
da-vida é o âmbito por excelência da potencialização do agir
educativo e nele reside a possibilidade de resgatar o valor das
agências educativas enquanto produtoras de conhecimento e
de cultura.
Neste sentido, no mundo-da-vida está a realização da
razão comunicativa que bloqueia em sua forma e conteúdo,
as ações da razão estratégica. O educativo consolida-se no
mundo-da-vida, em que as relações se dão de uma forma livre e
isenta de dominação. O mundo da cultura, nos seus postulados,
trabalha de uma forma ímpar o ser humano em sua inteireza,
recuperando a dimensão simbólica que é a dimensaão mais
constitutiva e essencial da natureza humana. Conforme Pinto
(1996): “Os alunos devem descobrir, nos dramas históricos do
mundo-da-vida, escolarmente revividos, o sentido antropológico
das suas aprendizagens e a vocação solidária do seu estatuto
cívico” (p. 510).
Então, compreende-se que o mundo-da-vida é o espaço em
Filosofia, Cidadania e Emancipação 195
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 195 06/11/2016 13:25:06
que se pode sedimentar a educação para a sensibilidade frente
ao calculismo e infalibilismo da razão instrumental. Bem como
a educação para a solidariedade face à competição exacerbada
do mundo sistémico. E, pode também, naturalmente, numa
tendência cada vez mais crescente, substituir o instrumental
pelo simbólico. Este, aqui, entendido como cultura em um
sentido duplo: como, por um lado, auto-formação da espécie
humana e, por outro, como manifestação antropológica dos
gestos, signos e significados.
De fato, o mundo-da-vida, enquanto esfera educativa por
excelência, deve permear, no âmbito da sociedade civil, nichos
de debate e discussão em que a verdade, a autenticidade o
respeito e a cidadania devam nortear as ações dos indivíduos em
sociedade. Formar para a dimensão ética da vida humana, eis
o escopo do mundo-da-vida, enquanto espaço de socialização e
sedimentação da democracia e dos seus valores. Nesse sentido,
escreve Muhl (2003),
[...] o mundo-da-vida deve ser o referencial
prioritário do trabalho pedagógico, pois é
nele que a identidade da pessoa se constitui
e que se encontram os potenciais de
mudança social; ele é o destino comum dos
humanos e nele encontramos as explicações
para nossos problemas e as soluções para
os nossos conflitos; nele os indivíduos agem
interativamente e produzem valores e suas
identidades culturais (p. 288-289).
Na base fundamental do mundo-da-vida há um substrato
sólido de democracia. Cabe ao educativo, formado no âmbito
do mundo-da-vida, formar para a consciência cidadã, enquanto
engajamento: sócio-político, cultural e religioso. Compreende-
se que o mundo-da-vida se situa bem na complexidade da escola
da vida com todos os seus dramas, possibilidades e conquistas.
Neste sentido, as relações entre mundo-da-vida e
196 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 196 06/11/2016 13:25:06
território educativo têm uma explicação e uma relação que
gostaríamos de brevemente descrever. Segundo Matos (2002),
Talvez se possa dizer que falta ainda definir
o essencial, o que seja isso de território
educativo, não propriamente o âmbito
territorial coberto pela rede escolar local,
mas o território como referência simbólica
da ação, o espaço propriamente dito de
intervenção pedagógica, esse espaço sem
fronteiras que agora temos pela frente a
partir do momento em que o espaço escolar é
substituído pelo educativo. Esta substituição
do escolar pelo educativo parece uma coisa
de somenos importância e, todavia, reside
aí o principal quebra-cabeças do território
educativo (p. 101).
A partir das afirmações de Matos (2002), devemos salientar
a relação existente entre mundo-da-vida (Lebenswelt) e
território educativo, numa leitura habermasiana do educativo.
Esta relação é pautada por dois aspectos bem salientados
por Matos (2002): a de perceber o território como referência
simbólica da ação e a de compreender esse espaço sem
fronteiras que agora temos pela frente a partir do momento em
que o espaço escolar é substituído pelo educativo.
Para Canário (2006), podemos falar de duas lógicas de
territorialização educativa, a primeira, “do ponto de vista da
administração”, e, a segunda, “do ponto de vista dos atores
locais e dos projetos construídos” (p. 102). A primeira é
gestionária, ou seja, fundada na racionalização administrativa
do sistema escolar e cujos princípios estão orientados pelas
tônicas do sucesso e da eficácia. Na perspectiva habermasiana,
esta lógica gestionária se insere no que Habermas chama de
mundo-sistêmico, formado pelo mundo das empresas e dos
negócios, orientados por uma razão teleológica cujo fim último
Filosofia, Cidadania e Emancipação 197
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 197 06/11/2016 13:25:06
é a reprodução material da vida e da sociedade e cuja linguagem
é a do dinheiro e do poder. É a lógica do sistema vigente.
Já a segunda lógica de territorialização educativa se
enquadra na categoria habermasiana de mundo-da-vida, aludida
anteriormente. É como nos diz Canário (2006),
Do ponto de vista dos atores locais e dos
projetos construídos a partir da base,
a lógica é outra: está em questão a
geração de dinâmicas locais que permitam
reforçar a dependência da ação educativa
relativamente ao contexto, o que só é possível
se privilegiar, na ação educativa, o ponto de
vista e os saberes dos atores locais (crianças,
famílias, educadores, administradores).
Esta perspectiva implica romper com uma
visão desvalorizada das comunidades e
das crianças, geralmente presente nas
políticas oficiais e, ao contrário, privilegiar
a visibilidade dos pontos de vista de quem
aprende... Por outro lado, a superação
das modalidades históricas (e próprias)
da organização escolar é indispensável
em um processo de contextualização da
ação educativa, na medida em que só essa
superação poderá permitir a construção de
respostas adequadas à diversidade. Uma
outra concepção dos espaços escolares e
outra relação entre espaços escolares e não-
escolares, tal como a construção de outros
tempos e outros ritmos constitui a espinha
dorsal de projetos educativos orientados
para a contextualização (p. 102).
Nesta mesma perspectiva, Correia (1999), ao falar da
relação entre “escola e comunidade – da lógica da exterioridade
à lógica da interpelação”, apresenta uma relação imbricada
destas realidades no território educativo. A crítica se faz
ao tentar mostrar a relação de estranheza entre escola e
comunidade como duas realidades impermeáveis. Os apelos
198 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 198 06/11/2016 13:25:06
desta relação sublinham a emergência de certos paradigmas,
como o da exterioridade e da continuidade que se fundam em
modelos estadocêntricos regidos por uma certa concepção
funcionalista e mercadológica da escola e da educação. Estas
duas lógicas não conseguem articular os princípios de uma ação
comunicacional que prime pela lógica da interpelação, em que
a gestão das conflitualidades existentes tende a incorporar as
diferenças interpeladas pelo tecido sócio-educativo. A partir
da lógica da interpelação adquire especial relevo a ideia do
projeto e do ator. E neste contexto, afirma Correia (1999),
[...] que importa recriar as potencialidades
transformantes do projeto. Por um lado,
o projeto tende a deixar de ser pensado
no interior de uma lógica de planificação
que subentende que a ação educativa
é sempre uma intervenção de alguém
sobre outrem, para ser encarado como
um processo de recriação tanto da escola
como da comunidade; não se trata, nesta
perspectiva, de construir um projeto para
a comunidade, mas de produzir tanto a
Escola como a Comunidade no processo
de produção do projeto. Por outro lado,
o projeto tende a desferencializar-se da
atividade cognitivo-instrumental para se
pensar como uma atividade comunicacional
construída na gestão discursiva dos litígios, na
reabilitação da conversação e dos discursos
e ocupado com a construção do sentido.
O projeto educativo, neste paradigma da
interpelação sustentado num pensamento
reticular, constrói-se construindo um espaço
propenso ao desenvolvimento de uma
intertextualidade, construindo um espaço
polifônico que se ocupa da invenção da
cidadania e da construção do sentido da vida
(p.131).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 199
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 199 06/11/2016 13:25:06
Neste sentido, este espaço polifônico é poroso à
intertextualidade que se dá e se desenvolve no território
educativo e no âmbito de uma lógica discursiva, a qual tem como
ponto de partida a compreensão de uma educação não-escolar
na ótica dos princípios da razão comunicativa habermasiana.
A Construção Comunicativa de uma Educação Não-Escolar
Como pensar uma educação não-escolar a partir do mundo-
da-vida? Talvez, esta seja uma questão de fundo e que nos ajude
a compreender a importância de um discurso, dominante hoje,
sobre uma educação não-escolar que se manifesta de forma
cada vez mais real e concreta na ideia de cidade educadora. A
este respeito, nos diz Pinto (2004),
Tal é o incentivo que nos chega do
movimento das cidades educadoras.
Pela consciência dos seus agentes sociais
e, desde logo, dos políticos com poder
democrático de decisão – a cidade assume
o seu papel educativo em todas as sedes do
desenvolvimento comunitário. Alarga-se,
consequentemente, o conceito de educação.
Educação é formação de todos, em todas
as oportunidades e espaços do quotidiano,
ao longo de toda a vida. Emerge, assim,
a importância da educação não formal e
informal, com a subsequente relativização
da educação formal. A escola passa a ser
todo o território; a educação torna-se
efetivamente permanente: a educação para
uma vida cultural e socialmente multiativa
em qualquer fase do percurso da vida dos
indivíduos. Facilmente se advinham os
benefícios de uma estratégia de mobilização
municipal centrada nesta ideia holística de
cidade educadora (p.151-152).
Nesse sentido, pensar a educação não-escolar a partir
da escola significa apresentar o surgimento, a natureza e as
200 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 200 06/11/2016 13:25:06
finalidades desta e apresentar as possibilidades e os desafios de
se pensar a educação e o educativo indo-se além dos espaços
escolares. Agrada-nos muito a ideia de Matos (1999) sobre
as astúcias da razão escolar na sua obra, Teorias e Práticas
da Formação: contributos para a Reabilitação do trabalho
pedagógico. E principalmente quando este autor nos fala
da imagem da peripécia ao retomar a Poética de Aristóteles
para quem a peripécia se constituía como um recurso técnico
essencial ao efeito do trágico no teatro, no sentido de evento
inesperado.
É como nos diz Matos (1999),
Do ponto de vista das suas condições
de emergência, como fenômeno social
espontâneo, a peripécia, como “ato de
circular enquanto se conversa”, associado ao
“imprevisto”, parece, naturalmente, ligado
à existência dum acontecimento marcante
que afeta as expectativas normalizadas dos
sujeitos relativamente à ordem natural,
social ou moral, determinando doravante
uma relação problemática e intrigada, com
essa ordem, até que seja encontrada uma
explicação para o acontecimento. Pode
acontecer que essa explicação ocorra,
apenas, em consequência dos efeitos
catárticos, produzidos pela conversa
em comum, mercê a exteriorização/
interiorização de argumentos pró e contra,
que são intersubjetivamente atuantes,
criando uma ordem de persuasão psicológica
mais forte que aquela que já existia, antes
de serem postos à prova os operadores
simbólicos socialmente disponíveis. Neste
caso, não se produziu necessariamente
um novo conhecimento, mas reforçou-
se a eficácia do senso comum... Nesta
perspectiva, peripécia corresponde às ‘voltas
que o discurso dá’, ou, mais exatamente, as
‘voltas que o discurso faz dar’, o que se deve
Filosofia, Cidadania e Emancipação 201
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 201 06/11/2016 13:25:06
entender como significando a construção da
realidade pelo discurso (p.105-107).
Como o nosso propósito é o de pensar o educativo indo
além da escola, isso significa dizer que não estamos defendendo
uma sociedade sem escolas1, como o fazia Illich (1973), que
propunha uma radical desescolarização da sociedade. A nossa
perspectiva ao defender o não-escolar não se opõe à ideia de
uma educação escolarizada. O fato é que ao pensar a escola, a
percebemos como um dos territórios da ação educativa, pois, a
escola não deve se transformar no lócus monopolizador de toda
ação educativa. Cada vez mais, a escola está se tornando muito
mais vulnerável, sobretudo com o advento da modernidade
e da predominância de um discurso excessivamente
mercantilizante. Para Bourdieu e Passeron (1995), e no que
se refere especificamente à crítica que nos parece ainda bem
atual destes autores e que aqui destacamos, não obstante a
data original desta obra ser o ano de 1970, a escola assumiu
uma feição reprodutora das desigualdades sociais servindo de
reprodução ideológica de uma elite dominante.
A crise pela qual vem passando a educação escolarizada
se insere num contexto maior da sociedade. A escola precisa
dialogar com os vários segmentos da sociedade, pois ela tem se
tornado obsoleta, deixando de cumprir o seu papel de formar
1 A maior parte dos nossos conhecimentos adquirimo-los fora da escola. Os
alunos realizam a maior parte de sua aprendizagem sem os, ou muitas vezes,
apesar dos professores. Mais trágico ainda é o fato de que a maioria das
pessoas recebe o ensino da escola, sem nunca ir à escola. Todos aprendemos a
como viver sem o auxílio da escola, sem nunca ir à escola. Todos aprendemos
o como viver sem o auxílio da escola. Aprendemos a falar, pensar, amar, sentir,
brincar, praguejar, fazer política e trabalhar sem interferência de professor
algum... Metade dos habitantes desse planeta jamais colocou os pés numa
escola... Os alunos nunca atribuíram aos professores o que aprenderam. Tanto
os mais brilhantes quanto os mais bobos sempre confiaram na sorte, leitura
e esperteza para passar nos exames, motivados pela vara ou pelo desejo de
fazer carreira (ILLICH, 1973, p. 62-63).
202 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 202 06/11/2016 13:25:06
para a cidadania ativa os seus alunos e professores.
A escola está em crise porque assumiu o instrucionismo
como mola-mestra do ato educativo em detrimento do ensinar,
e muito mais ainda do formar. A ausência de sentido do
trabalho escolar é o mais agravante neste contexto, tanto para
os professores como para os alunos. É como nos diz Canário
(2006),
A grande questão, presente nas escolas, é a
ausência de sentido para o trabalho escolar,
não só para os alunos, mas também para
os professores. Este é o caráter essencial
da crise de legitimidade da instituição
escolar. A inserção social das atividades
escolares em uma realidade territorial que
transcenda as fronteiras escolares constitui
um aspecto decisivo para esta construção de
sentido. É por isto que se torna importante
saber muito bem o significado do conceito
de território que utilizamos, sobretudo de
‘território educativo’, não o confundindo
nem o reduzindo a um ‘território escolar’
(p. 100).
A educação não-escolar surge no contexto do
desenvolvimento da concepção de território educativo. Matos
(2002), chama de Cidade Convivial, e Correia, de Polis Educativa
(1998). Este, ao situar a questão da escola e nos pôr no âmago
da questão, a concebia como uma cidade a construir, em que o
problema passa a ser a discussão da gestão da conflitualidade
entre o escolar e o não-escolar. O fato é que, como este autor
nos diz: “a escola é regida atualmente por uma lógica da
eficácia baseada na racionalidade sistêmica, cuja pretensão
é a de substituir o princípio de justiça educativa presente no
âmbito do território educativo”. Neste sentido, ainda Correia
na mesma obra,
A questão da cidadania coloca-se, pois, no
Filosofia, Cidadania e Emancipação 203
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 203 06/11/2016 13:25:06
centro do modelo estratégico global sem
que ele forneça uma razão tecnicamente
imperativa para optar entre as diferentes
alternativas formuladas. O que este modelo
nos permite é dar visibilidade à ideia de que
a crise de uma concepção de escolarização
legitimada por um modelo de justificação
simples, onde o princípio da igualdade de
oportunidades é único referente acionado na
identificação dos problemas e na justificação
das soluções, não exige que a escola
substitua este princípio de justiça pela lógica
da eficácia, mas, antes, que o integre num
sistema complexo de justificação múltipla
onde coexistem vários princípios de justiça
(p. 139).
Neste sentido, precisamos recontextualizar e reconfigurar
o sentido da ação educativa que não se esgota numa racionalidade
técnica, mas apela para opções de natureza ética, cívica e
política.
Por uma Educação Não-Escolar: Entre as Biografias Educativas
e a Revalorização Epistemológica da Experiência
O mundo-da-vida (Lebenswelt) é um âmbito fundamental
para que a educação não-escolar possa se desenvolver em
sintonia com uma razão mais ampla e, portanto, mais complexa.
Com a crise da educação escolarizada em seus moldes
atuais, a educação não-escolar aparece em cena de uma forma
notável. O fato é que a educação não-escolar vai recuperar dois
âmbitos fundamentais de toda a experiência humana: primeiro,
ela retoma a pessoa na sua subjetividade e significação
(biografias educativas) e, segundo, retoma, a experiência como
episteme. Ora, a escola sempre teve dificuldades institucionais
em lidar com a pessoa e com as suas experiências. As barreiras
criadas por uma educação escolar em relação às experiências
que os indivíduos trazem à escola eram, em nome de uma
204 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 204 06/11/2016 13:25:06
perspectiva positivista, objetiva e neutra.
Neste sentido, a educação não-escolar oferece uma
dupla contribuição para a formação dos percursos educativos
dos sujeitos envolvidos em seus processos. Primeiramente,
podemos falar de uma retomada das biografias educativas,
e, neste sentido, gostaria de citar Josso (2002), em sua obra,
sobre: Experiências de Vida e Formação. E, em um segundo
momento, falar de uma revalorização epistemológica da
experiência. No meu modo de entender, nestes dois pressupostos
epistemológicos encontram-se a grande guinada e reviravolta
operada pela educação não-escolar.
No primeiro pressuposto, a questão-chave é a redescoberta
do recurso crescente às biografias educativas. Nas palavras de
Josso (2002),
A temporalidade biográfica é aqui
aproximada, tal como ela se deixa ver nas
histórias de vida contadas sob o ângulo de
questões tais como: Como me tornei no
que sou?; Como acontece que penso o que
penso?; E como é que aprendi o que creio
saber, saber-fazer, saber-ser e saber-pensar?
A avaliação do que há a fazer consigo mesmo,
com os outros, com as coisas e com o seu
meio natural deve poder comparar um antes
e um depois, para fazer emergir os indícios
de um resultado da ação ou da atividade.
À escala de uma vida, a avaliação mobiliza
todas as projeções e simbolizações de que
somos portadores. O fato de me referir a
uma cosmogonia teísta ou não teísta torna a
minha disponibilidade para a aprendizagem
e para a mudança mais ameaçadora quando
as ideias, os conceitos, as práticas com as
quais a atividade educativa me confronta,
contradizem, de todo ou em parte, esta
cosmogonia. Nós somos habitados por
mitos, inconsciente estrutural, dirão uns,
Filosofia, Cidadania e Emancipação 205
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 205 06/11/2016 13:25:07
inconsciente arquetípico, dirão outros (p.
154-155).
É interessante notar como o saber biográfico é um
contributo fundamental e essencial para os dispositivos de
formação. Seria, neste sentido, a formação centrada nas histórias
de vida. Este enfoque muda toda a compreensão dos processos
educativos que desloca o ensinar e põe em relevo o aprender
(sujeito aprendente). Ou seja, o sujeito da autopoiesis, em que
a criatividade e a inventividade ocupam um lugar de destaque
no espaço da investigação-formação. O sujeito como autor e
ator de sua própria formação.
O saber biográfico tem uma relevância no processo de
formação quando restitui ao campo educativo a complexidade
de uma formação que passa, primeiro, e, sobretudo, pela
formação e constituição da subjetividade. De fato, o saber
biográfico, aqui citando Dominicé (1996), é um dispositivo
formativo que permite-nos alterar a realidade do tempo que
não se exaure numa temporalidade formal e institucional
circunscrita pelos espaços instituídos mas que nos põe em
contato com temporalidades que invocam outros ritmos e
outras adaptações, como também a exigência de novos desafios
e experiências centradas no sujeito entendido como autor e
ator de sua aprendizagem.
Portanto, para Dominicé (1996) a biografia não é uma
autobiografia, pois o pesquisador exige de seus interlocutores
que estes reconstruam seu percurso de vida segundo uma direção
que ele considera decisiva em relação a sua pesquisa. Neste
sentido, uma biografia recontada é uma biografia educativa.
Neste sentido, podemos falar de uma revalorização
epistemológica da experiência a partir de três níveis
fundamentais: 1) da emergência da pessoa como sujeito de
sua própria formação; 2) da diversidade de modalidades de
206 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 206 06/11/2016 13:25:07
aprendizagem e 3) dos diferentes graus de formalização da
ação educativa.
Quanto ao primeiro nível, o da emergência da pessoa como
sujeito de sua própria formação, deve-se notar um aspecto
fundamental que é o de acentuar a formação como construção
de si e de sentido.
O grande problema da educação escolar é justamente
fazer com que os seus atores descubram o sentido do
trabalho escolar. Aqui, com a revalorização epistemológica
da experiência, o sujeito se autocompreende de modo ativo,
em que o aprender se constitui como uma figura-chave no seu
processo de desenvolvimento. Este processo implica construção
da liberdade do sujeito que aprende sabendo que a construção
de si e daqueles outros envolvidos no processo é uma arte.
Neste âmbito, adquire significatividade o aprender em
detrimento do ensinar e até mesmo do saber, entendido como
saber-objeto. O aprender evoca outras tantas experiências
significativas na vida do sujeito que fundamentalmente,
se constróem fora do âmbito escolar. É, justamente, nesta
percepção que as experiências de vida ou os percursos
das histórias de vida ganham significatividade. Ou seja, a
experiência se constitui em aprendizagem quando se dá na
escola, mas, fundamentalmente adquire relevância quando se
dá fora do âmbito escolar. Daí a revalorização epistemológica
da experiência. Nesta perspectiva, é científico não só o que se
ensina na escola, mas, sobretudo, o que se aprende no mundo
não-escolar, ou melhor, dizendo, no mundo-da-vida.
O segundo nível diz respeito à diversidade de modalidades
de aprendizagem, que se dá em três âmbitos: autoformação,
heteroformação e ecoformação. Na autoformação, que é o
trabalho que o sujeito exerce sobre si mesmo, entendemos que
todo o processo formativo é um processo de autoconstrução
Filosofia, Cidadania e Emancipação 207
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 207 06/11/2016 13:25:07
da pessoa ao longo da vida. Neste sentido, a educação não-
escolar, por revalorizar as figuras do aprender, põe em relevo
as experiências de vida que o sujeito faz em sua trajetória
existencial. No segundo âmbito, fala-se de um processo
denominado de heteroformação, que é o modelo da interação
social. Neste âmbito, a educação não-escolar reforça um aspecto
fundamental para o processo educativo em que a educação é
eminentemente socialização de ideias, de sentimentos, de
frustrações, de ideais. A educação é essencialmente relação e
intersubjetivação de nossas intenções e desejos. No terceiro
âmbito, no da ecoformação, deve-se sublinhar o papel
da educação não-escolar no território, pois todo processo
educativo se dá num contexto, ou seja, no ambiente em
que está inserida. Aqui, ao nosso modo de ver, está a maior
contribuição da educação não-escolar, pois nos faz perceber
que para a educação não há fronteiras, sejam elas: físicas,
psíquicas, culturais e territoriais.
No terceiro nível, ao falar de uma educação formal, tipo de
educação, dispensada pelas escolas podemos, fazê-lo, a partir
de diferentes graus de formalização da ação educativa. Uma
outra, designada como educação não-formal e caracterizada
pela flexibilidade dos horários, dos programas e dos locais, tem
por base o voluntariado. E, por fim, uma educação informal
fundada mais na autoformação e na ecoformação. Neste
sentido, a educação informal se insere no processo amplo e
difuso de socialização.
A Emancipação como Categoria-Chave para a Interpretação
do Mundo Educativo na Contemporaneidade
A “emancipação” tornou-se uma categoria de
interpretação para entender o papel das instâncias e dos atores
educativos na contemporaneidade. É evidente que a exigência
de emancipação, numa democracia, deve ser um imperativo.
208 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 208 06/11/2016 13:25:07
Neste sentido, a postulação de uma sociedade esclarecida terá
como requisito fundamental a construção de um espaço público,
em que se possa sedimentar a cidadania ativa e a autonomia
dos sujeitos em sociedade. É o que nos diz Adorno (1995),
Para precisar a questão, gostaria de remeter
ao início do breve ensaio de Kant intitulado,
resposta à pergunta: o que é esclarecimento?
Ali, ele define a menoridade ou tutela
e, deste modo, também a emancipação,
afirmando que este estado de menoridade é
auto-inculpável, quando sua causa não é a
falta de decisão e de coragem de servir-se do
entendimento sem a orientação de outrem.
Esclarecimento é a saída dos homens de sua
auto-inculpável menoridade ( p. 169).
Na contemporaneidade, deve-se notar as fortes
tendências de “irracionalismos” e os “subjetivismos” que
assolam a compreensão do homem atual, fadando-o a fracassar
no seu projeto humano. A emancipação, como fruto de uma
pedagogia crítica, visa a formação de cidadãos que incidam no
Estado mediante a participação nas várias representações da
sociedade civil.
Todavia, o clima cultural hodierno é adverso à
emancipação. Neste sentido, como já notamos, a escola e outras
agências educativas tornaram-se instâncias reprodutoras de
sujeitos débeis, e, psicologicamente frustrados na expectativa
de um futuro mais promissor. É neste contexto singular que
confirmamos o que diz Pinto (1996),
O objetivo pedagógico da escola (numa
acepção normativa da pedagogia) é formar
o cidadão-humano mediante um processo
de ensino-aprendizagem esclarecido.
E tal implica que, no mesmo processo,
Filosofia, Cidadania e Emancipação 209
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 209 06/11/2016 13:25:07
o conhecimento seja aprendido com
a compreensão da sua dupla validade
técnica e emancipatória para o mundo
histórico-social da vida. Se não for assim,
contrariando o cognitivismo puro do ensino
tradicional, estará a realizar-se na escola o
reducionismo funcional do saber que Edgar
Morin diz verificar-se no interior das próprias
ciências submetidas ao princípio da abolição
do sujeito da epistemologia Analítica: o
saber já não é para ser pensado, refletido,
meditado, discutido, por seres humanos
para esclarecer a sua visão do mundo e a
sua ação no mundo, mas é produzido para
ser armazenado em bancos de dados, e,
manipulado por poderes anônimos, citando
Edgar Morin na sua obra ‘Ciência com
Consciência’ (p. 498-499).
Na leitura habermasiana do conceito de Emancipação
aplicado às instâncias e aos atores da educação, adquire
especial relevo o tema da formação para a emancipação, o
qual engloba a prática educativa no interior da sala de aula,
perpassando a discussão do desenho curricular e do conteúdo
programático, até às organizações sociais tais como partidos
políticos, sindicatos, ONGs etc.
No âmbito, estritamente escolar, no dizer de Pinto (1996),
cabe então:
À escola, na sua função própria, na situação
ideal de imunidade a intenções espúrias,
ser uma instituição subversiva: educa para
a mudança no sentido do progresso. É o que
tinha em mente Kant quanto, dirigindo-se
aos homens que fazem planos de educação,
observa que os jovens devem ser educados
em vista do futuro – um futuro possível
e melhor – e não do presente. A educação
é imanentemente progressiva e não
conservadora (p. 511).
210 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 210 06/11/2016 13:25:07
É nesse sentido e perspectiva que gostaríamos de que
este nosso estudo, cujo título é “Educação e Emancipação:
uma leitura crítico-reconstrutiva em Jürgen Habermas” fosse
compreendido. Pois aqui procuramos tocar nos elementos
fundamentais daquilo que nos propomos discutir no âmbito
do pensamento habermasiano. De fato, problematizamos, ao
longo deste itinerário, a relação porosa entre o escolar e o não-
escolar, sendo estas noções relidas à luz dos princípios da teoria
do agir comunicativo que propõe a construção de sujeitos mais
autoconscientes de sua tarefa no mundo, ao mesmo tempo em
que promove sujeitos éticos e comprometidos, com a construção
da cidadania, fruto de uma pedagogia de inspiração crítico-
emancipadora.
Considerações finais
A intuição habermasiana centra-se numa epistemologia da
comunicação, em que a razão não pode ser reduzida aos meros
mecanismos da técnica e da ciência.
O conceito de Emancipação aplicado ao tema educacional
foi o tema gerador do presente estudo. De fato, tentamos aqui
perceber como a epistemologia e a metodologia da teoria do
agir comunicativo podiam interagir com os espaços educativos,
sejam eles escolares ou não. A postulação aqui de um diálogo
entre filosofia e educação foi o que resultou na discussão
das teses do pensador alemão para o âmbito educativo na
contemporaneidade.
Neste sentido, Habermas não trata de temas educacionais
de forma direta, mas o seu postulado teórico-metodológico
pode servir e tem servido de base e fundamento para as teorias
educacionais na contemporaneidade.
Os horizontes educativos, relidos à luz da teoria do agir
Filosofia, Cidadania e Emancipação 211
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 211 06/11/2016 13:25:07
comunicativo, trouxeram algumas inquietações fundamentais,
principalmente, na relação estabelecida entre território
educativo e mundo-da-vida e a perspectiva de construção e a
efetivação de uma ação comunicativa fora do âmbito escolar,
mas, também, percebida como implícita nele.
O presente estudo se inscreve como uma colaboração,
a partir de uma epistemologia construtivista, com a qual
procuro apresentar, de forma crítica para o âmbito educativo,
os desdobramentos, encaminhamentos e problematizações do
agir comunicativo habermasiano. Não se trata de “concluir”,
portanto, mas de apresentar vias de discussão numa sociedade
tão marcadamente autoritária; principalmente, quando se
trata de educação, política e cidadania, como ainda é o caso,
infelizmente, do país em que vivo.
Referências
ADORNO, Theodor. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1995.
CANÁRIO, Rui. A Escola tem Futuro? Das promessas às incertezas.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
CORREIA, José Alberto. Para uma Teoria Crítica em Educação.
Portugal: Porto Editora, 1998.
______. “Relações entre a Escola e a Comunidade: da lógica
da exterioridade à lógica da interpelação”, Aprender, 22,
PortoAlegre, 1999, pp. 129-134.
DOMINICE, Pierre. L’Histoire de Vie comme Processus de
Formation. Paris: L’Harmattan, 1996.
ILLICH, Ivan. Sociedade sem Escolas. Rio de Janeiro: Vozes,
1973.
212 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 212 06/11/2016 13:25:07
JOSSO, Marie-Christine. Experiências de Vida e Formação.
Lisboa: Educa, 2002.
MATOS, Manuel. Por falar em formação centrada na escola.
Porto: Profedições, 2002.
MUHL, Eldon. Habermas e a educação: ação pedagógica como
agir comunicativo. Passo Fundo: UPF, 2003.
PINTO, Fernando Cabral. A Formação Humana no Projeto da
Humanidade. Porto: Instituto Piaget, 1996.
______. Cidadania, sistema educativo e cidade educadora.
Lisboa: Instituto Piaget, 2004.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 213
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 213 06/11/2016 13:25:07
Formar o Cidadão: sociedade civil,
cidadania e educação nas Linhas
Fundamentais da Filosofia do Direito de G.
W. F. Hegel
Marcos Fábio Alexandre Nicolau
Sobre as dimensões da formação cultural hegeliana
Ao refletir sobre o processo de formação cultural
(Bildung)1, Hegel o compreendeu tanto como uma libertação
quanto como o próprio trabalho de libertação, ou seja, ele é
uma ação libertadora, expressão máxima do requerido “dever
para consigo” (HEGEL, 1989, p. 310 [§41]) que possibilita
ao indivíduo a liberdade, pois o capacita a atuar de acordo
com princípios cada vez mais universais. Nesse momento do
desenvolvimento do espírito em suas Linhas Fundamentais da
Filosofia do Direito, o filósofo ensina, ao menos formalmente,
a subordinar o interesse particular ao bem universal. Esse
ensino dá-se a partir de uma dimensão teórica e uma dimensão
prática.
No entanto, Hegel não propõe uma formação teórica
restrita ao mero acúmulo de informações, pois não é “coisa
1 Dentre as proposta de tradução ao complexo termo alemão, a de Suarez
(2005, p. 192) surge como uma das que mais se aproxima ao significado
evocado por essa ideia, ao preferir a terminologia Formação Cultural às
demais traduções para a língua portuguesa – Meneses também optou por
essa expressão no decorrer do Prefácio à sua tradução da Fenomenologia do
Espírito (2002). Traduzir a Bildung pela expressão Formação Cultural é uma
proposta que garante sua complexidade, pois é revestida por um significado
duplo, a saber: o ideal pedagógico formativo assentado em solo institucional,
cultural, e o ideal de um autocultivo, não necessariamente atrelado a uma
instituição formativa.
214 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 214 06/11/2016 13:25:07
de memória”, mas sim o desenvolvimento da capacidade
de apreensão da estrutura complexa da formulação,
compreensão e comunicação dos processos de sua produção.
A formação cultural capacita o indivíduo a “mover-se” entre
as representações e a formulação das mesmas. Tal capacidade
teórica está intrinsecamente relacionada à linguagem:
“capacidade de descrever o mundo em conceitos” (HEGEL,
2010, p. 197 [§197]), possibilitando captar na sociedade civil-
burguesa níveis cada vez mais complexos de sociabilidade,
a partir do desenvolvimento da produção, do mercado e do
consumo. Evidencia-se a necessidade de criar uma linguagem
que dê conta dessa complexidade e apreenda as “vinculações
emaranhadas e universais” da realidade socioeconômica.
Por sua vez, a dimensão prática desse processo
[...] consiste no carecimento que se produz
e no hábito da ocupação em geral, em
seguida, na delimitação de seu atuar, em
parte, segundo a natureza do material, mas,
em parte, sobretudo segundo o arbítrio dos
outros, e ela consiste num hábito que se
adquire por essa disciplina de ter a atividade
objetiva e habilidade válida universalmente
(HEGEL, 2010, p. 197 [§197])
Essa dimensão prática visa aperfeiçoar a ação laboral
em suas habilidades produtivas e técnicas no indivíduo em
formação, de maneira que as mesmas tornem-se hábitos na vida
dos indivíduos. Por meio dessa formação prática novas formas
de transformar a natureza em produtos de âmbito social são
desenvolvidas, capacitando os membros da sociedade a suprir
cada vez mais eficientemente seus carecimentos.
Mas essa formação prática também implica na “delimitação
de seu atuar”, seja em sua relação com a natureza, seja com
outros arbítrios, ou seja, outros indivíduos. Curiosamente
Filosofia, Cidadania e Emancipação 215
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 215 06/11/2016 13:25:07
é possível depreender uma dimensão ética que vá além da
relação entre os indivíduos, mas que se estende à relação
homem-natureza, configurando um principio ético-ecológico
nessa dimensão prática, pois, se na esfera da moralidade tudo
estava delimitado a consciência subjetiva, agora na eticidade o
indivíduo deve considerar a natureza em sua faticidade, além
do conjunto de consciências históricas que o defronta com seus
arbítrios e carecimentos. Por isso, o filósofo alemão considera
essa formação como um “hábito que se adquire”, ou seja, uma
formação para vida cotidiana, na qual o indivíduo deverá estar
preparado para tomar uma série de decisões que não devem
considerar apenas sua satisfação, mas as condições materiais
para tal e as implicações que terá na vida coletiva.
No entanto, a formação cultural não gera igualdade
absoluta, na verdade, ela é “universal”, no sentido de
ser ofertada a todos, mas não “igual”, no sentido de ser
experienciada e desenvolvida da mesma forma por todos.
Há uma “desigualdade do patrimônio e das habilidades dos
indivíduos” (HEGEL, 2010, p. 198 [§200]) que delimita a
participação no desenvolver e usufruir do patrimônio universal.
Por isso, a formação cultural não é garantia de igualdade
dentre os membros da sociedade, mas de conscientização e
organização social. Os indivíduos, em sua contingência, deverão
cultivar as habilidades e produzir seus patrimônios particulares
como forma de participar do patrimônio universal. Haveria
uma “desigualdade entre os homens posta pela natureza”, ou
seja, um elemento da desigualdade, que é produzido a partir
do próprio desenvolvimento do espírito. Essa desigualdade é
elevada pela razão, que, não se pode esquecer, é imanente
ao sistema dos carecimentos, até uma diferenciação entre
as habilidades, os patrimônios particulares, e mesmo entre a
educação intelectual e moral dos indivíduos. O que justificaria
uma diferença de estamentos ou classes sociais na sociedade
216 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 216 06/11/2016 13:25:07
civil-burguesa, assim como a divisão e organização do trabalho,
o que não será aprofundado aqui2.
Direito, lei e cidadania
Seguindo a estrutura proposta por sua Filosofia do Direito,
ao fim do sistema dos carecimentos o indivíduo, através de
sua atividade, sua diligência e habilidade, torna-se membro
de um dos estamentos sociais e adquire o reconhecimento dos
demais membros. Através dessa retidão e honra do estamento,
o indivíduo goza de um direito a propriedade, oriundo da
universalidade da liberdade abstrata (cf. HEGEL, 2010, p.
203 [§208]). Depreende-se daí a necessidade de proteger a
propriedade adquirida pelo indivíduo através de sua atividade
laboral, o que inicia um novo momento da sociedade civil-
burguesa: a Administração do Direito.
Nesse momento da eticidade, interessa saber que é a
formação cultural que dá ao direito sua efetividade, na medida
em que estabelece o “elemento relativo”, ou seja, a relação
recíproca entre os carecimentos e o trabalho. O direito abstrato
foi o começo, ainda não justificado, nem determinado, do reino
do direito ou da liberdade, isso porque lhe faltava tornar a ideia
do direito algo reconhecido, sabido e querido universalmente.
O que somente pode ocorrer através da formação cultural, pois
somente o indivíduo formado, ciente do que o direito é, poderá
2 Hegel dividira os estamentos, segundo o conceito, em: a) o
estamento substancial ou imediato, representado pela agricultura e
pela relação familiar, voltada para subsistência e formação básica –
cultural e religiosa; b) o estamento reflexivo ou formal, representado
pela indústria, pois está relacionado às relações sócio-econômicas
geradas pelo trabalho reflexivo e material, motivo pelo qual engendra
os estamentos do artesanato, dos fabricantes e do comércio; e por fim
c) o estamento universal, que “tem por sua ocupação os interesses
universais da situação social” (HEGEL, 2010, p. 201 [§205]), ou seja,
os funcionários públicos, que trabalham pelo universal.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 217
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 217 06/11/2016 13:25:07
desejá-lo (HEGEL, 2010, p. 203 [§209])
O direito exige a submissão ao dever, isso já fora analisado
como sendo um princípio a ser interiorizado nos indivíduos em
sua formação. Nessa perspectiva, o texto hegeliano enfatiza
que o indivíduo, essa pessoa concreta, ao reconhecer-se
como detentor de um direito a propriedade, deve aprender
a reconhecer no outro seu igual, inclusive quanto a esse
direito. Esse princípio é fundamental para assegurar a vida em
sociedade, e implica proteger a propriedade privada. Por isso
deve ser um dos conteúdos a ser desenvolvidos pela formação
cultural, sendo a compreensão e o assumir desse princípio
proporcionados pelo “pensar como consciência do singular na
forma da universalidade” (HEGEL, 2010, p. 203 [§209, nota]),
que o filósofo depreende do processo de formação.
Cabe a essa formação conscientizar o indivíduo de que
o direito está fundado sob o conceito de homem enquanto
“pessoa universal”. Todos os indivíduos devem ser conduzidos
à compreensão de que há uma identidade universal entre os
homens, que perpassa suas diferenças. Entretanto, para que
isso ocorra, primeiramente, o filósofo teve que formular em
que os homens são iguais, já que anteriormente demonstrou
a natural desigualdade entre os mesmos, inclusive no próprio
desenvolvimento educacional. Nesse sentido, a afirmação: “O
homem vale assim, porque ele é homem”, busca justificar o
conteúdo universal que a ideia do direito carrega em si.
Somente após essa conscientização o direito passa a existir
na vida das pessoas, podendo ser conhecido e administrado
(cf. HEGEL, 2010, p. 208 [§215]). Pois essa “consciência de
importância infinita” dá ao direito sua existência histórica
e social, objetivando-o para que seja posteriormente
administrado. Nunca se pode esquecer que a formação cultural
capacita o indivíduo para que compreenda o mundo como ele é,
218 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 218 06/11/2016 13:25:07
e assim possa intervir conscientemente no mesmo, exercendo
sua cidadania. Ser consciente da ideia de direito é condição
para realizá-la no mundo3, sendo a realização do direito o ser-aí
da vontade livre (Dasein der Freiheit) (cf. HEGEL, 2010, p. 72
[§29]). Esse é mais um passo rumo à efetivação dos ideais da
formação cultural hegeliana na ideia do Estado.
Hegel não quer defender um cosmopolitismo como o fez
Kant, que desconsiderou, segundo seu parecer, as contradições
existentes na “vida concreta do Estado” (HEGEL, 2010, p.
203 [§209, nota]). Esse discurso cosmopolita sobre o universal
é insuficiente no parecer de Hegel, pois desconsidera a
historicidade imanente ao sistema sócio-jurídico a ser erigido
na proteção da propriedade.
Dada à existência do direito, cabe saber como administrá-
lo. E, como o direito é o ser-aí da liberdade, sua atuação deve
fornecer as condições necessárias para a efetivação dessa
liberdade. Anteriormente, já fora anunciado que a liberdade
está intrinsecamente relacionada com a responsabilidade,
pois a consolidação de minha vontade está diretamente
3 Cabe lembrar que “o sistema do direito é o reino da liberdade
efetivada” (HEGEL, 2010, p. 56 [§4]), justamente porque implica
nessa formação das consciências para o exercer da ideia do direito,
e não apenas da ciência positiva do direito. A essa Hegel já tecera
suas críticas: “Aliás, a ciência positiva do direito não tem muito a
fazer com essa definição, pois essa visa principalmente indicar o que
é o direito, isto é, quais são as determinações legais particulares,
razão pela qual se dizia em maneira de advertência: onminis
definitio in jure civili periculosa [em direito civil, toda definição é
perigosa]. E, de fato, quanto mais as determinações de um direito são
incoerentes e contraditórias dentro de si, tanto menos são possíveis
ali as definições, pois essas devem antes conter as determinações
universais, as quais tornam imediatamente visível, em sua nudez, o
que há ali de contraditório, aqui, o ilícito.” (HEGEL, 2010, p. 48 [§4,
nota])
Filosofia, Cidadania e Emancipação 219
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 219 06/11/2016 13:25:07
relacionada com a consolidação da vontade dos outros, ou seja,
há um princípio de sociabilidade a ser considerado. Disciplinar
essa relação é uma das tarefas da formação cultural, o que
objetivamente ocorre a partir da lei (cf. HEGEL, 2010, p.
206 [§212])4, que garante as conquistas do indivíduo ao
institucionalizar o direito. Segundo Novelli (2009, p. 115), a
“lei aparece aqui como tal expressão que não se basta como
expediente regulador, mas que precisa mostrar a todos como
preservar um valor da organização social”.
Somente o homem age disciplinado por um princípio
racional historicizado, sendo sua ação dotada de um sentido.
Não é apenas o instinto [“o que”] que determina a ação humana,
mas os motivos racionais [“porque”] que o levam a agir no
mundo [“como”]. Isso não significa que há um princípio social,
ou mesmo moral, a priori que deve ser apreendido, mas que as
ações dos indivíduos devem ser compreendidas e realizadas de
forma consciente. Cabe salientar que, para Hegel, esse princípio
não é algo a ser formulado teoricamente, mas apreendido nas
próprias ações humanas, ou seja, nos hábitos, pois não expressa
algo que deve ser (futuro), mas que é (presente). Quanto a isso,
Hegel é explícito: “as leis vigentes numa nação, por terem sido
escritas e compiladas, não cessam de ser seus hábitos” (HEGEL,
2010, p. 204 [§211, nota]). Por isso o homem deve receber uma
formação que desenvolva essa capacidade de compreensão,
somente assim assumirá as leis para-si.5 Essa capacidade
4 O que Jaeschke resumiu nos seguintes termos: “O conceito de direito
é a unificação de minha vontade livre com outras vontades livres sob
uma lei. O conceito de vontade livre não é o de uma vontade isolada,
mas sim o de uma vontade, que, unificada sob a lei da liberdade, é de
todos aqueles que gozam do direito.” (JAESCHKE, 2004, p. 37)
5 O que aparentemente está em consonância com a proposta de Kant,
quando afirma que um homem não obedece a nenhuma lei que não
seja estabelecida por ele mesmo. Sendo a lei um produto da razão,
e o homem um ser racional, acataria a lei simplesmente porque é
220 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 220 06/11/2016 13:25:07
de racionalizar sua ação possibilita analisar as leis que a regem,
distinguindo-o dos demais animais.
Não se pode compreender a lei como algo externo a ação
humana, ou seja, um princípio regulativo que se aplica a ação
após sua ocorrência, a fim de determiná-la boa ou ruim. Pensar
dessa forma implica em uma separação entre lei e ação, ou
seja, entre forma e conteúdo, o que para Hegel é um erro. Na
verdade, não há diferença entre as leis e os hábitos, ou melhor,
a lei não é meramente algo escrito, como palavra morta a ser
consultada em caso de uma infração e mero critério teórico
para execução de uma pena, mas a descrição de ações efetivas,
ou seja, ações históricas que possuem desdobramentos,
circunstâncias e consequências: experiências virtuosas – que
devem ser motivadas –, e experiências viciadas – que devem ser
coibidas (cf. HEGEL, 2010, p. 206 [§212, nota])6.
Ao criar uma lei que coíbe ingerir bebidas alcoólicas e
em seguida dirigir um veículo automotivo, não estamos apenas
presumindo que a bebida influenciará os reflexos do motorista
lei, ou seja, porque é racional. Com isso Kant busca demonstrar
que a justificação de uma ação não está em seus resultados ou
consequências, eles não podem ser o fundamento de uma lei. Assim,
a base do direito deve ser obedecer à lei pela lei, e não por causa
de suas consequências. Isso não ocorre na proposta hegeliana, que
considera os desdobramentos, as circunstâncias e as consequências
dos princípios que regem a ação (cf. WEBER, 1999, p. 104-105)
6 Novelli expõe essa característica da lei em Hegel, nesses
termos: “a lei não é aleatória e nem casuísta, pois se funda sobre
o que já se pratica, isto é, o costume. Este não é posto ao sabor da
arbitrariedade, mas somente se constitui e permanece ao sobreviver
ao processo histórico que o interpela permanentemente. Sua
efetivação é a expressão viva do que as pessoas pensam, desejam e
fazem cotidianamente. O que é pensado, desejado, e feito, é tudo o
que é querido de modo interessado pelos sujeitos. A escolha confirma
a liberdade da vontade que se move pelo querer e pela possibilidade
de determinar o querer.” (NOVELLI, 2009, p. 112)
Filosofia, Cidadania e Emancipação 221
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 221 06/11/2016 13:25:07
ao volante, mas estamos atestando que essa combinação é
fatal, pois já a experienciamos. Se aplicarmos tal princípio
interpretativo às leis, podemos não apenas entendê-las, mas
assumi-las. Essa é a proposta hegeliana: assumir a lei não por
uma obrigação externa (porque a sociedade obriga, ou por receio
de multas, ou por temor de prisão), mas por ser consciente do
porque ela existe, dos benefícios e malefícios sociais, e não
apenas individuais, que se seguem de sua observância ou não.
Porém, ainda que a formação cultural seja o processo
que torne isso possível, não se pode incorrer na errônea
interpretação de que a educação por ela fornecida “salvará” a
sociedade, resolvendo todos os seus problemas. Na realidade, a
educação capacita para a vida em sociedade, de forma que os
indivíduos estejam preparados para compreender a realidade
em suas contingências e deliberar conscientemente sua ação,
avaliando e reavaliando os hábitos sociais. Como fora analisado
na proposta pedagógica da Fenomenologia do Espírito, isso
não significa que não haverá o erro, mas que o indivíduo bem
formado será capaz de aprender com esse erro, caso ele ocorra.
O que deve ser aplicado aos códigos públicos, que não devem ser
perfeitos, mas efetivos, no sentido de que devem acompanhar
as transformações histórico-sociais:
Exigir de um código a perfeição, que seja
absolutamente acabado, que não deva ser
capaz de nenhuma determinação ulterior,
[...] e pela razão de que ele não pode ser
tão perfeito, não o deixar chegar a ser
chamado imperfeito, isto é, não o deixar
chegar a efetividade (HEGEL 2010, p. 209 [§
216, nota])
Isso é importante, porque a formação cultural visa efetivar
a liberdade, e não torná-la “perfeita”. Em Hegel o efetivo não
é o perfeito, é o histórico. Por isso, exigir perfeição, no sentido
de completude e conclusão, é não compreender a dialética da
222 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 222 06/11/2016 13:25:07
realidade. A liberdade traz em si particularidade/contingência
e universalidade/necessidade. Ambas estão em seu processo
de efetivação, pois a liberdade ocorre na contingência do agir
particular na necessidade do agir universal, e vice-versa.7 De
forma que o efetivo está sempre em processo de efetivação,
sendo efetivo justamente por ser efetivar-se constante. Hegel
já afirmara na introdução da Filosofia do Direito que:
Cada grau de desenvolvimento da ideia da
liberdade tem seu direito característico,
porque ele é o ser-aí da liberdade numa
de suas determinações próprias. [...] A
moralidade, a eticidade, o interesse do
Estado, cada um é um direito característico,
porque cada uma dessas figuras é uma
determinação e um ser-aí da liberdade
(HEGEL, 2010, p. 73 [§30, nota])
A ideia de liberdade “perfeita”, na qual não haveria
qualquer tipo de coação, já fora abandonada por Hegel ao
analisar a abstração do livre-arbítrio (cf. HEGEL, 2010, p. 65,
§15), pois compreendeu que a liberdade efetiva traz em si a
coação, ou seja, impõe um limite, uma restrição: “Quem quer
o grande, diz Goethe, deve saber limitar-se” (HEGEL, 2000, p.
97 [§ 13, adendo]).
Mas que a ausência de paixão, a retidão, e
a moderação do comportamento se tornem
costume, [isso] se liga, em parte, com a
cultura do pensamento e com a cultura
7 Segundo Weber: “Se houver uma predominância da necessidade,
na síntese, o sistema fica totalitário, uma vez que a contingência vai
sendo gradualmente eliminada. [...] Se houver uma predominância
da contingência, na síntese, o sistema fica anárquico. Portanto, a
dialética hegeliana, entendida como um sistema da liberdade, implica
considerar toda síntese (nas diferentes figuras) como contendo em
si, tese e antítese, superadas e guardadas em iguais proporções.
Liberdade inclui, então, a necessidade e contingência igualmente
superadas e guardadas.” (WEBER, 2001, p. 317)
Filosofia, Cidadania e Emancipação 223
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 223 06/11/2016 13:25:07
ética direta, que mantém o equilíbrio
espiritual sobre o aprendizado do que tem
de mecânico e semelhantes dentro de si as
assim chamadas ciências dos objetos dessas
esferas, a exigida prática das ocupações, o
trabalho efetivo etc. (HEGEL, 2010, p. 277
[§296])
A confusão cometida por quem não entende essa dialética
está na consideração do universal, pois há uma “diferença
entre o universal da razão e o universal do entendimento”
(HEGEL, 2010, p. 209 [§216]). Enquanto o primeiro expressa
a mediação histórica do particular pelo universal, o segundo
expressa a proposta de uma perfeição a ser buscada, mas nunca
alcançada, em um perpetuar da aproximação, configurado em
uma ética do dever ser8.
Embora assuma que tudo é processo, Hegel não adere a
um progresso infinito, a uma busca pela perfeição, que rumaria
indeterminadamente para o melhor, o que afirma recorrendo
a um adágio francês: “o maior inimigo do bem é o melhor”
(HEGEL, 2010, p. 209 [§216]). Pois o bem não está no melhor,
mas no efetivo.
Prosseguindo na leitura desse momento da sociedade civil-
burguesa, Hegel irá preocupar-se com a aplicação do direito ao
particular e ao caso singular, o que implica a formulação de
contratos e formalidades, que dotarão o direito a propriedade
de força jurídica. O estabelecer de um código jurídico faz-se
necessário para determinar os parâmetros de aplicação da lei,
que deve corresponder aos hábitos da sociedade.
8 Nunca é demais lembrar que “a filosofia, porque ela é o indagar
do racional, é precisamente por isso o apreender do presente e do
efetivo, não o estabelecer um além, sabe Deus onde deveria estar,–
ou do qual bem se sabe dizer de fato onde está, a saber, no erro de
um racionar vazio, unilateral” (HEGEL, 2010, p. 41).
224 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 224 06/11/2016 13:25:07
Mas o que interessa nesse momento é a compreensão de
que somente o homem bem formado pode usufruir do ser-aí do
direito. Ao tomar consciência da ideia do direito, de forma que
reconheça sua efetivação na vida em sociedade, o indivíduo
passa a exercê-la a partir do conhecimento que lhe compete
enquanto homem cultivado (cf. HEGEL, 2010, p. 215 [§227]).
Nesse ínterim, reconhece que o exercer do direito pelos
particulares pressupõe a mediação do universal. A consequência
dessa mediação pode ser vista em âmbito cível, pois para que
não aja uma repressão do crime via vingança, faz-se necessário
o erigir de um tribunal, que representará o poder público, na
administração da justiça (cf. HEGEL, 2010, p. 211-217 [§219-
229]).
Dessa forma, visando estabelecer uma organização
social sólida, que não dependa das subjetividades individuais,
o filósofo desvela mais uma necessidade da sociedade civil-
burguesa: diante das contradições e conflitos sociais, a
sociedade deve realizar ações educativas, no sentido de manter
a unidade social vigente. O que implica na passagem da esfera
socioeconômica para a esfera política, a partir da instituição
de instâncias reguladoras no seio da própria sociedade. A
mencionada administração da justiça é uma dessas instâncias,
que deve ser corroborada pela Administração Pública e pela
Corporação.
O percurso trilhado até aqui descreve didaticamente
o processo de estruturação da vida em sociedade, por isso
visa apresentar tanto os problemas que a assolam, quanto as
formas de superá-los e garantir a convivência, e não a mera
coexistência, entre seus membros. É com esse intuito que as
instituições surgem no processo, pois expressam o momento
da conquista de uma organização social objetiva que tem sua
efetivação no Estado.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 225
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 225 06/11/2016 13:25:07
Embora a sociedade civil-burguesa ainda não seja a esfera
na qual é efetivada a liberdade, a eticidade, o surgir de uma
organização social cuja finalidade é preservar o interesse dos
indivíduos particulares a partir de ações universais já aponta
para esse fim. A partir de uma suprassunção (Aufhebung)
desencadeada pelo processo da formação cultural, o interesse
individual, leitmotiv da sociedade civil-burguesa, converte-
se no âmbito da corporação em interesse geral, conduzindo
seus membros para além dessa comunidade de interesses
particulares.
Visto que, segundo a ideia, a particularidade
mesma faz desse universal, que está em seus
interesses imanentes, o fim e o objeto de sua
vontade e de sua atividade, assim retorna
o elemento ético como algo imanente na
sociedade civil-burguesa; isso constitui a
determinação da corporação. (HEGEL, 2010,
p. 225 [§249])
Enquanto associação de interesses particulares
comunitários (cf. HEGEL, 2010, p. 272 [§288]), a corporação,
diversamente do que ocorre na família, não promove o interesse
geral através de uma imposição da autoridade, mas a partir da
confiança de seus próprios membros entre si. Nesse sentido, a
corporação prefigura o Estado, porque conduz ao exercer da
cidadania, fim ético da ação social. E para o filósofo, a ação
social desempenhada na corporação possibilita a convivência
e a cooperação entre os membros da sociedade, expressando
a atitude esperada por quem passou pela formação cultural.
Dessa forma, a corporação é um momento objetivo desse
processo formativo, pois nela os indivíduos são conduzidos ao
universal a partir de sua colaboração mútua, pois assume o
caráter de uma segunda família (cf. HEGEL, 2010, p. 226 [§252]),
transmitindo aos membros da sociedade civil-burguesa a força
da comunidade ética, pois revelam uma prática que antecipa
226 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 226 06/11/2016 13:25:07
o exercício concreto da cidadania, ou melhor, da efetiva vida
ética no Estado.
O espírito da corporação, que se engendra
na legitimação das esferas particulares,
reveste-se ao mesmo tempo para dentro de
si mesmo no espírito do Estado, visto que
ele no Estado tem o meio de conservação
de seus fins particulares. Esse é o segredo
do patriotismo dos cidadãos segundo
esse aspecto, de que eles sabem o Estado
enquanto sua substância, porque ele
conserva suas esferas particulares, sua
legitimação e a autoridade como seu bem-
estar. No espírito da corporação, visto que
ele contém imediatamente o enraizamento
do particular no universal, na medida em
que é a profundidade e o vigor do Estado,
que ele possui na disposição de espírito.
(HEGEL, 2010, p. 273 [§289])
Considerações finais: Como o Estado efetiva o Cidadão (e
vice-versa)
O terceiro momento da dialética da sociedade civil-
burguesa corresponde a uma série de ações educativas de
caráter público/universal que garantam “que o bem-estar
particular seja tratado e efetivado enquanto direito” (HEGEL,
2010, p. 218 [§230]). Dentre essas ações estão a segurança das
pessoas, a luta contra o crime, a regulação da economia e a
educação (cf. HEGEL, 2000, p. 290 [§236, adendo]).
A educação (Erzierung) é um direito do indivíduo, ao
mesmo tempo em que é um dever da família e da sociedade civil-
burguesa – tematizada agora como família universal (cf. HEGEL,
2010, p. 221 [§239]). O desenvolvimento de conhecimentos
e atitudes na formação das consciências para a vida social
cabe primeiramente a ação escolar, que apresenta, ainda que
formalmente, a universalidade aos indivíduos em formação.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 227
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 227 06/11/2016 13:25:08
Assim, essa formação cultural de caráter institucional fornece os
fundamentos para uma elevação dos indivíduos à universalidade
da vida ética, a ser efetivada na esfera do Estado.
Por isso que, primando pela garantia da formação dos
indivíduos para a vida social, a administração pública exerce
o direito de interferir sobre o processo de formação de seus
membros através de uma ação institucional que supervisione
e controle as próprias instituições de ensino. A escola, assim
como a corporação, configura uma instituição que garante
aos indivíduos os elementos necessários à efetivação de um
bem-estar particular. Ao formá-los para a universalidade,
a instituição escolar prepara os indivíduos para vida ética,
cultivando nos mesmos os princípios necessários à efetivação
do Estado.
A consciência desse papel da instituição escolar inspira
na sociedade civil-burguesa uma responsabilidade educativa
sobre seus membros, pois a faz reconhecer que seu próprio
existir depende da consecução dessa esfera institucional.
Assim, mesmo o direito dos pais de educar seus filhos está
subordinado a seu dever de formá-los para a vida em sociedade.
Não por acaso, Hegel transfere a sociedade civil-burguesa, na
falta desse compromisso social dos pais, a responsabilidade de
conduzir seus filhos à escola, assim como o de proporcionar-lhes
a própria escola.
Ela [a sociedade civil-burguesa] tem nesse
caráter de família universal a obrigação e o
direito, frente ao arbítrio e à contingencia
dos pais, de ter controle e influência sobre
a educação, à medida que ela se vincula
com a capacidade de tornar membro da
sociedade, principalmente quando ela não
é completada pelos pais mesmos, porém
por outros, - igualmente na medida em que
para isso podem ser feitas [e] encontradas
228 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 228 06/11/2016 13:25:08
instituições comuns. (HEGEL, 2010, p. 221
[§239])
Essas ações devem promover a educação a todas as
crianças, mesmo para aquelas que, comprovadamente, estejam
em situação de miséria, cujos pais não possuem condições
de prover sua educação. Ora, a sociedade civil-burguesa não
poder permitir que os indivíduos sejam privados desse processo
formativo, pois isso implicaria na privação de “todas as vantagens
da sociedade, da capacidade de aquisição de habilidades ou de
cultura em geral” (HEGEL, 2010, p. 221 [§241]). A consequência
dessa privação seria o triste fenômeno de uma sociedade na qual
os membros desenvolvem a “disposição de espírito da preguiça,
à maldade e aos demais vícios que surgem de tal situação e
do sentimento de sua ilicitude” (HEGEL, 2010, p. 221 [§241]).
Essa é uma das principais preocupações da sociedade civil-
burguesa na acepção de Hegel, pois a não formação acarreta
não participação, a não aquisição da cidadania:
A queda de uma grande massa [de
indivíduos] abaixo da medida de certo
modo de subsistência, que se regula por si
mesmo como o necessário para um membro
da sociedade, – e com isso a perda do
sentimento do direito, da retidão e da honra
de subsistir mediante atividade própria e
trabalho próprio,– produz o engendramento
da populaça, a qual, por sua vez, acarreta
ao mesmo tempo uma facilidade maior
de concentrar, em poucas mãos, riquezas
desproporcionais. (HEGEL, 2010, p. 223
[§244])
Dessa forma, a proposta de um controle sobre determinadas
instâncias sociais, como a instituição escolar, não visa controlar
a vida dos indivíduos, convém lembrar que o sistema prima pela
efetivação da liberdade, mas parte do princípio de solidificar as
instâncias que garantem a ordem social.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 229
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 229 06/11/2016 13:25:08
A organização social funda instituições com o objetivo
de suprir sua necessidade, no entanto, as mesmas não estão
ainda fundadas em princípios universais, mas em princípios
puramente instrumentais, ou seja, são exclusivamente criadas
para suprir os interesses dos membros da sociedade – instituições
de interesse privado. Essas instituições surgem ainda por
uma motivação particular, mas representam a abertura das
pessoas particulares a uma esfera política, que consolida os
direitos adquiridos quanto a sua propriedade privada, o que já
implica a primeira figuração da ideia do Estado, consolidada
nas instituições públicas, expressões concretas de um Estado
constitucional na história:
Essas instituições fazem a constituição, isto
é, a racionalidade desenvolvida e efetivada
no particular, e são, por causa disso, a base
firme do Estado, assim como da confiança e
da disposição de espírito dos indivíduos para
com ele e são os pilares da liberdade publica,
visto que nelas a liberdade particular
está realizada e é racional, com isso, está
presente nelas mesmas em si a união da
liberdade e da necessidade. (HEGEL, 2010,
p. 239 [§265])
Não por acaso a passagem da sociedade civil-burguesa
para o Estado decorre da própria finalidade da corporação,
a saber: alcançar o “fim universal” em si e para si, ou seja,
sua “efetividade absoluta” (HEGEL, 2010, p. 228 [§256]). Ao
proporcionar a seus membros uma efetiva intervenção na
vida pública, na medida em que na corporação os indivíduos
encontram o enraizamento do particular no universal, a mesma
os forma para o universal e torna-se mais um momento do
desenvolvimento do Espírito no mundo. A partir de então, Hegel
argumentará no sentido de demonstrar que a ideia do Estado é
a efetivação desse universal e que, através dela, os indivíduos
formados efetivam em si a verdadeira vida ética.
230 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 230 06/11/2016 13:25:08
Referências
HEGEL, G. W. F. Filosofia do Direito. Tradução de Paulo Meneses,
Et. al. São Paulo: Edições Loyola, 2010.
______. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses
com colaboração de Karl-Heinz Efken. Petrópolis: Vozes, 2002.
______. Rasgos Fundamentales de la Filosofia del Derecho o
Compendio de Derecho Natural y Ciência del Estado. Tradução
de Eduardo Vazquez. Madrid: Biblioteca Nuova, 2000.
______. Propedêutica Filosófica. Tradução Artur Morão. Lisboa:
Edições 70, 1989.
JAESCHKE, W. Direito e Eticidade. Porto Alegre: EDIPCURS,
2004.
NOVELLI, P. G. A. A crítica de Hegel ao conceito de lei em
Kant. In: Revista Páginas de Filosofia, v. 1, n. 1, p. 50-73, jan-
jul/2009.
SUAREZ, R. Nota sobre o conceito de Bildung (formação
cultural). In: Kriterion, v. 46, n. 112, p. 191-198, 2005.
WEBER, T. Liberdade e Estado em Hegel. In: FELTES, H. P. M.;
ZILLES, U. (Orgs.) Filosofia: Diálogo de horizontes. Caxias do
Sul/Porto Alegre: EDUCS/EDIPUCRS, p. 315-324, 2001.
______. Ética e Filosofia Política: Hegel e o Formalismo
Kantiano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 231
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 231 06/11/2016 13:25:08
O resgate do saber teórico e prático e a
legitimação de uma comunidade política
Ysmênia de Aguiar Pontes
Marcos Onete Fontenele Moreira
Introdução
É fato que se vive hoje em sociedades cuja marca
fundamental é a diversidade de valores e horizontes
interpretativos. A diversidade cultural e de perspectivas
hermenêuticas nos põe diante de um quadro teórico, que tem
como marca a pluralidade e a provisoriedade de perspectivas,
e que se pergunta como é possível conviver harmoniosamente
se os valores são tão díspares. A pergunta que emerge diante de
tal realidade é esta: quais valores irão ser o substrato que darão
normatividade às configurações históricas intersubjetivas? A
partir de quais valores iremos pautar nossas configurações/
relações interpessoais? Não dispomos mais de uma moral
unívoca que nos dá um sentido unitário e a partir da qual
pautamos nossas relações. Ao que no mundo antigo cabia à
religião e à ética dar regras de conduta, hoje cabe ao direito
essa tarefa. Em sociedades complexas como a nossa, cabe ao
Direito, através do monopólio estatal, solucionar a carência de
normatividade. Isso se dá por meio da prescrição de condutas,
que combinam legalidade e exercício legítimo do poder
(MOREIRA, 2004, p. 177). Isso é o resultado das conquistas
advindas com a democracia moderna. O que se pergunta é se
isso é suficiente, ou seja, basta ao Estado, mediante a ameaça
de sanção, garantir a prescrição pelo uso da força? Um Estado
que pauta sua conduta pelo puro uso da força não estaria
condenado a extinguir-se justamente porque não encontra
232 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 232 06/11/2016 13:25:08
legitimação para sua existência? Justamente, por isso carece
o Estado de legitimação frente a seus cidadãos e isso se faz
mediante uma participação da sociedade civil como momento
indispensável de legitimação de referido Estado.
Após a incapacidade desse modelo de organização social,
pautado pelo positivismo jurídico, segundo o qual questões
de moral e de direito são questões de foro íntimo, portanto,
impossíveis de serem universalizáveis, pressuposto básico
de sentenças racionais, em resolver os conflitos inerentes ao
tipo de sociedade que se vivencia hoje, a resposta a essas
indagações soa negativa. A associação entre poder e direito,
engendrada pela modernidade e que tem no Estado-Leviatã de
Hobbes sua expressão máxima (VAZ, 2002, p. 177.), em que
o conceito de político, diferentemente dos antigos, resume-se
ao ato de exercer eficazmente o poder, mostrou-se incapaz de
responder aos anseios de uma sociedade em cujo seio repousa a
ideia de uma defesa intransigente dos direitos humanos. Dito de
outro modo, a marca fundamental do modo de organização das
sociedades atuais só se justifica na medida em que o substrato
dessa organização encontra abrigo no respeito aos ideais dos
direitos humanos. Essa ideia é o mote a partir do qual todas as
sociedades deverão erigir-se.
Desta sorte, a emergência de um Estado Constitucional de
Direito impõe, necessariamente, a necessidade de superação
de um Estado positivista na medida em que este identifica o
direito com o simples fato da norma jurídica posta. Assim,
impõe-se um modelo de Estado que seja capaz de fundamentar
racionalmente os direitos fundamentais. Destarte, essa validade
racional não pode advir do simples apelo ao lema positivista,
que reconhece a validade de uma norma ou identifica a validade
dela a partir do simples fato de sua existência. “Assim, a validez
normativa... não pode ser apenas a validez formal, típica do
Estado Liberal e legalista, que se estabelece primariamente na
Filosofia, Cidadania e Emancipação 233
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 233 06/11/2016 13:25:08
relação entre normas porque regimes autoritários também se
adequaram a esta validez, criando-se um abismo entre direito
e política ou entre direito e ética”. (FERRAZ JÚNIOR, 2012, p.
20). Dessa forma, resgata-se a distinção basilar do pensamento
jusfilosófico ocidental, na medida em que distingue-se ser e
dever ser, fato e norma, gênese e validade.
A proposta, para furtar-se a esses questionamentos,
consiste em se fazer uso de uma teoria discursiva (pragmática)
do direito. Só quando se recorre à participação intersubjetiva
dos cidadãos na constituição das normas de conduta é que se
pode chegar à legitimidade plena de um sistema jurídico.
O estreitamento da concepção de saber: um pressuposto
empirista frágil
A filosofia emerge no Ocidente em um contexto bem
específico de crise da civilização grega. Essa civilização entra em
crise quando suas convicções, quando seu modo de organização
individual e coletivo perde a evidência. As explicações míticas
sobre o modo de o homem grego conhecer a si mesmo e ao mundo
a seu redor já não são mais aceitáveis. O substrato conceitual
de explicação da realidade, seja individual ou coletiva, perde
sua razão de ser e sua evidência. Esse tipo de explicação já
não é mais razoável: as religiões, o mito, a tradição já não são
mais suficientes para explicar a conexão causal da realidade
(ARISTÓTELES, 2002, Vol. II, A 3, 983b 1-27), nem muito menos
explicar qual o sentido e o lugar da vida individual e coletiva
na pólis grega. Desfaz-se, assim, aquela ordem natural, aquela
visão ordenadora do cosmos e integradora de valores que
conferia homogeneidade ao modo de ser e conhecer do homem
antigo. A filosofia então surge como saber capaz de justificar sua
pretensão de dizer como o mundo é, de explicitar as diversas
conexões existentes entre as esferas da realidade, de conceder
sentido ao modo de viver individual e coletivo. Como discurso
234 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 234 06/11/2016 13:25:08
racional, a filosofia é um saber sobre as indagações humanas
a respeito do cosmos, sobre o lugar que o homem ocupa nele
e, posteriormente, sobre os grandes problemas e inquietações
que afligem o ethos humano, na medida em que se discute
sobre como o homem deve agir para ser feliz, para ser um ser
ético, numa palavra, para atingir o bem (BERTI, 2013, p. 49-
93). Essas discussões afloram em um contexto de crise daquela
sociedade, cabendo à filosofia envidar esforços para elevar o
saber humano a um patamar conceitual nunca antes imaginado,
cuja característica básica reside na razão demonstrativa (logos
apodeixis) e não mais nas narrativas míticas.
A tradição greco-medieval concebe a filosofia como um
saber englobante, capaz de dar explicações seja a um modo de
vida individual, para se atingir a felicidade, seja do modo como
o homem deve organizar as instituições sociais de modo que se
promova a justiça como um bem comum. Além disso, ela busca
explicitar as leis mais gerais do universo de modo a se chegar
a uma metafísica, que daria o sentido último do modo como
o homem deve ser e agir, seja na vida individual, seja na vida
coletiva.
Esse modo de se conceber a filosofia passou por profundas
mudanças com o advento da modernidade. A própria concepção
de saber filosófico passa por mudanças estruturais frente ao
advento da eclosão do saber científico. Filosofia não se confunde
mais com ciência, nem muito menos se entende como um saber
que seria o coroamento do saber científico. Na concepção de
saber vigente hoje, a filosofia não se entende mais como saber
englobante, capaz de conceituar as diversas esferas do real. À
ciência cabe essa tarefa. Falar do real, dizer o que o mundo é,
como os fenômenos se comportam é tarefa das ciências, porque
ela dispõe de um método próprio e de um aparato conceitual
apropriado para problematizar a realidade, na medida em que
consegue intervir eficazmente.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 235
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 235 06/11/2016 13:25:08
Restou à filosofia, após a revolução copernicana do
pensar, operada por Kant, com sua Crítica da Razão Pura
(KANT, 1994, B XVI), tratar daquela esfera, que Kant chama
de transcendental, que torna possível o homem conhecer o
real, o mundo, enquanto fenômenos, enquanto modo de dar-
se ao homem, cuja estrutura conceitual é a responsável pelas
afecções da experiência. A partir de agora, a filosofia não fala
mais sobre o mundo, ela não tem mais como fazer isso, por
limitações estruturais, só resta a ela, então, tematizar aquela
esfera que torna possível a ciência falar sobre o mundo. Tratar
do real, falar sobre o mundo, isso é tarefa para as diversas
ciências. À filosofia cabe explicitar aquela esfera presente na
subjetividade humana que torna o conhecimento possível, que
garante necessidade e universalidade, ao dado da experiência,
por se tratar de uma esfera a priori e necessária (KANT, 1994,
B 25-27, A 13). Mas sobre o mundo mesmo nada se pode falar,
portanto, o conhecimento humano restringe-se ao mundo
fenomênico (KANT, 1994, B XIX - XX). A partir daqui a filosofia
se vê frente a várias dicotomias: particular/universal; sujeito/
objeto; teoria/prática; indivíduo/sociedade, e tantos outros
dilemas que questionam a objetividade e possibilidade mesma
do saber teórico e prático.
Diante de uma sociedade tão complexa, heterogênea
e efêmera, na qual se vive, parece óbvio que a filosofia não
teria muito ou quase nada a dizer, até porque ela, com suas
pretensões universalistas, teria um tipo de discurso que não
encontraria eco no mundo contemporâneo, portanto, seria um
discurso anacrônico. Seu aparato conceitual não se coaduna
com um saber fragmentado, particularizado e provisório.
Desse modo, em um mundo técnico-científico, a filosofia teria
uma tarefa como que terapêutica, um discurso prazeroso
para reuniões agradáveis ao fim da tarde, mas que não tem
condições teóricas para falar algo responsável ao homem e ao
236 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 236 06/11/2016 13:25:08
mundo de hoje, e isso por dois motivos: primeiro, do ponto de
vista teórico, a partir de uma perspectiva empirista, porque a
filosofia é incapaz de lidar com a realidade, ela não tem nem
instrumental teórico, nem método apropriado para tal intento.
Desse modo, é a ciência o único saber responsável porque capaz
de universalização, através do seu método empírico-analítico;
e em segundo lugar, do ponto de vista prático, a filosofia é
incapaz de prescrever normas de conduta, a partir do interdito
humeano da falácia naturalista, segundo o qual, de fato, não se
deduz normas. Assim as ações são frutos de escolhas individuais,
baseadas em motivos intimistas, particularistas, arbitrários dos
indivíduos, portanto, não passíveis de universalização.
Essa concepção de saber vigente hoje é uma concepção
atrofiada de saber e que não só não resolve os problemas nos quais
se vive, mas, ao contrário, os acentua. Daí a necessidade de se
recuperar uma concepção de saber mais ampla e que incorpore
duas dimensões igualmente importantes no ser humano: as
dimensões teórica e prática. Nesse sentido, propõe-se alargar a
concepção de saber teórico, que não seria redutível às ciências
empírico-analíticas e, por outro lado, recuperar a concepção de
saber prático como saber responsável e passível de justificação,
portanto, postula-se a possibilidade do cognitivismo ético, já
que o saber hegemônico, hoje vigente na sociedade pluralista e
instrumental (Habermas), rejeita a ideia de uma razão prática,
seja ética, (ação/construção do indivíduo) enquanto uma
reflexão sobre a ação humana; seja política, (configuração de
instituições) enquanto teoria normativa das instituições. Com
efeito, a proposta que se coloca é alargar a concepção de saber,
tanto teórico quanto prático, e recuperar essa dupla dimensão
da vida individual e coletiva na sociedade na qual se vive.
Nesse contexto de estreitamento da concepção de saber,
o único saber responsável e capaz de trazer benécies ao ser
humano é o saber científico, porque capaz de livrá-lo das mazelas
Filosofia, Cidadania e Emancipação 237
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 237 06/11/2016 13:25:08
que afligem a humanidade desde sempre, sejam essas mazelas
teóricas ou práticas. Só a razão científica é capaz de elevar o
ser humano a um estado de espírito autônomo, portanto, levá-
lo à maioridade, através do uso correto da razão.
A hipótese levantada nesse trabalho é a de que essa
concepção de saber vigente hoje é uma concepção atrofiada
de saber e que não só não resolve os problemas nos quais se
vive, mas, ao contrário, os acentua. Não por acaso um pensador
como Herbert Marcuse escreveu um livro cujo título, “O homem
Unidimensional”, ilustra bem o momento vivido de exacerbação
da razão enquanto técnica. Daí a necessidade de se recuperar
uma concepção de saber mais ampla e que incorpore duas
dimensões igualmente importantes no ser humano: as dimensões
teórica e prática. Nesse sentido, propõe-se alargar a concepção
de saber teórico, que não seria redutível às ciências empírico-
analíticas e, por outro lado, recuperar a concepção de saber
prático como saber responsável e passível de justificação,
portanto, postula-se a possibilidade do cognitivismo ético, já
que o saber hegemônico hoje vigente na sociedade pluralista e
instrumental (Habermas) rejeita a ideia de uma razão prática,
seja ética, (ação/construção do indivíduo) enquanto uma
reflexão sobre a ação humana; seja política, (configuração de
instituições) enquanto teoria normativa das instituições.
Com efeito, a proposta que se coloca é alargar a concepção
de saber, tanto teórico quanto prático, e recuperar essa dupla
dimensão da vida individual e coletiva na sociedade na qual se
vive. Nesse contexto de estreitamento da concepção de saber,
o único saber responsável e capaz de trazer benesses ao ser
humano é o saber científico, porque capaz de livrá-lo das mazelas
que afligem a humanidade desde sempre, sejam essas mazelas
teóricas ou práticas. Só a razão científica é capaz de elevar o
ser humano a um estado de espírito autônomo, portanto, levá-
lo à maioridade, através do uso correto da razão.
238 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 238 06/11/2016 13:25:08
O projeto emancipatório da modernidade, segundo o qual
a humanidade iria chegar à maioridade, ao esclarecimento,
para usar uma palavra de Kant, através do uso da razão,
malogrou. Esse projeto significava a emancipação humana
em todos os aspectos da vida individual e coletiva, através
do uso progressivo da razão para solucionar os problemas e
as contradições humanas. Na verdade, esse projeto iluminista
levou a humanidade para eclosão de diversas patologias sociais,
a partir de um uso atrofiado da razão; através da colonização do
universo simbólico, dos mundos vividos pelas esferas sistêmicas
da vida: economia, direito.
A razão se imiscuiu com o processo de produção
engendrado com o advento do capitalismo, elevando ao limite
a especialização do conhecimento motivado pelas regras de
produção do trabalho, copiado das ciências ditas exatas, pelas
ciências ditas humanas, de sorte que, se antes o saber, a razão
eram sinônimos de emancipação humana, hoje essa razão
tornou-se técnica enquanto manipulação eficaz no processo de
produção. E se a burguesia usou essa mesma razão para libertar-
se e promover a liberdade, esse discurso foi sedutor, enquanto
foi conveniente para efetivar seus interesses, enquanto gestora
da sociedade.
O desencantamento do mundo, vivido por sociedades
complexas como a nossa, na qual explicações míticas, religiosas
da realidade são substituídas por explicações conceituais,
seja jus-filosóficas ou técnico-científicas, deixou um vácuo
epistêmico, na medida em que o mundo da vida foi colonizado
por outras esferas administrativas da razão. Ou seja, o conceito
de razão com que se trabalha hoje é um conceito atrofiado
de razão, na medida em que se confunde razão com ciência,
uma vez que apenas discursos científicos são passíveis de
legitimação, são os únicos responsáveis, porque capazes de
universalização.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 239
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 239 06/11/2016 13:25:08
Quando se reflete sobre os amplos aspectos da vida
em sociedade, percebe-se facilmente que o uso da razão no
seu aspecto apenas técnico-científico, embora altamente
necessário e eficaz, é um uso bastante limitado e que perpassa
um importante aspecto da vida atual, mas ainda sim, deveras
limitado.
Sob esse conceito de razão, muitas questões cruciais da
vida seriam carentes de legitimação. “Percebe-se que mesmo
quando todas as questões científicas possíveis tenham obtido
resposta, mesmo assim os problemas da vida não terão sido
sequer tocados” (WITTGENSTEIN, 1994, 6.52, p. 279). Essas
palavras de Wittgenstein revelam a angústia de um pensador
que percebeu a contradição na qual se enredou ao legitimar um
uso da razão restrita ao seu aspecto formal-científico. Percebe-
se, pois, que a vida em sociedade tem que ser problematizada
em todos os seus aspectos.
Diante disso, propõe-se abordar a razão em toda a
sua plenitude, legitimando outros aspectos da vida antes
negligenciados, ou melhor, impossíveis de serem abordados
racionalmente, haja vista a razão não tocar neles, pois incapazes
de serem abordados pelo viés de um discurso racional. Nessa
perspectiva, esses aspectos da vida eram restritos a abordagens
subjetivas, intimistas. Daí a velha máxima: política (ética) e
religião não se discutem, uma vez que a discussão pressupõe
levantar pretensões de validade e ser capaz de justificar tal
pretensão por meio de critérios racionais, em princípio,
universalizáveis.
Ora, a política (ética) e a religião são frutos de decisões
pessoais, emotivas, questões de foro íntimo e preferências
subjetivas, portanto, impossíveis de serem universalizáveis.
Esse tipo de pensamento fora consolidado pela filosofia analítica
no início e meados do século passado. Para essa postura, a
240 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 240 06/11/2016 13:25:08
linguagem fala do mundo por meio de sentenças declarativas,
que, em princípio, podem ser verdadeiras ou falsas. Ora, tendo
como pressuposto que somente esse tipo de sentença pode ser
verdadeiro ou falso, e não estando as proposições normativas
dentro desse tipo de sentença, é logicamente forçoso concluir
que seu discurso se insere dentro de um contexto em que tais
proposições normativas não possuem conteúdo cognitivo, uma
vez que suas sentenças não estão dentro do universo das sentenças
declarativas, que têm como pressuposto a bipolaridade como
sua condição de verdade. Não tratando do que é, mas do que
deve ser, do que é justo ou razoável, o discurso filosófico ético-
político padece de legitimidade frente a um mundo cada vez
mais técnico-científico, no qual as diversas esferas da vida são
suplantadas pela esfera econômica, tornado as outras esferas
órfãs e dominadas por sua lógica. Obviamente essa conclusão
ocorre se se assume seus pressupostos, mas dentro da própria
filosofia analítica ocorreram vozes discordantes, a começar por
Quine, com seu célebre artigo, os dois dogmas do empirismo
(QUINE, 2011, p. 37-71).
Diante disso, propõe-se abordar a razão em toda a
sua plenitude, legitimando outros aspectos da vida antes
negligenciados, ou melhor, impossíveis de serem abordados
racionalmente, haja vista a razão não tocar neles, pois incapazes
de serem abordados pelo viés de um discurso racional. Nessa
perspectiva, esses aspectos da vida eram restritos a abordagens
subjetivas, intimistas. Daí a velha máxima: política e religião
não se discutem.
É diante desse desafio que Apel e Habermas emergem no
contexto filosófico contemporâneo como aqueles pensadores,
cada qual a seu modo, que ousaram discordar das teses das
filosofias contemporâneas, notadamente as da analítica e da
hermenêutica e, de novo, põem o discurso filosófico como
saber responsável, universal e capaz de ser novamente filosofia
Filosofia, Cidadania e Emancipação 241
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 241 06/11/2016 13:25:08
primeira, porque fundamentada em última instância. Embora,
nesse aspecto, Habermas tem se distanciado cada vez mais de
Apel.
Apel e Habermas: uma briga de família. Alargamento da
concepção de saber e a legitimação de um Estado de Direito
Em Kant, a reflexão transcendental se dá através da
pergunta pela estrutura da subjetividade humana que torna
o meu conhecimento do mundo possível. Filosofia, para Kant,
portanto, só é possível enquanto filosofia transcendental, na
medida em que com ela se atinge clareza sobre o método
mesmo da filosofia e sua tarefa na vida humana. Filosofia deixa
de ser consideração sobre o mundo, como na filosofia antiga, e
passa a ser tematização da estrutura da subjetividade no seu
encontro com os objetos da experiência.
Na filosofia contemporânea, há uma nova mudança. Se
na Antiguidade e na Modernidade tínhamos, respectivamente,
os paradigmas do ser e da consciência, agora nós temos um
terceiro paradigma, que é o da intersubjetividade, que tem na
linguagem o seu eixo de articulação. E dentre os filósofos vivos,
Apel e Habermas seja talvez o que melhor representem essa
escola.
Karl-Otto Apel (2000, Vol. II, p. 353) e Jurgen Habermas
(2004, p.18), tendo consciência a respeito dos avanços atingidos
com a filosofia de Kant, perguntam-se se a filosofia da linguagem
pode e deve assumir hoje a mesma função que na modernidade
foi reservada à filosofia transcendental kantiana. Se na
filosofia da modernidade, abordada enquanto epistemologia, a
preocupação era com a consciência, na filosofia contemporânea,
o filósofo passa a se preocupar com a linguagem, pois esta
assume o lugar antes reservado à consciência na epistemologia
tradicional. Deve-se esclarecer que, para ambos os pensadores,
não se trata de tematizar a linguagem como um objeto a mais
242 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 242 06/11/2016 13:25:08
para ser considerado dentre muitos possíveis.
Trata-se, isso sim, de uma “transformação da própria
filosofia” (OLIVEIRA, 1996, p. 249), o que significa, em
última análise, uma “[...] reflexão sobre as condições de
possibilidade linguísticas da cognição” (APEL, 2000, Vol. II, p.
354). A pragmática transcendental ou universal, seja de Apel
ou de Habermas são, com efeito, filhas legítimas da filosofia
transcendental kantiana, rearticulada a partir do confronto
com duas outras tradições da filosofia contemporânea, a saber,
a filosofia hermenêutica e a filosofia analítica.
Apel e Habermas são extremamente conscientes do
contexto relativista e cético que os cercam e no qual eles vão
edificar seus respectivos pensamentos filosóficos. Destarte,
eles vão ter que, assim como Kant tentara fazer no passado,
justificar a sua filosofia. Aliás, para Apel e Habermas, e essa é
uma questão de importância fundamental, toda filosofia que
queira minimamente ser levada a sério tem que necessariamente
justificar o que faz, esclarecer, de antemão, o seu procedimento
para se isentar de qualquer crítica que o acuse de ingenuidade,
por não mostrar, pelo menos, com que tipo de filosofia se
trabalha e como ela se legitima.
Para os pensadores alemães, portanto, a filosofia perdeu
a credibilidade de que gozava no mundo clássico e, por isso,
é convidada a se explicar. O último grande sistema que tem a
pretensão de considerar a totalidade do real em sua filosofia é o
sistema hegeliano. Depois dele, essa tentativa é considerada não
só anacrônica, mas absurda e incapaz de concretizar-se, pois o
mundo filosófico contemporâneo é marcado por uma razão que
não tem pretensões universalistas; uma razão que se satisfaz
com o particular (CIRNE-LIMA, 1996), uma razão fragmentada e
consciente da sua incapacidade de se fundamentar em última
instância, portanto, absorvida pela ideia segundo a qual a
Filosofia, Cidadania e Emancipação 243
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 243 06/11/2016 13:25:08
fundamentação é impossível, e aquilo a que podemos aspirar
são afirmações provisórias e contingentes. Essa maneira de
pensar é brilhantemente representada pelo método axiomático-
dedutivo, coroado pelas ciências empírico-analíticas, cujo
procedimento consiste em insistir na provisoriedade de suas
teses e na incapacidade de se chegar a princípios últimos
(OLIVEIRA, 1996, p. 249-253).
É precisamente nesse contexto de crise que Apel e
Habermas vão estruturar suas propostas de filosofia, suas
particulares leituras do transcendental de Kant e do modo como
eles leem a reviravolta pragmática da filosofia, dialogando
com as duas correntes de pensamento hegemônicas no mundo
contemporâneo. A preocupação primeira desses pensadores
será, portanto, em pôr a razão como algo fundamental na vida
humana (HABERMAS, 2013, p. 18-20).
Escolheu-se um quadro teórico específico, o pensamento
transcendental, para enfrentar o problema aludido. O
pensamento transcendental aqui é representado por esses
dois pensadores, que o reformulam a partir do contato com
a reviravolta linguístico-pragmática, principalmente, a partir
da pragmática de Peirce. Prefere-se esses dois pensadores
ao invés de outros, pois ambos são filósofos transcendentais,
que tentam descobrir, cada qual a seu modo, aquela instância
que é condição de possibilidade e validade do conhecimento
e da ação humanas, enquanto tal. Em ambos os pensadores,
temos a mesma preocupação: descobrir o ineliminável na vida
humana, chegar àquilo que é pressuposto da própria dúvida.
A resposta deles é que diverge: se, em Habermas, a esfera
que garante a validade do conhecimento e da ação humana
são os pressupostos presentes na linguagem, mesmo que estes
pressupostos não sejam últimos, uma vez que dependem sempre
dos diversos contextos nos quais ela está inserida, por isso, cada
vez mais Habermas aproxima-se de Rorty (contextualismo) e
244 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 244 06/11/2016 13:25:08
Brandom (pragmatismo inferencialista); em Apel, essa esfera de
validade se desloca para a práxis linguística, ou melhor, para os
pressupostos necessários e irrecusáveis de todo discurso teórico
ou prático. Por conseguinte, para Apel, o discurso filosófico é um
saber responsável, racional, universal e que, para fundamentar
suas teses, necessita ter um método de fundamentação próprio,
diferente do usado pela ciência, que se dá por um retorno
reflexivo sobre o discurso, sobre a própria linguagem, a fim
de se alcançar algo ineliminável na vida humana: as condições
pressupostas em todo discurso sensato.
Apel trava um verdadeiro debate com as principais
correntes do seu tempo, a fim de convencê-las de que o discurso
filosófico é um saber responsável e que, para fundamentar suas
teses, necessita ter um método de fundamentação próprio,
diferente do usado pela ciência, que se dá por um retorno
reflexivo sobre o discurso, sobre a própria linguagem, a fim de
se chegar a algo irrenunciável na vida humana: as condições
pressupostas em toda práxis linguística.
Apel pretende, portanto, restabelecer a razão como algo
intranscendível na vida humana, mostrando, aos relativistas e
céticos, que eles sempre pressupõem aquilo que querem negar.
E isso só é possível, segundo Apel, através de uma filosofia
transcendental reflexiva da intersubjetividade.
Apel discute também as limitações da concepção de
razão no seu uso técnico-científico. Ele não quer aqui negar as
grandes conquistas da vida contemporânea após a associação
entre ciência e técnica. Ele frisa que esse modelo, embora
importantíssimo, não esgota o saber humano. E Apel tenta
mostar a contradição na qual se envolve o cientista quando
pensa ser possível legitimar suas teses ou teorias fazendo uso
do próprio discurso científico no qual o método dedutivo é o
único possível. Cai-se aqui no que se convencionou chamar de
Filosofia, Cidadania e Emancipação 245
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 245 06/11/2016 13:25:08
‘trilema de münchhausen’: regresso infinito; círculo lógico ou
procedimento dogmático.
Interessante notar queApel e Habermas chegam a conclusões
opostas fazendo uso da mesma reflexão transcendental mediada
pragmaticamente. A cisão entre ambos os pensadores diz
respeito à fundamentação da dimensão normativa da linguagem
a partir do ponto em que se fundamentam e explicitam os
diferentes discursos normativos, seja da moral, do direito e
da democracia. Enquanto Apel chega a princípios últimos e
irrecusáveis, portanto, a uma fundamentação última e válida
a priori das pretensões filosóficas de validade das sentenças
pragmático-transcendentais; para Habermas, a essas próprias
sentenças devem ser aplicadas o princípio do falibilismo,
de modo que ele considera essas condições necessárias da
linguagem como contextuais, históricas e contingentes,
denominando sua posição de um ‘naturalismo fraco’. Habermas
acusa Apel de cair em uma ‘falácia idealista’ na medida em que
não trabalhando apropriadamente a concepção pragmática do
conhecimento continua situando o transcendental ‘fora desse
mundo’. Para Apel, no entanto, Habermas confunde filosofia
e sociologia, perdendo cada vez mais a dimensão crítica da
linguagem em favor de um destrancendentalização do discurso,
e diz que a pergunta transcendental, no sentido inaugurado
por Kant, tornou-se hoje mais premente. E a cisão entre os
dois pensadores torna-se mais crítica quando Habermas postula
um princípio neutro do discurso, fazendo com que Direito e
Moral sejam co-originários. Ora, para Apel, o próprio direito e
seu aparato coercitivo estatal necessitam de uma justificação
racional, filosófica, que não encontra no próprio seio do direito
sua razão de ser. Por isso, parte-se do princípio do discurso,
como médium intransponível do discurso humano, no qual está
contido o princípio moral por excelência e dele decorrem todas
as outras esferas de universalização e aplicação de normas de
246 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 246 06/11/2016 13:25:08
condutas que se concretizam através da aplicabilidade desses
princípios em contextos históricos específicos por meios de
instituições, dentre eles o Direito, que efetivam tais valores já
justificados argumentativamente.
Diante desses desafios, Apel e Habermas serão os
pensadores que buscam uma alternativa na qual a razão seja
o baluarte de uma organização social. Com isso, eles farão um
resgate da filosofia kantiana, modificada a partir do confronto
com o uso pragmático da razão. Assim, eles propõem uma
teoria discursiva que perpassa os diversos discursos possíveis:
seja o teórico, seja o prático, que se divide em ética e política
(direito), uma vez que as teses a que se chega são obtidas
tendo no momento do discurso o seu afloramento. Através
dos parceiros do discurso chega-se, via explicitação dos
pressupostos inerentes a toda linguagem, aos valores que se
quer sejam perpetuados por uma sociedade racional, digna,
solidária, emancipada e livre das injustiças sociais que assolam
a humanidade em pleno século XXI.
Algumas questões se impõem diante das propostas de Apel
e Habermas, que pensam dentro de pressupostos abertos pelo
pensamento transcendental, mesmo que reformulado a partir
do confronto com a ‘lingustic turn’.
Há proposta viável para a crise porque passa a filosofia,
em particular, e a cultura humana, de forma geral, dentro
da tradição de pensamento transcendental, na qual Apel e
Habermas se movimentam teoricamente? Superar os dilemas,
em que se envolve toda filosofia da subjetividade, a partir do
paradigma da intersubjetividade, é suficiente para enfrentar-se
a crise civilizatória que perpassa a humanidade hoje?
Os conceitos teóricos alavancados por Apel e Habermas
são suficientes para desempenhar um papel de guardião da
dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, de uma
Filosofia, Cidadania e Emancipação 247
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 247 06/11/2016 13:25:08
civilização emancipatória, que tem no direito sua expressão
máxima?
E, por fim, os valores decorrem única e exclusivamente
daquilo que se é convencionado, ou existe uma esfera anterior,
que não é redutível ao consenso? Como Apel e Habermas
enfrentam essa problemática sem retornar a uma metafísica
ingênua, para falar com Kant? A proposta deles é suficiente,
ela não redundaria em um círculo vicioso, em que aquilo que
se quer provar é condição de possibilidade para o argumento?
A verdade decorre do consenso ou é algo anterior a ele? Os
limites impostos à filosofia, pelo pensamento transcendental,
mesmo que pós-reviravolta linguística, são suficientes para
enfrentar essas questões com honestidade intelectual? Não
seria mais satisfatório, do ponto de vista conceitual, e seria
mais apropriado para equacionar esses problemas, um retorno a
uma ontologia, e que é impossível de se chegar a ela dentro de
um pensamento transcendental, mesmo que reformulado? Apel
e Habermas abrem espaço dentro de suas respectivas filosofias,
para se chegar a esse suposto avanço intelectual? É certo que
a ontologia aqui mencionada é pensada a partir da primazia da
semântica, dentro do conceito de quadro referencial teórico,
como sugere Puntel (2008).
Essas são algumas indagações que emergem quando
se pensa dentro dos limites formais decorrentes da tradição
transcendental de pensar.
Considerações finais
O trabalho tenta discorrer sobre o grande debate que Apel
e Habermas travam com as principais correntes do seu tempo,
a fim de mostrar-lhes que o discurso filosófico é um saber
responsável e que, para fundamentar suas teses, necessita ter
um método de fundamentação próprio, diferente do usado pela
ciência, que se dá por um retorno reflexivo sobre o discurso,
248 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 248 06/11/2016 13:25:08
sobre a própria linguagem, a fim de se chegar a algo ineliminável
e irrecusável na vida humana: as condições pressupostas em
todo discurso sensato. Embora, para Habermas, cada vez mais
esse fundamento é dependente do contexto, portanto, ele
cada vez mais rejeita certezas últimas, e o ineliminável a que
chega é sempre dependente do contexto, logo, o ineliminável
é dependente das condições que engendram o contexto no qual
está inserido.
Apel e Habermsas pretendem, portanto, restabelecer a
razão como algo indispensável na vida humana, mostrando, aos
relativistas e céticos, que eles sempre pressupõem aquilo que
querem negar. Esse restabelecimento da razão é feita tanto
no nível teórico, quanto no nível da razão prática. E isso só
é possível, segundo Apel, através de uma filosofia pragmático-
transcendental reflexiva da intersubjetividade.
Somente o resgate dessa dupla dimensão da razão,
restabelecendo, assim, o cognitivismo teórico e prático em
nossa cultura, chegar-se-á a um ambiente espiritual no qual
a obrigatoriedade das sentenças normativas e jurídicas seja
sustentada pelo reconhecimento intersubjetivo dos parceiros
de uma comunidade real e ideal de comunicação, que encontra
sua efetivação maior em um solo histórico no qual o baluarte da
organização social se dá através de valores cujo ápice encerra-
se com um modo de organizar a vida respaldado por uma
sociedade que deita suas raízes em um poder estatal radicado
no direito, cuja marca maior é a justiça.
Referências
APEL, Karl.-Otto. Transformação da filosofia I: Filosofia analítica,
semiótica, hermenêutica; Vol. II: O a priori da comunidade
de comunicação. Trad. Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola,
2000.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 249
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 249 06/11/2016 13:25:08
______. Ética e Responsabilidade. O problema da Passagem
para a moral pós-convencional, Trad. Jorge Telles Menezes.
Lisboa: Instituto Piaget, 2007.
APEL, Karl-Otto; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de; MOREIRA,
Luiz. Com Habermas, contra Habermas: direito, discurso e
democracia. Organizador: Luiz Moreira. Tradução dos ensaios
de Apel: Cláudio Molz; Revisão da Tradução: Luiz Moreira. São
Paulo: Landy, 2004.
ARISTÓTELES. Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego
com tradução e comentários de Giovanni Reale. Tradução de
Marcelo Perine. Vol. I: ensaio introdutório; Vol. II: texto grego
com tradução ao lado; Vol. III: sumários e comentário São Paulo:
Loyola, 2002.
CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Dialética para principiantes.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A Legitimidade Pragmática dos
Sistemas Normativos. In: MERLE, Jean-Christophe; MORERIA,
Luiz (org.) Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy Editora,
2003.
______. Prefácio à segunda edição. In: Otto, Écio. Teoria do
Discurso e Correção Normativa do Direito. Florianópolis:
Conceito Editorial, 3ª ed. 2012.
HABERMAS, Jurgen. A filosofia como guardador de lugar e
intérprete. In: Consciência Moral e Agir Comunicativo. Tradução
de Guido A. de Almeida, Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1989.
______. Pensamento pós-metafísico. Estudos filosóficos.
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1990.
______. A ética da discussão e a questão da verdade: organização
e introdução de Patrick Savidan. Tradução de Marcelo Brandão
250 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 250 06/11/2016 13:25:09
Cipolla. 3ª ED. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013
______. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. Tradução:
Milton Camargo Mota. São Paulo. Edições Loyola, 2004.
______. Direito e democracia: entre facticidade e validade.
Vol. I. Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1997.
HERRERO, Francisco Javier. Ética do Discurso. In: OLIVEIRA, M.
A. de (org.) Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea.
Petrópolis: Vozes, 2000.
______. A razão kantiana entre o logos socrático e a pragmática
transcendental. Síntese nova fase, nº 52, São Paulo: Edições
Loyola, 1991.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela
Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Introdução e
notas de Alexandre Fradique Morujão. 3ª. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1994.
______. Prolegómenos a toda a metafísica futura. Tradução de
Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1987.
LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. A Metafísica na Modernidade. In:
Escritos de Filosofia III. Filosofia e Cultura, São Paulo: Loyola,
1997.
______. Escritos de filosofia VII: Raízes da modernidade. São
Paulo: Loyola, 2002.
MOREIRA, Luiz. Fundamentação do Direito em Habermas. 3ª ed.
Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.
MOREIRA, Luiz. Introdução à edição brasileira. In: GÜNTER,
Klaus. Teoria da argumentação no direito e na moral: justificação
e aplicação. Tradução de Cláudio Molz. Coordenação, revisão
técnica e introdução à edição brasileira de Luiz Moreira. São
Filosofia, Cidadania e Emancipação 251
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 251 06/11/2016 13:25:09
Paulo: Landy, 2004.
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A ética do discurso. In: Ética e
racionalidade moderna. 3ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2002.
______. Ética, Direito e Democracia. São Paulo: Paulus, 2010.
______. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia
contemporânea. São Paulo: Loyola, 1996.
______. Sobre a fundamentação. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1993.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus.
Tradução, apresentação e ensaio introdutório de Luiz Henrique
Lopes dos Santos. 2ª edição revista e ampliada. São Paulo:
Edusp, 1994.
252 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 252 06/11/2016 13:25:09
Para além das diferenças de gênero: o
enfoque político da ética do cuidado
Maria da Penha Felício dos Santos de Carvalho
O patriarcado exclui o amor entre iguais, exclui,
portanto a democracia - que se baseia nesse tipo
de amor - e a liberdade de voz que ele incentiva.
(GILLIGAN, 2010, p.36)
Introdução
Desde sua publicação, em 1982, a obra Uma Voz Diferente,
da psicóloga norte-americana Carol Gilligan1, suscitou grande
interesse entre teóricos de diversas áreas de conhecimento,
sobretudo entre aqueles que se ocupam dos estudos de
gênero. Na obra, a autora apresenta os princípios da sua ética
do cuidado, bem como defende a tese de que mulheres e
homens alcançariam graus diferenciados de maturidade moral
percorrendo caminhos diversos. Ao sustentar tal tese, Carol
Gilligan está colocando em questão a pretensão à universalidade
da teoria do desenvolvimento moral do psicólogo e filósofo
Lawrence Kohlberg, de quem foi aluna e colaboradora. Assim
sendo, mesmo não tendo formação filosófica sistematizada,
mesmo tendo construído sua teoria a partir da observação
empírica, a crítica de Gilligan ao modelo de Kohlberg pode ser
vista como uma contribuição importante para a discussão ética
contemporânea, uma vez que contesta o ainda predominante
paradigma da moralidade autônoma, que vincula maturidade
1 Carol Gilligan nasceu em Nova York em novembro de 1936. Hoje, aos
79 anos, ainda tem presença acadêmica importante nas Universidades de
Harvard e de Nova York. Em 1997, tornou-se a primeira professora de estudos
de gênero em Harvard.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 253
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 253 06/11/2016 13:25:09
moral ao uso exclusivo de princípios estritamente racionais,
puros, nos julgamentos e nas decisões morais.
Em escritos publicados a partir de 2000, além de se
empenhar em demonstrar que a neutralidade de gênero
da teoria universalista de Kohlberg é equivocada – já que o
universal é determinado pelo masculino – Gilligan expressa
uma nova versão da ética do cuidado. Nesta segunda fase de
seu percurso acadêmico, a autora não só aprofunda e amplia
posições defendidas em sua primeira obra, como desenvolve
certos pontos de vista que tinham sido apenas esboçados em
1982. É, portanto, a partir dessa base que, quase três décadas
depois, Gilligan apresenta suas reflexões sobre o cuidado como
conceito crítico e político. Sobre a atualidade dos pontos de
vista defendidos em sua primeira obra, Gilligan escreve em
2010:
A ética do cuidado é mais urgente hoje do que
há mais de 30 anos, quando comecei a falar
sobre esse tema [...]. Nos Estados Unidos,
nosso novo presidente, Barack Obama, no
seu primeiro discurso no Congresso, falou
sobre os danos causados pela ausência
de cuidado – na saúde, na educação, na
economia, em relação ao planeta – e
enfatizou a necessidade de substituir um
ethos de ausência de cuidado e de interesses
individuais, por uma ética do cuidado e da
responsabilidade coletiva (GILLIGAN, 2010,
p.21-22)
Após uma exposição dos principais pontos da ética do
cuidado tal como foi elaborada por Carol Gilligan e apresentada,
inicialmente, em seu livro Uma Voz Diferente, o presente
trabalho se propõe a refletir sobre textos mais recentes desta
autora. Com tal propósito, concede-se especial atenção ao texto
“Uma voz diferente. Um olhar prospectivo a partir do passado”,
produzido em 2010 a partir de uma conferência pronunciada
254 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 254 06/11/2016 13:25:09
em Paris, quando Gilligan foi convidada para a reedição da
tradução francesa da sua obra clássica Uma Voz Diferente.2 A
conferência foi traduzida para o francês e publicada em uma
coletânea dedicada ao pensamento de Carol Gilligan.
No texto de 2010, além de falar sobre a atualidade do
primeiro livro e reafirmar as ideias defendidas na obra de
1982, Gilligan se preocupa em tornar explícita uma concepção
mais abrangente e mais radical do cuidado, agora apresentado
como conceito crítico que coloca em questão as relações de
poder, as dualidades e hierarquias enraizadas nas sociedades
não democráticas; preocupa-se em ampliar o alcance da voz
diferente, estendendo-a para todos os grupos discriminados, não
só por gênero. Nessa perspectiva, Gilligan vai enfatizar que são
igualmente diferentes as vozes dos negros, dos homossexuais,
dos imigrantes, dos que pertencem às classes sociais menos
favorecidas.
Assim sendo, é intenção do presente trabalho destacar
a segunda fase do pensamento de Carol Gilligan, o momento
em que ela apresenta a voz diferente como sendo a voz da
resistência e mostra que a ética do cuidado - por colocar em
destaque a voz, as vozes, por enfatizar que cada qual tem uma
voz que deve ser ouvida e compreendida - é a ética de uma
sociedade democrática.
Uma voz diferente
Quando, em 1982, Carol Gilligan expôs em In a different
voice - psychological theory and women’s development, suas
2 A primeira tradução francesa é de 1986. Um fato curioso a observar é que,
embora a repercussão da primeira obra de Carol Gilligan tenha sido bastante
grande em diversas partes do mundo – o que pode ser constatado pelas muitas
traduções, além dos inúmeros estudos e publicações existentes sobre a autora
e a ética do cuidado – na França houve, a princípio, uma certa resistência em
reconhecer o tema como importante do ponto de vista acadêmico, sobretudo
no campo da filosofia.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 255
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 255 06/11/2016 13:25:09
ideias originais a respeito da existência de maneiras distintas
de mulheres e homens se posicionarem sobre a moral, ela
estava marcando uma forte diferença em relação à teoria do
desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg, psicólogo e
filósofo consagrado, professor da respeitada Universidade de
Harvard. Aliás, é possível supor que a motivação maior para a
publicação de Uma voz diferente tenha sido a discordância de
aspectos fundamentais da teoria de Kohlberg, de quem Gilligan
foi aluna e colaboradora.
Inspirado na teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean
Piaget, Lawrence Kohlberg (1927-1987) criou a sua teoria do
desenvolvimento moral na qual defende que, por um processo
de amadurecimento, todos os seres humanos têm a capacidade
de atingir a plena competência moral, medida pelo paradigma
da moralidade autônoma. Em sua teoria, Kohlberg estabelece
estágios ou etapas do desenvolvimento moral, em que o estágio
mais elevado seria aquele em que as decisões morais são
tomadas com base em princípios estritamente racionais, puros,
universais. Princípios a priori, diria Kant, de quem Kohlberg é,
sem dúvida, conhecedor e herdeiro.
As pesquisas de Gilligan, apresentadas em Uma voz
diferente, evidenciam que a experiência moral das mulheres
difere sistematicamente da experiência dos homens: as mulheres
mostram uma orientação ética voltada para a responsabilidade
e para o cuidado, enquanto que a moral masculina orienta-
se segundo os princípios do direito e da justiça. Além disso,
Gilligan sustenta que a moralidade feminina passa por etapas
específicas de desenvolvimento, radicalmente diferentes
daquelas que caracterizam o desenvolvimento moral masculino
e que são habitualmente consideradas universais. O que Gilligan
contesta, sobretudo, é a pretensão à universalidade da teoria
de Kohlberg!
256 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 256 06/11/2016 13:25:09
A teoria de Kohlberg
Lawrence Kohlberg elaborou sua teoria dos estágios do
desenvolvimento moral a partir de um estudo realizado com
oitenta e oito meninos de várias culturas e classes sociais
diferentes, que foram acompanhados durante vinte anos. Ao
longo desse período, foram analisadas as respostas livres do
grupo a certos dilemas morais hipotéticos, apresentados como
as fábulas, em que são colocados em cena valores e normas
éticas conflitantes.
Com base nesse estudo, Kohlberg elaborou uma escala
para medir o grau de desenvolvimento moral dos sujeitos. Desse
modo, ele identificou seis estágios distintos de desenvolvimento
moral, agrupados em três níveis, por ele denominados: nível
pré-convencional, nível convencional e nível pós-convencional.
As principais características dos três níveis são as seguintes:
Nível pré-convencional - crianças até 10 anos, alguns
adolescentes e poucos adultos:
- o correto ou justo reduz-se às regras de quem tem o
poder, pode castigar ou premiar, produzir prazer: o justo é o
que satisfaz os interesses próprios
- não há perspectiva social. O justo é definido pelo ponto
de vista do próprio indivíduo
- as razões para sustentar o que é correto são: interesse
pessoal, evitar o castigo, submeter-se ao poder, evitar causar
dano físico a outros, intercambiar favores
Nível convencional - maioria dos adolescentes e muitos
adultos:
- o correto ou justo significa conformar-se a seguir regras,
papéis e expectativas da sociedade ou de um grupo social,
político ou religioso
Filosofia, Cidadania e Emancipação 257
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 257 06/11/2016 13:25:09
- os juízos são formulados com estrita referência às
regras do grupo
- há perspectiva social – reorientação de interesses
próprios para benefício de outros; colocar-se no lugar do outro;
consideração pelo bem estar do outro e da sociedade
- as razões para sustentar o que é correto são a aprovação
e a opinião social, a lealdade para com as pessoas e grupos, o
bem-estar dos demais e da sociedade
Nível pós-convencional - adultos; maturidade moral:
- o correto ou justo define-se segundo direitos humanos
ou segundo princípios de dignidade humana
- a perspectiva ética ultrapassa o ponto de vista social;
os indivíduos definem valores e princípios não fundados nas
expectativas da sociedade, mas na dignidade humana
- as razões para sustentar o que é justo estão apoiadas na
compreensão de que viver em sociedade implica o compromisso
de respeitar e apoiar os direitos dos outros
- contrato social: significa comprometer-se com certos
princípios percebidos por todos como universalmente válidos
Os níveis de desenvolvimento moral seriam progressivos,
o que significa, segundo Kohlberg, passar da formulação
de juízos puramente heterônomos, baseados em regras de
expectativa social, para um raciocínio ético autônomo, fundado
em princípios racionais, universalmente válidos.
258 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 258 06/11/2016 13:25:09
Principais críticas de Gilligan
(a) Teoria baseada unicamente na avaliação cognitiva: juízos
X agir concreto.
Gilligan critica o fato de a teoria de Kohlberg se basear
na pura avaliação cognitiva dos julgamentos morais, o que quer
dizer que não se interessa pela interiorização de atitudes éticas
ou por virtudes e valores morais (o caráter não está em jogo –
não pode ser avaliado). Não importa que alguém emita um juízo
de acordo com o nível pós-convencional e que, concretamente,
não siga esse juízo na prática do seu agir.
Teoria racionalista excludente: razão X emoção
Outro aspecto importante da teoria de Kohlberg que deve
ser contestado, segundo Gilligan, é a postura intelectualista,
revelada pelo fato de Kohlberg dar grande ênfase aos fatores
cognitivos em detrimento dos componentes emocionais no
desenvolvimento moral. Desse modo, Kohberg está reforçando
a idéia de um suposto antagonismo entre razão e emoção,
revelando-se fiel herdeiro da tradição deontológica racionalista,
iniciada com Kant.
A universalidade dos estágios é equivocada
Embora Kohlberg tenha reivindicado universalidade para
a sua sequência de estágios, muitos pensadores contestaram
sua posição e procuraram demonstrar que nem todos os grupos
de pessoas atingem os estágios supostamente mais elevados
do desenvolvimento moral. Em Uma voz diferente, Gilligan
manifesta uma importante crítica à tese de Kohlberg que
sustenta que a moralidade fundada em princípios estritamente
racionais, formais e abstratos representa o mais alto grau de
Filosofia, Cidadania e Emancipação 259
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 259 06/11/2016 13:25:09
desenvolvimento moral para homens e mulheres. Além disso,
empenha-se em demonstrar que a neutralidade de gênero
da teoria “universalista” de Kohlberg é falsa, uma vez que o
universal é determinado pelo masculino.
Ora, argumenta Gilligan, se as mulheres não alcançam o
grau maior de maturidade moral, estipulado por Kohlberg, o
problema não está nas mulheres, mas na metodologia usada.
O fato de a perspectiva moral das mulheres diferir em
muitos aspectos da dos homens, não quer dizer que seja
inadequada ou deficiente. Mas é porque se estabeleceu que a
norma é a experiência masculina, que as mulheres sempre são
vistas como desviantes da norma, anormais! Assim, o que deve
ser questionado, segundo a autora, é o caráter normativo da
experiência masculina, e não a capacidade moral das mulheres.
A teoria de Carol Gilligan
A partir da constatação da não-universalidade do
paradigma de Kohlberg, Gilligan propõe outro modelo de
desenvolvimento moral - centrado na categoria do cuidado -
e uma concepção alternativa de maturidade moral. Embora o
enfoque no cuidado e na responsabilidade persista ao longo de
toda a sequência do desenvolvimento moral feminino, Gilligan
vai assinalar a existência de três perspectivas morais e suas
respectivas fases transitórias, caracterizadas por visões distintas
da responsabilidade e do cuidado. Seguindo Kohlberg, Gilligan
também vai nomear os níveis da ética do cuidado como: nível
pré-convencional, convencional e pós-convencional.
Gilligan assinala que as situações de crise, as experiências
vividas de conflito moral e de tomadas de decisão, podem
constituir momentos privilegiados para o desencadeamento de
situações de transição para os estágios de maior maturidade
260 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 260 06/11/2016 13:25:09
moral. As etapas do desenvolvimento moral, segundo a ética do
cuidado, seriam assim caracterizadas:
• Nível pré-convencional: decisões centradas no “eu”
• cuidado de si mesmo - orientação para a sobrevivência
individual
• fase transitória: do egoísmo para a responsabilidade
Nível convencional: bondade como auto-sacrifício;
anular-se para cuidar de outros
• cuidado por outros – reorientação dos interesses próprios
para o benefício dos outros, abnegação, resignação: aceitação
do sofrimento como destino.
• fase transitória: do auto-sacrifício à inclusão de si
mesmo
Nível pós-convencional:
• cuidado como princípio moral universal
• maturidade moral: equilíbrio entre o cuidado de si
e o cuidado dos outros, entre a auto-estima e o interesse e
responsabilidade por outros
Sublinhar a importância da perspectiva feminina em ética
pressupõe, evidentemente, o reconhecimento de diferenças de
posicionamento moral no homem e na mulher. Esse ponto de
vista de Gilligan é, muitas vezes, interpretado como uma defesa
da tese essencialista. Entretanto, é possível considerar que a
defesa de Gilligan do valor do ponto de vista moral feminino
não visa reforçar a feminilidade da mulher, por oposição à
masculinidade do homem, nem tampouco insinua uma hierarquia
invertida, isto é, a superioridade natural do sexo feminino em
relação ao masculino. Uma vez que a existência de essências
ou naturezas diferenciadas não é afirmada em momento algum
Filosofia, Cidadania e Emancipação 261
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 261 06/11/2016 13:25:09
da argumentação de Gilligan, pode-se inferir que o ponto de
vista feminino ao qual ela se refere não é necessariamente,
nem exclusivamente, o ponto de vista da mulher.
Trata-se, portanto, de reivindicar legitimidade para a
voz diferente por meio da qual se expressam, sobretudo, as
mulheres. Na verdade, é a própria Gilligan quem enfatiza que,
embora seja específico da mulher, o cuidado não é exclusivo
do sexo feminino. Há uma passagem em Uma voz diferente
especialmente ilustrativa dessa perspectiva não essencialista
A voz diferente que eu defino caracteriza-
se não pelo gênero, mas pelo tema.
Sua associação com as mulheres é uma
observação empírica, e é, sobretudo, através
das vozes das mulheres que eu traço seu
desenvolvimento. Mas essa associação não
é absoluta, e os contrastes entre as vozes
femininas e masculinas são apresentados,
aqui, para aclarar uma distinção entre
dois modos de pensar e para focalizar um
problema de interpretação mais do que para
representar uma generalização sobre ambos
os sexos. (GILLIGAN, 1982, p. 12)
Ampliando a voz diferente...
Em sua conferência traduzida e publicada em francês
em 2010, Gilligan reforça e aprofunda sua perspectiva não
essencialista ao proclamar que “o cuidado e o cuidar não são
questões de mulheres; são preocupações humanas”. (GILLIGAN,
2010, p. 26)
Nesse momento, ela se empenha em tornar explícita uma
concepção mais radical, mais abrangente do cuidado que passa
a ser visto como um conceito crítico que coloca em questão as
relações de poder, as dualidades e as hierarquias enraizadas nas
262 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 262 06/11/2016 13:25:09
sociedades não democráticas. Na verdade, nessa segunda fase
de seu pensamento, Carol Gilligan reelabora certas concepções
expostas anteriormente. Nessa perspectiva, preocupa-se em
ampliar o alcance da voz diferente, a qual deve ser estendida
para todos os grupos discriminados, não apenas por gênero.
Trata-se, portanto, de enfatizar que são igualmente diferentes
as vozes dos negros, dos homossexuais, dos que pertencem às
classes sociais menos favorecidas, enfim, as vozes de todos os
grupos que fogem ao padrão consagrado de normalidade.
Além disso, no texto de 2010, Gilligan retoma sua antiga
preocupação em combater a postura dualista em moral3,
combater a tese tradicional que sustenta que os julgamentos e
as decisões morais precisam estar fundamentados unicamente
na racionalidade, sob pena de não atingirem a objetividade,
a neutralidade e a imparcialidade supostamente necessárias
para o agir moral autêntico. Ao contrário desse ponto de vista,
Gilligan procura evidenciar que outra perspectiva moral é não
somente possível, como desejável. Nesse sentido, a ética do
cuidado constitui um questionamento radical ao modelo ético
dominante e a voz diferente é percebida como a voz que une
razão e emoção.
Dentre as questões importantes discutidas por Gilligan, em
seu olhar retrospectivo sobre Uma voz diferente, destacam-se
duas. Uma delas diz respeito à possibilidade de uma abordagem
política do cuidado. A outra questão refere-se à pertinência de
se considerar a ética do cuidado como uma ética feminista.
Um tratamento político do cuidado aparece claramente
3 Vale observar que, no escrito de 2010, Carol Gilligan introduz
um referencial teórico novo: o neuro-biólogo Antonio Damásio que
demonstra que razão e emoção são biologicamente unidas e que
a separação só ocorre como consequência de uma lesão ou de um
traumatismo cerebral. (GILLIGAN, 2010, p. 29-30)
Filosofia, Cidadania e Emancipação 263
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 263 06/11/2016 13:25:09
ao longo do estudo de 2010, sobretudo nos momentos em que
Gilligan enfatiza que a voz diferente é a voz da resistência às
dualidades e às hierarquias típicas do patriarcado. A ética do
cuidado, por colocar em destaque a voz, as vozes, por enfatizar
o fato de que cada um tem uma voz que deve ser escutada e
compreendida, seria a ética de uma sociedade democrática.
É importante sublinhar que, ao discorrer sobre o
patriarcado, ao falar a respeito de discriminação, Gilligan não
se refere apenas às mulheres, mas é a partir dessa discriminação
primeira que as outras se sustentam. Segundo Gilligan, a ideia
de patriarcado não se aplica apenas ao domínio de homens
sobre mulheres, mas é mais ampla.
O patriarcado é uma ordem organizada em
torno do gênero, na qual a autoridade é
construída sobre a dualidade e a hierarquia;
ele [o patriarcado] perpetua uma hierarquia
de gênero onde as qualidades consideradas
masculinas tornam-se superiores às qualida-
des associadas ao feminino, e onde o fato
de ser um homem significa estar no topo da
hierarquia. O patriarcado coloca certos ho-
mens em um nível superior a outros homens
e todos os homens em um nível superior às
mulheres (GILLIGAN, 2010, p. 22)
A partir de suas afirmações de base, quais sejam (1) o
cuidado é uma preocupação expressa majoritariamente, mas
não de forma exclusiva, pelas mulheres e (2) o patriarcado é
um sistema opressor que se perpetua pelo fato de manter uma
hierarquia entre pessoas em geral, não apenas entre homens e
mulheres, Carol Gilligan vai sustentar sua tese de que a ética do
cuidado é uma ética feminista no sentido de colocar em questão
a tradicional desvalorização dos sentimentos nos julgamentos e
264 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 264 06/11/2016 13:25:09
decisões morais; a ideia de que há pessoas que são, por natureza,
inferiores a outras; a dicotomia clássica entre emoção e razão;
em síntese, todos os dualismos hierárquicos que são decisivos
para a manutenção do poder e de privilégios.
O pensamento de Gilligan, sobretudo na segunda fase,
revela o firme objetivo em posicionar-se a favor de todos
aqueles que se encontram fora dos centros de poder. Estes não
são apenas as mulheres, mas todos os dominados, todos os que
têm vozes inaudíveis, anuladas pelas mais diversas formas de
exploração. Para concluir, cito uma passagem do texto de 2010
na qual Carol Gilligan sintetiza brilhantemente sua concepção
do cuidado como conceito político:
Em uma sociedade e uma cultura patriarcais,
o cuidado é uma ética feminina, que reflete
a dicotomia do gênero e a hierarquia
do patriarcado. Em uma sociedade e
uma cultura democráticas, baseadas na
liberdade de voz e no debate aberto, o
cuidado é uma ética feminista: uma ética
que caminha na direção de uma democracia
liberada do patriarcado e dos males que lhe
estão associados: o racismo, o sexismo, a
homofobia e outras formas de intolerância e
de ausência de cuidado. Uma ética feminista
do cuidado é uma voz diferente porque
é uma voz que não veicula as normas e os
valores do patriarcado; é uma voz que não
é governada pela dualidade e hierarquia do
gênero, mas que articula normas e valores
democráticos (GILLIGAN, 2010, p.25)
Referências
BENHABIB, S. O outro generalizado e o outro concreto:
a controvérsia Kohlberg-Gilligan e a teoria feminista. In:
Feminismo como crítica da Modernidade. Rio de Janeiro: Rosa
dos Tempos, 1987, p. 87-106.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 265
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 265 06/11/2016 13:25:09
_______. Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoria
moral. Isegoría. Revista de Filosofía Moral y política, n. 6,
1992, p. 37-64.
BRUGÈRE, F. L’éthique du care. Paris: PUF, 2011 (Col. Que sais-
je?).
BUBECK, D. Care, gender and justice. Oxford: Clarendon Press,
1995.
CARRACEDO, J. R. La psicología moral ( de Piaget a Koohlberg).
In: Historia de la ética (v. 3. La ética contemporánea),
Barcelona: Crítica, 1992, p. 457-499.
CARVALHO, M.P.F.S. Sobre justiça e cuidado: integrando razão
e afetividade em ética. In: PIZZI, J. PIRES, C. (orgs.). Desafios
éticos e políticos da cidadania. Ijuí: Editora Unijuí, 2006, p.
145-160.
FLANAGAN, O. Psychologie morale et éthique. Paris: PUF, 1996
(Col. Philosophie Morale).
GILLIGAN,C. Uma voz diferente. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 1990. Título original: In a different voice - psychological
theory and women’s development (publicado em 1982)
_______. Une voix différente. Un regard prospectif à partir du
passé. In NUROCK, V. (org.) Carol Gilligan et l’éthique du care.
Paris: PUF, 2010, p. 19-38 (Col. Débats philosophiques).
JAGGAR, A. M. Éthique Féministe. Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale (ed. CANTO-SPERBER, M.), Paris: PUF, 1996,
p. 553-559.
LAUGIER, S. L´éthique d’Amy: le care comme changement
de paradigm en éthique. In NUROCK, V. (org.) Carol Gilligan
et l’éthique du care. Paris: PUF, 2010, p. 57-77 (Col. Débats
philosophiques).
266 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 266 06/11/2016 13:25:09
PAPERMAN, P. LAUGIER, S. (orgs.). Le souci des autres: éthique
et politique du care. Paris: Éditions de l’école des hautes etudes
en sciences socials, 2011.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 267
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 267 06/11/2016 13:25:09
Política e Filosofia em Arendt e Vattimo
Antonio Glaudenir Brasil Maia
Ricardo George Araújo Silva
Introdução
O texto apresenta as reflexões de Hannah Arendt e Gianni
Vattimo, levando em consideração o panorama do pensamento
político do século XX para o qual se demonstraram os esforços
teóricos de enfrentamento de toda e qualquer pretensão
totalitária. Desse modo, o totalitarismo figura como um fenômeno
antipolítico e violento, que impulsionou muitos pensadores
a concentrarem suas reflexões sobre as questões políticas.
Arendt e Vattimo se inserem nessa constelação, considerando
que Política e Filosofia são dois âmbitos intransponíveis para
a compreensão crítica do existente e, por isso, devem ser
pensadas com base na efetivação da emancipação humana.
Tanto Hannah Arendt quanto Gianni Vattimo, para além
das diferenças, se esforçaram para fazer valer as razões
políticas em detrimento das econômicas que, na sociedade
capitalista globalizada, o aspecto econômico se sobrepôs à
dimensão da politicidade que deve configurar uma sociedade
(democrática), organizada politicamente em função de garantir
o espaço público e, especialmente, a prática da liberdade e
consequentemente a efetivação da emancipação, não mais a
imposição arbitrária de ‘verdades’ absolutas tampouco como
um metarelato, que na história assumiu caráter totalitário.
Ora, a crítica da metafísica, da verdade absoluta como
algo privilegiado de um grupo que conduziria a anulação da
pluralidade, da diferença e da esfera pública são os pontos de
interseção entre ambos. A concepção arendtiana de política e
as reflexões sobre política de Vattimo repelem frontalmente
268 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 268 06/11/2016 13:25:09
a violência totalitária, considerada antitética em relação à
política.
Filosofia e Política: a crítica de Vattimo a emancipação como
metanarrativa
Em sua reflexão, Vattimo elege a emancipação como
preocupação central de seu pensamento e a define como questão
fundamental da Filosofia em sua missão radicalmente política.
Em outras palavras, a Filosofia que se propõe a contribuir para
a emancipação do homem evidencia o seu propósito político.
Ao analisar a vocação filosófica orientada para a politica,
Vattimo designa, na obra Vocazione e responsabilità del filosofo
(2000), que a tarefa da transformação da sociedade, do homem
e do mundo passa pela Filosofia. Desse modo, a questão que
prevalece na Filosofia é sempre um bem político, uma questão
de comunidade política. Por isso, Política e Filosofia são
concebidas, portanto, como as duas articulações de um mesmo
modo de práxis orientada para a emancipação humana.
Podemos, de antemão, considerar a Emancipação
como um metarrelato? Uma intenção que marcou a tradição
filosófica nas mais variadas vertentes. E por metarrelato aqui
se compreende, seguindo Lyotard em sua obra A condição
humana [1988], uma tipologia de discurso que tem uma função
de legitimação, reconhecida nos grandes sistemas filosóficos,
tais como: iluminismo, marxismo, positivismo, dentre outros.
A pergunta vai ao encontro dos relatos emancipadores (entre
eles, podemos também citar: o comunismo) que reinaram na
modernidade que, sem dúvida, definiam uma ideia da história
teleologicamente orientada e de um sujeito revolucionário.
Se percorrermos a história da Filosofia encontraremos
sempre a presença da emancipação como categoria fundamental,
ou seja, parece ser um lugar comum nos mais diversos sistemas
filosóficos.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 269
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 269 06/11/2016 13:25:09
Desse modo, a Emancipação significa
tudo àquilo que os filósofos prometeram.
Prometiam um conhecimento melhor da
realidade, porque depois seriam mais livres
e poderiam intervir sobre a realidade. O
próprio Aristóteles, em um dos primeiros
livros da Metafísica, fala do fato de que
não se pode conhecer tudo, o qual é óbvio,
porém, se pode conhecer de tudo através
dos princípios. Se eu conheço os princípios,
os archai, posso de alguma maneira dominar
a realidade. Emancipação é o sonho
tradicional da Filosofia: te prometo uma
maior felicidade se seguir ou compartilhar o
que te ensino (VATTIMO, 2011, p. 26)
Com isso, a Filosofia sempre pensou a Emancipação
como se fosse a realização de um modelo dado, um modelo
que se dá desde a origem, ou seja, a ideia de emancipação
sempre se fundou sobre a pretensão de buscar a efetivação
de um modelo originário. Por exemplo, a revolução proletária
era concebida como capaz de restituir a verdadeira essência
humana, alcançada por meio da lógica de superação crítica
que configurou a leitura dialético-emancipativa, a qual inspirou
diversas correntes.
A luta pela emancipação sempre inspirou, ao longo
da história da humanidade, movimentos de contestação das
injustiças e das desigualdades. Esta representa, por exemplo,
a luta comunista. Mas, a trajetória da luta não alcançou os
patamares desejados. Entre as consequências da crise do
comunismo mundial se pode incluir também certa perda da
confiança no poder emancipatório da Filosofia, na sua capacidade
de produzir os efeitos práticos sobre a vida individual e coletiva
da humanidade. A queda da revolução comunista na URSS, na
China [e também em Cuba], acrescida da condição de guerra e
violência que configura nossa atualidade, pode ser associada, de
certo modo, a “[...] renúncia da filosofia da sua responsabilidade
270 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 270 06/11/2016 13:25:09
histórica e politica. Quando as armas da crítica não se fazem
mais escutar – da opinião pública, dos políticos, etc. – se poderia
dizer, usando ainda uma expressão de Marx, que é a crítica das
armas a tomar a palavra”. (VATTIMO, 2009, p. 105).
A redução da Filosofia a uma situação acadêmica pode
traduzir, de fato, ao que Marx propôs nas Teses sobre Feuebarch,
aquela que ressaltava que a Filosofia teria a missão de transformar
o mundo e não de limitar-se a interpretá-lo. A famosa XI tese
de Marx sobre Feuebarch “Os filósofos apenas interpretaram
o mundo, é chegada a hora de transformá-lo”(1996, p. 14) é,
por assim dizer, motivada por uma fundamentação dialético-
iluminista. Sob a influência da dominação econômica em cada
território da vida humana, a Filosofia encontrou a razão de sua
redução a uma função meramente ‘descritiva’ da condição
humana, ou de auxiliar das ciências – se assim, desejarmos.
Aceitando a provocação de Marx, o que ainda pode ser
pensado na relação Filosofia e Emancipação? Para responder
a tal pergunta é imprescindível reconhecer que na sociedade
capitalista impera ainda uma falsa consciência condicionada
pela ideologia dominante, sendo, é claro, um ponto de partida
apontado por Marx. No entanto, pergunta-se até que ponto
se pode mensurar as transformações que a tradição marxista,
incluindo Marx, almejava em relação às condições de existência?
De início, um ponto de vista deve ser destacado: se reconhece
que, embora os filósofos marxistas não tenham transformado o
mundo na medida desejada, não significa que o enfoque político
estivesse errado, mas, senão que tal tradição se encontra
enquadrada na tradição metafísica. Na interpretação de
Vattimo, na obra Oltre l’Interpretazione (1994), é importante
ressaltar que a transformação do mundo exige previamente
uma transformação do modo de pensar, exigência que antecede
a própria transformação do mundo. Contrária à maioria dos
intérpretes clássicos de Marx, a leitura de Vattimo sobre tal
Filosofia, Cidadania e Emancipação 271
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 271 06/11/2016 13:25:09
tese, entende que a afirmação marxiana não desacredita a
Hermenêutica, tendo em vista que Marx manifesta que toda
interpretação deve produzir uma transformação, diferente do
que ocorre com a descrição que impõe uma realidade. Portanto,
a tarefa da Filosofia hoje em dia não é descreve, senão aprender
a interpretá-lo de maneira produtiva.
Isso permite pensar na perspectiva de um ‘giro
hermenêutico’ que vai na contramão da crença dos economistas
em uma verdade absoluta e os mercados trabalhassem
perfeitamente, do pretexto científico do socialismo, dos erros
e da violência de muitos regimes comunistas que resultaram
da incapacidade de considerar os aspectos da subjetividade
coletiva, que deveriam ser interpretados com o objetivo de
inovar nas relações das forças produtivas e do abandono da
ideia de que as próprias condições de trabalho garantiriam
automaticamente a transformação no modo de pensar. A
funcionalidade da verdade das leis do mercado, impostas pelo
chamado capitalismo liberal, e as reivindicações científicas
de certo tipo de comunismo, são consideradas produtos de
filosofias absolutas da história.
A busca do pensamento crítico, isto é, da Filosofia que
quer mudar o mundo é recordar a ideologia e criticá-la. Marx
convida a criticar a ideologia em nome de uma ‘verdade’: o
direito do proletariado de fazer revolução fundado sobre o fato
do mesmo ver a verdade (do homem, da história e também da
economia). Enfim, este direito do proletariado está atrelado
a sua capacidade de verdade que é uma atitude, diga-se de
passagem, metafísica. Em outras palavras, a emancipação neste
caso depende da consciência objetiva (não obscurecida pela
ideologia) da verdade. Dessa verdade se pode afirmar que a
revolução proletária se efetive como um regime de verdade, ao
mesmo tempo em que se apresenta como um regime autoritário
o que exemplificaria as tendências do comunismo real do
272 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 272 06/11/2016 13:25:09
tipo soviético, chinês. Entende-se aqui que a propensão da
narrativa da emancipação se constituiu não apenas como um
ideal regulativo, mas, sobretudo, foi concebida como a grande
verdade (absoluta).
Sabemos que somos historicamente finitos,
e, portanto, também na política sempre
corremos o risco de escolhas parciais, que
corremos apenas aceitando a negociação
com os outros, indivíduos ou grupos, ao
mesmo tempo finitos e parciais como nós.
Também apenas nos ensinando a sentirmos
parte (de um acordo, de um diálogo, até
mesmo de um conflito que possamos buscar
para regular com normas e tribunais, porém
não para eliminar tudo), talvez a filosofia
possa começar a transformar o mundo
ao invés de limitar-se a contemplá-lo.
(VATTIMO, 2009, p. 115)
Para tal análise, recorre-se a leitura que Vattimo fez
das objeções de Popper aos chamados ‘inimigos da sociedade
aberta’ e sobre a tese do ‘fim da Metafísica’ no sentido que lhe
confere a reflexão de Heidegger1. A Filosofia descobre, no fim da
Metafísica, em política, que a democracia vem afirmada nesse
processo, o que equivale dizer que a realidade não se deixa
compreender por um sistema logicamente compacto, aplicável
nas suas conclusões à política. Em suma, a Filosofia se encontra
1 Vattimo interpreta assim a concepção heideggeriana de metafísica
e elege como ponto de vista de referência interpretativa a dimensão
ético-política que o pensiero debole porta consigo: “[...] um
pensamento que identifica o ser e o ente, e reduz assim a existência
humana à objetividade, prepara – e mesmo determina – uma prática
ética e política que pensa poder planificar e manipular os homens
exatamente como os objetos. Não são, sobretudo, razões teóricas
as que levam Heidegger a recusar e criticar a Metafísica; são razões
ético-políticas, as mesmas que inspiraram as vanguardas artísticas e
intelectuais do começo do século, por exemplo, o expressionismo ou
Ernest Bloch” (VATTIMO, 1996, p. 152).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 273
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 273 06/11/2016 13:25:10
impossibilitada de oferecer à política indicações de traços de
sua consciência das essências, de fundamentos, etc.
[...] se pode identificar simplesmente o
fim da filosofia como metafísica com a
afirmação, prática e política, dos regimes
democráticos. Onde a democracia existe
não pode existir uma classe de detentores
da verdade ‘verdadeira’ que exercem
diretamente o poder (os réis-filósofos de
Platão) ou fornecem ao soberano as regras
para o seu comportamento. (VATTIMO, 2012,
pp. 179-180)
Olhando para a nossa situação histórica atual, devemos
reprovar a tentação de nos sentir parte/pertença da ideia
de Verdade nesses termos, tendo em vista que o assédio e
a imposição de tal procedimento podem, por exemplo, ser
reconhecidos na exportação da democracia militarista [no caso
norte-americano] ou a difusão do fundamentalismo religioso. A
democracia fundada, por exemplo, na Metafísica se converteu
em uma metanarrativa, uma força de racionalização das
sociedades e a criação de estruturas sociais uniformes e que, por
isso, alguns defendem equivocadamente a democracia liberal
como ‘única’ forma legítima de governo amplamente ‘aceito’,
uma vez que tal sociedade seria o equivalente da fantasia
Fukuyama (o fim da história como o triunfo do capitalismo na
versão de democracia liberal com ampla aceitação2). Na visão
racionalista de uma sociedade que se desenvolve sob a ideia da
liberdade econômica capitalista, a democracia é absolutamente
utópica, irreal, pois o desenvolvimento social implica uma
ampla e profunda discussão da ordem existente (VATTIMO,
2011b). Pensar sob esses aspectos reduziria tudo à política das
descrições, que “[...] não impõe o poder para dominar como uma
2 Cf. F. FUKUYAMA, F. Back to the End of History. Entrevista a Philips Matthew.
Newsweek (Atlantic Edition); 9/29/2008. Visita: 04 de abril de 2015.
274 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 274 06/11/2016 13:25:10
filosofia; ao contrário, é funcional para a existência continuada
de uma sociedade de dominação que persegue a verdade na
forma de imposição (violência), conservação (realismo) e triunfo
(história)”, a qual Vattimo (2011a, p. 26) associa a violência da
verdade, natureza conservadora do realismo e a história dos
vencedores.
Isso significa no horizonte de reflexão vattimiana que a
política fundada na verdade metafísica implica uma política
da autoridade. Com isso, Vattimo acredita que a ideia de uma
democracia concebida pelos especialistas deve ser abandonada
e, para isso, é imprescindível recuperar o papel da Filosofia como
‘intérprete’, acentuando-se a sua superioridade em relação
às ciências. Desse ponto de vista, a luta pela desconstrução
das grandes narrativas e também do reconhecimento do fim
da metafísica como instância de fundamentação absoluta - se
assemelha ao ‘fim dos regimes totalitários’ e se acrescenta
que os estados democráticos na atualidade podem funcionar
corretamente, na condição de um mundo globalizado, evitando
que o poder esteja nas mãos de um único sistema político
central.
A relação do ‘fim da Metafísica’, em sua versão na política,
com o descrédito geral das ideologias políticas totalizadoras
vem acompanhado da queda das condições políticas de um
pensamento universalístico, entendido aqui nas experiências do
fim do colonialismo, a explosão de culturas, na crise do mito do
progresso, o paralelo desenvolvimento da antropologia cultural
que reconhece as diversas subculturas como reação a pretensa
centralidade cultural de matriz eurocêntrica. Um dado conexo
a este cenário seria o descrédito das representações partidárias
em meio às mais diversas transformações das condições
efetivas de existência, o que parece, em certa medida, ser algo
positivo nas sociedades democráticas no sentido de repensar
a conjuntura política. Com a crise das ideologias totalizantes
Filosofia, Cidadania e Emancipação 275
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 275 06/11/2016 13:25:10
e em meio ao processo de esgarçamento da representação
política, a democracia parece assumir uma condição cada
vez mais paradoxal e complexa, porém, ainda merecedora de
atenção especial.
A condição da democracia no pensamento de Vattimo vem
relacionada com a crise das metanarrativas, com o fim da visão
eurocêntrica do mundo sinônima da crise da modernidade,
que confunde a universalidade abstrata com a mundialização
concreta, como consequência do capitalismo de centro. Disso
se conclui que o capitalismo (dito ‘democrático’) de estilo
Ocidental não é uma via bastante segura para realizar o bem-
estar e a liberdade, embora tenha se colocado na ‘vanguarda’
da luta contra o totalitarismo, da construção do mundo ‘isento
de ditadores’, como evidenciado na espécie de ocidente
americanizado. A crítica a tal perspectiva implica uma postura
não apenas teórico-filosófica, mas, em especial, política ante a
centralidade do Ocidente e de sua hegemonia política.
A queda da centralidade do Ocidente é concebida como
liberação das múltiplas culturas e das visões de mundo, as quais
não aceitam mais ser consideradas momentos/partes de uma
cultura humana geral da qual o Ocidente seria o depositário.
Ocaso do Ocidente como dissolução da história de um ponto
de vista unitário (‘fim da história’), dissolução da ideia de
progresso e de historicidade unilineares, em sua complexidade
mais social e política que filosófica.
No entanto, um dos primeiros passos em direção da
reviravolta é conceber a emancipação como ideal regulativo,
espoliado da pretensão de ser um modelo originário. Vattimo
(2011b, p. 28) pensa de maneira diferente, quando afirma que
“[...] a única possibilidade de emancipação é a ideia de uma
redução da violência, e não a realização de um modelo originário.
É uma mudança muito importante desse ponto de vista, por
276 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 276 06/11/2016 13:25:10
que implica um ideal político que não é simplesmente um ideal
liberal, pois reduzir a violência também significa reduzir a
fome, por exemplo”. Sem dúvida, a defesa da posição filosófica
que se guia pela redução da violência, pela intensificação do
diálogo social, pelo respeito das minorias e pela pluralidade da
informação rompe com qualquer pretensão de centralidade do
poder. Isso caminha na direção da emancipação, que assume
um sentido mais elástico e contemplado por uma diversidade
de situações que configurem a existência em sociedades
democráticas e plurais. Para reduzir a fome ou a sujeição dos
pobres tem que ser feito algo positivo. Tal redução seria uma
forma de emancipação.
Isso ainda exige a tentativa de recuperação do sentido
da Emancipação como necessidade histórica no mundo
ainda dominado pelas democracias liberais e pelo ‘desejo’
do capitalismo de impor-se como ideia absoluta de ser o
‘ideal da história humana’. Isso justifica tal necessidade
como alternativa ainda mais quando os chamados ‘ideais da
história humana’, do ideal de progresso, dentre outros, estão
perdendo sua credibilidade em meio à grande crise que marca
nossa contemporaneidade. A Emancipação, embora não seja
efetivada de forma concludente, representa um limite crítico
indispensável frente às condições de existências no século XXI.
Considerando a exposição até o presente momento em
que, entre outras questões, se criticou os metarrelatos e as
posturas globalizantes como negadoras do evento e da política,
nossa reflexão continuará na mesma direção. Assim, se manterá
também na esteira da critica a todo movimento teórico que
pretenda verdade plena sobre os fatos, como se observa no
escopo teórico de Hannah Arendt.
A Política na perspectiva de Hannah Arendt
Quando se trata da política sempre prevalece a tendência
Filosofia, Cidadania e Emancipação 277
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 277 06/11/2016 13:25:10
a buscar uma finalidade fora dela. Assim sendo, a política se
apresentou, ao longo da tradição ocidental do pensamento
político, como a protetora da liberdade, como organizadora da
polis ou guardiã da economia e, em muitos casos, como o outro
lado da violência. Para Hannah Arendt (2014, p, 222), a política
não responde a nenhuma dessas atividades uma vez que ela tem
fim em si mesma, ou seja, é ação em pleno exercício, em outras
palavras revela um ‘quem’ e não ‘o que’ é em última instância
revelação de identidades únicas e pessoais. Por isso, Arendt
coloca política e liberdade como cooriginárias. Nossa autora
entende a liberdade como manifestação do homem no espaço
público mediado pela ação e pela linguagem, de tal modo que
pensar política sem liberdade é ter uma compreensão distorcida
da primeira, o que equivale também quando se concebe a segunda
sem política. O espaço público é o local no qual uma significa a
outra. Com isso, permite-se pensar a existência nessas esferas
de uma cooriginariedade. Arendt (2002, p. 38) chama atenção
da seguinte forma: “Para a pergunta sobre o sentido da política
existe uma resposta tão simples e tão concludente em si que se
poderiam achar outras respostas dispensáveis por completo. Tal
resposta seria: o sentido da política é a liberdade3”.
3 Esse tema, que aglutina política e liberdade em Hannah Arendt, é por ela
discutido ao longo de sua obra e ganha ressonância em grande parte de seus
comentadores de tal monta que não podemos considerar esse par conceitual,
entendido como cooriginário, como um assunto de segunda ordem. Pelo
contrário, revela o alicerce do que Arendt vai propor como política e, nesse
sentido, se distanciar do que se tinha feito até então. Ela reforça esse
argumento quando assevera que “Somente na liberdade de falarmos uns com
os outros é que surge, totalmente objetivo e visível desde todos os lados, o
mundo sobre o que se fala [...] A liberdade de partir e começar algo novo
e inaudito [...] a liberdade de interagir oralmente com muitos outros e
experimentar a diversidade que é a totalidade do mundo – com toda certeza
não era e não é o objetivo da política, isto é, algo que possa ser alcançado
por meios políticos,mas, ao contrário, a substância e o significado de tudo
que é político. Nesse sentido, política e liberdade são idênticas”. (ARENDT,
2010, p. 35)
278 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 278 06/11/2016 13:25:10
Nesta perspectiva, não há como conceber a ação privada
da liberdade, pois ela aufere vigor tanto quanto é livre para se
manifestar. É disto que é composto o espaço público: elementos
plurais e livres. Assevera Arendt (2002, p. 21): “A política
baseia-se na pluralidade dos homens. Deus criou o homem,
os homens são um produto humano mundano, e produto da
natureza humana”. Nesse sentido, afirma-se que a política
trata do convívio entre os diferentes, tendo em vista que a
pluralidade traz em si o sentido da liberdade, manifesta o
direito de todos puderem aparecer e atuar. Nestes termos, a
política é plural, porque a liberdade exige a pluralidade como
condição sine qua non. Não há liberdade quando um só é dono
da verdade4 e os outros não têm o direito de exprimir posições.
Assim, para Hannah Arendt, o campo da política é o campo da
ação, que somente é possível quando em uso da liberdade, não
de uma liberdade teórica, mas de uma liberdade que aparece
no mundo fenomênico.
Destarte, o campo da política não é o da razão pura como
queria Platão nem o da razão prática como aparentemente,
segundo Arendt, se pensa que teria sido a posição de Kant,
de tal modo que se pode afirmar que a política está em outro
campo: o do pensamento plural. A liberdade que encontra
na pluralidade sua expressão tem sua constituição no mundo
político, no qual ocorrem os negócios humanos. De modo que
4 Política e verdade constitui um outro importante par conceitual no corpus
teóricos de Hannah Arendt. Segundo ARAUJO SILVA (2013, p. 100), esta
importância se dá tanto pela interferência da capacidade de mentir que muni
os homens e, sobretudo, os governos, quando desejam ocultar seus equívocos
ou crimes. Tanto pela relação que se encontra na tradição ocidental, que
nos revelou a verdade racional em contraponto a verdade factual, que a que
interessa ao mundo político e tem como característica uma fragilidade que
carece do resguardo do espaço público. Arendt destaca essa problemática
quando trata dos documentos vazados do pentágono, que revelaram todo
esforço via mentira de encobri os fatos para proteger as decisões malogradas
do governo dos Estados Unidos. (Cf. ARENDT, 2004, p. 9)
Filosofia, Cidadania e Emancipação 279
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 279 06/11/2016 13:25:10
uma liberdade apenas teórica não é capaz de acolher a ação
uma vez que o campo da aparência é o campo fenomênico e
eventual, especialmente, no seu “lócus original, a saber: o
âmbito da política.” (ARENDT, 2001, p. 191).
Ao identificar o campo original da liberdade como sendo
a política, o fazemos com fundamento no fato de que os
homens vivem em um espaço público, que é político na sua
constituição, já que não temos como conceber o espaço público
sem a pluralidade, condição sine qua non para a liberdade, de
tal modo que, no espaço público, se experimentam o discurso
e a ação, e estes só existem onde houver a liberdade. Disso
concluímos que política e liberdade se autoidentificam,
não podendo se conceber uma sem a outra, a não ser que
admitamos o equívoco da tradição que separou estas em
esferas distintas. Apenas assumindo esse equívoco supracitado,
se poderia admitir a política como negadora do espaço público
e, consequentemente, da pluralidade, da ação e do discurso;
assim, no acolhimento deste disparate, poderíamos encontrar
política e liberdade destoando. Não obstante, uma identifica a
outra, já que a política é o espaço acolhedor da liberdade e,
esta, seu sentido. Consoante Hannah Arendt:
O campo em que a liberdade sempre foi
conhecida, não como um problema, é claro,
mas como um fato da vida cotidiana, é o
âmbito da política. E mesmo hoje em dia,
quer o saibamos ou não, devemos ter sempre
isso em mente, ao falarmos do problema
da liberdade, o problema da política e o
fato de o homem ser dotado de ação; pois
ação e política, entre todas as capacidade
e potencialidade da vida humana, são as
únicas coisas que não poderíamos sequer
conceber sem ao menos admitir a existência
da liberdade. (ARENDT, 2001 p. 191).
Toda essa argumentação fundamenta a afirmação de que
280 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 280 06/11/2016 13:25:10
a liberdade é o motivo que possibilita aos homens conviverem
politicamente e, sem a qual, a vida política como tal seria
destituída de significado. Portanto, “a raison d’être da política
é a liberdade e seu domínio de experiência é a ação”. (ARENDT,
2001, p. 192). A ação que expressa à liberdade é, para Hannah
Arendt, aquela que traz em si a condição da pluralidade e a
necessidade do espaço público para aparecer5; é a ação que
busca manifestar o outro. Nesse sentido, o mundo artificial tem
de ser cenário da ação do discurso sob pena de se perder o sentido
da política e da liberdade não ter realidade concreta: “Sem um
âmbito público politicamente assegurado, falta à liberdade, o
espaço concreto onde aparecer” (ARENDT, 2001, p. 195). De
tal modo que, sem esse espaço, se pode encontrar a liberdade
em qualquer outro lugar menos onde ela faz a diferença para
o existir plural dos homens, menos onde ela pode significar
suas ações e lhes garantir a possibilidade do novo. Podemos
encontrar a liberdade nos pensamentos, nas produções teóricas
ou, ainda, nos corações, contudo, nem estes nem aquelas são
capazes de manifestar aquilo que realmente importa no espaço
público: os assuntos humanos fenomenicamente manifestados,
ao contrário, estes ficam no recôndito da interioridade.
Assim, temos que pluralidade e espaço público são
categorias centrais para a compreensão da cooriginalidade
existente entre liberdade e política, sendo possível afirmar
que: “a liberdade como fato demonstrável e a política
coincidem e são relacionadas uma à outra como dois lados da
5 Cabe aqui destacar que não se trata de um reducionismo ao conceito de
ação ou mesmo o entendimento da ação pela ação. Arendt centra-se na ação
como capacidade de transcender a sua expressão no mundo. Concordamos com
André Duarte quando este coloca que: “Se o aspecto que melhor caracteriza a
ação livre é a sua capacidade de “transcender” os motivos e fins que lhes são
constitutivos, isso também não significa que Arendt a considere inconseqüente
ou autocentrada, isto é, ocupada apenas consigo mesma em seu caráter de
pura performance. Arendt jamais defendeu a concepção voluntarista da ação
pela ação, do pura agir ou da polique pour politique” (DUARTE, 2000, p, 223)
Filosofia, Cidadania e Emancipação 281
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 281 06/11/2016 13:25:10
mesma matéria” (ARENDT, 2001, p.195). Liberdade essa que só
pode acontecer onde for possível ter uma aparência. Portanto,
o espaço público é o palco da liberdade. Nesse contexto, a
formação da liberdade aparece sempre que for possível o novo
se manifestar. Hannah Arendt entende que o mundo da liberdade
é o mundo passível de ser cristalizado por meio de uma história
narrável, mas, para essa história existir, é preciso um mundo
para se viver fabricado por homens que permitem a vida de
outros, isto é, que permitem um principium que favorece o
aparecer, o nascer, desde que a curta existência entre o nascer
e morrer se cristalize por intermédio da narração. A ação livre
confere aos indivíduos a possibilidade de produzir algo que
possa ser imortalizado pela memória. É evidente que nem
todo ato fica guardado na narração, mas apenas aquilo que é
relevante. Mas o que é relevante? Para Arendt, é relevante o
singular, a ação fruto da habilidade usada no espaço público
e visando a felicidade pública. Para tanto, se faz necessário
garantir a existência de um espaço no qual o que é relevante
para os negócios humanos possa ser preservado na sua teia de
relações. A ação e o discurso serão a garantia disso.
Por conseguinte, o ponto que queremos expressar é
o seguinte: a constituição da liberdade só é possível onde
for possível a esta aparecer pelo discurso e ação de forma
concreta. Dito isto, toquemos ainda, mesmo que de forma
rápida, em outros aspectos da política em Arendt, a saber: a
violência e a resistência. Para nossa pensadora a política não
subsiste onde vigorar a violência, o silêncio e a negação da
vida. O espaço público, nesse sentido, carece da ação frente
a esses desmandos que, nas palavras de Arendt, “é preciso sair
da zona de conforto se entender com mundo” (ARENDT, 2007,
p. 284). As perspectivas da resistência em Hannah Arendt são
identificáveis na obra Crises da República na qual destaca o
direito a desobediência civil e, sobretudo, quando trata em
282 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 282 06/11/2016 13:25:10
Sobre a Revolução do poder constituinte como o poder que
mantém vivo a experiência revolucionária. Nesta direção, o
poder constituinte é a representação da perene deliberação
que deve animar a vida política e não o poder constituído.
Este último, embora necessário, pode tornar-se tirânico se
não observar o espaço de ação do poder constituinte, em
outras palavras, da deliberação. É importante ressaltar que
estas formas de resistência são alcançadas via lexis e práxis,
não via violência. Para Arendt, com a existência da violência
pode existir tudo, menos política. Todavia, Arendt pelos menos
em duas situações limites e específicas ao longo de sua obra
defendeu o uso da violência como legítima defesa da vida, a
saber: i) na formação do exército de Israel para a defesa dos
judeus como povo sem tutela, e, ii) no louvor aos detentos em
campo de concentração que resistiram tomando armas de fogo
e enfrentando seus algozes.
Todos tombaram. Mas, Arendt (2007, p, 199) destacou
que “estes homens não fizeram algo apenas por si, mas pela
humanidade”. Isto nos parece um indicativo de que, mesmo
admitindo que a violência não instaure a política esta, em
situações limites da vida, tendem a ser uma via6 necessária.
6 Parece-nos importante destacar que a resistência, por excelência em
Hannah Arendt, é a ocupação do espaço público, embora defendamos que
em situações limites, como acima citadas, em nosso entender, Arendt tenha
recorrido ao uso da violência como uma possibilidade de se resistir em nome
da própria vida, somos cientes que este momento já não é político e, nem
deve ser perpetuado, todavia, não deixa de ser legitimo uma vez que precisa-
se resistir pela própria vida. Não obstante temos que a melhor resistência é
a do uso fruto da liberdade no espaço público como defendeu Arendt e como
muito bem explicita Oliveira, a saber: “O caminho a ser percorrido é aquele
amparado na tradição. A preservação da recordação e da memória por meio do
que significaram os espaços públicos de Resistance justifica a necessidade de
que a efetivação de espaços públicos na atualidade possa ocorrer sem o uso de
máscaras e de fantasias [...] Diante da ausência de espaços públicos, a opção
por esse caminho é uma maneira de se valorizar os movimentos pautados na
memória e na recordação de experiência de Resistance (OLIVEIRA, 2013, p,
Filosofia, Cidadania e Emancipação 283
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 283 06/11/2016 13:25:10
Isso nos parece claro em Arendt (2007, p. 200) quando tratando
da relação do binômio opressão/resistência ela assevera: “que a
opressão tende a tornar a obediência cega em algo mais perigoso
do que a rebelião aberta”. Situação experimentada como o
horror totalitário do nazismo. É como se ela tivesse a nos dizer;
entre dois males se escolhe o menor. Neste caso o da resistência
em lugar da opressão. Fica evidente que não é esse o modelo de
resistência que deva permanecer na comunidade política, mas,
sim, o da ocupação do espaço público via deliberação perene e
usufruto da liberdade. Tanto que entendemos que:
[...] toda ação política é como um segundo
nascimento, ou seja, se com o nascimento
físico original os homens aparecem no
mundo que precede sua chegada, com
a atuação política os homens aparecem
para o mundo introduzindo nele sua marca
inconfundível. Se em cada novo nascimento
está contido a promessa do começo, cada
fundação ou constituição do corpo político
contém a promessa do respeito às leis (que
é a garantia da política). (XARÃO, 2000, p.
170).
Todavia, não se pode tirar dos indivíduos enquanto
comunidade política organizada e detentora da capacidade
de agir e falar o direito de resistir nas suas mais variadas
expressões. Contudo, politicamente espera-se que esteja
fundado e resguardado o espaço público, âmbito próprio do
dissenso, que ousamos chamar de “berço do consenso”. Como
a metáfora propõe este não está pronto no espaço público,
lá habita a diversidade, a pluralidade, a complexidade de
ideias, pessoas e aspirações. Entretanto, conservado em sua
estrutura original, o espaço público tem como marca de suas
feições o pleno exercício da lexis e da práxis e, assim sendo,
118). Temos, pois, no espaço público via deliberação e cultivo do espírito das
revoluções a melhor resistência via lexis e práxis.
284 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 284 06/11/2016 13:25:10
da deliberação permanente e, desta se buscará o consenso. Tal
estrutura deliberativa se apresentará como a melhor forma de
resistência, uma vez que mobiliza a comunidade política em
torno de temas de seu interesse, via pleno exercício da fala e da
ação livres, enquanto instâncias fundantes do espaço público e
da vida política, o que, enfim, pode ser ponto de convergência
entre os teóricos.
Referências
ARENDT. Hannah. Jewish Writings. Edited by Jerome Konh and
Ron H. Feldman. New York. Schocken Books. 2007.
_____.O que é a política? Trad. De Reinaldo Guarany. Bertarand
Brasil. Rio de Janeiro. 2002.
_____. A promessa da Política. Trad. Pedro Jorgesen Jr. Difel
editora, Rio de Janeiro, 2010.
_____. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa, Ed.
Perspectiva, São Paulo. 2001
_____. Crises da República. Trad. José Volkmann et al. Ed.
Perspectiva. São Paulo. 2004
_____. A Condição Humana. Trad.Roberto Raposo / Revisão
de Adriano Correia. Ed. Forense Unvirsitária. Rio de Janeiro-
RJ.2014
ARAUJO SILVA. Ricardo George. Fiat Veritas, Et pereat mundus:
Considerações entre política e verdade. In: Hannah Arendt-
Pluralidade, mundo e Política. Org. Sônia Maria Schio e Matheus
Soares Kuskoski. Ed. Observatório Gráfico. Porto Alegre – RS.
2013.
CHIURAZZI, Gaetano. (cura). Pensare l’attualità, cambiare l
mondo. Milano: Bruno Mondadori, 2008.
Duarte. André. O pensamento à sombra da Ruptura: Política
Filosofia, Cidadania e Emancipação 285
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 285 06/11/2016 13:25:10
e Filosofia em Hannah Arendt, Ed. Paz e terra, São Paulo – SP,
2000.
FUKUYAMA, F. Back to the End of History. Entrevista a Philips
Matthew. Newsweek (Atlantic Edition); 9/29/2008. Visita: 04
de abril de 2015.
HEIDEGGER, Martin. A superação da Metafísica. IN: Ensaios e
Conferências [1954]. Rio de Janeiro: Vozes, 1997
LYOTARD, J-F. A Condição Pós-moderna. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1988.
MAIA, A. G. B. A dimensão ética da Ontologia dellAttualità de
Gianni Vattimo. Tese de Doutorado. Universidade Federal de
Pernambuco, 2010. 201 páginas.
_____. Do ocaso do Ocidente ao comunismo ideal: aspectos
ético-políticos do pensamento de Gianni Vattimo. In: ______;
SILVA, R. G; ASSAI, H. Filosofia Política, emancipação e espaço
público. Paraná: Juruá, 2013.
_____. Ocaso do Ocidente e democracia: o comunismo
ideal como terceira via? In: PANSARELLI, D. Filosofia latino-
americana: suas potencialidades, seus desafios. São Paulo:
Terceira Margem, 2013.
MARTINS, M.B. Filosofia pós-metafísica da religião. Curitiba:
CRV, 2014.
MARX, K. A Ideologia Alemã [1846]. São Paulo: HUCITEC, 1996.
MARX, K. ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista [1848].
São Paulo: Ed. Universitária São Francisco, 2005.
MONACO, David. Gianni Vattimo – Ontologia ermeneutica,
cristianesimo e postmodernità. Pisa: Edizioni ETS, 2006.
OLIVEIRA, José Luiz. Considerações de Hannah Arendt acerca do
espaço de Resistance. In: Hannah Arendt – Pluralidade, Mundo
286 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 286 06/11/2016 13:25:10
e Política. Org. Sônio Maria Schio e Matheus S. Kuskoski. Ed.
Observatório gráfico, Porto Alegre – RS. 2013
VATTIMO, Gianni; ROVATTI, A.P. Il Pensiero Debole. Milano:
Feltrinelli Editore, 1983.
_____. Addio alla verità. Roma: Meltemi editore, 2009.
_____; et al. Le ragioni etico-politiche dell’ermeneutica. Isaiah
Berlin, Amartya Kumar Sen, Vittorio Mathieu. Torino: Giovanni
Agnelli, 1990.
_____. Vocazione e Responsabilità del filosofo. Genova: il
melangolo, 2000.
_____. Nichilismo ed emancipazione. Etica, política, diritto.
Milano: Garzanti, 2003.
_____. Ecce Comu. Como si ri-diventa ciò che si era. Roma:
Fazi, 2007.
_____. Dela realtà. Fini dela filosofia. Milano: Garzanti, 2012.
_____; ZABALA, Santiago. Hermeneutic communism – from
Heidegger to Marx. Columbia University Press. 2011a.
_____. Llegara ser lo que se era. In: GONZÁLEZ, A. G (org). La
vida que viene: desafíos, enigma, cambio y repetición después
de la crisis. Madrid: Oficina de arte y ediciones, 2011b.
XARÃO, Francisco. Política e Liberdade em Hannah Arendt. Ijuí-
Rio Grande do Sul: Ed. UNIJUÍ, 2000.
ZABALA, Santiago [cura]. Una filosofia debole: saggi in onore di
Gianni Vattimo. Milano: Garzanti, 2012.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 287
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 287 06/11/2016 13:25:10
O totalitarismo como negação da liberdade
política: compreensão e abertura no
pensamento de Hannah Arendt.
Alberto Dias de Souza
Natércia Sampaio Siqueira
Renata Albuquerque Lima
Introdução
Hannah Arendt (1906-1975) é uma das pensadoras mais
festejadas da contemporaneidade, em especial a partir da
publicação de sua obra Origens do Totalitarismo (1951),
no interior da qual reserva ao interlocutor a proposta
de compreender os desígnios e o alcance que os regimes
totalitários operaram na primeira metade do século XX. Este
trabalho reflete, além de uma postura intelectual elevada, a
visão bastante particular da autora acerca dos acontecimentos,
muitos dos quais pessoalmente experimentados por ela.
Afirma Kohn (2013, p. 36) que, para Arendt, o totalitarismo
tornou-se o pano de fundo de seu trabalho porque, ao adentrar no
mundo com o bolchevismo e o hitlerismo, nunca mais o deixou.
O esforço empreendido pela sua obra tem grande relevância
porquanto, na época presente, ganha relevo um estranhamento
pelo mundo público, e, desse modo, “estamos em posição de
sermos arrastados para o mal, como para o inferno; de cair num
espaço vazio […] onde não há nada que nos individualize”.
Este alerta nada tem de exagero ou pieguismo, mas,
ao contrário, exorta de forma lúcida a reflexão acerca da
necessidade de valorização da vida política que, sob mais de
um viés, pode ser alienada e abandonada pelos homens. Sob as
luzes das considerações de Arendt, a liberdade e a política são
termos sinônimos, e, caso o indivíduo encontre-se distante da
288 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 288 06/11/2016 13:25:10
sua esfera política, deixará de ser livre.
O presente artigo visa apresentar um panorama das
considerações de Hannah Arendt acerca do totalitarismo e
sua capacidade de negação da esfera política. Neste intuito,
perpassará a noção de sinonímia entre a liberdade e a política
defendidas pela autora, a qual culmina nas ideias de ação e
pluralidade. A valorização destas últimas, também identificadas
com a política, são uma abertura necessária para a superação
do totalitarismo.
Os textos que serviram de base para o estudo foram o
ensaio “O que é liberdade?”, publicado na obra Entre o Passado
e o Futuro, e o capítulo 2 da terceira parte do livro Origens
do Totalitarismo, intitulado “O movimento totalitário”, ambos
de Hannah Arendt. O trabalho traz, ainda, referências a
comentadores da obra de Arendt, no intuito de trazer maiores
subsídios às reflexões acerca da temática proposta.
A compreensão do totalitarismo
A passagem dos eventos históricos impacta cada ser
humano de uma forma diferente. Por certo, tão plúrimas
quanto são as possibilidades da realidade, são as reações dos
homens e mulheres ao panorama circundante. Todavia, um
traço diferencia as experiências marcantes e potencialmente
transformadoras daquelas que irão apenas deixar marcas na
memória individual: trata-se do nível de engajamento que o
agente exerce no seu nicho de existência.
Hannah Arendt foi uma judia que viveu na Alemanha no
período da história mais arriscado para um ser humano ostentar
esta condição social, qual seja, os anos de vigência do nacional-
socialismo de Adolf Hitler. Intelectual formada antes mesmo
do início da Segunda Guerra Mundial, Arendt era engajada nas
discussões e nas movimentações sociais judaicas durante a
Filosofia, Cidadania e Emancipação 289
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 289 06/11/2016 13:25:10
efervescência política que seguiu-se ao fim do conflito de 1914-
1919.
Esta condição permitiu-lhe antever que as perseguições
iniciadas pelo regime de Hitler não tardariam a recrudescer, de
modo que fugiu para a França, onde continuou a sua militância
política. Todavia, mesmo naquele país não permaneceu a salvo
do jugo opressor, e, após a ocupação nazista, Arendt viu-se na
condição de interna em um campo de prisioneiros e imigrantes,
do qual escapou por uma confluência de fatores que envolveram
sorte e desorganização administrativa (YOUNG-BRUEHL, 1997,
p. 158). Pouco depois, imigrou para os Estados Unidos com a
mãe, Martha Arendt, e o esposo, Heinrich Blücher.
O campo de prisioneiros em que viu-se internada foi
desativado anos depois, e seus ocupantes foram enviados para
campos de concentração e extermínio (Idem, ibidem), onde,
juntamente com milhões de seres humanos, encontraram um
trágico fim nas linhas de produção da morte que o totalitarismo
nazista gerou.
A realidade de choque que Arendt expressa quando
discorre sobre os campos de concentração pode ser resumida
numa passagem da entrevista que deu a Günter Gauss, na qual
afirma que, o momento da sua confrontação com Auschwitz
“[…] foi na verdade como se um abismo se abrisse diante de
nós, porque tínhamos imaginado que todo o resto poderia de
alguma maneira se ajustar, como pode acontecer sempre na
política. Mas neste caso não.” (ARENDT, s/n).
O caráter cruel do totalitarismo tornou-se uma constante
na obra de Arendt. De fato, o prefácio à primeira edição de
Origens do Totalitarismo denota que a autora nutre o objetivo
de perscrutar este movimento com o intuito de evitar que o
mesmo se repita:
Este livro foi escrito com mescla do otimismo
290 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 290 06/11/2016 13:25:10
temerário e do desespero temerário. Afirma
que o Progresso e a Ruína são duas faces
da mesma medalha; que ambos resultam
da superstição, não da fé. Foi escrito
com a convicção de serem passíveis de
descoberta os mecanismos que dissolveram
os tradicionais elementos do nosso mundo
político e espiritual num amálgama, onde
tudo parece ter perdido seu valor específico,
escapando da nossa compreensão e tornando-
se inútil para fins humanos. (ARENDT, 2012,
p. 12)
Trata a convicção de descobrir, na verdade, acerca do
esforço realizado pela autora no sentido de compreender, opção
que, em seu sentir, leva à clareza do pensamento e a abertura
de novos sentidos para a apreensão do fato da vida. O ideal da
compreensão possibilita, de um modo extremo, a reconciliação
do indivíduo com a sua própria realidade.
Mas isto não ocorre no sentido de disponibilizar um
perdão salvífico, capaz de apagar ou desfazer o que foi
feito, o que soa como tarefa irrealizável. Na medida em que,
marcado pelo evolver histórico, torna-se um processo em moto-
perpétuo, compreender representa, para Arendt, “a maneira
especificamente humana de estar vivo”, pois todos os homens
precisam religar-se com um mundo para quem são estranhos,
condição adquirida de suas próprias singularidades (ARENDT,
1993, p. 39).
O caminho da compreensão não pode ser baseado no
imediatismo dos eventos, por mais intensos ou bárbaros que
possam ser. A relevância e o significado dos eventos mais recentes
não pode ser mensurada no instante em que eles surgem, mas
em sua cessação, “porque a acuidade do pensamento e do
juízo é inversamente proporcional à prontidão da tagarelice
obstinada na busca constante da novidade.” (CORREIA, 2014,
p. XXI).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 291
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 291 06/11/2016 13:25:10
A jornada da compreensão será realizada, deste modo,
com base na experiência do objeto, a atitude de tentar levar
luzes de entendimento à intrincada rede de relações que o ligam
e conectam ao mundo circundante. A natureza do totalitarismo
encontra seu enfoque máximo na existência de campos de
concentração1, mas, mesmo estes locais de terror explícito não
se mostram mais que uma das faces do movimento:
Os campos e a matança de adversários
políticos são apenas facetas do esquecimento
sistemático em que se mergulham não
apenas os veículos da opinião pública, como
a palavra escrita e a falada, mas até as
famílias e os amigos das vítimas. A dor e a
recordação são proibidas. (ARENDT, 2012, p.
599)
O totalitarismo, de fato, mostrou-se um sistema complexo,
e sua apreensão, um desafio. Antes de discorrer acerca da
convergência do processo de compreensão resultante da análise
de Arendt para este fenômeno, o qual culmina na evidência de
negação da política, mostra-se útil discorrer acerca dos modos
de instrumentação das práticas totalitárias.
O movimento totalitário se mostra voltado à instauração
de uma facção política no poder, num ambiente de ativo
ressentimento das massas contra o status quo. Dentre seus
objetivos destacam-se a busca pela posse da totalidade dos
instrumentos de força e violência, a luta pelo domínio total
de toda a população da terra e a eliminação de toda realidade
rival não-totalitária.
1 Entre os comentadores da obra de Arendt, esta posição é defendida por
Young-Bruehl (1997, p. 196), segundo a qual “Arendt chegou à conclusão de
que eram os campos de concentração que distinguiam fundamentalmente a
forma de governo totalitária de qualquer outra.”; Kohn (op. cit.) também
traça esta distinção, chamando o totalitarismo de “mal destruidor-de-mundo”;
Magalhães (2001, p. 54) discorre que o extermínio, “como visada explícita,
confessada”, adquire feições de algo novo, inédito na história humana.
292 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 292 06/11/2016 13:25:10
Tais metas são alcançadas com o estabelecimento de uma
sede oficial, a utilização da Administração do Estado para o
seu objetivo de longo prazo de conquista mundial, e a criação
de uma polícia secreta na posição de executante e guardiã da
experiência de transformar ficção em realidade (ARENDT, 2013,
p. 531).
O regime busca também inspirar uma lealdade total, na
vida e na morte, às figuras de um partido, centrado no ideal
de um líder, o qual toma feições demiúrgicas. Não se admite
a contestação das palavras oficiais do regime, de modo que
a mentira e a manipulação são mantenedoras da ordem
estabelecida. De fato, a autora compara a lealdade exigida
pelo totalitarismo àquelas mantidas por sociedades secretas ou
conspiratórias, sendo certo que a medida necessária de mentiras
e desinformações necessárias para a coesão do sistema pode
ser descrita em termos da mistura “curiosamente variada”
de credulidade e cinismo esperados de cada membro em sua
reação às declarações do líder e à ficção ideológica central e
imutável do movimento (ARENDT, 2013, p. 519).
O cotidiano de um regime totalitário tem a marca
distintiva do terror. É a punição em abstrato, que vitima a
todos, em prol da garantia de ausência de ameaças ao sistema.
É uma “instituição permanente do governo” que já se mostrava
presente na ideologia racial nazista (MAGALHÃES, 2001, p. 49).
Para Arendt (2012, p. 477), a divulgação propagandística do
movimento já traz, em si, a marca do terror, pois carrega em
seu conteúdo a noção de que, fora do controle governamental,
a existência era fadada à destruição – seja pelo próprio governo
ou pelas forças que emergiam contra a nação.
Vê-se que, para impor sua ideologia e seus propósitos,
o totalitarismo se valia tanto da violência quanto do terror, o
que denota o ímpeto de seu alcance, sua ânsia pelo poder. Ele
Filosofia, Cidadania e Emancipação 293
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 293 06/11/2016 13:25:10
somente poderia existir enquanto estivesse em expansão, uma
vez que a dominação total era seu fim último. Daí a noção de
espaço vital da doutrina bélica alemã, a qual, aliada aos etéreos
padrões de supremacia racial germânica, vinculava a conquista
a um direito anterior da suposta raça ariana.
A questão a ser colocada neste ponto é a constatação de
que atitudes bélicas ou violentas, por si sós, não seria capaz
de perfazer os objetivos de um movimento totalitário. É a
dominação de todos os setores políticos que, de fato, pode
alcançar a agenda de controle integral. Magalhães (2001, p.
50) discorre acerca das primeiras citações do termo totalitário,
informando a sua ocorrência na Itália fascista de Mussolini já
na década de 1920, sendo certo que, para os intelectuais de
então, o vocábulo já se prestaria a “designar um regime onde
tudo se apresenta como político”.
Vê-se, sob tal prisma, que o exercício da compreensão
pode situar o prejuízo mais candente do totalitarismo à vida
humana, qual seja, o ataque frontal à esfera política. Todavia,
para que se apreenda como esta noção é cara aos estudos de
Arendt, deve-se recorrer à identificação que a autora estabelece
entre os termos liberdade e política.
A identidade entre liberdade e política
O ensaio intitulado “O que é liberdade?” traz o excurso de
pensamento de Arendt acerca das razões que ligam o conceito
de liberdade ao de política. Ela principia suas assertivas com a
afirmação de que, no âmbito das questões práticas, tendemos
a verificar a liberdade como uma verdade evidente, um axioma
suposto em tal profundidade que os juízos e as normas de
organização das comunidades humanas são baseadas nela.
Entretanto, esta não seria a postura adotada em outros campos
do saber, como a ciência (ARENDT, 2014, p. 189).
294 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 294 06/11/2016 13:25:10
Uma vez que admite-se a liberdade como uma verdade
instaurada na comunidade política, não tarda a sua identificação
com a própria política. A primeira é a razão de existência desta
última:
A liberdade, além disso, não é apenas um
dos inúmeros problemas e fenômenos da
esfera política propriamente dita, tais
como a justiça, o poder ou a igualdade; a
liberdade, que só raramente – em casos de
crise ou de revolução – se torna o alvo direto
da ação política, é na verdade o motivo
por que os homens convivem politicamente
organizados. Sem ela, a vida política como
tal seria destituída de significado. A raison
d’être da política é a liberdade, e seu
domínio de experiência é a ação. (ARENDT,
2014, p. 192)
A liberdade, embora entendida por Arendt como um dado
intrinsecamente ligado à política, não é visualizado somente
sob o prisma da esfera pública. De fato, há no íntimo de cada
homem um espaço de experimentação do sentido de ser livre, e
tal âmbito não possui significação política. Ele tem importância
para o indivíduo porque é nele que se desenvolvem elementos
de vontade que impactam nas relações com o mundo, tais
como a vontade de expansão e desenvolvimento, a importância
conferida ao gênio e à originalidade (ARENDT, 2014, p. 192-3).
Arendt enfoca que este verbo interno de manifestação
humana é capaz de fazer o indivíduo transcender eventuais
condições de paroxismo em sua existência. Ele pode ser escravo
e, ainda assim, pela força do seu construto intelectual, ser
intimamente livre. O maior contributo do espaço íntimo de
deliberação acerca da liberdade é que, nele, o sujeito pode
combater-se e subjugar-se, numa forma que pertence apenas
a si mesmo. Neste âmbito, ele se encontra mais seguramente
defendido que em seu lar (ARENDT, 2014, p. 194).
Filosofia, Cidadania e Emancipação 295
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 295 06/11/2016 13:25:10
A autora reporta ao Cristianismo a equação do fator
decisivo para as considerações acerca da liberdade enquanto
manifestação interna. A doutrina do livre-arbítrio, na qual
o homem, em um processo solitário, identifica e define suas
ações de uma forma não-subjugada pela vontade divina, porém
influenciada por ela, é tida por Arendt como um fator de tensão
para a discussão acerca da liberdade. Ela chega a afirmar que,
caso a liberdade não fosse mais que um fenômeno do arbítrio,
os antigos não haviam-na conhecido (ARENDT, 2014, p. 204).
A solidão ínsita ao processo do livre-arbítrio é vista por
Arendt com cautela. De fato, embora seja natural e necessário
às reflexões filosóficas, o fato de refletir sozinho não implica
necessariamente em estar sozinho. Quando o relacionamento
com o próximo, por alguma razão, deixou de existir, surge uma
nova relação, desta feita do eu com o eu-mesmo. Esse dualismo
é a condição essencial do pensamento, e estabelece o diálogo
mantido consigo mesmo.
Todavia, a vontade que se origina desta convivência não
pode ser livre. A luta entre duas faculdades humanas não conduz
a um ponto consensual, mas sempre significará a sobreposição
de um aspecto sobre o outro. A ascese cristã exige este embate.
Na visão da autora, o processo dois-em-um da solidão põe em
movimento um efeito nocivo sobre a vontade, pois, a um só
tempo, gerará a sua paralisia e o seu encerramento sobre si
mesma. Em suas palavras, “[...] o querer solitário é sempre
velle e nolle, querer e não querer ao mesmo tempo” (ARENDT,
2014, p. 206).
Surge deste paradoxo a conclusão pelo caráter dual da
liberdade identificada como o livre-arbítrio: a vontade tem
poder e é impotente; é livre e, ao mesmo tempo, incapaz de
se libertar. Na solidão autorreferente, se o homem tem uma
vontade, sempre terá duas lutando pelo poder de sua mente
296 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 296 06/11/2016 13:25:11
(ARENDT, 2014, p. 209). O “efeito paralisante” que a vontade
exercerá sobre si mesma fica evidente quando analisado sob o
prisma de duas atitudes humanas, quais sejam, o ato de mandar
e de ser obedecido.
Parece pois uma “monstruosidade” o fato de
o homem poder mandar a si mesmo e não
ser obedecido, uma monstruosidade que só
pode ser explicada pela presença simultânea
de um eu-quero e de um eu-não-quero.
Isso, contudo, já é uma interpretação de
Agostinho; o fato histórico é que o fenômeno
da vontade manifestou-se originalmente na
experiência de querer e não fazer, de que
existe uma coisa chamada quero-e-não-
posso. (ARENDT, 2014, p. 206)
Nesta conclusão está o problema central de a vontade,
ou o arbítrio, serem identificados com a liberdade: conforme o
poder do eu-posso se exauria, a vontade de poder transformou-
se em opressão. Para o âmbito coletivo, esta noção de liberdade
teve efeitos perniciosos. Arendt (2014, p. 210) chega a afirmar
que a ideia de relacionar a esfera do ser livre com o poder é
forte a ponto de ser possível equacionar o poder com a opressão,
ou, ao menos, como governo sobre outros.
Há ainda outro vício na consideração da liberdade enquanto
vontade ou livre-arbítrio. Trata-se da institucionalização, no
seio da organização estatal, do conjunto de vontades individuais
como o mote de existência do corpo político. É dizer, Arendt
assevera que o ideal de Rousseau em querer substituir a vontade
do monarca absoluto por uma miríade de vontades individuais,
conduziria necessariamente a uma tirania (ARENDT, 2014, p.
212).
Trata-se, na perspectiva do pensador francês, do conceito
de soberania. Faz-se justa a ponderação sobre as considerações
de Rousseau acerca deste conteúdo. Não se pode tratar a sua
Filosofia, Cidadania e Emancipação 297
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 297 06/11/2016 13:25:11
obra, como aliás nenhuma construção intelectual, como um
dado dissociado do momento histórico. As efervescências sociais
da época de Rousseau inspiraram-no a pensar a formatação do
Estado de acordo com a vontade da maioria das pessoas que o
compunham, historicamente oprimidas e excluídas do processo
político.
Rousseau cunhou, deste modo, o ideal de vontade geral,
que pode ser compreendido por interesse comum. Não se
confunde com a vontade de todos, a qual nada mais é que a
soma de vontades particulares. Todavia, “quando se tira dessas
vontades [as particulares] as mais e as menos, que mutuamente
se destroem, resta por soma das diferenças a vontade geral.”
(ROUSSEAU, 2013, p. 41).
O exercício da vontade geral seria a soberania, e a
sua corporificação, o soberano. Este, por seu turno, é o ser
coletivo que só por si mesmo se pode representar. A soberania
é indivisível, porque a vontade geral também o é. Esta última,
ademais, não comete erros, e é sempre reta ainda que muitos
queiram frequentemente apenas o próprio interesse. O pacto
social conduz a um estado de igualdade diluída e acessível a
todos.
O interesse comum, que une os votos,
generaliza mais a vontade que o número
deles; porque nessa instituição cada um se
sujeita por força às condições que impõe aos
outros: união admirável do interesse e da
justiça, que às deliberações comuns dá um
caráter de equidade, que vemos perder-se
na discussão de todo negócio particular, por
falta de um interesse comum, que ajunte
e identifique o regimento do juiz com o da
Pátria. (ROUSSEAU, 2013, p. 44)
As vontades individuais tornadas soberanas, sob a ótica
de Arendt, são “a consequência política mais perniciosa e
298 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 298 06/11/2016 13:25:11
perigosa da equação filosófica de liberdade com livre arbítrio”
(ARENDT, 2014, p. 212). Isto porque levaria à completa
negação da liberdade humana, ao se perceber que, se todos
forem soberanos, ninguém o será. A bem da verdade, apenas
a violência poderia manter todos os influxos da multidão de
vontades soberanas sob controle, o que desvirtua a noção de
liberdade.
Arendt assevera, no que pode ser considerado uma aporia,
que, para serem livres, os homens precisam renunciar às suas
soberanias, pois, do contrário, vão se submeter à opressão da
vontade (ARENDT, 2014, p. 213). A alternativa para tanto é
a inclusão de seu conceito de ação nas experiências de vida,
a partir do pressuposto de que a liberdade não é apenas um
processo de escolha.
Em um dos pontos líricos do ensaio, Arendt remete à
peça Ricardo III, de William Shakespeare, para afirmar que a
liberdade é, antes de uma tomada de decisão, um chamamento
à existência do que antes não havia. Esta atitude corporifica um
dos mais densos conteúdos da obra da autora. Ele é também de
suma importância para a compreensão da liberdade, porquanto
“ser livre e agir são uma mesma coisa” (ARENDT, 2014, p. 199).
Em A condição humana, a ação adquire um matiz essencial.
Agir, no sentido mais geral do termo, significa
tomar iniciativa, iniciar (como o indica a
palavra grega archein ‘começar’, ‘ser o
primeiro’ e, em alguns casos, governar),
imprimir movimento a alguma coisa (que é
o significado original do termo latino agere).
Por constituírem um initium, por serem
recém-chegados e iniciadores em virtude do
fato de terem nascido, os homens tomam
iniciativas, são impelidos a agir. (ARENDT,
2009, p. 190)
A ação não dependerá nem do intelecto nem da vontade
Filosofia, Cidadania e Emancipação 299
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 299 06/11/2016 13:25:11
para existir, embora necessite de ambos para o perfazimento
de um objetivo. Ela deriva de um princípio, um dado inspirador
que se manifesta no próprio ato realizador. O agir, enquanto
princípio, torna-se um molde, um dado que subsiste ao ato
mesmo após desaparecem os motivos que o ensejaram. Para
Arendt, “os homens são livres – diferentemente de possuírem
o dom da liberdade – enquanto agem, nem antes, nem depois”
(ARENDT, 2014, p. 198).
Se o homem é capaz de agir, pode-se esperar dele o
inesperado, o infinitamente improvável. Isto é corolário de
que cada ser humano é singular, e, pelo nascimento, surge
para o mundo como um ente totalmente novo. Kohn (2013, p.
33) assevera, nesse sentido, que “A espontaneidade humana,
politicamente falando, significa que não sabemos os resultados
de nossas ações quando agimos e que, se soubéssemos, não
seríamos livres.”.
No entanto, é preciso salientar que as manifestações dos
homens no contexto da ação não se mostram desvinculadas de
sentido ou relações; se assim o fosse, não passariam de robôs
autômatos, adstritos às atividades que se seguem ao impulso do
momento em que vêm ao mundo (ARENDT, 2009, p. 191).
O fato é que a maioria dos atos assume a forma de discurso.
A atitude se torna relevante na palavra falada em que o autor
diz quem é, o que fez, faz e fará. O ato de violência bruta, sem
acompanhamento verbal, por outro lado, não é considerado
enquanto integrante do agir livre (ibidem).
A liberdade, doravante, é resultado do entrelaçamento
entre a ação e o discurso. Através destes, o homem se mostra ao
mundo, revela sua identidade física na conformação do corpo e
da voz (ARENDT, 2009, p. 192). Surge, com nova face, a ideia de
estabelecimento de relações com o entorno como parâmetro do
ser livre. A política torna-se, portanto, a soma das confirmações
300 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 300 06/11/2016 13:25:11
acerca da liberdade na perspectiva da ação.
Para Arendt, toda força destrutiva,
mesmo quando inevitável, é em si mesma
antipolítica: destrói não apenas nossas
vidas, mas também o mundo que está entre
elas e as humaniza. Um mundo humano
e humanizante não se pode manufaturar,
e nenhuma parte dele que tenha sido
destruída pode ser jamais reposta. Para
Arendt, o mundo não é um produto natural
nem criação de Deus; ele só pode surgir
por meio da política, que em seu sentido
mais amplo, é, para ela, o conjunto de
condições sob as quais homens e mulheres,
em sua pluralidade e sua absoluta diferença,
convivem e se aproximam para falar em
uma liberdade que somente eles podem
mutuamente se conceder e garantir. (KOHN,
2013, p. 35, grifo nosso)
Faz-se útil uma distinção acerca da ideia de pluralidade.
Ela, de fato, não equivale a encarnar de forma completa a figura
do outro. A tal instância nomeia-se alteridade, a qual é uma
medida da existência plural, e não sua significação. Considerar
a existência do outro equivale a conviver com a paradoxal
miríade de seres singulares, ao passo em que fundir-se a ele
equivale à singularidade única (ARENDT, 2009, p. 189).
Na assertiva de Aguiar (2001, p. 74), a pluralidade é o
sumo da significação política da ação em Arendt. Através dela,
a autora visa afirmar que a dignidade do homem é alcançada
mediante o reconhecimento das vozes e do poder dos cidadãos
na confecção dos seus destinos, em detrimento a qualquer valor
absoluto ou externo. A ideia de pluralidade remeteria para uma
dimensão em que é possível unir, a um só tempo, a “mais ampla
diferenciação e um igualitarismo radical”.
A par da identificação entre a liberdade, a política e a
Filosofia, Cidadania e Emancipação 301
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 301 06/11/2016 13:25:11
pluralidade, fica claro que a experiência de estar vivo implica
na consideração das manifestações e expressões de discurso
dos outros homens. As opiniões têm um papel decisivo na vida
humana coletiva, e a discrepância entre elas, as dificuldades de
encontrarem uma via comum para estabelecerem-se significa,
na verdade, a higidez da esfera política.
Veja-se que, na esteira da crítica de Arendt à vontade
geral de Rousseau, se há uma coletânea das vontades individuais
em prol de um interesse geral comum, a liberdade deteriora-
se na opressão; por outro lado, se se propõe o exercício último
da alteridade, em substituição à pluralidade, admite-se a
imersão de uma mentalidade em outra, com a perda do sentido
individual e a condução à singularidade. Assim, a perspectiva
plural é antinômica ao sentido da via consensual. Esta é a
afirmação de Aguiar (2001, p. 77), que arremata:
Poderíamos ir além: ao negar as concepções
essencialistas da política, fundadoras do
político na co-dependência, e ao colocar a
pluralidade, as relações, no centro de sua
concepção do político, Arendt dá espaço
para compreendermos, contra toda a
tradição, que a base da política reside no
dissenso. É em razão das diferenças que
surgem as relações políticas, as promessas
e os pactos originadores da esfera pública.
A liberdade, ao mesmo tempo em que é sinônimo, é
uma particularidade humana que deriva da política. Somente
em meio aos demais, com a expressão de opiniões e o dissenso
entre elas, o indivíduo pode ser livre. As conquistas a que alme-
jam os seres humanos em sua existência coletiva fluem da polí-
tica e não de um conteúdo externo ou um dado transcendental.
Todavia, mesmo esse caráter de autonomia da vida
política não pode evanescer em esterilidade. Cabe aos homens
a atitude de preservação da liberdade, pois, como visto, as
302 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 302 06/11/2016 13:25:11
conquistas nascerão da ação política enquanto agere, e não pela
simples esperança. Há que se garantir um mínimo existencial
de parâmetros libertários a fim de o indivíduo poder exercitar
seus direitos básicos. Fala-se de um anteparo, um dado prévio
aos direitos, que existirá para evitar o ataque insidioso e lento
que oblitera o estatuto jurídico íntimo das pessoas.
A calamidade dos que não têm direitos não
decorre do fato de terem sido privados
da vida, da liberdade ou da procura da
felicidade, nem da igualdade perante a lei ou
da liberdade de opinião […], mas do fato de
já não pertencerem a qualquer comunidade.
Sua situação angustiante não resulta do
fato de não serem iguais perante a lei, mas
sim de não existirem mais leis para eles;
não de serem oprimidos, mas de não haver
ninguém mais que se interesse por eles,
nem que seja para oprimi-los. Só no último
estágio de um longo processo o seu direito
à vida é ameaçado; […] Os próprios nazistas
começaram a sua eliminação dos judeus
privando-os, primeiro, de toda condição
legal e separando-os do mundo para ajuntá-
los em guetos e campos de concentração;
e, antes de acionarem as câmaras de
gás, haviam apalpado cuidadosamente o
terreno e verificado, para sua satisfação,
que nenhum país reclamava aquela gente.
O importante é que se criou uma condição
de completa privação de direitos antes que
o direito à vida fosse ameaçado. (ARENDT,
2012, p. 402)
É a cidadania, para Arendt, o construto político que pode
garantir aos indivíduos a participação na esfera pública da vida.
Não se trata de uma simples intitulação de direitos, haja vista
que tal concepção é incapaz de proporcionar a real participação
dos cidadãos na esfera pública. Os indivíduos devem poder agir
e participar da vida pública, e não serem meros sujeitos de
Filosofia, Cidadania e Emancipação 303
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 303 06/11/2016 13:25:11
direitos formalmente instituídos.
Assim, a cidadania, ou o direito a ter direitos, “só é
possível no âmbito no espaço público motivado pela ação como
atividade própria do viver político de homens que se realizam
como cidadãos, isto é, como agentes políticos” (MELLEGARI;
RAMOS, 2011, p.160). A vivência cidadã constitui a abertura
máxima contra as tenazes do totalitarismo. A própria ontologia
da humanidade deve ser ligada à sua dimensão política, o que
aperfeiçoará, em última análise, a liberdade.
Considerações finais
Young-Bruehl (1997, p. 211) traz uma curiosa afirmação
acerca de Origens do Totalitarismo: Arendt gerou este
livro como se fosse um filho seu, e, nesse papel, agiu como
historiadora e cientista política. Uma criação vasta, de
densidade filosófica profunda, realizada por uma pensadora
que não quis ser qualificada como filósofa. A culminação de
seu esforço de compreensão foi marcado com um poema curto:
“Os pensamentos vêm a mim./ Eu não sou mais uma estranha
para eles./ Eu cresço neles como num lugar,/ Como num campo
arado”.
A tarefa de compreender a ruptura e a inovação que o
totalitarismo significou, a um só tempo, leva o intérprete a
encontrar um campo arado, onde é possível depositar suas
próprias considerações e, a partir delas, colher os frutos para a
compreensão de seu próprio contexto. A liberdade e a política
são sempre ameaçadas, e vislumbrar os modos pelos quais
podem ser fundamentadas, em especial em sinonímia, é uma
notável conquista.
A ação humana é o ato de trazer para o mundo algo que
antes não existia. Esta é a noção máxima da identificação do
304 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 304 06/11/2016 13:25:11
ser livre. A valorização do dissenso, a raiz da vida política, não
pode ser alcançada em meio à negação da pluralidade, como
visualizou o totalitarismo, mas somente através da comunicação
entre os homens, de modo que reconheçam a si e ao entorno.
Referências
AGUIAR, Odílio Alves. Injustiça e banalidade do mal em Hannah
Arendt. In: ASSAI, José Henrique Sousa; SILVA, Ricardo George de
Araújo; MAIA, Antonio Glaudenir Brasil (Org.) Filosofia Política:
emancipação e espaço público. Curitiba: Juruá Editora, 2013.
______. A política na sociedade do conhecimento. Trans/form/
ação, São Paulo, SP, ano 30, n. 1, p. 11-24, 2007.
______. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt.
Fortaleza: EUFC, 2001.
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: antissemitismo,
imperialismo, totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2012.
______. A promessa da política. Organização e introdução de
Jerome Kohn e tradução de Pedro Jorgensen Jr. 3. ed. Rio de
Janeiro: Difel, 2013.
______. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W.
Barbosa. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.
______. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 10.
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
______. A dignidade da política: ensaios e conferências.
Organização de Antonio Abranches, tradução de Helena Martins
e outros. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.
______. Hannah Arendt “Zur Person” Full Interview (with
English subtitles). Disponível em: <https://www.youtube.com/
Filosofia, Cidadania e Emancipação 305
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 305 06/11/2016 13:25:11
watch?v=dsoImQfVsO4>. Acesso em: 10 dez. 2015.
CORREIA, Adriano. Hannah Arendt e a modernidade: política,
economia e a disputa por uma fronteira. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2014.
DUARTE, André. Hannah Arendt e o pensamento político: a arte
de distinguir e relacionar conceitos. Argumentos. Fortaleza,
CE, ano 5, n. 9, p. 39-62, jan./jun. 2013.
______. Hannah Arendt e o evento totalitário como cristalização
histórica. In: AGUIAR, Odílio Alves; BARREIRA, César; ALMEIDA,
José Carlos Silva de; BATISTA, José Élcio (Org.). Origens do
Totalitarismo: 50 anos depois. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
2001.
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:
reflexões sobre o Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito. São
Paulo: Atlas, 2002.
KOHN, Jerome. A promessa da política: introdução. In: ARENDT,
Hannah. A promessa da política. Organização e introdução de
Jerome Kohn e tradução de Pedro Jorgensen Jr. 3. ed. Rio de
Janeiro: Difel, 2013. pp. 07-40.
MAGALHÃES, Teresa Calvet de. A natureza do totalitarismo: o
que é compreender o totalitarismo? In: AGUIAR, Odílio Alves;
BARREIRA, César; ALMEIDA, José Carlos Silva de; BATISTA, José
Élcio (Org.). Origens do Totalitarismo: 50 anos depois. Rio de
Janeiro: Relume-Dumará, 2001.
MELLEGARI, Iara Lúcia; RAMOS César Augusto. Direitos humanos
e dignidade política da cidadania em Hannah Arendt. Revista
Princípios. Natal, v.18, n.29, p. 149-178, jan./jun.2011.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: ou princípios do
direito político. Tradução de Ana Resende. São Paulo: Martin
Claret, 2013. 141p.
306 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 306 06/11/2016 13:25:11
SERRAGLIO, Priscila Zilli; ZAMBAM, Neuro José. Homo Politicus:
a democracia, a evolução moral e o direito. Pensar, Fortaleza,
CE, ano 22, n. 2, v. 20, p. 506-529, maio/ago. 2015.
SILVA, Ricardo George de Araújo; SILVA, Napiê Galvê Araújo
Silva. A recuperação da política: ação e espaço público segundo
Hannah Arendt. Griot - Revista de Filosofia, Amargosa, BA, ano
1, n. 1, v. 3, p. 1-10, jun. 2011.
YOUNG-BRUEHL, Elizabeth. Hannah Arendt: por amor ao mundo.
Tradução de Antônio Trânsito, copidesque e preparação dos
originais por Ari Roitman e revisão técnica de Eduardo Jardim
de Moraes. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997.
Filosofia, Cidadania e Emancipação 307
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 307 06/11/2016 13:25:11
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 308 06/11/2016 13:25:11
Sobre os autores
Alberto Dias de Souza
Especialista em Direito Constitucional pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú – UVA. Mestrando em Direito Constitucional
pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Professor da Faculdade
Luciano Feijão (FLF). Membro do grupo de pesquisa “Relações
Econômicas, Políticas e Jurídicas na América Latina”, mantido pela
UNIFOR.
E-mail: dias-alberto@hotmail.com
Anderson de Alencar Menezes
Doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto
(Portugal). Professor Ajunto da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL). Atua no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/
CEDU/UFAL) como professor e pesquisador. Integra o grupo de Pesquisa
intitulado - Filosofia e Educação e Ensino de Filosofia cadastrado
no CNPQ. Trabalha a partir das seguintes linhas de pesquisa: Teoria
Crítica e Educação; Filosofia e Educação; Epistemologia e Educação
e Hermenêutica e Educação. Membro do Grupo de Trabalho Ética
e Cidadania da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia
(ANPOF).
E-mail: alencarsdb@bol.com.br
Filosofia, Cidadania e Emancipação 309
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 309 06/11/2016 13:25:11
Antonio Glaudenir Brasil Maia
Pós-doutor em Filosofia (UFC). Doutor em Filosofia (UFPE/
UFPB/UFRN). Professor do Curso de Filosofia da Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA) e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Coordenador do Grupo
de Pesquisa Filosofia da Religião (GEPHIR/UVA/CNPq). Coordenador
Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação Nacional de Pós-
Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: glaudenir@gmail.com
Castor M.M. Bartolomé Ruiz
Doutor em Filosofia. Professor pesquisador do programa de
pós-graduação filosofia, Unisinos. Coordenador da Cátedra Unesco de
direitos humanos e violência, governo e governança, Unisinos. Membro
do Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação Nacional de
Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: castorbartolome@terra.com.br
Cecilia Pires
Pós-doutora na área de Filosofia Política em Paris I/Sorbonne.
Doutora em Filosofia, na área de Filosofia Social, pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou como Professora e
Pesquisadora na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e
na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Membro do
Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação Nacional de Pós-
Graduação em Filosofia (ANPOF).. Pesquisadora na área de Filosofia
Política. Professora de Teorias da Democracia, no Programa de Pós-
Graduação em Direito na IMED - Passo Fundo.
E-mail: ceciliapires.pires@yahoo.com.br
310 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 310 06/11/2016 13:25:11
Enoque Feitosa
Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, ambos da
Universidade Federal da Paraíba. É da equipe de Coordenação do
projeto de mobilidade internacional CAPES/AULP/UFPB/UEM 50/2014.
Membro do Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação
Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: enoque.feitosa.sobreira@gmail.com
José Marcos Miné Vanzella
Doutor em Filosofia pela Universidade Gama Filho (Rio de
Janeiro). Professor e Pesquisador no Programa de Mestrado em Direito
do Unisal – U.E. de Lorena (SP). Membro do Grupo de Trabalho Ética
e Cidadania da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia
(ANPOF).
E-Mail: enimine@gmail.com
José María Aguirre Oraá
Doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina (Bélgica)
en 1991. Profesor Titular de Filosofía en la Facultad de Teología de
Vitoria y en el Centro de Estudios Teológicos de Pamplona de 1986 a
1994. Desde 1996 a la actualidad Profesor Titular de Filosofía Moral en
la Universidad de La Rioja. Defensor Universitario de la Universidad
de La Rioja.
E-mail: jose-maria.aguirre@unirioja.es
Filosofia, Cidadania e Emancipação 311
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 311 06/11/2016 13:25:11
Jovino Pizzi
Bacharel em jornalismo, doutor em Ética e Democracia pela
UJI (Espanha); pós-doutor UFSC e professor dos PPGs em Educação e
de Filosofia da UFPel. Autor de diversos livros e organizador de outros
mais, além de artigos publicados no Chile, Espanha, Brasil e outros
países. Membro do Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação
Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: jovino.piz@gmail.com
Juan Jorge Faundes Peñafiel
Doctor en procesos sociales y políticos en América Latina,
mención Ciencia Política, Universidad Arcis, Chile. Integra el Grupo
de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Católica de Temuco. Imparte cátedras de Derechos
Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Docente del Magister
en Estudios Interculturales de la Aniversidad Católica de Temuco.
E-mail: jfaundes@uct.cl
Lorena Freitas
Doutora em Direito e Professora Adjunta na UFPB, Coordena a
Pós-Graduação em Ciências Jurídicas (Mestrado e Doutorado). Membro
do Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação Nacional de
Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: lorenamfreitas@hotmail.com
312 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 312 06/11/2016 13:25:11
Maria da Penha Felício dos Santos de Carvalho
Professora do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de
Janeiro (IUPERJ). Mestra em Filosofia pela Universidade Católica de
Louvain – Bélgica. Doutora em Filosofia pela Universidade Gama Filho
– Rio de Janeiro. Membro do Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da
Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: mdapenha@yahoo.com.br
Marcos Fábio Alexandre Nicolau
Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Professor Adjunto do Curso de Filosofia da Universidade Estadual
Vale do Acaraù (UVA). Professor do Mestrado Profissional em Saúde
da Família (RENASF/UVA). Coordenador do Laboratório de Estudos
Hegelianos (LEH/CNPq). Membro do Gt Ética e Cidadania da ANPOF.
E-mail: marcosmcj@yahoo.com.br
Marcos Onete Fontenele Moreira
Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará
(UECE). Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará
(UFC).
E-mail: marcos.ofm@uol.com.br
Natércia Sampaio Siqueira
Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza
(UNIFOR). Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará
(UFC). Mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de
Filosofia, Cidadania e Emancipação 313
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 313 06/11/2016 13:25:11
Minas Gerais. Atualmente é Procuradora Fiscal da Procuradoria Geral
do Município de Fortaleza e professora da graduação, mestrado e
doutorado do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
Membro do grupo de pesquisa “Relações Econômicas, Políticas e
Jurídicas na América Latina”, mantido pela UNIFOR.
E-mail: naterciasiqueira@yahoo.com.br
Neuro José Zambam
Pós-Doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio
dos Sinos – UNISINOS. Professor da Escola de Direito da Faculdade
Meridional- - IMED – Professor do Programa de Pôs Graduação em
Direito – Mestrado, da Faculdade Meridional – IMED. Membro do
Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação Nacional de Pós-
Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: nzambam@imed.edu.br; neurojose@hotmail.com
Renata Albuquerque Lima
Pós-Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de
Santa Catarina; Doutora em Direito Constitucional pela Universidade
de Fortaleza – UNIFOR; Mestre em Direito Constitucional pela
Universidade Federal do Ceará – UFC; Graduada em Direito pela UFC
e em Administração de Empresas pela UECE; Professora Adjunta do
Curso de Direito da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.
Professora do Curso de Direito da UNICHRISTUS e Coordenadora
do Curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão – FLF; Advogada;
Membro do grupo de pesquisa “Relações Econômicas, Políticas e
Jurídicas na América Latina”, mantido pela UNIFOR.
E-mail: realbuquerque@yahoo.com
314 Coletânia GT Ética e Cidadania
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 314 06/11/2016 13:25:11
Ricardo George Araújo Silva
Doutorado em Filosofia (UFC), Mestre em Filosofia pela
Universidade Federal do Ceará - UFC, (2006) e Graduação em Filosofia
pela Universidade Estadual do Ceará (2003). Foi professor efetivo da
universidade Federal Rural de Pernambuco – UFPE e da Universidade
Federal Rural do Semiárido – UFERSA. Atualmente é Professor da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Coordena o Grupo de
Pesquisa em Política, Educação e Ética (GEPEDE). É editor da Revista
Reflexões de Filosofia e da coleção Reflexões que tem por objetivo
oportunizar publicações na área de Ciências Humanas. Membro do
Grupo de Trabalho Ética e Cidadania da Associação Nacional de Pós-
Graduação em Filosofia (ANPOF).
E-mail: ricardogeo11@yahoo.com.br
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino
Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale
do Itajaí – UNIVALI. Professor universitário – Graduação e Mestrado –
em Direito e Pesquisador no Complexo de Ensino Superior Meridional
- IMED. Coordenador do Grupo de Pesquisa: Ética, Cidadania e
Sustentabilidade.
E-mail: sergiorfaquino@gmail.com
Ysmênia de Aguiar Pontes
Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC. Graduada em Letras pela Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA) e em Direito pela Faculdade Farias Brito (FFB).
Coordenadora Adjunta e Professora do Curso de Direito da Faculdade
Luciano Feijão (FLF). Advogada.
E-mail: ysmeniapontesadv@gmail.com
Filosofia, Cidadania e Emancipação 315
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 315 06/11/2016 13:25:11
Final Cc Filosofia, Cidadania e Emancipação - Copia.indd 316 06/11/2016 13:25:11
Você também pode gostar
- Drama humano na sociedade do espetáculo: Reflexões sobre arte, educação e políticas públicas, em tempos de pandemiaNo EverandDrama humano na sociedade do espetáculo: Reflexões sobre arte, educação e políticas públicas, em tempos de pandemiaAinda não há avaliações
- Entre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerNo EverandEntre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerAinda não há avaliações
- Epistemólogos do século XX e suas contribuições para o Ensino de CiênciasNo EverandEpistemólogos do século XX e suas contribuições para o Ensino de CiênciasAinda não há avaliações
- Identidade e docência: o professor de sociologia do ensino médioNo EverandIdentidade e docência: o professor de sociologia do ensino médioAinda não há avaliações
- Educaçao Fisica 4-5 - TEMOS PRONTO 38 99890 6611Documento4 páginasEducaçao Fisica 4-5 - TEMOS PRONTO 38 99890 6611trabalhos unoparAinda não há avaliações
- Leituras em Kant: O Ensino Religioso / Os Juízos Teleológicos / A Folha de FigueiraNo EverandLeituras em Kant: O Ensino Religioso / Os Juízos Teleológicos / A Folha de FigueiraAinda não há avaliações
- O Conceito de Saúde Ponto-Cego Da EpidemiologiaDocumento17 páginasO Conceito de Saúde Ponto-Cego Da EpidemiologiapoetafingidorAinda não há avaliações
- Alem Do Pos-Colonialismo... Kapil RAJDocumento12 páginasAlem Do Pos-Colonialismo... Kapil RAJBianca FrancaAinda não há avaliações
- Influencias Dos Organismos Internacionais Nas Políticas Educacionais - So Há Intervenção Quando Hpa Consentimento..Documento24 páginasInfluencias Dos Organismos Internacionais Nas Políticas Educacionais - So Há Intervenção Quando Hpa Consentimento..Rafaela Marinho CaldasAinda não há avaliações
- A tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXINo EverandA tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXIAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Educacao Rural No Brasil - Do Ruralismo Pedagogico Ao Movimento Por Uma Educacao Do Campo PDFDocumento192 páginasEducacao Rural No Brasil - Do Ruralismo Pedagogico Ao Movimento Por Uma Educacao Do Campo PDFFernanda ReisAinda não há avaliações
- A valoração nas ciências humanas: John Dewey (1859-1952)No EverandA valoração nas ciências humanas: John Dewey (1859-1952)Ainda não há avaliações
- Sobre a Universidade: o declínio da sociedade atualNo EverandSobre a Universidade: o declínio da sociedade atualAinda não há avaliações
- O Percurso Das Políticas Educacionais No BrasilDocumento51 páginasO Percurso Das Políticas Educacionais No BrasilMariana MatosAinda não há avaliações
- Anísio Teixeira A História Da Educação No Brasil - OkDocumento5 páginasAnísio Teixeira A História Da Educação No Brasil - OkAgenor AraújoAinda não há avaliações
- BourdieuDocumento32 páginasBourdieuProjeto Sou CapazAinda não há avaliações
- Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaNo EverandFormação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaAinda não há avaliações
- Como Os Direitos Sociais São Transformados Em Políticas PúblicasNo EverandComo Os Direitos Sociais São Transformados Em Políticas PúblicasAinda não há avaliações
- Da Consciência à Docência: Desafios da Educação Profissional no BrasilNo EverandDa Consciência à Docência: Desafios da Educação Profissional no BrasilAinda não há avaliações
- Carta Da TransdisciplinaridadeDocumento3 páginasCarta Da TransdisciplinaridadeFlávio Rodrigues100% (1)
- Ressignificando A DemocraciaNo EverandRessignificando A DemocraciaAinda não há avaliações
- Planificação EpistemologiaDocumento11 páginasPlanificação EpistemologiaFilomenaAinda não há avaliações
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresNo EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAinda não há avaliações
- Consciência E Subjetividade Em Jean-paul SartreNo EverandConsciência E Subjetividade Em Jean-paul SartreAinda não há avaliações
- Como e Por Que As Desigualdades Sociais Fazem Mal A Saude by Rita Barradas Barata ZDocumento96 páginasComo e Por Que As Desigualdades Sociais Fazem Mal A Saude by Rita Barradas Barata ZGleydeAraújoAinda não há avaliações
- Reflexões sobre educação superior: A universidade e seu compromisso com a sociedadeNo EverandReflexões sobre educação superior: A universidade e seu compromisso com a sociedadeAinda não há avaliações
- Exercício RecuperaçãoDocumento2 páginasExercício RecuperaçãoHenrique Ruas0% (1)
- Sociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteNo EverandSociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteAinda não há avaliações
- Ética, Política e Educação em Aristóteles - Trabalho CompletoDocumento23 páginasÉtica, Política e Educação em Aristóteles - Trabalho CompletoPaulo Tarso100% (1)
- Filosofia - UN02Documento34 páginasFilosofia - UN02israel MachadoAinda não há avaliações
- Fiolosofia EDU UN03 00 22-04-2015Documento25 páginasFiolosofia EDU UN03 00 22-04-2015William PimentelAinda não há avaliações
- A Escola de Aperfeiçoamento de Belo HorizonteNo EverandA Escola de Aperfeiçoamento de Belo HorizonteAinda não há avaliações
- SEP2017 Caderno de Resumos FINALDocumento243 páginasSEP2017 Caderno de Resumos FINALGabriel ValeryAinda não há avaliações
- Desafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteNo EverandDesafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e CidadaniaDocumento36 páginasDireitos Humanos e CidadaniaIranildo Alves CunhaAinda não há avaliações
- Modelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeNo EverandModelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeAinda não há avaliações
- Reconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasNo EverandReconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasAinda não há avaliações
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasNo EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasAinda não há avaliações
- Atividade de Filosofia 1Documento4 páginasAtividade de Filosofia 1ClebioPaivaAinda não há avaliações
- Tempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalNo EverandTempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalAinda não há avaliações
- (Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNo Everand(Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- Políticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteNo EverandPolíticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteAinda não há avaliações
- O POSITIVISMO E A EDUCAÇÃO NO BRA SIL (CIENTIFICISMO, PROGRESSO E REPÚBLICA) - Francisco José Da Silveira Lobo NetoDocumento15 páginasO POSITIVISMO E A EDUCAÇÃO NO BRA SIL (CIENTIFICISMO, PROGRESSO E REPÚBLICA) - Francisco José Da Silveira Lobo NetoAlyne AlencarAinda não há avaliações
- Escolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXNo EverandEscolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXAinda não há avaliações
- EpistemologiaDocumento15 páginasEpistemologiaElisa Maranho100% (1)
- Gestão Democrática das Escolas Públicas Cearenses: Avanços e RecuosNo EverandGestão Democrática das Escolas Públicas Cearenses: Avanços e RecuosAinda não há avaliações
- Principais Filósofos GregosDocumento11 páginasPrincipais Filósofos GregosADRIANA CLARO MURETTO CAVALCANTE DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Gestão de Organizações de Ensino: Uma Perspectiva PedagógicaNo EverandGestão de Organizações de Ensino: Uma Perspectiva PedagógicaAinda não há avaliações
- Educação SocialistaDocumento8 páginasEducação SocialistaCalebe FontenelleAinda não há avaliações
- Os Invasores de Marx Sobre Os Usos Da Teoria Marxista e As Dificuldades de Uma Leitura Contemporânea Michael Heinrich PDFDocumento12 páginasOs Invasores de Marx Sobre Os Usos Da Teoria Marxista e As Dificuldades de Uma Leitura Contemporânea Michael Heinrich PDFreginaAinda não há avaliações
- A Jaula de Aço - Max Weber e o Marxismo Weberiano Michael Lowy PDFDocumento5 páginasA Jaula de Aço - Max Weber e o Marxismo Weberiano Michael Lowy PDFSimonyPlattAinda não há avaliações
- A Filosofia No Cinema: O Uso Pedagógico Da Arte Na Produção de Um Material Didático para o Ensino de FilosofiaDocumento11 páginasA Filosofia No Cinema: O Uso Pedagógico Da Arte Na Produção de Um Material Didático para o Ensino de FilosofiaMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- Nada É Sem RazãoDocumento116 páginasNada É Sem RazãoMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- Bildung PDFDocumento21 páginasBildung PDFDanilo Pallar Lemos IIAinda não há avaliações
- O Conceito de Bildung em HegelDocumento202 páginasO Conceito de Bildung em HegelMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- A Dialética Das Antinomias Kantianas e A Crítica HegelianaDocumento16 páginasA Dialética Das Antinomias Kantianas e A Crítica HegelianaMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- A Dialetica Do Começo em HegelDocumento6 páginasA Dialetica Do Começo em HegelmarcosmcjAinda não há avaliações
- Modernidade e ReligiãoDocumento9 páginasModernidade e ReligiãoMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- Luc Ferry e Gianni Vattimo. Duas Perspectivas Filosóficas Sobre o Fenômeno Religioso Na ContemporaneidadeDocumento14 páginasLuc Ferry e Gianni Vattimo. Duas Perspectivas Filosóficas Sobre o Fenômeno Religioso Na ContemporaneidadeMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- A Crítica Feuerbachiana Da Filosofia Especulativa e Sua Verdade Terrivelmente Séria em Princípios de Filosofia Do FuturoDocumento14 páginasA Crítica Feuerbachiana Da Filosofia Especulativa e Sua Verdade Terrivelmente Séria em Princípios de Filosofia Do FuturoMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- O Conceito Hegeliano de ReligiãoDocumento10 páginasO Conceito Hegeliano de ReligiãoMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- Nicolau, M. F. A. - SOBRE O COMEÇO TRIÁDICO DA LÓGICA HEGELIANA O SER, O NADA, O DEVIRDocumento9 páginasNicolau, M. F. A. - SOBRE O COMEÇO TRIÁDICO DA LÓGICA HEGELIANA O SER, O NADA, O DEVIRmarcosmcjAinda não há avaliações
- A Bildung e A Instituicao Escolar o Modelo Hegelia PDFDocumento15 páginasA Bildung e A Instituicao Escolar o Modelo Hegelia PDFLeo Fly GunsAinda não há avaliações
- Artigo Herder e A FormaçãoDocumento12 páginasArtigo Herder e A FormaçãoPriscilla StuartAinda não há avaliações
- Artigo 1 - Nicolau (1-13)Documento13 páginasArtigo 1 - Nicolau (1-13)marcosmcjAinda não há avaliações
- A Bildung Hegeliana Ainda Nos É Uma Proposta PossívelDocumento17 páginasA Bildung Hegeliana Ainda Nos É Uma Proposta PossívelPedro FonteneleAinda não há avaliações
- Ética e Autonomia: Uma Via de Mão Dupla Na DocênciaDocumento19 páginasÉtica e Autonomia: Uma Via de Mão Dupla Na DocênciaMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- NICOLAU, M.F. A. - A Tentação Hegeliana em Do Texto À AçãoDocumento15 páginasNICOLAU, M.F. A. - A Tentação Hegeliana em Do Texto À AçãomarcosmcjAinda não há avaliações
- A Divisão Da Ciência Da Natureza Na Enciclopédia Filosófica para Classe Superior (1808s.)Documento9 páginasA Divisão Da Ciência Da Natureza Na Enciclopédia Filosófica para Classe Superior (1808s.)MARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- Marcos Fabio A. Nicolau - A CIÊNCIA DA LÓGICA NO SISTEMA HEGELIANODocumento13 páginasMarcos Fabio A. Nicolau - A CIÊNCIA DA LÓGICA NO SISTEMA HEGELIANOmarcosmcjAinda não há avaliações
- 5171-Texto Do Artigo-8862-1-10-20161006 PDFDocumento11 páginas5171-Texto Do Artigo-8862-1-10-20161006 PDFLeo Fly GunsAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre A Relação Do Retorno Da Filosofia Ao Ensino MédioDocumento15 páginasUm Estudo Sobre A Relação Do Retorno Da Filosofia Ao Ensino MédioMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- A Bildung em G. W. F. Hegel: Perspectivas Filosóficas Sobre o Processo EducativoDocumento9 páginasA Bildung em G. W. F. Hegel: Perspectivas Filosóficas Sobre o Processo EducativoMARCOS FABIO ALEXANDRE NICOLAU marcosnicolauAinda não há avaliações
- Valores ÉticosDocumento19 páginasValores ÉticosJoana Gaspar PinheiroAinda não há avaliações
- 6711 19449 1 PBDocumento23 páginas6711 19449 1 PBAna Elisa FernandesAinda não há avaliações
- Quarto Camarim - Ilusões Na Sala EscuraDocumento3 páginasQuarto Camarim - Ilusões Na Sala EscuraCarlos CostaAinda não há avaliações
- Apostila de JogoDocumento16 páginasApostila de JogoThiago Ramos100% (1)
- Artigo Angelica Ferreira RosaDocumento25 páginasArtigo Angelica Ferreira RosaBRUNAAinda não há avaliações
- Edital N 10 2023 Epufabc Resultado ProvaDocumento33 páginasEdital N 10 2023 Epufabc Resultado ProvaKauê Vieira de SousaAinda não há avaliações
- Indiginas de Minas GeraisDocumento116 páginasIndiginas de Minas GeraisTeacher Diego Leonel100% (1)
- ALENCASTRO, Luiz Felipe. O Trato Dos Viventes: Formação Do Brasil No Atlântico Sul (Séculos XVI e XVII) - São Paulo: Companhia Das Letras, 2000 (Fichamento de Leitura) .Documento16 páginasALENCASTRO, Luiz Felipe. O Trato Dos Viventes: Formação Do Brasil No Atlântico Sul (Séculos XVI e XVII) - São Paulo: Companhia Das Letras, 2000 (Fichamento de Leitura) .Karl MichaelAinda não há avaliações
- Afrofoturismo, Pós-Modernismo e Pós-Colonialismo Descentramentos Teóricos e A Crítica Epistemológica A Partir Das Artes Afrodiaspóricas (Final)Documento17 páginasAfrofoturismo, Pós-Modernismo e Pós-Colonialismo Descentramentos Teóricos e A Crítica Epistemológica A Partir Das Artes Afrodiaspóricas (Final)Cairo Henrique dos Santos LimaAinda não há avaliações
- A Evasão Dos Maçons Das LojasDocumento2 páginasA Evasão Dos Maçons Das LojashateodoroAinda não há avaliações
- Dia Dos Povos Indígenas - ATIVIDADEDocumento2 páginasDia Dos Povos Indígenas - ATIVIDADEjeane.ortoAinda não há avaliações
- Exercícios - IroniaDocumento2 páginasExercícios - IroniaMarina DerminioAinda não há avaliações
- 10208-Texto Do Artigo-42807-1-10-20170815Documento15 páginas10208-Texto Do Artigo-42807-1-10-20170815Celio Jeronimo MutolaAinda não há avaliações
- Casados para SempreDocumento3 páginasCasados para Sempreelon torres almeidaAinda não há avaliações
- Pedagogia Liberal e LaicaDocumento2 páginasPedagogia Liberal e LaicaGiovanni B Souza100% (1)
- QUESTIONÁRIO I CorretoDocumento4 páginasQUESTIONÁRIO I CorretoMário Andreys0% (1)
- Pós Divórcio - Visão Dos FilhosDocumento15 páginasPós Divórcio - Visão Dos FilhosAllany NascimentoAinda não há avaliações
- Filo - Emotivismo Ético (Características)Documento1 páginaFilo - Emotivismo Ético (Características)edugraciaAinda não há avaliações
- Representação PFDC Palmares Movimento NegroDocumento22 páginasRepresentação PFDC Palmares Movimento NegroMetropolesAinda não há avaliações
- STC5 - 3 InformáticaDocumento2 páginasSTC5 - 3 InformáticaJoao Pedro SilvaAinda não há avaliações
- Banner 120x90Documento1 páginaBanner 120x90Davi RodriguesAinda não há avaliações
- Conto UBIRATAN TEIXEIRA VELA AO CRUCIFICADODocumento17 páginasConto UBIRATAN TEIXEIRA VELA AO CRUCIFICADOLeticia Soares de Sousa TarginoAinda não há avaliações
- Projeto III Alexandre 09 de Outubro 2019Documento105 páginasProjeto III Alexandre 09 de Outubro 2019Alexandre CarminattiAinda não há avaliações
- Atividade Individual - ÉticaDocumento2 páginasAtividade Individual - ÉticaYasmine HajarAinda não há avaliações
- A Família Antiga - MorganDocumento15 páginasA Família Antiga - MorgandidiodjAinda não há avaliações
- Recuperação AvaliaçãoDocumento2 páginasRecuperação AvaliaçãoEmely RayaneAinda não há avaliações
- Trabalho Responsabilidade Social - Lania - T12Documento24 páginasTrabalho Responsabilidade Social - Lania - T12Lania StefanoniAinda não há avaliações
- Aula de Introdução À Economia 10 Classe (Guardado Automaticamente)Documento10 páginasAula de Introdução À Economia 10 Classe (Guardado Automaticamente)Kovaciç DelaAinda não há avaliações
- Edital Mãe Gilda de OgumDocumento12 páginasEdital Mãe Gilda de OgumKleber da Silva MoreiraAinda não há avaliações
- A Família Escrava em Lorena (1801)Documento51 páginasA Família Escrava em Lorena (1801)Pedro Henrique GarciaAinda não há avaliações