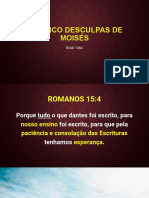Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Viravolta Machadiana
A Viravolta Machadiana
Enviado por
Cayo F. Pagotto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações14 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações14 páginasA Viravolta Machadiana
A Viravolta Machadiana
Enviado por
Cayo F. PagottoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
A VIRAVOLTA
MACHADIANA Roberto Schwarz
Gabriela Gonçalves Silva Rocha
N° USP 10270411
Luísa Carolina Goulart
N° USP 11323752
INTRODUÇÃO
TEXTO: "A viravolta machadiana", ensaio de Roberto Schwarz
In. Martinha versus Lucrécia, 2012 -> o particular e o universal
A produção machadiana se divide em dois momentos; essa divisão é demarcada pela "viravolta"
A principal mudança se percebe na figura e nos recursos do narrador
Texto proporcionou a descoberta dessa "primeira fase" menos difundida da produção de
Machado de Assis
CONTEXTO HISTÓRICO
Proprietários X Dependentes
Sociedade burguesa e escravocrata
O trabalho assalariado não era
desenvolvido
PRIMEIRA FASE MACHADIANA
Os primeiros romances de Machado possuíam em comum: sua temática e suas
heroínas
“heroínas pobres, inteligentes e lindas — além de muito suscetíveis
—, faziam frente à injustiça de que eram vítimas, ou seja,
manobravam para se fazer adotar por um clã abastado.” (p. 257)
Essas heroínas estavam sempre à mercê das escolhas de seus benfeitores que poderiam
escolher tratá-las bem, e torná-las esposas, ou as submeterem a todas as humilhações
que considerassem pertinentes
O narrador traz luz à vida dos dependentes, mas sem tornar, abertamente, seus
problemas sociais o foco da narrativa
PRIMEIRA FASE MACHADIANA
Sua crítica era tímida e estava mesclada a um tema romântico: amores que precisam
superar as distâncias sociais
Machado escrevia sobre a perspectiva da ilusão de que através do respeito entre as
partes da aliança, o modelo benfeitor x dependente poderia ser benéfico, e as mazelas
sociais seriam resolvidas
Em seu último romance da primeira fase, "Iaiá Garcia", Machado parece demonstrar seu
primeiro traço de um crítico mais corajoso
A VIRAVOLTA MACHADIANA
patriarcas, padrinhos e protetores,
senhores de escravos, proprietários, chefe dependentes, escravos, cooptados,
de parentela, cooptadores, padrinhos, agregados, pobres, clientela, oprimidos,
arbítrio proprietário, benfeitores, vida ao deus-dará dos pobres
protetores, classes satisfeitas,
opressores, beneficiário, narrador de elite,
autoridade literária e social
relações de favor, sociedade paternalista, propriedade de
feição colonial, relações semicoloniais, situação de clientela,
regime de classe escancarado, conservadorismo encarniçado
A VIRAVOLTA MACHADIANA
Sociedade diferente, mas igual > a burguesia ascende no Brasil, porém a dinâmica social
permanece, em "combinações dissonantes de liberalismo e exclusão"
O narrador é o expoente da revolução formal percebida na segunda fase de produção literária
machadiana; passa da perspectiva do dependente à do proprietário
Ao mudar a perspectiva narrativa através da mudança de posicionamento social do narrador,
Machado é capaz de expor as contraditoriedades que permeavam a sociedade brasileira usando
como intermédio a consciência de um representante da classe opressora
O narrador representa, ao mesmo tempo, "a razão e o obscurantismo": é "civilizado à europeia e
incivil à brasileira"
“(...) o narrador machadiano realizava em grau superlativo as aspirações de
elegância e cultura da classe alta brasileira, mas para comprometê-la e dá-la em
espetáculo” (p. 271)
SEGUNDA FASE MACHADIANA
Pelo fato de o narrador ser senhor de escravo, ele desfruta do acesso aos avanços
tecnológicos, científicos e filosóficos e, por isso, as referências à modernidade passam a
ser elementos corriqueiros na produção machadiana após 1880
Ao mesmo tempo, esse narrador é responsável por manter a ordem social baseada na
violência para garantir seus benefícios; é sobre o aspecto da ambiguidade que Machado
contrói a crítica social
"O narrador integralmente sofisticado e livre, quase se diria emancipado, dono de
seus meios e da tradição, reitera em pensamento e conduta os atrasos de nossa
formação social, em vez de os superar" (p. 275)
Ao eleger um indivíduo da elite patriarcal para dar voz ao narrador, Machado é capaz de
veicular críticas sociais tão realistas que eleva a mimese a uma perspectiva original na
literatura brasileira para além da caracterização fotográfica e chega no âmbito sociohistórico
O universal em Machado: diálogo com a literatura clássica e a nacional ao exibir uma narrativa
localizada espacial e temporalmente
SEGUNDA FASE MACHADIANA
A violência que está na base da relação submissiva entre proprietários e agregados é
exposta de forma escancarada e despudorada nos romances a partir de 1880,
diferentemente da primeira fase, que tratava da desigualdade social de maneira velada
Dessa forma, Machado assume uma abordagem incisiva e sarcástica sobre a dinâmica social
da época e não esboça nenhuma perspectiva de mudança em relação à mesma, diferente da
expectativa romântica de reparação social pós-abolição, de certa forma antecipando os
rumos da história
"(...) no curto período entre Iaiá Garcia (1878) e Memórias póstumas (1880),
quase dez anos antes da Abolição (1888), o escritor se terá dado conta do curso
decepcionante das coisas, que não ia se pautar pelo providencialismo laico das
doutrinas do progresso, nem pelos bons conselhos que os protegidos pudessem
dar a seus protetores" (p. 271)
SEGUNDA FASE MACHADIANA
A viravolta machadiana acontece em 1880 com a produção de "Memórias póstumas de Brás
Cubas"
Ao contrário do primeiro momento, a partir de Memórias póstumas, Machado:
1. Elege o narrador como um representante da classe dominante
2. Exibe a contradição da classe burguesa que se autointitula como "moderna" e "civilizada"
e, ao mesmo tempo, é "retrógrada" e "grotesca" por se autobeneficiar das iniquidades
sociais
3. Expõe abertamente sobre as mazelas sociais causadas pela relação desigual entre
proprietários e subjugados, além de incluir o tema da escravidão
4. Abandona a expectativa romântica de reparação social frente à abolição
CRONOLOGIA
A primeira fase machadiana é de críticas mais tímidas
Romances da primeira fase:
1872 Ressurreição
1874 A mão e a luva
1876 Helena
1878 Iaiá Garcia
CRONOLOGIA
Machado refina sua produção literária e através de seu narrador sarcástico, torna-se um
crítico mais duro
Romances da segunda fase: Textos analisados em sala:
1881 Memórias Póstumas de Brás Cubas 1882 Teoria do medalhão
1885 Casa Velha 1882 O espelho
1891 Quincas Borba 1886 Terpsícore
1899 Dom Casmurro 1888 Crônica 19 de maio de 1888
1904 Esaú e Jacó 1899 O caso da vara
1908 Memorial de Aires 1906 Pai contra mãe
CONCLUSÃO
Machado retrata em suas obras cenários nacionais, e situações carregadas de cultura
brasileira
Em contrapartida, sua crítica está em um comportamento previsível, existente no
passado, e que com certeza (segundo o próprio autor que prevê a ausência de mudanças
pós abolicionismo) continuará se repetindo no futuro. Não apenas no Brasil, mas em todo o
globo, para que o rico desfrute de todo o seu privilégio, o pobre é desumanizado e
humilhado.
Deste modo, Machado de Assis vai do particular ao universal
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CÂNDIDO, Antônio. "Temas e expressão". Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins,
1971, ed. 4, v. 2, p. 115-118.
Ministério da Educação e Cultura (MEC). Machado de Assis: Vida e obra. Acesso em 20 de
setembro de 2021. Disponível em: <http://machado.mec.gov.br/obra-completa-
lista/itemlist/category/23-romance>.
SCHWARZ, Roberto. "A viravolta machadiana". In Martinha versus Lucrécia: Ensaios e
entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 247-279.
MACHADO de ASSIS. "O punhal de Martinha". In SCHWARZ, Roberto. Martinha versus Lucrécia:
Ensaios e entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 307-310.
Você também pode gostar
- Mês de Tishrei - Tribo de EfraimDocumento4 páginasMês de Tishrei - Tribo de EfraimLeandroMaiaAinda não há avaliações
- Dragon Slayer 36 PDFDocumento68 páginasDragon Slayer 36 PDFM4T4R0Ainda não há avaliações
- CTBD 04 - CLASSES E ESPECIALIDADES - Plano Amigo 16reuniões-ANTIGODocumento10 páginasCTBD 04 - CLASSES E ESPECIALIDADES - Plano Amigo 16reuniões-ANTIGOJonathas AlmeidaAinda não há avaliações
- Livros Da Biblia em Idiomas DiferentesDocumento3 páginasLivros Da Biblia em Idiomas DiferentesMarcos CoelhoAinda não há avaliações
- FadasDocumento62 páginasFadasAlbert MarquesAinda não há avaliações
- Os Maias - Características Trágicas Das PersonagensDocumento4 páginasOs Maias - Características Trágicas Das Personagensdiana67% (3)
- Arte 1S EM Volume 1 (2014)Documento82 páginasArte 1S EM Volume 1 (2014)Rones Dias75% (4)
- As Três Peneiras de SócratesDocumento2 páginasAs Três Peneiras de SócratesNilton Ribeiro100% (3)
- Filosofia Do Estilo - Herbert SpencerDocumento70 páginasFilosofia Do Estilo - Herbert SpencerMarcos Boaventura de CarvalhoAinda não há avaliações
- A Lenda Arturiana Nas Literaturas Da Peninsula IbericaDocumento272 páginasA Lenda Arturiana Nas Literaturas Da Peninsula IbericaKilmer AlmeidaAinda não há avaliações
- Aula 01 - Figuras de LinguagemDocumento30 páginasAula 01 - Figuras de LinguagemDouglasAinda não há avaliações
- Avaliação Modulo 1 Geografia BiblicaDocumento3 páginasAvaliação Modulo 1 Geografia BiblicaCarlos MoraesAinda não há avaliações
- Recuperação OPERADORES DE LEITURADocumento8 páginasRecuperação OPERADORES DE LEITURANatalino OliveiraAinda não há avaliações
- Vencendo o Medo (Salmo 27)Documento6 páginasVencendo o Medo (Salmo 27)Daniel Sipriano NetoAinda não há avaliações
- Material Pre Ufrgs 2017Documento10 páginasMaterial Pre Ufrgs 2017Girlene MedeirosAinda não há avaliações
- A Sabedoria Oriental.4 PDFDocumento448 páginasA Sabedoria Oriental.4 PDFnellycAinda não há avaliações
- FI-Frei Luis de SousaDocumento11 páginasFI-Frei Luis de SousaSofia Carnide100% (1)
- Professor - Artista... Ou PalhaçoDocumento7 páginasProfessor - Artista... Ou PalhaçomarianagaquinoAinda não há avaliações
- 13 Josué Assume o ComandoDocumento18 páginas13 Josué Assume o ComandoJulio MajorAinda não há avaliações
- Como Passar Vitoriosamente Pelas Tempestades Da VidaDocumento3 páginasComo Passar Vitoriosamente Pelas Tempestades Da VidaMatheus ElegânciaAinda não há avaliações
- As 5 Desculpas de MoisesDocumento14 páginasAs 5 Desculpas de MoisesErick Veliz VictorioAinda não há avaliações
- 49-Actas Da VI Reuniao Internacional de CamonistasDocumento10 páginas49-Actas Da VI Reuniao Internacional de CamonistasMateus SoaresAinda não há avaliações
- 17-Boa ProvaDocumento18 páginas17-Boa Provarannier07Ainda não há avaliações
- Educação Literária: Do Texto À Experiência (Trans) Formadora Do LeitorDocumento685 páginasEducação Literária: Do Texto À Experiência (Trans) Formadora Do LeitorMarcos de MeloAinda não há avaliações
- Analise de Gato de BotasDocumento1 páginaAnalise de Gato de BotasMassimo PragaAinda não há avaliações
- Historia Da Musica Europeia PDFDocumento239 páginasHistoria Da Musica Europeia PDFClair Albuquerque QuintinoAinda não há avaliações
- Noite Na TavernaDocumento9 páginasNoite Na TavernaPedro LucasAinda não há avaliações
- Portugues Lin 8-Ano 1bim AfDocumento4 páginasPortugues Lin 8-Ano 1bim AfEduardoAinda não há avaliações
- Livro "Contos Completos Dos Irmãos Grimm"Documento2 páginasLivro "Contos Completos Dos Irmãos Grimm"dominkatia0Ainda não há avaliações
- Bojador - Texto DramaticoDocumento8 páginasBojador - Texto DramaticoPaulaPais100% (1)