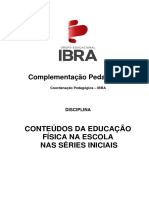Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias
Enviado por
Victor LimaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias
Enviado por
Victor LimaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Práxis Educativa (Brasil)
ISSN: 1809-4031
praxiseducativa@uepg.br
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Brasil
Otero-Garcia, Sílvio César
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus,
2008. 144 p.
Práxis Educativa (Brasil), vol. 7, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 285-290
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Paraná, Brasil
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89423377015
Como citar este artigo
Número completo
Sistema de Informação Científica
Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal
Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto
DOI:10.5212/PraxEduc.v.7i1.00014
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias:
o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus,
2008. 144 p.
Sílvio César Otero-Garcia*
Vani Moreira Kenski é graduada em pedagogia pela Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (UERJ) e licenciada em geografia pela mesma universi-
dade. É mestre em educação pela Universidade de Brasília (UNB) e doutora em
educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente
exerce diversas atividades, dentre as quais a de professora voluntária do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo (USP). O seu
livro, uma obra de seis capítulos e cento e quarenta e uma páginas, “Educação e
Tecnologias”, é referência comum quando se fala de relações entre educação e
tecnologias.
A autora inicia seu livro com um breve relato de uma situação de “ficção
científica”, possível de acontecer no mundo virtual. Acreditamos que esse tal
relato tenha o propósito de motivar o leitor para a temática do livro.
No Capítulo 1, Kenski faz um pequeno resgate do processo histórico do
desenvolvimento das tecnologias e suas relações com o homem. Discute tam-
bém questões como o uso da informação e da tecnologia como formas de po-
der, tanto na guerra como no contexto de exploração numa sociedade desigual.
Nesse ponto, concordamos com a autora, no sentido de que a educação tem
um papel fundamental, visto que é por meio dela (também, e em alguns casos,
exclusivamente) que as pessoas podem ter acesso ao conhecimento necessário
para, de algum modo, “dominar” as tecnologias, compreendê-las e, assim, não se
restringirem a ser apenas suas usuárias. Entretanto, é um desafio para a educação
não só desempenhar esse papel, mas também adaptar-se às tecnologias. Sobre
isso, Kenski nos diz:
Esse é também o duplo desafio da educação: adaptar-se aos avanços das tec-
nologias e orientar o caminho de todos para o domínio e apropriação crítica
desses novos meios (KENSKI, 2008, p.18).
Finalizando o capítulo, temos algumas conceituações de tecnologia, que
é, para Kenski:
[...] o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao
planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um deter-
minado tipo de atividade (KENSKI, 2008, p. 24).
*
Doutorando da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. E-mail: <silvioce@gmail.com>
Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 285-290, jan./jun. 2012 285
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>
Sílvio César Otero-Garcia
A autora também distingue tecnologia de técnica; resumidamente, as téc-
nicas são as habilidades especiais necessárias para se lidar com as diferentes tec-
nologias. Fica, aí, uma questão: habilidades especiais não podem ser entendidas
como conhecimentos que se aplicam à utilização de um equipamento? Isto é,
técnicas não seriam, utilizando-se das definições de Kenski, também tecnologias?
No Capítulo 2, temos uma discussão sobre as Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs) e as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação
(NTICs), cada uma com sua especificidade, mas que podem ser chamadas indis-
tintamente de TICs, devido, principalmente, ao uso cada vez mais comum das
NTICs. Temos aqui, mais uma vez, uma questão delicada de definição: o que
são as TICs e as NTICs? No contexto da autora, temos um primeiro momento
que é o das “tecnologias da inteligência”, advindas da necessidade do homem
de se comunicar, de se expressar. Num segundo momento, com o advento do
processo de produção industrial, passamos a ter as TICs: jornais, revistas, rádio
etc. Finalmente, na era digital, as NTICs. A tecnologia da inteligência é imaterial,
as TICs e NTICs não (ou não necessariamente). Para Kenski, o campo funda-
mental que distingue essas três denominações é a linguagem. As tecnologias da
inteligência se expressam fundamentalmente na linguagem oral (imaterial), as
TICs na escrita e as NTICs na digital (ambas materiais). A distinção entre os
três termos e, sobretudo, entre os dois últimos, em certo sentido, reside apenas
no momento, no estágio do avanço tecnológico. Talvez no início da chamada
“era digital” tal distinção fosse conveniente. Atualmente, conforme já dissemos,
com o uso cada vez mais comum das NTICs, tratá-las simplesmente por TICs
parece-nos mais adequado (e, por que não de tecnologias da inteligência?). Após
abordar essas questões, a autora ainda fala, dentre outras coisas, de redes e a nova
lógica tecnológica. Sob o viés da educação, poderíamos discutir, e isso também é
levantado por Kenski, a questão do conhecimento necessário para se ter acesso a
essas redes criadas pelas NTICs e as alterações sociais decorrentes do uso delas.
Novas tecnologias, para quem?
No Capítulo 3, a questão do uso das tecnologias na educação é abordada.
Para a autora, educação e tecnologia são indissociáveis. As tecnologias, ao longo
do tempo, provocaram modificações na maneira de se fazer e pensar a educação.
Com as TICs e as NTICs, muitos paradigmas foram postos em xeque. Os alunos
muitas vezes têm um maior conhecimento sobre o uso dessas tecnologias que o
próprio professor. A autora cita como exemplo disso uma iniciativa do governo
da Finlândia que escolheu quinhentas crianças e jovens para dar formação
tecnológica a seus professores. A nosso ver, as novas tecnologias trazem uma série
de medos, preconceitos e exageros, como essa iniciativa citada anteriormente.
Outro exagero é a mistificação de que tais tecnologias são a solução para
todos os problemas anteriores a elas e, por conta disso, passam a ser usadas
286 Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 285-290, jan./jun. 2012
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação
indiscriminadamente, inclusive em contextos absurdos. Kenski trouxe alguns
exemplos dessa natureza em escolas dos EUA, nas quais, inclusive, algumas
disciplinas foram retiradas do currículo por não poderem ser trabalhadas com
o uso das “novas tecnologias”. Um ponto a ser levantado, e o é no livro, é que
as novas tecnologias podem requerer novas abordagens, ou seja, muitas vezes se
faz uso de certos aparatos tecnológicos com a mesma abordagem tradicional, e
isso pode ser desastroso. Se uma aula presencial, na qual o professor é o “único”
foco de atenção, pode ser tediosa, quanto mais uma a distância nesses mesmos
moldes, com tantos outros atrativos à disposição do aluno.
Kenski inicia o Capítulo 4 apresentando visões sobre o papel da educação
frente às (novas) tecnologias, que pode ser o de mera formadora de consumido-
res e usuários delas, o de formadora de desenvolvedores ou ainda de formadora
de cidadãos (com toda a complexidade envolvida na definição do termo). Após
essas colocações iniciais, são apresentados alguns exemplos de inclusão de pro-
jetos e propostas de ensino mediados pelas TICs e NTICs (neste momento já
não se vê na obra mais qualquer distinção entre os termos). Por fim, o capítulo
se encerra com a questão das distâncias da educação, usando como referência
Jacquinot (1993 apud KESKI, 2008): geográfica, temporal, tecnológica, social,
psicossocial e socioeconômica. A educação a distância aparece como solução
natural para todos esses aspectos, a não ser, talvez, o tecnológico. Em relação a
essa questão, pode-se dizer que a autora apresenta-se inflexível, com uma relativa
rigidez na sua concepção. A descrição da necessidade da presença física nas aulas
presenciais deixa clara essa visão:
O aluno tinha que se deslocar de casa ou do trabalho, muitas vezes atravessar
a cidade e chegar pontualmente no horário em que ia começar a aula. Havia
todo um ritual burocrático, que marcou a escolarização de muita gente. [...] E
as chamadas dos alunos pelos professores em cada aula? Com cinco ou seis
aulas por dia [...] cada professor levando em média dez minutos para chamar
oralmente todos os alunos, geravam uma perda de, pelo menos, uma hora por
dia letivo. As aulas [...] era interrompidas para que se fossem dados diferentes
avisos [...]. No auge da aula [...], alunos interessados... tocava a campainha
(KENSKI, 2008, p.74).
Num momento em que a certificação em massa parece estar em voga
(talvez crescendo em ritmo menos acelerado do que há alguns anos, ou não), pa-
rece-nos necessário um olhar mais cuidadoso para esta questão: educação a dis-
tância para quê e para quem? Atendendo a que interesses? Com que propósito?
E se vier o fracasso em massa como vem acontecendo desde a universalização
do ensino básico? Quem se responsabilizará? Ninguém, talvez, lembrando aí a
questão da pulverização das responsabilidades que nos conta Skovsmose (2008).
Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 285-290, jan./jun. 2012 287
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>
Sílvio César Otero-Garcia
No Capítulo 5, ao menos em parte, tem-se a referência à formação de
professores para o uso de tecnologia. Kenski inicia com uma discussão sobre as
abordagens das tecnologias na educação. Um mesmo filme pode ser passado aos
alunos segundo diferentes abordagens, com maior ou menor comprometimen-
to com o seu aprendizado, por exemplo. Em seguida, e ainda um pouco nesse
ponto, temos um levantamento sobre a mudança de comportamento da comuni-
dade escolar quanto ao uso dos computadores. De início, como mera “máquina
de escrever com memória” para um instrumento num sentido mais geral, um
instrumento para o ensino e, finalmente, como parte integrante da própria edu-
cação - educação e tecnologia como coisas indissociáveis (ver primeiro capítulo
do livro), sendo utilizado em atividades interdisciplinares, com projetos, pro-
movendo uma comunidade (ou um ambiente) virtual de aprendizagem etc. Tais
ambientes são definidos por Kenski por meio de Almeida (2003 apud KENSKI,
2008) como “sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao su-
porte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação.”.
A questão da formação de professores para o uso de tecnologias é tocada apenas
superficialmente por Kenski. Sobre isso nos diz:
A formação de qualidade dos docentes deve ser vista em um amplo quadro
de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui, en-
tre outros, um razoável conhecimento de uso do computador, das redes e
de demais suportes midiáticos [...] em variadas e diferenciadas atividades de
aprendizagem. É preciso saber utilizá-los adequadamente. Identificar quais
as melhores maneiras de usar as tecnologias para abordar um determinado
tema ou projeto específico ou refletir sobre eles, de maneira a aliar as espe-
cificidades do “suporte” pedagógico [...] ao objetivo maior da qualidade de
aprendizagem dos alunos (KENSKI, 2008, p. 106).
A autora aponta ainda outras qualidades que julga serem primordiais para
os professores, dentre elas o conhecimento do inglês e do espanhol e a capaci-
dade de interagir, dialogar e articular com outras instituições culturais e sociais.
Nesse ponto nos perguntamos: onde há espaço para isso tudo? Já presenciamos
um momento nas licenciaturas no qual o conteúdo específico era (e talvez ain-
da seja) considerado fundamental, e o pedagógico, secundário. Para formar um
professor competente com todas as qualidades que Kenski aponta, ou se investe
maciçamente numa formação de real qualidade ou, no mínimo, o quadro de que
falamos anteriormente se inverte.
Ainda no Capítulo 5, temos brevemente comentada a questão da “nova
escola”, das modificações do papel do professor e das mudanças na estrutura
escolar como um todo. Acreditamos que a visão da autora sobre o modelo
tradicional é enérgico. Claramente se observa um tom negativo quando Kenski
se refere a tal estrutura, descrevendo a maneira de disposição das carteiras, os
288 Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 285-290, jan./jun. 2012
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação
espaços que devem ser ocupados por alunos e professores e o tempo de duração
das aulas. Considerando-se isso e as exposições anteriores sobre a educação
a distância, temos claro que, ainda que não de uma maneira exageradamente
explícita (ou não), a autora nos apresenta um quadro no qual a educação
tradicional consegue ter poucas das qualidades que a educação a distância
poderia proporcionar (aulas com duração rígida versus acesso ao conteúdo a
qualquer momento; espaço determinado para alunos e professores versus a
inexistência de tal “amarra” num ambiente virtual, dentre outros). Vemos com
ressalva tais apontamentos. Não estamos aqui defendendo o ensino tradicional
incondicionalmente, apenas afirmamos que, talvez, a abordagem não seja o
maior dos problemas da educação (e acreditamos, na verdade, não ser mesmo).
Olhando a mesma questão por outro lado, o que dizer sobre a educação a
distância? Defendemos que se tenha um grande cuidado com relação a ela.
Primeiro por questões políticas e de ordem econômica; segundo, pela falta de
dados conclusivos sobre os profissionais, cidadãos, “pessoas” formadas nessa
modalidade. Ainda falando da questão política, questionamos: por que se investe
tanto nessa modalidade para cursos de licenciatura? Por que não em cursos de
direito, economia, medicina? O discurso que prega que a educação presencial
exclui, a nosso ver, não se sustenta. Há faculdades públicas e privadas espalhadas
pelo Brasil todo. É evidente que essa não é uma realidade uniforme em todo o
país, entretanto também não o é o acesso às chamadas NTICs. Por esse ponto
passa apenas uma questão de decisão: no que efetivamente investir? Fazendo
uma breve comparação: temos uma malha ferroviária relativamente “pequena”
em função de, no passado, o foco de investimentos ter se centralizado na malha
rodoviária. Da mesma forma, no futuro, não poderemos ter um menor número
de escolas e universidades “físicas” simplesmente por ter sido dada preferência
à educação a distância? Em qualquer caso, temos as consequências da decisão
política, que normalmente é tomada por uma minoria e aplaudida (ou não) por
toda a massa de manipulação.
Antes de terminar as considerações sobre o Capítulo 5, queremos falar da
real necessidade e de contingência, seguindo a linha de Skovsmose (2004). O uso
dos computadores na educação é realmente uma necessidade ou mera contin-
gência? Não estaríamos, na verdade, criando necessidades para que o computa-
dor seja inserido de forma massiva na educação? Ou ele é realmente necessário
para atender as reais necessidades da sociedade? E mais, se for, o é sob o prisma
da educação de fato, como parte integrante dela, ou como mera ferramenta?
No último capítulo, por fim, a autora apresenta suas posições sobre o
futuro da escola. Mais uma vez deixa clara sua posição favorável com relação
à educação a distância e traz algumas ideias, ao nosso ver, questionáveis. Ao
apresentar um relato de uma professora que diz ter recebido aplausos após dizer
Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 285-290, jan./jun. 2012 289
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>
Sílvio César Otero-Garcia
aos seus alunos que deve ser difícil aguentar os muitos minutos de uma aula
presencial “sem mudar de canal”, mostra-nos que, de algum modo, na sua visão
não existe educação (ou ensino?) sem alguma forma de “diversão” (num sen-
tido amplo). Um dos motivos apresentados é a tecnologia e o fato de a escola
não estar supostamente acompanhado as mudanças que ela traduz. Acreditamos
que o “prazer” não é nem de longe condição suficiente para o aprendizado e,
muito menos, necessário. E, mesmo que concordássemos que a escola não está
acompanhando a dinâmica tecnológica e que é necessária essa abordagem mais,
digamos, “prazerosa” da educação, achamos que a educação a distância não é,
pelo menos não ainda, a solução; do contrário não teríamos os altos índices de
desistência nos cursos dessa modalidade.
Referências
KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus,
2008.
SKOVSMOSE, O. Matemática em Ação. In: BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. C. Educação
Matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2004. p. 30-57.
SKOVSMOSE, O. Desafios da reflexão em Educação Matemática crítica. Campinas:
Papirus, 2008.
290 Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 285-290, jan./jun. 2012
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>
Você também pode gostar
- Engenharia Da Construcão Luiz Roberto Batista ChagasDocumento156 páginasEngenharia Da Construcão Luiz Roberto Batista ChagasFabio CorreaAinda não há avaliações
- Elisabeth Kubler - Ross A Morte Um AmanhecerDocumento54 páginasElisabeth Kubler - Ross A Morte Um AmanhecerIsael William Lima Vieira100% (2)
- Elementos Da Magia Natural Marian GreenDocumento146 páginasElementos Da Magia Natural Marian GreenHelena Farias Galvani100% (1)
- 007ROTEAMENTODocumento32 páginas007ROTEAMENTOrogerio silvaAinda não há avaliações
- Cap04a Camada de RedeDocumento61 páginasCap04a Camada de Rederogerio silvaAinda não há avaliações
- Introducao A Computacao PDFDocumento3 páginasIntroducao A Computacao PDFrogerio silvaAinda não há avaliações
- Ementa Informática BásicaDocumento2 páginasEmenta Informática Básicarogerio silvaAinda não há avaliações
- Guia de Percurso - Filosofia - Unopar 2021Documento15 páginasGuia de Percurso - Filosofia - Unopar 2021Edson ThomaziniAinda não há avaliações
- FormulárioDocumento2 páginasFormulárioiasmine_suAinda não há avaliações
- A Fuga - Madeleine RouxDocumento213 páginasA Fuga - Madeleine RouxThiago132Ainda não há avaliações
- Fichamento Teoria Egológica Do DireitoDocumento20 páginasFichamento Teoria Egológica Do DireitoAntônio FábioAinda não há avaliações
- SSO1 Servico Social Contemporaneo 05Documento22 páginasSSO1 Servico Social Contemporaneo 05AparecidaAinda não há avaliações
- Instrumentos de AvaliaçãoDocumento92 páginasInstrumentos de AvaliaçãoBruna Rodrigues De SousaAinda não há avaliações
- Apostila Análise AdministrativaDocumento8 páginasApostila Análise AdministrativaEuricles TeixeiraAinda não há avaliações
- Nova Escola Pensadores EducacaoDocumento8 páginasNova Escola Pensadores EducacaoJéssica RochaAinda não há avaliações
- Ginzburg Paradigma Indiciario FichamentoDocumento2 páginasGinzburg Paradigma Indiciario Fichamentokleber ferrazAinda não há avaliações
- MAGALHÃES, Belmira - A Particularidade Estética em Vidas SecasDocumento144 páginasMAGALHÃES, Belmira - A Particularidade Estética em Vidas SecasCaique Carvalho100% (1)
- Aula 01 - Mestre Bálsamo - Curso para Instrutores de CentúriaDocumento27 páginasAula 01 - Mestre Bálsamo - Curso para Instrutores de CentúriaDeivite Henrique100% (2)
- Tema: Leitura, Análise E Interpretação de TextosDocumento50 páginasTema: Leitura, Análise E Interpretação de TextosMario cuna100% (3)
- VOLCOV - Consumo de Drogas Entre Mulheres de Camadas MédiasDocumento16 páginasVOLCOV - Consumo de Drogas Entre Mulheres de Camadas MédiasPedro H. SoaresAinda não há avaliações
- TCC Artigo Científico Grazieli Cristina Rodrigues Ortiz SelhorstDocumento14 páginasTCC Artigo Científico Grazieli Cristina Rodrigues Ortiz SelhorstGrazi OrtizAinda não há avaliações
- Universidade Aberta Isced (Unisced) Faculdade de Ciências de Educação Licenciatura em Ensino de GeografiaDocumento10 páginasUniversidade Aberta Isced (Unisced) Faculdade de Ciências de Educação Licenciatura em Ensino de GeografiaVictorino Lino JoaquimAinda não há avaliações
- Lógica Do Fantasma - Aula 3Documento11 páginasLógica Do Fantasma - Aula 3christianeomat5742100% (1)
- SAÚDE E ADOECIMENTO EXJSTENClAL O PARADOXO DO EQUILíBRIO PSICOLÓGICODocumento14 páginasSAÚDE E ADOECIMENTO EXJSTENClAL O PARADOXO DO EQUILíBRIO PSICOLÓGICOMarcela JunqueiraAinda não há avaliações
- Monografia SamuelDocumento37 páginasMonografia SamuelRogério C.Ainda não há avaliações
- Conteúdos Da Educação Física Na Escola Apostila 3Documento38 páginasConteúdos Da Educação Física Na Escola Apostila 3Stefanny SchmitzAinda não há avaliações
- Neografias Matematica TCC 2019 Vol 3Documento205 páginasNeografias Matematica TCC 2019 Vol 3Domingos EuroAinda não há avaliações
- RIBEIRO, Wagner Costa. A Ordem Ambiental Internacional. São Paulo - Contexto, 2005.Documento18 páginasRIBEIRO, Wagner Costa. A Ordem Ambiental Internacional. São Paulo - Contexto, 2005.gugamachalaAinda não há avaliações
- Via Sacra Do EstudanteDocumento4 páginasVia Sacra Do EstudantehelizagoesAinda não há avaliações
- Educação Matemática Na Educação Infantil o Estado de Conhecimento No Período de 2010-2019Documento15 páginasEducação Matemática Na Educação Infantil o Estado de Conhecimento No Período de 2010-2019ANDREIA CRISTINA DE SENA SANTANA ZUCCAAinda não há avaliações
- A Empresa Na Velocidade Do PensamentoDocumento10 páginasA Empresa Na Velocidade Do PensamentoRYAN PATRICK SIMÕES CORRÊAAinda não há avaliações
- 5 Ano Ens ReligiosoDocumento1 página5 Ano Ens ReligiosoKelli OliveiraAinda não há avaliações
- Resumo NP1 Psicologia FenomenologicaDocumento7 páginasResumo NP1 Psicologia FenomenologicaAnderson GouveiaAinda não há avaliações
- MALAR, JP. Filosofia e Ética Na Série The Good PlaceDocumento7 páginasMALAR, JP. Filosofia e Ética Na Série The Good PlaceEpiteto Esopo SlaveAinda não há avaliações