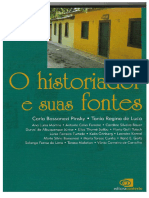Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sta Robin Ski
Sta Robin Ski
Enviado por
Marcia de Paula0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações13 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações13 páginasSta Robin Ski
Sta Robin Ski
Enviado por
Marcia de PaulaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
© Editions Gallimard, 1974.
‘Titulo original: Faire de l'histoire: Nouvelles approches
Capa: Claudia Zarvos
Ficha Catalogrétion
(Preparada pelo Centro de Cataloracio-na-foute do
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ)
Dine
iearnpthpis inact isc ge eee a ie
| La Golf o Pere Nora, talusio de. Hont que dle |
cia tre nso: tosis aac mncag iene Trae
| Santiago Rio de Janeiro, F. Alves
| Soe crete aca CcuRe cy
Do original om francés: Faire de Thisto're:
nouvelles approches.
|
1, Historia — ‘Teoria, 2. Histéria — ‘Teoria — |
Coletines. I. Nora, Pierre, TI, Titule, M1, Série, |
|
oe
DD - 901
i 901.08
DU - 930.1
930.1(082.1)
ISBN 85- 265-0039-: 2
Impresso no Brasil
Printed in Brazil
1995
Todos os direitos desta traducio reservados 4
LIVRARIA FRANCISCO ALVES EDITORA S.A.
Rua Uruguaiana, 94 — 13° Andar — Centro
200050-091 — Rio de Janeiro — RJ
A literatura:
O texto e o seu intérprete
JEAN STAROBINSKI
A dualidade necessaria
ADMITAMOS que a escolha de um objeto de estudo nao € inocente, mas
que supée j4 uma interpretacio prévia, inspirada por nosso interesse atual.
Reconhegamos que nio se trata de um puro dado, mas de um fragmento do
universo que se delimita por nossa maneira de olhar. Confessemos também
que a linguagem em que assinalamos um dado jé é a linguagem em que, ulte-
riormente, o interpretaremos. Isso nio impede que, a partir de um desejo de
saber ¢ de encontrar, a nossa atencao sé divida em duas diregdes distintas: a
primeira quanto & realidade a aprender, o ser ou 0 objeto a conhecer, os limites
do campo da investigacio, a definicao, mais ou menos explicita, do que convém
explorar; a outta quanto 4 natuseza de nossa resposta: as nossas contribuigées,
os nossos instrumentos, as nossas finalidades, — a linguagem que usaremos, os
instrumeatos de que nos servimos, e os prodzdimentos a que recorremos.
Nés somos, sem davida, a fonte Gnica dessa dupla escolha: € por isso que
escolhemos com tanta freqiiéncia os nossos meios de exploragio em funcio do
objeto a explorar, ¢, reciprocamente, os objetos em fungio dos meios. Nada
é tio necessirio, no entanto, do que assegurar © mais alto grau de independéncia
reciproca entre objeto _e meios. Se € desejivel que o estilo da pesquisa seja
A LITERATURA: O TEXTO E O SEU INTERPRETE 133
compativel com o objeto da pesquisa, no é menos desejavel que, entre nés
mesmos e aquilo a que aspiramos melhor conhecer, entre 0 nosso “discurso”
0 nosso objeto, a diferenca e a distancia sejam marcados com o maiot cuida
do. $6 ha encontro com a_condicio de uma distancia anterior; sé hd ade:
pelo Conhecimento, a0 preco de uma dualidade encontrada, em_primeiro_lugar,
lepois, sobrepujada. Toda fraqueza, todo debilitamento na relacio diferen-
entre a nossa prépria identidade ¢ a do objeto estudado, entre os nossos
recursos instrumentais e a configuracio “objetiva” da obra, terio por conse-
qiéncia um enfraquecimento do resultado, uma diminuicio de energia e de
prazer na exploracio e na descoberta.
A primeira preocupagio seri, portanto, garantir ao objeto_a sua mais forte
ua maior independéncia: que se consolide a sua existéncia_pré-
ele se ofereca a nds com todos os caracteres da autonomia. Que ele
iferenca e marque bem as suas distincias. O objeto da minha
“atengio nio esti em mim; ele opée-se_a mim, eo meu melhor interesse
consistéém_apropri
‘me deixatia cativo
propriedades, todas as_determinacdes particulares. Os mé que so
ditos objetivos, aquém mesmo do verdadeiro didlogo, fortificam ¢ aumentam
os aspectos materiais do objeto, emprestam-lhe um relevo mais preciso, uma
configuracio mais clara, prendem-no a objetos contiguos no espaco e no tempo.
O afluxo documentitio, malgrado o que parece as vezes ter de inessencial
ou de exterior com relacio a um grande texto, acrescenta-se a tudo o que, em
seu interior, Ihe confere uma personalidade distinta. Pois a vontade de conhe-
cimento deve comecar por acompliciar-se com o objeto no poder que este tem
“de toda explicacio, antes de toda interpretagio compre-
fo em sua singularidade, quer dizer, no que
Por uma espécie de paradoxo, é a forca
téncia anéloga 4 que nés encontramos diante de uma subjetividade estranha:
“a obra furta-se a qualquer tentativa que nao consinta a pagar o prego da traves-
sia do espaco interposto.
A restituigio tradicional acreditava haver terminado a sua tarefa quando
havia desembaracado 0 texto dos acréscimos e das corrupgées que o desfigura-
vam. Ela acreditava ter encontrado uma fisionomia auténtica, um traco nao
suspeito, como se limpam as pinturas esfumagadas e sobrecarregada:
maneira ideal, assim a obra deveria ser_reestabeleci seu_primi
ser_legivel na forma desejada pelo autor. Forma i
@ restituicéo outro objetivo do que libertar uma obra de tudo o que a impedia
de atingir-nos tm sua integridade. Supunha-se que, uma vez afastados os
obsticulos interpostos, a obra apareceria em sua verdade, aberta a nosso prazer
¢ a nossas interrogacées.
Logo que se coloca a idéia de uma obra acabada, delimitada em seus linea-
mentos originais, eis que surgem as questées € as incertezas. A investigacio que
restitui, 2 curiosidade do historiador vao fazer transparecer, na obra acabada,
todo o seu passado discernivel, suas versdes precedentes, seus esbogds, seus
modelos confessados ou inconfessados. Esse pasado em. que 2 obra nfo eta
134 HISTORIA: NOVAS ABORDAGENS,
ainda o~que viria a ser, Ihe pertence, a alimenta, sustenta-a. As variantes de
uma obra_fazem aparecer os estados sucessivos de um desejo e de uma vontade
“que_nJo_puderam estancar nas formas primeiras em que apareceram. Assim, o
ser que € prdprio do texto revelar-se-4 diferencialmente, pela distancia que
separa o seu estado final, da série de estados que a precederam (se eles che-
garam a0 nosso conhecimento). ‘Ter-se-& sob os olhos os gestos da pesquisa,
da insatisfacio, ¢ depois da recusa, que vém duplicar a presenca positiva da
versio‘ “final”. Poder-se-4 talvez perguntar se essa versio final nio é, em
certas ocasides, uma solucio de compromisso, destinada a tornar possivel a publi-
casio de uma obra excessivamente audaciosa na sua redacio anterior. Serd
possivel, em muitas ocasiées, constatar que a obra que chegou a nossas mios
€ © que resta de um projeto interrompido. Quantas vezes a morte, a inter-
vengio de um editor péstumo (que trabalha sobre muitos rascunhos) impéem
uma forma arbitraria a uma expanséo inacabada! Assim, a pesquisa que restitui,
com 0 que tem de positivo ¢ de objetivo, termina por colocar em divida a
qualidade de objeto acabado de que tal obra parecia poder prevalecer-se: essa
forma foi obtida por acidente, e a nossa atengio, a partir dessa constatacao,
deve ser levada, ao mesmo tempo, para a massa (muitas vezes, confusa) de
documentos disponiveis, e para a intengZo que testemunham, mas que nao es-
tava destinada a cumprir-se neles. A pesquisa objetiva faz ressurgir os tragos
de um percurso subjetivo.
Esse percurso subjetivo, no entanto, para a investigacio restitutora, nao
encontra em si mesmo a sua origem ‘nica. Se_partirmos para os projetos mais
antigos, perceber-se-4 como a obra, em seu comeco, opde-se e combina-se com
textos antecedentes, assimila € transforma livids precursores: a sua originalidade,
a sua individualidade des contra um fundo constituido pela massa cole
tiva de ‘recursos de linguagem, das formas literirias recebidas, das crencas,
dos conhecimentos, que ela reativa, critica, e ao qual se acrescenta. Sao outras
tantas camadas ¢ acidentes do terreno (com fontes, afluentes, elevacdes), em
que a obra escolhe o seu local e as suas vizinhancas. Se, de um lado, séo, em
conseqiiéncia, menos claros os limites de uma obra, por outro lado, a obra passa
a revelar, por suas miltiplas ligacdes, um horizonte que nao se deixa mais
separar dela. A pesquisa histética, se nfio for unicamente motivada pela atracio
do achado ocasional, tem essa conseqiiéncia benéfica de aumentar a informacio
pela qual um mundo se acrescenta a uma obra, — um mundo talvez exterior
a ela, um mundo em que, face 20 objetivo alcancado, multiplicam-se os atos ¢
as palavras frustradas, as tentativas inacabadas: nesse terreno estranho a obra
lanca raiz e declara-nos a sua riqueza dependente; ela se revela por meio de
suas ligacdes, ¢ desarma a esperanca de uma. definicio excessivamente facil.
A restituica0, que sobe © curso do tempo ou que alarga o espaco perce-
bido (segundo as vias previstas ou imprevistas que se oferecem 4 pesquisa),
pode muito bem associar-se uma testitui¢io que se esforca por descrever e por
em evidéncia os caracteres internos da obra. Nao & dificil demonstrar que a
pesquisa histérica e¢ a descricio estrutural sao interdependentes. O movimento
centrifugo, que vai da obra a scus antecedentes ou a suas vizinhancas, seri
apenas uma rota de acaso, se nao for guiado pelo conhecimento das estrutu-_
ras internas da obra. Reciprocamente, a andlise interna das idéias e das palavras
A LITERATURA: O TEXTO E O SEU INTERPRETE 135.
na obta nada Iucta em ignorar a sua proveniéncia e a sua harmonia externas.
Até um certo ponto, antes de que se prolongue em interpretacio, a_andlise_esti-
Tisti itui: ela teestabelece o texto na plenitude de seu funcionamento, per-,
be-o em sua diferenca propria e na sua existéncia completa; faz justica a cada
‘um de seus _pormenores; esforca-se por formular as suas relacées numa lingua-
gem precisa (sendo I conferir a essa linguagem descritiva uma instramen-
taco Figorosa) . =
Que Cconsiste, com efeito, prestar atengio, a no se conceder um privilégio
de presenga continuada ao que, na proximidade nunca suficientemente assegu-
rada, expde-se e reserva-se, manifesta-se e recusa-se, constitui-se em objeto,
mas nfo se deixa possuir? Frente a nossa atengio, o objeto é portador de uma
intencio prépria, que se declara mas no se entrega inteiramente, provocando
a obstinagio de nossa espera, ¢ 0 desejo dobrado de um melhor saber. A nossa
atencio sé se mantém pela resposta que nZo acaba de dar a um desafio per-
sistente.
Um primeico encontro comegou por despertat 0 nosso interesse ¢ prender
o nosso olhar. A partir desse primeiro contato, o despertar da atencio persua-
de-nos que tudo ainda resta por fazer em vista de um encontro mais completo.
Que se esteja, como Georges Poulet (ver particularmente La conscience critique
Paris, Corti, 1971) desejoso de praticar uma critica da identificagio, € forcoso
partir de uma primeira situagio de nio-identidade: a identificacio € um esforco
para unir-se aquilo que, no inicio, nia ¢ mais do que um apelo ou uma pro-
‘mesa percebidos num ser diferente de nés. A adesio que identifica nao nos
dada logo de inicio: ela é uma coisa que se consegue, cla se con-
j@ um trabalho e de um movimento de aproximacio. Nada the
rétio do que a conviccio muito apressada de j4 se a ter atingido,
c de ja se ter tudo conseguido com a primeira impressio.
O tisco_que se corre, seo objeto nao é petcebido, mantido e consolidado
em sua diferenca ecm sua_realidade préprias, € de _que_a interpretacio nao
seja mais do que o desenvolvimento de uma fantasia do_intérprete. Falo aqui
de risco para designar 0 que comprometeria 0 valor do conhecimento desejado.
© tisco assim evocado pode muito bem acompanhar-se de uma sedugio de
natureza muito diferente: 0 encanto de um discurso livre e imaginativo, que
se deixa ocasionalmente inspirar por uma leitura. Desse discurso sem nada
que 0 prenda, digamos que tende a tornar-se ele préprio literatura, nao contando
mais 0 objeto de que fala do que como pretexto, ou a titulo de citacto ocasio-
nal. Por isso mesmo, enfraquece-se o papel do objeto: a intengio de conheci-
mento é posta de Jado por causa de uma outra finalidade, de expressto pessoal,
de jogo de propaganda etc... Isso nfo exclui, em absoluto, a possibilidade de,
por acaso, apontar com justica tal ponto singular, de passagem, ¢ de maneira
obliqua. Mas é a excecio. Vé-se isso com freqiiéncia: se o objeto é mal_defi-
nido, mal assegurado, o que dele se afirma seri despido_de_pertinéncia; nao
yet decisivo. Os representantes qualificados da hist6ria literaria (Lanson) ¢ a
Universidade até os dias de hoje (depois da moda estruturalista, ainda mais do
que antes) encaram com ironia o ensaismo e a “critica de genio”; essa ironia
& plenamente justificada quando procura invalidar uma tagarelagem que se quer
impor com suas intuiges por si s6, sem preocupacio com a pesquisa paciente
136 HISTORL
NOVAS ABORDAGENS
gue, cla, faz justiga a toda a complexidade do objeto. Quando a presungio
faz-se passar por ciéncia, vale a pena chamé-la 4 ordem. Para quem quer saber
mais sobre uma obra, nada hd de mais irritante do que ler um
rava-se a proximidade, e se é mantido a
as palavras que lemos nao nos falam verdadeiramente do que mais desejaria-
mos conhecer. A loquacidade do ensajsta constitui uma barreira: nao se percebe
atrés dela mais do que um fantasma nebuloso.
Sera necessirio, no entanto, testemunhar a mesma desconfianca, quando o
ensaio se mantém em seu proprio dominio, e ndo mostra qualquer pretensio
usurpadora? Nao se 0 pode acusar de desenvolver um monélogo, a menos que
se esperasse ouvir distintamente duas vozes. O ensaio i
obedecet_a um projeto auténomo; o seu objetivo | nio_é o conhecimento dos
textos do passado ou do presente: esses, percortidos, evocados por alusbes,
_sabor das" necessidades, sctio tudo mas nao objetos_de_estudo
A ieflexio que os toma como testemunhos nao pretende esgotar o seu sentido.
Ela vai para outro lado, prosseguindo a sua intengéo numa linha independente,
que se limita aos interesses de sua propria interrogacdo. Assim passam-se as
coisas desde Montaigne: nos Ensaios esté em todo lugar presente a relacéo com
outras obras, mas ela é miltipla, fugitiva, caprichosa, deixando perfeitamente
livre, entre as tiquezas da “biblioteca”, 0 seu preguicoso utilizador.
A fraqueza relativa do objeto dissolve a relagio epistemolégica. Nao se
trata mais do conhecimento: 0 sujeito que discorre permanece com plena evi-
déncia, mas, certamente, na solidio ou sem destinatétio, mas abandonando como
ponto de referéncia o texto de um outro. Prossegue a atividade mas, qualquer
que seja, ela n’o pertence mais ao dominio da histéria ou da critica
A seciproca € verdadeira: toda insuficiéncia do lado do leitor, do sujeito,
é fatal, nfo o € menos fatal, para a eficidade do trabalho critico. Nao que se
possa inteiramente afastar o sujeito interrogante: tudo desapareceria com o scu
desaparecimento. Quero sobretudo lembrar que a energia da interrogacio, a
inventividade desenvolvida na préptia investigagio restituidora, devem ser man-
tidas sem vacilagio, desde que se queira manter viva a,relacéo critica. B pela
energia de nossa intenco pessoal que o objeto (a obra) € chamada a presenca.
Que sobra para a critica, sé a nossa interrogacio € timida, se nossa linguagem
& estereotipada? Se nossos conceitos séo inseguros? O proprio objeto torna-se
banal ¢ se enfraquece, por falta de uma vigorosa solicitagio. Os que ensinam
conhecem bem essa situacio em que a fraqueza da interpretacio acarreta a fra-
queza do objeto. Produz-se um eco desclassificado do texto: a parifrase. O co-
mentador, nesse caso, nio ousa falar por sua propria iniciativa: nada tem a
dizer, faltam-lhe os meios. Ele comprendeu;’ talvez, mas nao observou. Ele
deixa-se confusamente invadir pelo rumor da pagina em sua frente, ele simpli-
fica em termos mais fracos: feiteracio que dissolve a forma multiplicando os
equivalentes inferiores do sentido. A essa dissolugfo constitui um paliativo a
andlise gramatical — hoje em dia, andlise estrutural —, sob a forma de um
mecanismo capaz de pontos de constatagio de fatos, de estilo e dos meios em-
pregados no texto. Desde, no entanto, que a anilise se limite 4 técnica descri-
tiva, desde que nao facga mais do que transcrever os dados literdrios nos sinais
de uma metalinguagem, prevalece sempre a reiteracio, menos ingénua ¢ menos
A LITERATURA: O TEXTO E O SEU INTERPRETE 137
simples, mas sempre cativa do horizonte limitado da tautologia... A critica nf0_
é a representacio fiel de uma obra, a sua reduplicagio num espelho mai
menos _limpido. ic ipleta, depois de haver sabido reconhecer_a_
‘alteridade do ser on do objeto para os sé volta, sabe desenvolver a scu_
ésito uma_reflexdo_auténc encontra, para exprimi-la, uma linguagem
“ a, com Vigor, a sua diferenca. Por estreitas que sejam ou que tenham
sido, num momento central da pésquisa, a simpatia ¢ a identificagéo, a critica
no repete 2 obra da maneira como essa esté enunciada. A obta critica consti-
tui-se segundo a sua propria necessidade, em seu nivel particular de realizacéo,
décil a seu objeto, mas independente por sua ambicio.
Os dois casos extremos que acabamos de evocar — fraqueza do objeto,
fraqueza da energia interrogativa — tém o defeito comum de nada mudar, &
colocacio inicial: no se instaura qualquer selagdo, nfo se faz qualquer trabalho,
e, portanto, nenhuma luz vem transformar, ao mesmo tempo, a obra € o nosso
olhar. Penso irresistivelmente na cena do filme em que Grouch Marx, caixciro
numa Loja, mete-se embaixo do balcéo, a fim de cortar, na propria saia da
dient, a peca de fazenda que ela, pedia para colocar em seu vestido, Faz as
vezes de demonstragio a pura e simples repeticao de um pressuposto qualquer:
embora o autor creia ter confirmado a sua hipdtese, no faz mais do que repe-
ti-la em outros termos.
O interesse pelo texto
E desejavel, portanto, manter entre _o objeto ¢ a_resposta que se Ihe da
uma distincia suficiente, um espaco em que se possa produzir o acontecimento
do encontro, € onde se possa iniciar e fazer progredir o trabalho. 6 ha traba-
Tho em fungio de uma oposicio. Ao mesmo tempo, s6 ha trabalho na medida
em que ha contato e em que se estabelece uma relacio. Pois a oposigéo nao
pode permanecer estitica: ela se desenvolve no laborioso confronto, ela _pro-
gride no sentido de um objetivo, ela desenvolve-se com vistas a uma finalidade.
Falamos em encontro e, também, em trabalho. Assim, falévamos hi pouco
da obra, designando-2 como um ser, €, ao mesmo tempo, como um material.
Ela é uma coisa ¢ outra: um ser que espera o.encontro, um material, ele pré-
prio trabalhado, que aguarda um trabalho; ou ainda melhor: uma intengio que
mediante uma forma, destina-se a nossa atengio. Ter respeito pe
‘ , juntamente, a sua finalidade intencional e a sua forma objetiva (a
“suaestrutura material). & para fazer justica a esse duplo aspecto da obra que
a Gitica deve, cla propria, possuir uma dupla capacidade: conhecimento instru
mental ¢ animacio finalista, todas as duas capazes de enfrentar a presenca da
obra, sem com ela confundir-se. O aspecto instrumental da critica corresponde
ao aspecto material da obra; a animacio finalista da critica corresponde 4 fina-
lidade da obra, que cla ndo se contenta em perceber ¢ registrar.
138 HISTORIA: NOVAS ABORDAGENS
Tais so as condigées da interpretacio, desde que se queita garantir-lhe
todas as suas opottunidades e desenvolvé-la da maneira mais consciente.
Seria bom imaginar que as tapas do trabalho critico se sucedem de maneira
distinta e ordenada. Seria bom imaginar, em particular, que a restituigdo precede
a interpretagio, e que ela trabalha no reestabelecimento dos textos para, em
seguida, confid-los 4 atividade de interpretagio. A interpretagio, no entanto,
como j4 o vimos, jd est4 subterraneamente em acio na escolha do objeto de
interesse; ela mistura-se aos esforcos que visam & restituicio dos documentos,
sob todos os seus apectos; no se pode tracar uma fronteira precisa entre o
trabalho que gostaria de limitar-se a percepcio mais viva de seu objeto, (texto,
documentos etc...) e a interpretacio que, nio permanecendo nos dados assim
constatados, retoma-os para inclui-los num plano mais vasto. Para_observar, no
interior de uma obra, correlagdes de formas, de imagens, de fatos
cos etc... €-preciso, de maneira necessdria, colocar-se fora de obra e submeté-
la a~uma leitura cuidadosa; além disso, para cnunciar os fatos obsei é
preci iS Si
0 fecorrer & linguagem descritiva de uma outra época (a nossa), ¢ de
uma_outr.
categoria intelectual (a_de nosso saber contemporineo) Quanto:
mais nés procuramos atingir as obras na configuracao que tém “em si”, mais
nés desenvolvemos os lagos que as fazem existir “para nds”. Assim, as estru-
turas intrinsecas_s6 se tornam evidentes _se_aceitamos abordé-las umi-
nando as swas formas prdprias com uma luz extrinseca, fazendo-lhes perguntas
que clas estio Tonge de fazer_ela proprias. A interpre ‘agio deve ser, assim,
finalmente reconhecida como aquilo que, logo de inicio, anima a escolha do
objeto ¢ © trabalho de sestituigio; ela est presente até no desejo sincero de
atenuar o papel do intérprete e de fazer justica aos “fatos objetivos”
E o leitor-intérprete, na sua situagio histérica particular, que prefere tal
obra a tal outta, que decide interessar-se por Bouget, por Laclos, em vez de
Marmontel. £ ainda o intérprete a quem cabe decidir se far a sua investigacio
sobre um poema, de um livro, ou da obra inteira do escritor; é o intérprete que to-
mara o partido de tudo relacionar com a personalidade do autor, ou de atribuir
uma importincia maior A época histérica em que se inscreve a obra, ou ainda ao gé-
nero literirio de que essa constitui um exemplo. Cada vez, o intérprete deve livre-
mente assumir os seus riscos, escolhendo a categoria dos fatos, os termos de refe-
réncia e os pontos de comparacéo que parecem adequados. Segundo as escolhas fei-
tas anteriormente, o trabalho de restitui¢go muda de natureza, aplica-se a um outro
material, a um outro espaco, a um outro tempo. Cabe a nés estabelecer a extensio
da pergunta: a resposta, sem diivida, cobriré sempre a extensio do quadro que
Ihe houvermos atribuido, Isso nfo constitui, no entanto, uma justificagio do
atbitrario. E evidente_que todos os métodos de aproximacio no se equivalem,
€ que alguns permanecerio menos “fecundos" ow menos “esclarecedores”. A
que indicios reconhecemos nés que o campo explorado foi melhor dividido,
que_a confrontacio_ € 0 felacionamento foram objeto de um um grau maior de
“pio, formulacao i
io Sto de faci sé fossem
strariam tanitos equivocos como se registram.
anes érprete_nos parece ter _conseguido o seu objetivo, a nossa
‘satisfacio ta por ter chegado mais perto de uma totalidade, de ni
ter melhor feito vet os elementos que a compoem e as felacbes que a constituem,
A LITERATURA: O TEXTO E O SEU INTERPRETE 139
e de haver, ainda por cima, respeitado em seu objeto a parte reservada a outras_
imagoe presentemente fora de al is
provavelmente sinais os mais seguros de uma interpretacio, bem empreendida,
quer_di na_interpretacéo que _s Iher_e delimitar o objeto com
aproximou dele por estituicao semen
Uma tendéncia muito forte da critica e da histéria literéria inclina-se, ha
alguns anos, a atribuir uma importincia predominante ao estudo do texto.
Porque essa preferéncia? Eu seria tentado a cret que a interpretacgio — sem
dizé-lo claramente — encontra no texto o objeto que melhor convém ao desen-
volvimento completo de seu exercicio: o texto deve ser escolhido, “restituido”,
comentado. O recurso ao texto é, portanto, a melhor maneira de evitar © risco
que apontamos, um pouco abstratamente, quando falamos na “fraqueza do obje-
to”. O texto € um objeto vigoroso; ele provoca, em resposta, de nossa parte
uma resposta vigorosa, perfeitamente distinta e independente, mesmo se o nosso
desejo & de preencher a distincia e de aproximar-nos daquilo que nos fala na
obra. Um texto é uma totalidade relativamente limitada, cujos elementos cons-
titutivos podem ser legitimamente relacionados uns com os outros: ele exige
assim uma anilise interna cujos resultados, ainda que muito variaveis segundo
os fatores ¢ os niveis considetados, so sempre passiveis de um controle bas-
tante preciso. Pois o text 1 direitos sobre o que se diz a seu_respeito; ele
representa, pase o discurso interpretativo, um ponto de referéncia que é impos-
Stvel_al Quando o cita, © intérprete compromete-se a dedicar-lhe a
mais completa fen O recurso_permanente do retorno ao texto permite a0
leitor verificar se sio justos a andlise e 0 comentirio. E facil ver, segundo o
caso, que © texto nfo foi suficientemente observado, ou que, ao contririo, ele
foi mal interpretado ou excessivamente interpretado. Em qualquer momento,
mediante uma atenta confrontagio, seré possivel verificar se 0 que se quer
dizer do texto é autorizado por ele. Certamente, uma das correntes da moda
atual permite ao “comentador” improvisar livremente e dizer o que quiser a
respcito de um texto; isso nfo impede que o texto, por mal tratado que tenha
sido, guarde intacta a possibilidade de desmentir; basta, ainda uma vez, voltar
ao texto para saber onde comecam as projecées, os fantasmas, as manipulacbes
arbitrérias do leitor abusivo. Porque, mesmo se o texto diz mais do que deixa
perceber 0 seu sentido declarado, é preciso admitir que o grau de probabilidade
do sentido Jatente que lhe é atribuido decresce rapidamente, na medida em que
o Ieitor se distancia do sentido patente inscrito nas palavras e nos enunciados.
A anélise interna, tal como se pratica num estudo de texto, nZo impede
que se considerem os dados externos. Por um €feito que nada tem de parado-
xal, a escolha de um texto, ao fazer existir uma regiao intratextual, determina,
a0 mesmo tempo, a existéncia de um mundo que lhe € exterior. Ninguém po-
140 HISTORIA: NOVAS ABORDAGENS
der& contentar-se em buscar a lei que reina no interior de um texto; explorando
© mundo interior, necessario ser4 perceber todas as contribugGes, todos os ecos
externos. H& uma incitacio ao ir e vit. A atengdo que se presta ao interior nos
‘traz ao exterior. Pelo seu préprio feitio arbitrario, o carater fechado do texto
torna inevitivel o movimento de abertura. E possivel que a estrutura decifrada
mediante uma grande ampliacéo, no nivel de uma articulacio sintitica, revele
© seu homélogo em outro nivel, '‘ndo mais no texto de uma pagina isolada, mas
na escala de uma obra inteira, de um mundo imaginario, ou de um momento
na histéria. Esse movimento, com tudo _o que tem de produtivo, sé se torna
possivel porque, para comecar, a escolha do texto coloca-nos de posse de um.
indicador preciso, de um termo fixo de comparacio, e obtiga-n Nos a prestar
afengio ao que se passa nos dois lados de um limite provisério.
A atragio exercida pelo estudo dos textos compreende~ se melhor, desde
que se preste atencio ao género de trabalho que dele mais difere, e que acres-
centara para nés 0 complemento de uma definicZo por contraste. Os textos pro-
poem ao intérprete um objeto particular, tnico, especificado em sua forma e
m seus pormenores; por contraste, encontramos a reflexio especulativa que,
sobre a base de um material documentirio mais ou menos extenso mas
sempre miiltiplo e disperso, procura definir entidades ou esséncias: litera-
poesia trégica, romantismo (e, bem entendido, classicismo)... Vé-se
ent&o construir-se, em todas as pecas, uma definicio conceitual. Nessa cons-
trucéo, pressupde-se naturalmente a experiéncia da leitura, m: Z
locada ao servico de uma claboragao_tedrica, em que o ensajsta ajeita uma
idéia ou um modelo que declara apliciveis a um conjunto muito amplo de
obras particulares. Freqiientemente, nesse trabalho, 0 tedrico se encerra numa
combinatéria intelectual de que € 0 tinico proprietério: os exemplos a que
recorre limitam-se a algumas obras emblemiticas; algumas vezes, desapare-
cem. O resultado seré, ao mesmo tempo, sedutor e nio verificivel. A defini-
Go proposta, em seu cardter geral, cobric’ um espaco excessivo, ‘sem invalidar,
no entanto, uma definicio concorrente. Sio termos de referéncia cuja utilidade
mede-se aquilo que sfo capazes de nos fazer perceber, nas proprias obras.
Essa utilidade — confessemo-lo — pode ser considerivel. Nesse caso, a defi-
nig&o conceitual tera assumido o cardter de “instrumento interpretativo”; esse
instrumento pode ser modificado, tornado mais eficaz e¢ mais independente.
Ele seri precioso para o intérprete, quando este voltar-se para o “objeto 2
interpretar”, quer dizer, para o texto. A elaboracio de conceitos-padrées e de
conceitos-instrumentos assumiré todo o seu sentido na medida em que, _partindo
cla prépria da leitura, colocat os seus resultados 4 disposicio de uma pesquisa
que os utiliza ¢ que os coloca 4 prova, confrontando-os
conceitos gerais (cuja lista inclui_o vocabulario descritivo da lingiiistica, da
Bramitica, da retérica antiga e moderna), a interpretacéo nao terd armas; sem,
no entanto, o trabalho efetivo de uma ativa interpretacio do ~do texto, esses con-
Ceitos viveriam uma existéncia estéril e separada, na qual_nada distin,
boas chaves de interpretagio das mis, todas se equivalendo enquanto no se
as_emprega.
A LITERATURA: O TEXTO E O SEU INTERPRETE 141
A interpretaczo garante uma passagem e uma integridade
‘A acreditarmos nos historiadores da lingua, a palavea interpres, em sua |
origem, designa aquele que é intermediario em uma transacio, aquele cujos bons |
oficios sio necessérios para que um. objeto passe de mio em mo, mediante pa-
gamento do prego justo. O iaterpres garante, portanto, uma passagem; ao mesmo
tempo, assegura o reconhecimento do valor exato de objeto transacionado ¢
contribui para a transmissio de maneira a constatar que o objeto chegou,, em
sua integridade, as mZos do adquirente.
Na ordem verbal, mesmo quando nfo passa de um simples tradutor,
ainda ai o intérprete é o agente de uma passagem (de uma a outra lingua), €
responsivel pela integridade de uma mensagem que nio deve sofrer, em prin-|
cipio, qualquer alteracio. J
Quando, em outro momento, o intérprete se vé confiar o trabalho de uma
leitura aleg6rica, novamente intervém a passagem: ela aparece como um deslo-
camento, no interior da mesma lingua, de uma mensagem formulada num cédigo
considerado metaférico a uma mensagem formulada num cédigo considerado
como o veiculo do sentido préprio. O intérprete executa essa “transcodificacio”,
ele se encarrega de substituir um contexto léxico por um outro; ele coloca, em
lugar das palavras do texto, outras palavras (ou grupos de palavras), de forma
que a mensagem inicial, embora conservando a sua sintaxe, o seu movimento, a
sua organizacio préprios, assume um segundo sentido: é o outro sentido de um
mesmo texto, € € 0 outro texto de um mesmo sentido. Ainda aqui, o intér-
ptete garante uma persisténcia e uma integridade, enquanto executa uma pas-
sagem, Nesse caso, no entanto, o intérprete presta uma contribuigio prépria,
ainda que ndo pretenda fazer mais do que uma deciftacio. Na sealidade, ele
& em grande parte, o produtor daquilo que descobre no texto, uma vez que
escolhe, conforme—as~’suas necessidades intelectuais e as necessidades de sua
época, 0 cédigo em que inscreveré o “sentido préprio”.. Sabemo-lo, com efeito:
€ frequentemente —o desnivel ¢ 0 distanciamento histéricos que tornam neces-
sirios, como foi o caso para Homero e para a Escritura, a intervencio inter-
pretativa ¢ 0 ajustamento alegérico. A patsagem no caso, nao visa somente a
alcancar um destinatario estrangeiro, ou um outro nivel de sentido; ela implica
uma dimensio temporal. O destinatério estrangeiro € um homem de outra
época; o segundo nivel de sentido enuncia-se segundo uma Jinguagem, uma
moral, um sistema de valores adequados as exigéncias de um presente outro,
diferente. O intérprete procura entio anular-o efeito da distancia, ele trans-
porta a obra da margem distante de que é originéria para a margem onde nasce
© discurso interpretativo, em sua relagéo atual com os seus destinatarios. Em
nossos dias (sera necessério dizé-lo?) a interpretacio toma um aspecto mais
total; ela nao se limita mais a uma traducio ou 4 passagem de um para outro
cédigo. £ um ato de conhecimento. Designa-se, sob o seu nome, a soma de
todos os atos dirigidos ao objeto. Constatemos que ela tem sempre a preocupa-
cdo de preservar uma integridade: € 0 motivo pelo qual toda interpretacio com-
pleta pressupSe uma atividade de restitui¢io, uma vontade de salvaguardar a
integridade do texto original. Isso nfo exclui que o objeto assim restituido 4
142 HISTORIA: NOVAS ABORDAGENS) -
sua identidade mais forte seja enriquecido por uma palavra nova, que o chama
a seu nivel, que o carrega ¢ o faz participar em seu proprio movimento. Entre
© momento de escolha do objeto a interpretar e 0 momento, sempre provisério,
em que termina a obra de interpretacio, a transigio feita nao apenas possui todos
os caractereres que jé assinalamos na tradugio ¢ na alegoria, mas faz ingressar
© tesultado no discurso do conhecimento. Nio se trata de uma simples “assimi
lagio”; é uma metamorfose completa: 0 objeto a interpretar foi acrescido de toda
a contribuicio da atividade interpretativa.
Quando o intérprete debruga-se sobre os textos e os interroga, a primeira
resposta é a emergéncia, em evidéncia mais clara, de uma forma mais’ freqtiente
ou mais imperiosa: disposicio arquitetural, perspectiva narrativa, categorias de
imagens, procedimentos habituais, homologias entre doutrinas professadas
constantes estilisticas etc... E possivel que varie, do conjunto aos pormenores,
a ordem de grandeza da forma percebida, e 0 seu lugar entre os elementos que
constituem o texto. Em qualquer caso, a resposta sé sera plenamente resposta
se essa forma for lida em sua inteira significagao, segundo tudo o que ela tem
o poder de designar. ‘Transparece nela um sentido, que, jumtamente, evoca 0
nosso reconhecimento (porque estava presente antes de nossa leitura ou inter-
pretagio) e a nossa livre reflexto (porque, para revelar-se inteifaimente, requer
um complemento de significacio que deve vir do leitor atento). O objeto a
interpretar € o discurso que o interpreta, se _sio adequados, ligam-se_ para nfo
mais se deixar. Formam um novo ser, composto por uma dupla substéincia. Nés
‘nos apropriamos do objeto, mas também € possivel dizer que ele nos altai, que
nos atrai a sua presenca aumentada ¢ tornada mais evidente. O objeto <
endido pertence a essa parte do mundo que_podemos considera: f rele
voltamos 2 encontra © paradoxo cue transparece € que, a0 mesmo tempo
que recebe confirmacio de sua existncia independente, o objeto devidamente
interpretado passa a fazer também parte de nosso _discurso_interpretativo,
se um dos instrumentos com a ajuda dos quais podemos procurar compreender,
20 mesmo Tempo, outros objetos e a nossa relago com os mesmos. A compre-
ensio mobiliza os objetos, sem tird-los do lugar: timia vez nomeados segundo
© sentido que nos fizeram perceber, eles chegam, por sua vez, ao poder de
nomear.
mpre-
Insisti, muitas vezes, sobre a escolha que o nosso interesse executa, visando
a seus objctos. Parecia que éramos os senhores absolutos de tal escolha.
‘A nossa liberdade, no entanto, nio se separa dos instrumentos ¢ da lingua de
que dispdc. E esses instramentos, essa linguagem, vieram-lhe do passado, de
uma histéria: a hist6ria de nossa propria atividade, que se liga a histéria dos
objetos que outros interpretaram antes de nds ¢ que, a partir de entio, ocupam
Jugar entre os recursos de nosso saber. Eis, portanto, que a histéria nos alcanga
uma vez mais. Quando, hoje, mesmo, voltamo-nos para os nossos horizontes
(por exemplo: a literatura, que queremos inventar, a critica, que desejamos
melhor definir), quando escolhemos os nossos objetos, quando procuramos
apreendé-los com uma ciéncia mais viva e mais alegre, no podemos fazer mais
do que permitem os nossos meios, Esses meios — linguagem e pensamento,
conceitos ¢ métodos — que sio eles? Sao “objets” do passado, que se torna-
naram nossos através da interpretacio dos que nos precederam, e de que somos
A LITERATURA: O TEXTO E O SEU INTERPRETE 143
hoje os herdeiros mais ou menos satisfeitos. Por maior que seja a liberdade
com que pretendemos escolher os nossos objetos ¢ os nossos meétodos, s6 0
podemos fazer recorrendo 4 linguagem e aos instrumentos que nos transmitiu
a histéria, Cabe-nos preservé-los, na_medida em que queremos continuar_civi
lizados; cabe-nos também aperfeicoi-los, na medida em que acredi
justificagao do progresso.
Você também pode gostar
- Historia Meio Ao Contrario Literatura inDocumento10 páginasHistoria Meio Ao Contrario Literatura inMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- 1 Teorias Praticas Educacao Infantil CenesDocumento58 páginas1 Teorias Praticas Educacao Infantil CenesMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- O Historiador e Suas Fontes (Carla Bassanezi Pinsky Etc.)Documento325 páginasO Historiador e Suas Fontes (Carla Bassanezi Pinsky Etc.)Marcia de PaulaAinda não há avaliações
- Infancia e Educacao Infantil Uma AbordagDocumento3 páginasInfancia e Educacao Infantil Uma AbordagMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- Anais - XV Encontro Internacional Da AnphlacDocumento677 páginasAnais - XV Encontro Internacional Da AnphlacMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- Amanda Ribeiro - Núcleo de Dramaturgia - Exercício EscolhidoDocumento2 páginasAmanda Ribeiro - Núcleo de Dramaturgia - Exercício EscolhidoMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- 6 Psicologia Aprendizagem Desenvolvimento CenesDocumento42 páginas6 Psicologia Aprendizagem Desenvolvimento CenesMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- A Educação Durante o Regime MilitarDocumento11 páginasA Educação Durante o Regime MilitarMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- Texto 09 - Cultura e ImperialismoDocumento22 páginasTexto 09 - Cultura e ImperialismoMarcia de Paula100% (1)
- Da Contribuição Do Método ComparadoDocumento6 páginasDa Contribuição Do Método ComparadoMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- 4 Dificuldades Aprendizagem CenesDocumento79 páginas4 Dificuldades Aprendizagem CenesMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- TEXTO 3 - NAPOLITANO, M. A Relação Entre Arte e Política. MetodológicaDocumento29 páginasTEXTO 3 - NAPOLITANO, M. A Relação Entre Arte e Política. MetodológicaMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- LIVRO - Ler Cap 205 A 222-Páginas-205-222Documento18 páginasLIVRO - Ler Cap 205 A 222-Páginas-205-222Marcia de PaulaAinda não há avaliações
- Artigo CRISTINA FILGUEIRASDocumento19 páginasArtigo CRISTINA FILGUEIRASMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- Artigo Do Flavio CasimiroDocumento11 páginasArtigo Do Flavio CasimiroMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- 07 A Cultura de Mídia (Douglas Kellner)Documento231 páginas07 A Cultura de Mídia (Douglas Kellner)Marcia de PaulaAinda não há avaliações
- 01 Abr - Texto FUNARIDocumento7 páginas01 Abr - Texto FUNARIMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- 02 Congressoeduc1883Documento27 páginas02 Congressoeduc1883Marcia de PaulaAinda não há avaliações
- Histórias e Memórias Da Educação No Brasil - Séculos XVI-XVIII (Maria Stephanou, Maria Helena Camara Bastos)Documento105 páginasHistórias e Memórias Da Educação No Brasil - Séculos XVI-XVIII (Maria Stephanou, Maria Helena Camara Bastos)Marcia de Paula0% (1)
- A Industria de Livros No Brasil DuranteDocumento18 páginasA Industria de Livros No Brasil DuranteMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- A Ditadura M Na ArgentinaDocumento7 páginasA Ditadura M Na ArgentinaMarcia de PaulaAinda não há avaliações
- 02 Decisões DjoãoviDocumento7 páginas02 Decisões DjoãoviMarcia de PaulaAinda não há avaliações