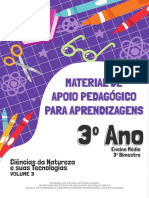Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tempestasintertext
Tempestasintertext
Enviado por
honeromarTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tempestasintertext
Tempestasintertext
Enviado por
honeromarDireitos autorais:
Formatos disponíveis
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/290136528
The Tempest as Intertext in Novels by Women
Article · December 2012
DOI: 10.18305/1679-5520/scripta.uniandrade.v10n2p37-51
CITATIONS READS
0 384
1 author:
Maria-Clara Versiani Galery
Universidade Federal de Ouro Preto
15 PUBLICATIONS 2 CITATIONS
SEE PROFILE
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
O mercador de Veneza e a memória da Shoah: adaptações da peça de Shakespeare na contemporaneidade/The
Merchant of Venice and the Memory of the Shoah: Contemporary Adaptations View project
All content following this page was uploaded by Maria-Clara Versiani Galery on 11 November 2019.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
Festschrift em homenagem a Anna Stegh Camati
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 1
SCRIPTA UNIANDRADE
Volume 10 Número 2 Jul. - Dez. 2012
ISSN 1679-5520
Publicação Semestral da Pós-Graduação em Letras
UNIANDRADE
Reitor: Prof. José Campos de Andrade
Vice-Reitora: Prof. Maria Campos de Andrade
Pró-Reitora Financeira: Prof. Lázara Campos de Andrade
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão:
Prof. M.Sc. José Campos de Andrade Filho
Pró-Reitora de Planejamento: Prof. Alice Campos de Andrade Lima
Pró-Reitora de Graduação: Prof. M.Sc. Mari Elen Campos de Andrade
Pró-Reitor Administrativo: Prof. M.Sc. Anderson José Campos de Andrade
Editoras: Brunilda T. Reichmann e Anna Stegh Camati
CORPO EDITORIAL
Anna Stegh Camati, Brunilda T. Reichmann
Sigrid Renaux, Mail Marques de Azevedo
CONSELHO CONSULTIVO
Prof. Dra. Maria Sílvia Betti (USP), Prof. Dra. Anelise Corseuil (UFSC), Prof. Dr. Carlos
Dahglian (UNESP), Prof. Dra. Laura Izarra (USP), Prof. Dra. Clarissa Menezes Jordão
(UFPR), Prof. Dra. Munira Mutran (USP), Prof. Dr. Miguel Sanches Neto (UEPG),
Prof. Dra. Thaïs Flores Nogueira Diniz (UFMG), Prof. Dra. Beatriz Kopschitz Xavier
(USP), Prof. Dr. Graham Huggan (Leeds University), Prof. Dra. Solange Ribeiro de
Oliveira (UFMG), Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University), Prof. Dra.
Aimara da Cunha Resende (UFMG), Prof. Dra. Célia Arns de Miranda (UFPR), Prof.
Dra. Simone Regina Dias (UNIVALI), Prof. Dr. Claus Clüver (Indiana University), Prof.
Dra. Helena Bonito Couto Pereira (Universidade Presbiteriana Mackenzie).
Projeto gráfico, capa e diagramação eletrônica: Brunilda T. Reichmann
Revisão: Anna S. Camati e Brunilda T. Reichmann
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 2
Scripta Uniandrade / Brunilda T. Reichmann / Anna Stegh
Camati – v. 10 - n. 2 – jul.-dez. 2012
Curitiba: UNIANDRADE, 2012
Publicação semestral
ISSN 1679-5520
1. Linguística, Letras e Artes – Periódicos
I. Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE
– Programa de Pós-Graduação em Letras
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 3
Festschrift em homenagem a Anna Stegh Camati
Esta edição da
revista Scripta Uniandrade
é dedicada à professora
e renomada crítica literária
Anna Stegh Camati,
por sua contribuição intelectual
e cultural no campo das Letras,
especialmente na crítica shakespeariana.
Parabéns, querida amiga e colega!
Você é e continuará sendo uma inspiração.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 4
Este número da Scripta Uniandrade é uma celebração em
homenagem à Professora Doutora Anna Stegh Camati que, por mais de
30 anos, nos sensibiliza com sua presença e nos estimula com seu trabalho.
Possui Mestrado em Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade Federal
do Paraná (1978), Doutorado em Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e
Norte-Americana pela Universidade de São Paulo (1987) e Pós-Doutorado
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Crítica shakespeariana
renomada, professora dedicada e orientadora incansável, Anna é um
exemplo para as professoras dos cursos de Mestrado e Doutorado do
país. Nada mais apropriado que dedicar este número da revista a ela, pois
o dossiê desta edição inclui “Escrituras femininas de expressão inglesa”.
Anna não é uma escritora de expressão inglesa no sentido literário, mas o é
no sentido da crítica literária.
Dentre sua produção crítica, destacam-se: Shakespeare sob múltiplos
olhares. Curitiba: Editora e Livraria Solar do Rosário, 2009, organizado
juntamente com a Prof. Dra. Célia Arns de Miranda; Non-verbal languages:
the opening scenes in Luiz Fernando Carvalho’s film “Lavoura Arcaica”.
Brasil (Porto Alegre), v. 38, p. 68-79, 2008; Rereading Shakespeare’s Ophelia:
Marcelo Marchioro’s Performance Aesthetics. In: Kawachi, Yoshiko;
Courtney, Krystyna Kujawinska (Org.). Multicultural Shakespeare: Translation,
Appropriation and Performance. Lódz: Lódz University Press, 2006, v. 03,
p. 69-80; Textual Appropriation: Totalitarian Violence in Shakespeare’s
“Macbeth” and Tom Stoppard’s “Cahoot’s Macbeth”. Ilha do Desterro
(UFSC), v. 49, p. 339-367, 2005; e Hamletrash: a Brazilian Hamlet Made of
Scraps. In: Aimara da Cunha Resende (Org.). Foreign Accents: Brazilian
Readings of Shakespeare. Newark e Londres: University of Delaware
Press, 2002, p. 62-75. É Regional Editor for Brazil da Global Shakespeares
Digital Archive (MIT/ Boston); membro da ABRAPUI, ANPOLL,
ABRACE, CESh e ISA. A Professora Anna Stegh Camati lecionou no Curso
de Letras da Universidade Federal do Paraná até 1996 e atualmente leciona
no Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade. Continua pesquisando na
área de Dramaturgia e Teatro, principalmente nos seguintes temas:
apropriações/adaptações de Shakespeare, linguagens cênicas e fílmicas,
dramaturgias contemporâneas e teatro pós-dramático. É também coeditora
da revista Scripta Uniandrade.
A você, nosso carinho e admiração.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 5
SUMÁRIO
Apresentação 08
DOSSIÊ TEMÁTICO: ESCRITURAS FEMININAS DE EXPRESSÃO INGLESA
A mulher artista: o talento múltiplo de Julie Taymor e A tempestade
de Shakespeare 11
Solange Ribeiro de Oliveira
The Tempest as Intertext in Novels by Women 37
Maria Clara Versiani Galery
Who’s Afraid of Female Sexuality?: Paula Vogel’s Desdemona,
A Play About a Handkerchief 52
Anna Stegh Camati
“Why Jane, Why Now?” A presença de Jane Austen no século XXI 70
Mail Marques de Azevedo
Priscila Maria Menna Gonçalves Kinoshita
O encontro, de Anne Enright: em busca da memória perdida 83
Patrícia B. Talhari
Brunilda T. Reichmann
O Brasil sob o olhar de P. K. Page: a viagem como experiência social,
cultural e estética 99
Sigrid Renaux
Alegorias contemporâneas: (auto)retratos por Anna Banti,
Susan Vreenland e Artemísia Gentileschi 118
Miriam de Paiva Vieira
Curiosidade e transgressão femininas sob nova perspectiva: releitura de
“O Barba Azul” em “The Bloody Chamber”, de Angela Carter 133
Maria Cristina Martins
De flores e retalhos: as artistas afro-americanas e a tradição feminina 147
Eliana Lourenço de Lima Reis
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 6
Looking for a Neutral Space: A “Poetics of Dislocation” in the
Diasporic Fiction of Edwidge Danticat 174
Leila Assumpção Harris
O cozinheiro, o ladrão, o juiz e sua neta: memória e poder em
O legado da perda de Kiran Desai 192
Gracia Regina Gonçalves
A releitura do poema “One Art” em Um porto para Elizabeth Bishop 204
Sílvia Maria Guerra Anastácio
Raquel Borges Dias
Processo de criação do vídeo-poema “Bishop in Art” 216
Sílvia Maria Guerra Anastácio
Sandra Corrêa
Sirlene Ribeiro Góes
“One Art” de Elizabeth Bishop ganha versão em quadrinhos 228
Sílvia Maria Guerra Anastácio
Chantal Herskovic
Dossiês temáticos das próximas edições 239
Normas para apresentação de trabalhos 240
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 7
Apresentação
A revista Scripta Uniandrade v. 10, n. 2, 2012, dossiê temático
“Escrituras femininas de expressão inglesa”, reúne escritos em torno do
tema em sentido amplo, ou seja, artigos que versam sobre (re)escrituras de
autoria feminina e expressão inglesa em uma diversidade de gêneros (ficção,
dramaturgia, poesia) e mídias (literatura, romances gráficos, escrituras
fílmicas, artes plásticas, etc.), sob abordagens e óticas variadas, com
contribuições de pesquisadores que vêm liderando as investigações nesse
campo de estudo.
O ensaio de abertura, de Solange Ribeiro de Oliveira, discute a
obra de Julie Taymor, principalmente o filme A tempestade (2010), uma
adaptação para o cinema do texto homônimo de Shakespeare, no qual a
artista estadunidense introduz a manipulação de gênero como traço distintivo
de recriações anteriores (que também são examinadas criticamente na análise
da pesquisadora), dentre elas A tempestade (1979), de Derek Jarman, e
Prospero’s Books (1991), de Peter Greenaway. Maria Clara Versiani Galery
elege como objeto de pesquisa diversos romances contemporâneos de
autoria feminina que podem ser consideradas apropriações de A tempestade
de Shakespeare sob uma perspectiva pós-colonialista. Mostra como as
personagens femininas, praticamente silenciadas nessa peça, são reimaginadas
e reempossadas de voz por Marina Warner, em Indigo, Or Mapping the Waters
(1992), Nancy Huston, em Plainsong (1993), e Michelle Cliff, em No Telephone
to Heaven (1987). O último artigo desse bloco, de Anna Stegh Camati, examina
a reescritura feminista Desdemona, A Play About a Handkerchief (1979), de
Paula Vogel, na qual a história da tragédia shakespeariana Othello (1603-
1604) é contada do ponto de vista das personagens femininas. A autora
mostra como, por meio de recursos de distanciamento próprios da paródia,
a dramaturga estadunidense desconstrói ideologias sexistas.
Seguem dois artigos que versam sobre a influência de Jane Austen
e a narrativa de Anne Enright, ambas no século XXI. Os motivos da
continuidade da presença marcante de Jane Austen nos dias de hoje, tanto
em reedições como em adaptações de sua obra em diferentes mídias, são
focalizados por Mail Marques de Azevedo e Priscila Maria Menna Gonçalves
Kinoshita que, com base em cartas da própria autora, material biográfico
de familiares e escritos de diversos pesquisadores, atribuem a sobrevida da
obra de Austen ao olhar crítico e ironia sutil presentes em seus romances.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 8
Acreditam que as duas posições antagônicas apontadas pela crítica
especializada coexistem na obra da autora que, por um lado, parece ser
ideologicamente conservadora e, por outro, ligada ao feminismo iluminista.
O artigo sobre O encontro, de Anne Enright, de Patrícia B. Talhari e Brunilda
T. Reichmann, utiliza os conceitos de memória voluntária e involuntária
apresentados por Samuel Beckett em Proust (2003) e os escritos psicanalíticos
de Jacques Lacan para interpretar a densidade ficcional da escritora irlandesa
contemporânea. As autoras demonstram como, ao construir seu texto
ficcional, a romancista desafia o leitor a perfazer o mesmo nebuloso e
tortuoso caminho da narradora no desvendamento do complexo contexto
de abuso sofrido por seu irmão quando criança.
Tomando como ponto de partida a nova edição do Brazilian Journal
(2011), da escritora, poeta e artista P. K. Page, que morou no Rio de Janeiro
de 1957 a 1959 como esposa do embaixador canadense Arthur Irwin,
Sigrid Renaux faz uma leitura de trechos do diário que retratam o olhar
estrangeiro de Page em relação à natureza exuberante, ao mundo
diplomático e político, e a aspectos culturais brasileiros como favelas, futebol,
macumba e balagandãs.
Dois romances, Artemísia (1953), de Anna Banti, e A paixão de
Artemísia (2001), da escritora estadunidense Susan Vreeland, que ressignificam
fragmentos da vida e obra da pintora Artemísia Gentileschi, praticamente
ignorada pelos críticos da história da arte barroca, são revisitados por Miriam
de Paiva Vieira. A autora argumenta que esses retratos da artista podem ser
lidos como alegorias contemporâneas: são escrituras que mesclam realidade
e ficção, cujas fronteiras entrelaçadas não permitem distinguir o verídico
do ficcional.
Em “The Bloody Chamber”, Angela Carter subverte noções
distorcidas de gênero e sexualidade que encontra no conto “O Barba Azul”,
de Charles Perrault. Maria Cristina Martins descreve a confrontação da
protagonista com a realidade material dos crimes do marido quando adentra
o quarto secreto que, na releitura revisionista de Carter, ganha implicações
diferentes: a curiosidade e a desobediência femininas são positivamente
apreendidas e o gesto transgressor é visto como mola propulsora da
libertação da mulher.
A valorização das artes femininas, utilizadas como estratégias de
sobrevivência emocional e espiritual entre mulheres duplamente marcadas
por preconceitos de gênero e origem étnica, caracteriza as obras de Alice
Walker e Faith Ringgold. O artigo de Eliana Lourenço de Lima Reis enfoca
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 9
a prática de confeccionar quilts na tradição feminina afro-americana que,
por um lado, pode ser interpretada como signo de resistência à escravidão
e à marginalização social e, por outro, como técnica para a criação de obras
que aliam a narrativa às artes visuais.
Seguem dois artigos que remetem às vozes femininas oriundas das
ex-colonias britânicas. Leila Assumpção Harris analisa a relação entre história,
memória e literatura na ficção de Edwige Danticat, escritora nascida no
Haiti e radicada nos EUA, para, na sequencia, tecer considerações críticas
sobre consciência diaspórica e representação literária. Gracia Regina
Gonçalves estuda os confrontos e interações entre as personagens do
romance O legado da perda (2006), de Kiran Desai, ambientado na época dos
conflitos indo-nepaleses de 1990. Sob o viés da culinária, flagra as ironias
sub-reptícias do romance que têm por objetivo inverter hierarquias e liberar
o riso subversivo dos leitores.
Os três últimos trabalhos giram em torno de novas criações
midiáticas inspiradas no poema “One Art”, da escritora estadunidense
Elizabeth Bishop. O primeiro, desenvolvido por Sílvia Maria Guerra
Anastácio e Raquel Borges Dias, apresenta uma releitura de “One Art” à
luz do diálogo estabelecido entre dois escritos que revelam a gênese da
composição artística: um deles mostra as referências utilizadas por Bishop
na criação do poema mencionado, e o outro elucida parte do processo de
reconfiguração do poema de Bishop na composição da peça Um porto para
Elizabeth Bishop (2001), por Martha Góes. O segundo ensaio discute o
processo de criação do vídeo-poema “Bishop in Art” (2012), baseado em
mecanismos de combinação e fusão de mídias, realizado por Sílvia Anastácio,
Sandra Corrêa e Sirlene Góes, cujo texto-fonte principal é, novamente, o
poema “One Art”, suplementado por elementos que remetem à gênese do
poema e pela biografia da autora. E, o terceiro artigo, escrito por Sílvia
Anastácio e Chantal Herskovic, reflete sobre a transcodificação do poema
“One Art” em uma história em quadrinhos, intitulada “A arte de perder
não é difícil de administrar”, de Herskovic.
No presente volume, objetivamos aprofundar a reflexão teórica
sobre a questão da autoria feminina de expressão inglesa e situá-la na história
da arte, literatura e cultura por meio de uma pluralidade de textos femininos
que não se limita à palavra escrita nem a obras canônicas.
As editoras
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 10
A MULHER ARTISTA: O TALENTO MÚLTIPLO DE
JULIE TAYMOR E A TEMPESTADE DE SHAKESPEARE
Solange Ribeiro de Oliveira
solanger1@uol.com.br
Resumo: O texto discute a obra da Abstract: The text discusses the ouvre
artista norte-americana Julie Taymor, of the North-American artist Julie
especialmente sua produção como Taymor, especially her work as a
cineasta, diretora de versões fílmicas filmmaker, the director of
das peças shakespearianas Titus adaptations of the Shakespearean
Andronicus (1999) e A tempestade plays Titus Andronicus( 1999) and The
(2010). O último filme é objeto de Tempest (2010). The latter is the object
discussão mais detalhada, tendo em of a more detailed analysis, first of
vista a inevitável comparação com all owing to the inevitable
as adaptações anteriores de A comparison with the earlier
tempestade por Derek Jarman (1979) adaptations of The Tempest by Derek
e por Peter Greenaway (1991). Por Jarman (1979) and by Peter
outro lado, a nova criação de Taymor Greenaway (1991). Secondly,
apresenta o traço inovador da Taymor´s creation displays the
manipulação de gênero que resulta innovating trait of gender
na transformação do mago manipulation, as Prospero, the
Próspero na bruxa Próspera. Em magician, turns into Prospera, the
função dessa metamorfose, o filme witch. The film thus invites analysis
convida à análise sob o ponto de from the viewpoint of feminist
vista da crítica feminista. criticism.
Palavras chave: Julie Taymor. Derek Jarman. Peter Greenaway. Crítica
feminista.
Keywords: Julie Taymor. Derek Jarman. Peter Greenaway. Feminist criticism.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 11
Dificilmente encontra-se no mundo contemporâneo exemplo mais
completo de talento múltiplo que o da artista norte-americana Julie Taymor
(1952- ), cuja atuação nas artes performáticas contempla a direção de peças
teatrais, de musicais, óperas e filmes. Seu livro, Julie Taymor: playing with fire
(2007) é um verdadeiro catálogo de sua obra, testemunho de ampla erudição
e gênio imaginativo. Como escritora, Taymor publicou comentários e
roteiros para algumas de suas produções, incluindo The Lion King: Pride
Rock on Broadway (1998), Titus: The Illustrated Screenplay (2000), Frida:
Bringing Frida Kahlo’s Life and Art to Film (2009), The Tempest (adaptação
da peça shakespeariana, 2010) e Spider-Man, Turn Off the Dark (2011).
O interesse da artista por várias formas de performance teatral
manifestou-se precocemente. Aos sete anos, fazia a irmã representar com
ela historietas para os pais. Aos nove, já se envolvia com o Boston Children’s
Theatre. Aos 11, encantou-se de tal forma com o Theatre Workshop de
Julie Portman que, após terminar o curso secundário, matriculou-se na École
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq em Paris, onde estudou pantomima
e o uso de máscaras no palco. De volta aos EUA, ampliou sua formação
teatral no Joseph Chaikin’s Open Theatre e outras companhias. Em 1973
frequentou um curso de verão oferecido em Seattle pela American Society
for Eastern Arts, com aulas de dança dramática, espetáculos com fantoches
e projeção de sombras – algo que influenciaria profundamente seu futuro
profissional. Em 1974, ao graduar-se em Mitologia e Folclore pelo Oberlin
College de Ohio, foi contemplada com uma bolsa que lhe permitiu viajar
pelo Japão e pela Indonésia e fundar uma companhia ambulante de dança
com máscaras, envolvendo atores, músicos, dançarinos e titereiros de diversas
origens – Japão, Bali, Sudão. França, Alemanha e EUA.
Taymor dirigiu várias óperas: Oedipus Rex, de Stravinsky (1992),
premiada com o Emmy, em 1994, e com o International Classical Music
Award. Dirigiu também The Flying Dutchman de Wagner, e, de Richard
Strauss, Salome, bem como The Magic Flute, de Mozart (1993), além de Grendel,
apresentada na Opera de Los Angeles e no Lincoln Center de Nova York
(2006). Em 2008, sua produção Across the Universe recebeu uma indicação
para o Globo de Ouro como a melhor comédia musical de 2007.
Sozinha ou em trabalho conjunto, a artista mostrou-se igualmente
produtiva como diretora teatral. Levou ao palco as peças shakespearianas
Titus Andronicus, The Tempest, The Taming of the Shrew, bem como textos de
outros autores, incluindo The Transposed Heads, baseada na novela de Thomas
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 12
Mann, The Green Bird, de Carlo Gozzi’s (2000), e os musicais Liberty’s Taken
e The Lion King, adaptação do filme homônimo, que estreou na Broadway
em 1997 e continua em cartaz em mais de sessenta e três cidades e doze
países. Com essa produção, Taymor tornou-se a primeira mulher a receber
o Tony Award pelo melhor guarda-roupa e direção teatral. Em versão
francesa, Le Roi Lion recebeu em 2008 o Moliére Awards, como o melhor
musical, e pelo melhor guarda-roupa e iluminação. Em 2011, estreou Spider-
Man, Turn Off the Dark. Sua atuação nesse musical da Broadway constituiu
um acontecimento histórico, infelizmente interrompido por questões
empresariais.
O talento de Taymor vem, desde o início de sua trajetória,
alcançando amplo reconhecimento. Sua criação músico-teatral, Juan Darién:
A Carnival Mass (1996), recebeu cinco indicações para o Tony Award. Por
sua contribuição inovadora para o teatro, recebeu prestigiosass bolsas (a
MacArthur e a da Fundação Guggenheim) e, entre outros, dois prêmios
Obie. Em 1999, em comemoração pelos 25 anos de carreira, o Werner
Center for the Arts inaugurou uma retrospectiva de sua obra. A exposição
foi levada ao National Museum of Women in the Arts, em Washington
D.C. e ao Field Museum of Natural History de Chicago, tendo o guarda-
roupa criado pela artista para o musical The Lion King sido incorporado aos
acervos do Smithsonian National Museum of American History e do
Victoria and Albert Museum de Londres.
O talento de Julie Taymor estendeu-se também ao cinema, com
a estréia na TV, em 1992, do curta metragem Fool´s Fire, adaptação do
conto de Edgar Allan Poe, premiado no International Electronic Cinema
Festival de Tokyo. Seguiram-se os longa metragens Titus ( 1999), baseado
em Titus Andronicus, de Shakespeare, e, em 2001, Frida, biografia de Frida
Kahlo, a icônica artista mexicana. Os dois filmes alcançaram boa recepção
crítica, especialmente Frida, indicado para o Oscar em seis categorias, das
quais conquistou duas. Em 2010, Taymor lançou The Tempest, versão fílmica
da peça homônima de Shakespeare. Como em Titus, o script foi assinado
pela própria cineasta, chamando a atenção pela transformação do
protagonista Próspero na mulher Próspera, encarnada pela celebrada atriz
Helen Mirren.
Neste texto, interessa-me particularmente a análise da recriação
dessa peça. No meu entender, o filme está longe de fazer justiça à carreira
da cineasta, sobretudo por não oferecer suficiente justificativa para a
mudança de gênero que substitui por uma bruxa o mago de A tempestade.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 13
Ademais, tanto do ponto de vista da apresentação formal quanto da
concepção global, incluindo leitura ideológica e tratamento das personagens,
A tempestade de Taymor não chega a competir com duas outras recriações
fílmicas da peça shakespeariana, com as quais convida a uma inevitável
comparação: The Tempest, de Derek Jarman (1979), e Prospero´s Books, de
Peter Greenaway (1991).
Não há como questionar o valor da adaptação de Jarman. Embora
muito pessoal, sua Tempestade preserva a teia de drama, mágica e poesia da
peça-fonte. Descarta, ou rearranja, boa parte do texto, mas deixa-o
claramente reconhecível, sem por isso renunciar a uma interpretação
contemporânea. Jarman não situa a peça no período elisabetano, nem nos
tempos modernos, o que sugere a atmosfera fantástica e a atemporalidade
da visão shakespeariana. A história de Próspero, soberano espoliado, que,
por sua vez, usurpa a ilha pertencente à bruxa Sycorax e seu filho Caliban,
desenrola-se num passado multi-temporal, insinuado por uma fusão de
estilos. O guarda-roupa inclui desde trajes medievais até uniformes de
marinheiro. A ampla paleta estilística incorpora imagens sugestivas da pintura
barroca de George la Tour (1593-1652), do melodrama gótico e até do
estilo camp, com seu exagero e artificialidade, sem, contudo, sacrificar a
inteligibilidade e a beleza do conjunto.
Para a construção dessa atmosfera, Jarman escolheu, nas cenas
externas, o castelo de Bamburgh, com seu esplendor secular junto às areias
do mar de Northumberland. As cenas internas foram filmadas na Abadia
de Toneleigh, perto de Coventry, Inglaterra. Trata-se de uma mansão no
estilo italiano de Andrea Palladio, perfeita para a concepção do filme, com
corredores que parecem prolongar-se ao infinito e aposentos que se abrem
uns para os outros, como uma caixa de segredos chinesa. A propósito do
cenário, explica Jarman (2011): “nunca imaginei A tempestade em uma ilha
exótica [...] Para mim, a peça existe em seu próprio isolamento. O cenário
é atemporal – uma crepuscular terra do nunca”1.
A leitura de Jarman ostenta uma originalidade radical, superando
Planeta proibido (1956), seu clássico de ficção científica. Sua Tempestade oferece
como eixo condutor a metáfora da vida como sonho. O grande tema
barroco preside a todo o filme: ele termina com a imagem de Próspero
despertando de um sono, enquanto se ouvem os versos de sua fala em 4.1,
transpostos para a cena final: We are such stuff/As dreams are made on, and our
little life/Is rounded with a sleep.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 14
Esse exemplo da manipulação do texto, cuja ordem é subvertida
de forma a pontuar a ação em momentos decisivos, resume a leitura do
cineasta, sugerindo que toda a história narrada no filme não passa de um
sonho do protagonista. Outra mudança significativa é a elocução adotada.
Fugindo da tradição recitativa e altissonante de grandes intérpretes como
John Gielgud, os personagens, segundo o próprio Jarman (2011), “falam,
não gritam ou entoam o texto. Comunicam-se usando a linguagem de
Shakespeare, como se fosse a de hoje – viva e palpitante”. Mais um aspecto
inovador é a releitura dos protagonistas, sobretudo o tratamento dado a
Miranda, cujo casamento com Ferdinando, herdeiro do usurpador, é a chave
para a solução dos problemas dinásticos. Em vez da donzela pudica e
submissa das apresentações tradicionais, a filha de Próspero aparece como
uma jovem sensual, apaixonada, determinada a conquistar seu príncipe.
Derek Jarman, A tempestade. Miranda e Ferdinando.
Fonte: www.mubi.com.
Outra caracterização subversiva é a de Caliban, cuja revolta projeta-
se de modo grotesco, como um homossexual desafiador. Sua imagem,
como adulto absurdamente grudado às tetas da mãe, é um exemplo do
estilo camp, que Susan Sontag (em Notes on Camp, de 1964, citado por Umberto
Eco) associa à redenção do mau gosto do passado em função de traços
anti-naturais, exagerados, marginais, até certo ponto vulgares, com marcas
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 15
pessoais e sexuais exacerbadas. Para Sontag, os homosexuais constituem a
vanguarda do camp2.
Derek Jarman,.A tempestade.
Fonte: www.flowertoflower.blogspot.com.
O filme de Jarman distingue-se também pela tematização de
questões das minorias. As mudanças relativas ao gênero projetam-se na
sensualidade de Miranda e na homosexualidade de Caliban, a qual aparece
explicitamente na cena em que ele se retira para um encontro íntimo com o
conspirador Trínculo. Insinua-se, também, na profusão de belos nus
masculinos, e na apresentação camp, misógina, da nudez feminina de Sycorax.
O resgate racial emerge no destaque à cantora afro-americana Elizabeth
Welch (1904-2003), lendária estrela de musicais. Na apoteótica penúltima
cena, pontilhada de cores exuberantes e nuvens de confetes, ela representa
uma das deusas que abençoam o casamento de Miranda e Ferdinando – a
própria exaltação do Black is beautiful, slogan dos anos que antecederam ao
lançamento do filme.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 16
Derek Jarman, A tempestade, Elisabeth Welch canta “Stormy Weather”.
Fonte: www.flowertoflower.blogspot.com.
Dançando, Welch avança entre alas de marinheiros, interpretando
a canção “Stormy Weather”, sua marca registrada, e, no caso, alusiva à
tempestade, título da peça e do filme.
Uma década após a leitura radical de Derek Jarman, Peter Greenaway
lança Prospero´s Books (1991), outra recriação de A tempestade, objeto de
incontáveis textos críticos, incluindo a inevitável comparação com o filme
anterior. Douglas Lanier (1996, p. 195) chama a atenção para suas
semelhanças. Claramente filmes de autor, as criações de Jarman e de
Greenaway exploram uma estética anti-realista, interesse por imagens de
um hermetismo renascentista e por estilos reminiscentes da masque seiscentista.
Aproximam-se também pela ênfase na teatralidade essencial de The Tempest.
Valorizam mais a mise-en-scène que estratégias especificamente cinemáticas
como edição, posicionamento da câmera e efeitos especiais.
Tanto quanto as semelhanças, são inegáveis as diferenças entre os
dois filmes. Segundo Lanier, Jarman critica a política tradicional das
produções shakespearianas. Através de uma mistura irreverente de referências
populares e eruditas, desconstrói o status da peça como ícone cultural,
além de enfatizar sexualidades transgressoras. Greenaway, pelo contrário,
fixa sua atenção na mídia shakespeariana, sem questionar seu conteúdo
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 17
heterossexual e registro cultural. Ademais, Prospero´s Books oferece um vasto
campo de reflexão para os discursos semiótico, estruturalista, pós-
estruturalista e pós-moderno; integra um palimpsesto de referências à
fortuna crítica de A tempestade: o diálogo sobre a Arte e a Natureza, o adeus
de Shakespeare ao palco, a celebração do poder do dramaturgo, o discurso
sobre o colonialismo… O filme identifica Próspero não apenas com
Shakespeare, mas também com o próprio Greenaway e com o ator que
representa o mágico, Sir John Gielgud, cuja longa vida (1904-2000) coincidiu
com boa parte da história do cinema. A presença do famoso ator
shakespeariano constitui uma espécie de garantia de autenticidade textual,
com sua inigualável leitura de falas da peça, recitadas em sua quase totalidade.
Entretanto, Greenaway complica a questão, ora sobrepondo outra voz à
do ator, ora distorcendo-a através de manipulação eletrônica, o que
obscurece sua musicalidade e ressonância. Ademais, as linhas recitadas
apresentam ligeiras diferenças com a peça-fonte. Gielgud/Próspero, por
exemplo, diz “winds” em vez de “airs”, e depois se corrige. A impressão é do
surgimento gradativo de um texto que está sendo criado pelo personagem.
No conjunto, Greenaway coloca as linearidades da escrita literária
e dos personagens a serviço da imagem e da palavra falada, sobrepondo e
recombinando imagens, numa exuberante celebração de tecnologia
cinemática e digitalizada. Converte a narrativa shakespeariana numa não-
narrativa. Chama todo o tempo a atenção para os corpos dos atores, em
espetáculos de mímica, acrobacia, dança abstrata, quadros vivos, desfiles
semelhantes à masque dos séculos XVI e XVII, um verdadeiro inventário
das artes performáticas. O nu masculino torna-se um elemento formal, que
confere à imagem cinemática o imediatismo físico do teatro ao vivo, como
que transcendendo a bidimensionalidade da tela. As contorções obsessivas
de Caliban, interpretado pelo dançarino vanguardista Michael Clark, com
um gigantesco falo vermelho indicando a natureza carnal do personagem,
enfatizam a relação subversiva com o mundo conservador do Royal Ballet,
onde Clark se formou. O guarda-roupa hiper-teatral, os trajes absurdos
do cortejo de Alonso, que inibem os movimentos, ressaltam a excessiva
artificialidade em contraste com a natureza. Greenaway radicaliza sua técnica
usando, para efeitos expressivos, até excreções corporais: Caliban defeca,
urina e vomita sobre livros.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 18
O filme inteiro pode ser lido como uma projeção da mente de
Próspero. O espectador sente-se ora dentro, ora fora dessa mente, repleta
de imagens baseadas na história da arte ocidental, especialmente na pintura
de Rubens, Veronese, Ticiano, Tintoreto, David, Gericault, na arquitetura
de Piranesi e Michelangelo, no desenho de John Drawing. As contínuas
referências às artes visuais não são gratuitas. Associam-se à temática e à
caracterização dos personagens, como nas várias alusões picturais a São
Jerônimo3. Greenaway modelou a representação da cela de Próspero
(artifício narrativo e visual recorrente no filme) na pintura de Antonello da
Messina, São Jerônimo em seu estúdio (1418), de tal forma que a figura absorta
no processo da escrita, repetidas vezes evocada no filme, remete tanto a
Próspero/Shakespeare/Greenaway produzindo A tempestade quanto ao
santo traduzindo a Vulgata apresentada ao Papa Dâmaso no início do século V.
Veja-se, no filme,
Peter Greenaway, Prospero´s Books. Próspero/Shakespeare escrevendo A tempestade.
Fonte: www.ccbarreiro.blogspot.com.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 19
A semelhança com a tela de Messina é inequívoca:
Antonelo da Messina, São Jerônimo em seu studio (c.1475).
Fonte: National Gallery Collection, Londres/Corbis/Latinstock.
Outra alusão a pinturas representando São Jerônimo encontra-se
na cena em que Ariel apropria-se da pena de Próspero/Shakespeare,
sugerindo a inspiração angélica do santo, como na tela de Van Dyck, A
inspiração de São Jerônimo (c. 1620), na qual um querubim toma da pena de
Jerônimo para guiá-lo.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 20
Van Dyck, São Jerônimo e o anjo.
Fonte: www.artinvestment.ru.
As referências picturais a São Jerônimo sugerem as afinidades entre
ele e o protagonista de A tempestade: ambos são autores de textos
memoráveis, a Bíblia traduzida pelo santo, e, na releitura de Greenaway, o
texto que, no filme, é escrito por Próspero para guiar o desenrolar da
trama. Jerônimo e Próspero assemelham-se também pelo obsessivo amor
aos livros, a insistência na exigência da castidade antes do casamento e a
ideia de, pela cultura, superar a natureza selvagem. Caliban, dominado em
A tempestade, evoca a lenda, frequentemente representada em telas
renascentistas, sobre o leão curado e domado pelo santo no deserto.
No roteiro, Greenaway descreve sua produção como “um projeto
que propositalmente celebra o texto enquanto texto”. Assim sendo, o Folio
de 1623, praticamente identificado com o Evangelho, é um dos dois entre
os vinte e quatro belíssimos volumes constantemente exibidos que não é
destruído no final. Entretanto, o filme transmite ambiguidade em relação
ao verbal, pois demonstra as várias formas pela qual o cinema, enquanto
mídia visual e performática, supera o potencial formal da escrita. Assim, a
exterminação do livro – a substituição do textual pelo visual – também
parece louvável. Como observa Lanier (1996, p. 114), o filme termina de
modo ambivalente, deixando que alguns textos sejam salvos por Caliban.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 21
Ele, que desejara queimar a biblioteca de Próspero, resgata um grosso
volume, os Thirty-Six Plays do Folio, bem como outro, bem mais fino, que
é, precisamente, The Tempest. A cena contribui também para a representação
ambígua de Caliban, que já recebera a graça do artista, ao ser representado
pela dança de Michael Clark.
O salvamento das obras de Shakespeare sugere que o mundo
contemporâneo não perde a leitura, mas apenas o texto impresso: a tecnologia
eletrônica oferece novos tipos de leitura e de escrita. O filme de Greenaway
torna-se, assim, algo que resiste a qualquer classificação: livro, filme, vídeo,
arte computacional, nexo de linguagens rivais, história da arte, pastiche pós-
moderno, homenagem a um ator – riqueza intertextual de um hipertexto,
com uma multidão de links, cuja exploração exige uma espécie de close
reading da gravação em vídeo.
Greenaway consegue esse notável conjunto com um orçamento
modesto e recursos relativamente simples: imitações de estratégias pré-
cinemáticas, maquetes de teatros em miniatura, cenários de papier mâché,
recortes de papelão, livros que se abrem para construir edifícios tri-
dimensionais... Até a tempestade é apresentada simbólica e metonimicamente
por um navio de brinquedo, uma banheira, um menino urinando. Como
sugere Michael Anderegg (2000, p. 111ss), excetuada a animação dos vinte
e quatro livros e o uso de tecnologia para o colorido das imagens, o cineasta
recriou no cinema uma produção semelhante à que poderia ter sido assistida
por uma plateia no início dos anos 1600. A representação das artes mágicas
de Próspero, por exemplo, seria exequível no palco da Renascença. Alguns
dos efeitos mais espetaculares estariam ao alcance dos executores das masques:
por volta de 1600, sem o uso de cordas, arames ou outros meios visíveis
de sustentação, Inigo Jones (1573-1653), primeiro grande arquiteto inglês,
também designer de masques, já apresentara carruagens e nuvens luminosas
sobre o palco da Banqueting House em Whitehall. Em suma, mesmo com
todos os recursos do cinema a seu dispor, Greenway renunciou a efeitos
especiais sofisticados, alcançando resultados surpreendentes com um mínimo
de recursos. Sendo ele próprio pintor, estudioso da história da arte, obtém
imagens inesquecíveis, como a do martírio de Ariel preso dentro de uma
árvore fendida. A cena realça, sem simplesmente duplicá-la, a linguagem
usada por Shakespeare (1.1; p. 274-281). O efeito é obtido de modo
simplíssimo, através de edição, imitação da casca de uma árvore e terríveis
gritos de dor.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 22
Após tudo isso, criar nova versão fílmica de A tempestade, como
faz Julie Taymor em 2010, constitui uma ousadia. A seu favor, quando
iniciou o filme, a artista já contava experiências exitosas com o texto
shakespeariano, incluindo Titus Andronicus, em produção teatral off-
Broadway de 1994. No cinema, Taymor dirigira Titus (1999), primeira versão
cinematográfica da pouco representada tragédia de horror e vingança, Titus
Andronicus.
A escolha dessa peça – uma das menos apreciadas do cânone
shakespeariano – foi objeto de avaliações contraditórias. Em entrevistas, a
cineasta apresentou como justificativa o desejo de demonstrar o valor do
texto, tirando-o do lugar subalterno que lhe atribuem os críticos (Harold
Bloom, por exemplo, considera-o uma “barbaridade poética” – a poetic
atrocity – impossível de ser representada, a não ser como parodia). Taymor
parece ter alcançado o objetivo de reabilitar a peça. Segundo a crítica
favorável, seu Titus trouxe à luz certos aspectos do gênio shakespeariano,
revelando em Titus arquétipos de seus grandes personagens trágicos;
produziu uma interpretação moderna e duradoura da peça, tornada, afinal,
representável. Seria hoje difícil pensar nela sem lembrar essa adaptação.
Com Anthony Hopkins no papel título, e realçado por uma apresentação
original, o filme lembra às vezes um sofisticado vídeo-game. Na primeira
cena, um menino, assentado à mesa de refeições, brinca de guerra, com
soldados de brinquedo ensanguentados com ketchup. O estouro de uma
bomba transporta-o para o mundo “real”, um anfiteatro, cercado de
espectadores invisíveis, e de um exército semelhante a soldados de terracota.
Revelam-se logo militares romanos, comandados por Titus Andronicus,
general que retorna vitorioso de uma guerra, trazendo prisioneiros Tamora,
rainha dos godos e seus dois herdeiros. Para propiciar os espíritos de seus
próprios filhos, todos mortos em combate, Titus sacrifica um dos filhos
da rainha. O ato desencadeia uma série de vinganças atrozes, culminando
com um banquete onde Tamora é levada a consumir a carne de seus
próprios filhos.
Excetuados seus propositais anacronismos, o filme segue de perto
o texto shakespeariano. Entre as mudanças introduzidas consta a
transformação do jovem Lucius, neto de Titus, em um menino da época
atual, transportado à fantástica “realidade” da película. São seus os soldados
de brinquedo que se transformam no exército romano.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 23
O filme tem um impacto visual perturbador, semelhante a uma
viagem através do tempo. O espectador encontra-se ora na Roma antiga,
ora na Itália de Mussolini, depois entre soldados de brinquedo do tamanho
de homens normais, ou numa casa de jogos eletrônicos – mundo de sonhos,
realidade virtual carregada de matizes assassinos. A coexistência de lugares,
tempos, raças, culturas, representados em estilos ora modernos ora antigos,
e sempre associada à violência, funciona como metáfora da recorrência da
selvageria em todas as épocas e lugares. Diante da tela, o espectador não
pode deixar de pensar nos genocídios nos Balkans, em Ruanda, e, como
observa a própria Taymor em uma de suas entrevistas, no Holocausto. Há
também referências a filmes dos anos 1990, memoráveis pela violência: a
marcha dos gladiadores lembra Robocop, a criança arrastada para uma arena
de combate faz pensar em O exterminador do futuro, enquanto a atuação de
Anthony Hopkins, intérprete de Titus, carrega a marca do canibal Hannibal
Lecter de Silêncio dos inocentes. Numa das cenas finais a presença do ator
acrescenta uma nota cômica, lembrando a estranha proximidade entre o
horror e a comédia. No papel de Titus, é Hopkins que, usando um grotesco
chapéu de chef, serve a Tamora iguarias feitas com a carne dos cadáveres de
seus filhos.
Embora fracasso de bilheteria, o filme recebeu, da crítica
especializada, avaliações variáveis, bastante positiva no caso do New York
Times, que o analisou como Critic´s Pick. Os aplausos foram geralmente
reservados para a força metafórica do conjunto e para a impactante
realização visual, especialmente na cena inicial, com a marcha coreografada
do exército romano. Sob essa perspectiva, cada cena pode ser considerada
uma soberba composição artística. Houve quem considerasse Titus a terceira
entre as grandes recriações fílmicas de Shakespeare, logo após clássicos
como Korol Lir ( Rei Lear) e Gamlet (Hamlet), de Grigory Kozintsev4. Quase
consensualmente, admitiu-se que Taymor conseguiu extrair beleza da sordidez
de uma das primeiras peças de Shakespeare, popular em seu tempo, mas
hoje das menos lembradas.
O relativo sucesso crítico de Titus criou grandes expectativas quando
do lançamento de The Tempest (2010), reescrita fílmica da peça que Julie
Taymor já dirigira no palco em 1986. No conjunto, o filme decepcionou.
De minha parte, critico sobretudo a gratuidade da transformação do
protagonista Próspero na mulher Próspera, sem que isso motive uma
interpretação suficientemente inovadora do texto. As críticas positivas
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 24
concentraram-se na performance de Helen Mirren. No papel título, a estrela
confere à personagem toda uma gama de nuances expressivas: vaidade,
amargura, volubilidade, dor, remorso, amor maternal. Para alguns
espectadores, graças à interpretação de Mirren, a mudança de gênero da
protagonista acrescenta um subtexto significativo, sobretudo nas cenas entre
mãe e filha e na despedida de Próspera e Ariel, quando, finalmente libertado,
o espírito enaltece o valor do perdão.
Os aspectos visuais da peça foram objeto de merecido e quase
irrestrito louvor, focalizando, entre outros, a escolha da locação. No livro
contendo sua adaptação do texto Taymor observa: location is metaphor (2010,
p. 18). A observação é justificada pela relação entre o local e certos elementos
do filme, como vestuário e caracterização dos personagens. Interessada na
possibilidade de combinar a realidade literal – luz, ventos, mar tempestuoso –
com efeitos especiais, a cineasta escolheu as ilhas de Lana’i e Hawaii, conjunto
de rochas vulcânicas, ravinas de poeira vermelha, florestas de árvores
nodosas, matagal e paisagem lunar. Certas partes de Lana´i, com suas árvores
espinhentas, ofereceram o cenário para as luta entre personagens cômicos,
enquanto, em outras, as árvores de troncos ásperos e retorcidos serviram
para desorientar os aristocratas.
Na paisagem, a premiada Sandy Powell (vencedora, entre outros
prêmios, de um Oscar pelo vestuário de Shakespeare in Love), também
encontrou inspiração para o guarda-roupa. O manto mágico de Próspera
foi composto de fragmentos de rocha vulcânica negro-azulada, fluindo
diagonalmente numa grande forma cônica – escultura mais que vestuário.
Seu bastão mágico foi feito de rocha obsidiana negra, dotada de atributos
mágicos, segundo as culturas locais. O make-up do ator negro Djimon
Hounsou, intérprete de Caliban, imita uma pele rachada, negro-avermelhada,
lembrando a terra e as rochas vulcânicas da ilha. A lua branca circulando
um de seus olhos azuis lembra, além do apelido “Mooncalf ”, que Caliban
é cria da Sycorax, the blue-eyed hag. Segundo Taymor, esse Caliban, ao mesmo
tempo belo e grotesco, com seus movimentos atléticos e bizarros, inspirados
numa dança japonesa, é a personificação da ilha. Também chama a atenção
o vestuário de Próspera nas cenas em flashback, quando, em sua vida
pregressa, ela veste trajes europeus, reminiscentes de quadros de Velásquez,
modernizados por zíperes. Outros personagens usam trajes de várias épocas,
sugerindo a perenidade dos temas e estilos históricos, estilos e épocas
diversas, sem perder a contemporaneidade das referências.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 25
Mereceu elogios especiais a cena inicial, que parece mostrar, em
close up, uma soberba construção negra. Com o afastamento da câmera, o
edifício revela-se um diminuto castelo de areia. Ele cabe na palma da mão
de uma jovem – Miranda – e é logo dissolvido pela tempestade
desencadeada por Próspera. Segundo Taymor, a cena sugere um quadro
de Turner, enquanto o jogo com a percepção e a escala sinalizam o estilo
do filme, que passa da realidade visceral ao expressionismo, resumindo, ao
mesmo tempo, um dos temas da peça shakespeariana, a oposição entre a
cultura e a natureza (TAYMOR, 2010, p. 14). A cineasta parece atenta à
observação do crítico Alan Bates, que chama atenção para o fato de que o
texto de The Tempest parece um convite aos múltiplos apelos sensórios
possibilitados pelas técnicas cinematográficas atuais. No prefácio ao roteiro
criado pela cineasta,5 Bates lembra que embora seja a última de autoria
exclusiva de Shakespeare, a peça aparece como vitrine de sua arte, colocada
em primeiro lugar no Folio publicado por John Hemmings e Henry Condell
em 1623. Trata-se realmente de um texto sui-generis, talvez o único escrito
exclusivamente para apresentação em teatro fechado – o Blackfriars,
comprado em 1596 por James Burbage – cujo espaço interno, protegido
das intempéries, permitia o uso de tecnologia requintada, como exigiam os
espetáculos musicais e visuais inaugurados por Ben Jonson e Inigo Jones.
Observando o formato proto-operístico das masques apresentadas na corte,
as novas tecnologias possibilitavam efeitos inusitados, como os mencionados
em A tempestade: fragor de raios e trovões, ruídos confusos, personagens ao
mesmo tempo visíveis e invisíveis, um círculo mágico, espíritos de formas
estranhas... Impossíveis em teatros abertos como o Globe e o Rose, esses
efeitos especiais dependiam de um espaço fechado, com iluminação
controlável – como na cinematografia atual. A magia da manipulação digital,
combinada com técnicas fotográficas e make-up especial, permite à cineasta
apresentar também cenas correspondentes às imagens poéticas, que, no
século 17, dependeriam da imaginação dos espectadores: a ilha fértil, o mar
tempestuoso, o laboratório do mago. Sob essa ótica, é inegável o valor do
filme de Taymor, rico em cenas de grande impacto visual: os cães que
perseguem Stephano e Trínculo – ao mesmo tempo feras, chamas crepitantes
e bolas de fogo – emergem de uma lagoa subitamente transformada em
lava borbulhante. Precedendo a grande fala que anuncia a renúncia da
protagonista a seus poderes mágicos, a paisagem gira ao redor de Próspera,
a princípio lentamente, depois com velocidade crescente, até transformar-
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 26
se num rodopio embaçado. O fogo e o céu nebuloso parecem girar em
sentido contrário, fazendo justiça aos versos famosos: I have bedimm´d/The
noontide sun, call´d forth the mutinuous winds/And ´twixt the green seea and the
azured vault/Set roaring war (5.1). Para encantamento de Miranda e Ferdinando,
Próspera conjura outro espetáculo inesquecível. Às palavras No tongue! All
eyes! Be silent (4.1), constelações e criaturas míticas explodem como fogos
de artifício, fundindo céu e mar num mapa astral espiralado. Na cena de
libertação de Ariel, o espírito precipita-se num abismo de cores, fraciona-
se, multiplica-se em formas translúcidas, até dissolver-se no mar.
Grande apologista da criação de Taymor, Jonathan Bates não lhe
poupa louvores, com destaque para a cena final. Enquanto lê os créditos,
o público ouve a última fala – o famoso adeus da personagem às artes
mágicas – transformada na letra de uma canção, composta por Elliot
Goldenthal e cantada por Beth Gibbons6. Segundo Bates, a cena constitui
um exemplo da integração entre poesia, música, design teatral e imagem,
que faz da Tempestade de Taymor uma obra de arte total, como a
Gesamtkunstwerk postulada por Wagner. Bates louva, também, sem reservas,
a metamorfose de gênero, que transforma o duque Próspero na duquesa
Próspera (2010, p. 10-11). O crítico lembra que quando Próspero renuncia
às artes mágicas a invocação Ye elves of hills, Brooks, standing lakes and groves
(5.1) é uma citação direta da fala da feiticeira Medea, em tradução de Ovídio.
Segundo Bates, isso implica no reconhecimento, por parte de Próspera, da
aproximação entre sua magia branca e a arte negra de Sycorax. Dessa forma,
o filme responderia a uma das críticas frequentes à peça seiscentista, sua
preconceituosa postura racial. Pela voz da mulher, aproximam-se a magia
branca e a feitiçaria negra, sublinhando a imparcialidade da visão
shakespeariana. Bates conclui que bastaria esse fato para justificar a mudança
de Próspero em Próspera.
No meu entender, o mesmo argumento poderia ser usado para o
protagonista masculino. Isso, entretanto, é um detalhe. O importante é que
poucos concordam com a irrestrita aprovação de Bates. Criticam-se a
precariedade de alguns efeitos especiais, a caracterização de certas
personagens, em transpor para a tela os interlúdios cômicos envolvendo
Trínculo e Stephano, a ausência de traços experimentais, equivalentes aos
presentes nas criações de Jarman e de Greenaway, ou mesmo no Titus, da
própria Taymor.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 27
Em suma, apesar de seu inegável impacto, o conjunto não faz jus
às partes que o compõem. Sobretudo, falta ao filme uma releitura pessoal,
como, por exemplo, em A tempestade de Jarman, a metáfora orgânica da
vida como sonho, ou, em Próspero´s Books, a oposição entre a cultura do
livro e a das novas tecnologias de comunicação. Inexiste um fio condutor,
uma visão unificadora, resumida em correlativos visuais fílmicos – um idiógrafo
– algo que, em entrevista de 2008, Taymor define como “uma única expressão
simples que exprima tudo, e seja simultaneamente reconhecível pela
audiência”7, e que remeteria a uma visão pessoal da cineasta. Em seu livro
contendo o roteiro da peça, Taymor aponta como idiógrafo a cena inicial – a
destruição do castelo de areia pela tempestade – considerada emblema do
embate entre cultura e natureza8. Longe de representar uma nova leitura –
exigência para uma recriação fílmica – a cena sugere uma das interpretações
mais convencionais do texto de Shakespeare. A reverência por ele, segundo
parece, inibe a liberdade criadora da cineasta, que parece almejar apenas
ilustrar as leituras tradicionais.
Do ponto de vista textual, a mudança de gênero do protagonista
não trouxe problemas. O texto, conservado em sua maior parte, exigiu
alterações mínimas, de “ele” em “ela”, “senhor” em “senhora”. A principal
alteração relaciona-se com a vida de Próspera antes de seu exílio na ilha.
Para essa parte, em colaboração com Glen Berger, Taylor elaborou versos
que imitam a linguagem e o ritmo shakespearianos. Mutatis mutantis, também
o enredo é, na maior parte, preservado. Próspero, Duque de Milão, passa
a ser Próspera, sua consorte viúva. Amante, como o marido, de livros e de
artes mágicas, ela é privada do ducado por um irmão traidor.
Chego, assim, ao ponto central de minha argumentação. Ao
contrário do que afirma Julie Taymor, seu filme não constitui “um trampolim
para uma apreciação inteiramente nova da peça”9. Tal apreciação exigiria
uma total reinterpretação do texto, especialmente no tocante à chegada de
Próspera ao poder, sua forma de exercê-lo, seu tratamento do diferente –
seja ele o inferior hierárquico, o “selvagem” Caliban, ou a mulher, na pessoa
da própria filha. Em todos esses aspectos, não vejo distinção entre a postura
do duque renascentista e o de sua versão feminina. Próspera demonstra
que, como às vezes ocorre no mundo real, o acesso da mulher ao poder
não a exime dos malfeitos dos homens. Lembro ainda que ela só assume a
posição de chefe de estado como consorte viúva de um duque, não por
direito próprio. E é também o beneplácito do marido que lhe permite
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 28
estudar alquimia e artes mágicas. Enfim, sua posição deriva, não de conquista
pessoal, mas de concessão masculina. Tanto basta, creio eu, para tornar
inócua a manipulação de gênero.
Apoiada na leitura da adaptação do texto fonte pela cineasta, não
encontro dificuldade em defender essa posição, a começar pelo tratamento
dado por Próspera ao diferente. Trata Caliban com as mesmas palavras
insultuosas de Próspero: Thou poisonous slave, got by the devil himself/ Upon thy
wicked dam (,,,) abhorred slave/ Which any print of goodness will not take (1. 2; p. 58
e 59 do roteiro) (…) A devil, a born devil, on whose nature/ Nurture can never
stick (4. 1; p. 145 do roteiro). Ao menor sinal de resistência, tortura-o com
ameaças e suplícios. O próprio Caliban descreve os tormentos a que é
submetido: For every trifle are they set upon me/Sometimes like apes that mow and
chatter at me/And after bite me…(2. 2., p. 81 do roteiro).
Julie Taymor, The Tempest.
Fonte: www.stitchkingdom.com
Pouco diverge o tratamento dispensado a Ariel. Quando este lembra
a promessa da liberdade, ainda não cumprida, é chamado de slave, malignant
thing, e ameaçado com o mesmo suplício antes dispensado ao espírito pela
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 29
bruxa Sycorax: If thou mumur´st, I will rend an oak/And peg thee in his knotty
entrails till/Thou has howl´d away twelve winters. (1. 25; p. 51 do roteiro). Taymor
justifica a conduta de Próspera com os “colonizados” alegando que, para
realmente servir à visão de Shakespeare, deve-se transcender o comentário
sociopolítico (2010, p. 17). Na mesma linha, Bates ( 2010, p. 10) argumenta
que o interesse de Taymor pela dinâmica das relações entre os personagem,
pela poesia, pela música, pela visão do dramaturgo, pelas cores e texturas
do ambiente, impediria uma leitura politicamente correta. A explicação
parece-me deficiente. Como saber qual a visão política de Shakespeare,
especialmente em peça com tão multifacetadas visões de mundo? Mesmo
que fosse possível responder a tal pergunta, o filme, sendo “fiel” à visão do
autor, não estaria fugindo ao compromisso de apresentar uma
reinterpretação do texto, que o próprio Bates, na mesma página, (p. 10)
afirma ser essencial?
Outro ponto problemático do filme é o relacionamento entre
Próspera e Miranda. Em sua introdução ao roteiro, Julie Taymor alega que
os sentimentos da mãe pela filha são totalmente diferentes dos do pai; não
há rivalidade com o pretendente, nem honra manchada quando Caliban
tenta estuprar a jovem. O próprio filme não mostra essas diferenças. Próspera
desempenha o mesmo papel que Próspero, ou o das mães nas sociedades
patriarcais. Tal como as mulheres de outros tempos, ela, embora mulher,
serve de instrumento à submissão dos jovens à ordem falocêntrica. Como
a Portia do Mercador de Veneza, Miranda é forçada a subordinar seu desejo
à vontade paterna, e à da mãe, sua representante. Próspera impõe a
Ferdinando, o futuro genro, idênticas provações às engendradas por
Próspero. Para manter o interesse do príncipe, dificulta seu acesso a Miranda:
this swift business/ I must uneasy make, lest too light winning/ Make the prize light (1,
2, p. 73 do roteiro). Insiste acidamente na castidade dos jovens até o
casamento, condição para assegurar a união, recuperar o ducado, e, com
ele, perpetuar o regime patriarcal que vitimara a própria Próspera: segundo
o roteiro, ela foi privada do poder em parte por ser mulher. Entretanto,
como os antigos patriarcas, ela exige da filha obediência incondicional. Não
tolera uma palavra da jovem em favor do pretendente: My foot my tutor (…)
Silence, one word more/ Shall make me chide thee, if not hate thee. (1. 2; p. 73 do
roteiro). A propósito, a exigência de virgindade, mantida por Próspera,
repete a postura machista, explicitada por Ferdinando no primeiro encontro
com Miranda: My prime request/ Which I do last pronounce, is (O you wonder!)/If
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 30
you be maid or no? (1. 2; p. 70 do roteiro). Próspera ratifica a exigência,
acompanhando-a de ameaças ao príncipe: If thou dost break her virgin- knot
before/All sanctimonious ceremonies/No sweet aspersion shall the heavens let fall/To
make this contract grow (4. 1; p. 132 do roteiro).
Outras objeções têm sido levantadas pela crítica feminista a A
tempestade de Shakespeare. Seria razoável esperar que, por ser mulher, Julie
Taymor, ao adaptar a peça, se mostrasse mais crítica em relação a certas
questões, visíveis em pistas textuais ideologicamente questionáveis. A cineasta
não o faz. Conserva inalterada, por exemplo, a alusão à tentativa de estupro
perpetrada por Caliban, algo que, segundo Ania Loomba, além de dar
suporte ao mito do estuprador negro – construção ficcional que legitima
mitos racistas e ignora a sexualidade da mulher branca, apresentando-a
como invariavelmente passiva.
Ania Loomba acrescenta que Próspera conserva também a
linguagem misógina e racista de Próspero. Refere-se a Sycorax como foul
witch (1, 2, p. 49 do roteiro), enfatizando tanto sua origem não européia (a
bruxa nasceu na Argélia) quanto sua maternidade ilegítima: This blue-ey´d hag
was here brought with child (1, 2, p. 49 do roteiro) Mantém-se o violento
contraste entre a bruxa negra e a branca, virginal e obediente Miranda. As
duas representam a dupla face do estereótipo patriarcal da mulher:
prostituta/bruxa ou virgem/deusa. (A propósito, depois de assegurar-se
de sua virgindade, Ferdinando chama Miranda de “deusa” (LOOMBA,
2000, p. 326, 327, 328).
Loomba observa ainda que Miranda, única mulher na ilha é “a
mais solitária das heroínas renascentistas”. As duas outras personagens
femininas brevemente mencionadas são a mãe da jovem e Claribel, filha do
rei de Nápoles. A mãe de Miranda é lembrada apenas por ter sido a piece of
virtue, e assegurado ao marido a prole legítima. Por sua vez, Claribel, vítima
da tirania patriarcal, viu-se forçada a casar com um negro que lhe causava
repulsa. O texto confirma tanto o racismo quanto a opressão da mulher :
[t]he fair soul oscillated between loathness at this union and obedience to her father (2, 1).
Submissa como Claribel, Miranda serve de pretexto para legitimar as ações
do pai. Tal qual ele, Próspera atribui o exercício de sua arte mágica à
preocupação com a filha (1, 2). Justifica a escravização de Caliban com a
tentativa de estupro. Como seu antecessor masculino, exige de Miranda
total atenção e obediência. Quando lhe conta a história de sua vida antes do
exílio na ilha, sua fala é pontuada de intimações, sit down, obey and be attentive,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 31
marke me. Miranda recebe ordens até para adormecer, ou acordar, falar,
calar… Propriedade do pai, continua sendo da mãe. No filme de Taymor,
como no texto shakespeariano, a jovem é objeto de troca, transmitido ao
noivo para assegurar a continuidade da dinastia e a volta a Nápoles. Then,
as my gift, and thine own acquisition/Worthily purchased, take my daughter (4.1; p.
130 do roteiro). Embora a filha afirme não gostar de contato com Caliban,
a mãe a obriga a defrontar-se com ele, pois precisam do trabalho do escravo.
Próspera repete as palavras de Próspero: We cannot miss him: he does make our
fire… (1.2; p. 55 do roteiro). Querendo ou não, Miranda faz parte da empresa
colonizadora e, ao reforçar a servidão do escravo, fortalece todo o sistema,
inclusive o papel subordinado que, como mulher, desempenha nele.
A despeito de todas essas ressalvas, não se pode deixar de observar
que, do ponto de vista da crítica feminista, a mudança de gênero acrescenta
um único ponto, aliás, muito importante, ao filme de Julie Taymor. Refiro-
me à ênfase na figura de Próspera como bruxa. O fato tem importantes
ressonâncias históricas, que repercutem até no imaginário contemporâneo.
Nesse sentido, urge lembrar as perseguições a indivíduos – de ambos os
sexos – acusados de bruxaria na Idade Média e entre os séculos XIV e
XVIII com acentuada preponderância, até hoje não explicada, de mulheres
entre as vítimas. Atualmente, os historiadores, entre outras razões, atribuem
esses acessos de histeria coletiva, que vitimaram mais de cem mil indivíduos,
a uma longa história de ataques da Igreja contra a heresia. O papel significativo
representado por mulheres em algumas heresias pode ter contribuído para
o estereótipo da bruxaria como algo tipicamente feminino. O fato é que,
apesar de as proporções variarem de acordo com a região e a época, cerca
de três quartos dos condenados por bruxaria foram do sexo feminino. Em
Salem, na Nova Inglaterra do século XVII, por exemplo, foram enforcadas
14 mulheres, contra apenas 5 homens10. Na verdade, se muitos dos teóricos
do passado não eram misóginos, outros certamente o foram, sobretudo
os autores do infame Malleus maleficarum, espécie de manual para identificação
de bruxas, publicado em 1487.
Ainda assim, contrariando a visão popular, a maioria dos
especialistas hoje afirma que as perseguições não tiveram causas políticas
ou sexistas, não resultaram da emergência do capitalismo, nem de mudanças
na estrutura familiar ou no papel da mulher na sociedade. Entretanto,
inegavelmente, por mais de três séculos, a crença na existência de bruxas
integrou a visão de mundo até de pessoas cultas e esclarecidas. A persistente
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 32
imagem, na consciência popular e no folclore, da mulher temível, com
poderes e saberes sobrenaturais, tem oferecido amplo material para obras
de ficção, inclusive no cinema e na televisão.
Nos tempos modernos, uma forte reação em sentido contrário
vem reabilitando a imagem da bruxa, pelo menos no imaginário feminino.
O nome tornou-se quase um elogio, sugerindo uma mulher independente,
evoluída, poderosa, sedutora e sábia. Uma mulher, enfim, semelhante a
Próspera, líder determinada, chefe inconteste, que, como seu alter-ego masculino,
enfrenta inimigos, tempestades, forças adversas e reconquista o poder.
Helen Mirren como Próspera em A tempestade de Julie Tamor
Fonte: www.latimesblogs.latimes.com
Diante dessas associações, a transformação de Próspero em Próspera
adiciona, finalmente, um toque feminista a A tempestade de Julie Taymor, por
muito que, sob outros aspectos, o filme não faça justiça ao múltiplo talento de
sua criadora.
Notas
1
Sobre o filme de Jarman ver http://jclarkmedia.com/jarman/jarman03tempest.
html, acesso em 14 nov. 2011.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 33
2
Sobre o estilo camp, e a visão de Susan Sontag a respeito, ver ECO, Umberto. On
ugliness. New York: Rizzoli, 2007, p. 213, 411, 417.
3
Ver, a propósito, BUCHANAN, Judith. Cantankerous scholars and the production
of a canonical text: The appropriation of a Hieronymite space in Prospero´s Books.
STALPAERT, Christel (ed). Peter Greenaway´s Prospero´s Books. Critical essays. Ghent
University: Academia Press, 2000, p. 43-100.
Alessi, Júlio. A intermidialidade no cinema de Peter Greenaway : uma análise intermidiática
do filme Prospero’s Books. 2011. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de
Minas Gerais, Escola de Belas Artes, 2010.
4
Para a crítica a respeito de Titus ver http://topics.nytimes.com/topics/reference/
timestopics/people/t/julie_taymor/index.html. Acesso em 04/11/2011; BURT,
Richard. Shakespeare and the holocaust: Julie Taymor’s Titus is beautiful, or Shakesploi
meets the camp. Colby Quarterly. Volume 37, n.1, March 2001, p. 78-106. Disponível
em: http://digitalcommons. colby.edu/cq/vol37/iss1/7 . Acesso em: 05 jul. 2012. The
Observer. Bard at his bloodiest In Julie Taymor’s Titus. Disponível em: http://
observer.com/2000/01/bard-at-his-bloodiest-in-julie-taymors-titus/. Acesso em 05
jul. 2012. The New York Times. Disponível em: http://movies.nytimes.com/movie/
review?res, acesso em 05 jul. 2012.Também http://moviessansfrontiers.
blogspot.com.br/2006/12/24-us-director-julie-taymors, acesso em 5 jul. 2012.
5
BATES, Jonathan. Enter Ariel, invisible. TAYMOR, Julie. The Tempest. Adapted
from the play by William Shakespeare. New York: Abrams, 2010, p. 7-11.
6
Sobre as críticas à Tempestade de Julie Taymor, ver http://blog.moviefone.com/
2010/10/02/the-tempest-review-nyff/, acesso em: 04 jul. 2012; http://
www.newyorker.com/online/blogs/movies/2010/12/julie-taymor-the-
tempest.html#ixzz1yAwlz4OW, acesso em: 05 jul. 2012, também http://
topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/t/julie_taymor/
index.html, acesso em: 07 jul. 2012.
7
“The first thing I do when I’m creating, either for stage or for cinema, is to find the
idiograph of the story. Which is the one, simple expression that can tell everything.
And at the same time be recognizable for the audience. “ Julie Taymor, entrevista
concedida em fevereiro 2008, na 31ª edição do Göteborg International Film Festival,
disponível no endereço http://subtitlestocinema.wordpress.com/2008/09/02/oh-
girl-a-talk-with-julie-taymor/, acesso em 07 jul. 2012.
8
TAYMOR, Julie. The tempest. Adapted from the play by William Shakespeare. New
York: Abrams, 2010.
9
“a diving board to a whole new appreciation of the play” (TAYMOR, 2010, p. 14).
10
Para a discussão da complexa questão da bruxaria, ver, na Encyclopaedia Brittanica,
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/646051/witchcraft/214883/The-
witch-hunts. Acesso em: 07 jul. 2012.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 34
REFERÊNCIAS
ALESSI, Júlio. A intermidialidade no cinema de Peter Greenaway: uma análise
intermidiática do filme Prospero’s Books, com 2 DVDs. Dissertação de
mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes,
2010. Disponível em : <http://hdl.handle.net/1843/JSSS-8FFMCK>.
Acesso em: 13 maio 2011.
ANDEREGG, Michael. Greenaway´s baroque mise en scène at the
imaginative centre of Shakespeare´s The Tempest: a hypertextual recapitulation
of the rivalry between Ben Jonson and Inigo Jones? Peter Greenaway´s
Prospero´s Books. Critical essays. In: STALPAERT, Christel (Ed). Ghent
University: Academia Press, 2000, p. 101-119.
BATES, Jonathan. Enter Ariel, invisible. TAYMOR, Julie. The Tempest.
Adapted from the play by William Shakespeare. New York: Abrams, 2010,
p. 7-11.
BLUMENTHAL, Eileen, TAYMOR, Julie, MONDA, Antonio. Julie Taymor:
playing with fire. New York: Harry N. Abrams, 2007.
BUCHANAN, Judith. Cantankerous scholars and the production of a
canonical text: the appropriation of a Hieronymite space in Prospero´s Books.
Peter Greenaway´s Prospero´s Books. Critical Essays. In: STALPAERT, Christel
(ed). Ghent University: Academia Press, 2000, p. 43-100.
BURT, Richard (2001) Shakespeare and the Holocaust: Julie Taymor’s Titus
is beautiful, or Shakesploi meets the camp. Colby Quarterly, Volume 37, no.1,
March 2001, p.78-106. Disponível em: http://digitalcommons.colby.edu/
cq/vol37/iss1/7. Acesso em: 05 jul. 2012.
GREENAWAY, Peter. Prospero’s Books: A film of Shakespeare’s The Tempest.
New York: Four Walls Eight Windows. 1991.
LANIER, Douglas. Drowning the book. Prospero´s Books and the textual
Shakespeare. BULMAN, James C. (Ed.) Shakespeare, theory and
performance. London: Routledge, 1996, p. 187-209.
LOOMBA, Ania. Gender, race, Renaissance drama. GRAFF, Gerald and
PHELAN, James (eds) The Tempest. A case study in critical controversy. Boston
and New York: Bedford/St.Martin´s, 2000, p. 324-336.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 35
TAYMOR, Julie. The Tempest. Adapted from the play by William
Shakespeare. New York: Abrams, 2010.
THOMPSON, Ann. “Miranda, where´s your sister?” Reading Shakespeare´s
The Tempest. . GRAFF, Gerald and PHELAN, James (eds) The Tempest. A
case study in critical controversy. Boston and New York: Bedford/St.Martin´s,
2000, p. 337-347.
THE FILMS of Derek Jarman. Disponível em: http://jclarkmedia.com/
jarman/jarman03tempest.html, acesso em 4 nov. 2011.
THE NEW YORK TIMES. Julie Taymor. Disponível em: http://
topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/t/julie_taymor/
index.html. Acesso em 04 nov. 2011.
THE NEW YORK TIMES. Julie Taymor´s Titus. Disponível em:
http://movies. nytimes.com/movie/review?res. Acesso em: 05/07/2012.
THE OBSERVER. Bard at his bloodiest in Julie Taymor’s Titus http://
observer.com/2000/01/bard-at-his-bloodiest-in-julie-taymors-titus/
.Acesso em 05 jul. 2012.
Solange Ribeiro de OLIVEIRA
Livre docente da Universidade de Londres. Doutora e livre docente pela
UFMG. Professora aposentada da Universidade Federal de Ouro Preto e
professora voluntária da Universidade Federal de Minas Gerais.
Artigo recebido em 01 de setembro de 2012.
Aceito em 11 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 36
THE TEMPEST AS INTERTEXT
IN NOVELS BY WOMEN
Maria Clara Versiani Galery
mclara.galery@gmail.com
Abstract: This paper addresses how Resumo: O presente trabalho
female characters are re-imagined in discute como personagens femininas
works where Shakespeare’s The são reimaginadas em obras onde a
Tempest appears as a hypotext. It peça shakespeariana A tempestade está
focuses specifically on three novels presente como hipotexto. Aborda
produced in the late twentieth três romances específicos do final do
century: Indigo, Or Mapping the Waters, século vinte: Indigo, Or Mapping the
by the British writer Marina Warner; Waters, de autoria da escritora
Plainsong, by the Canadian expatriate britânica Marina Warner; Plainsong, da
author Nancy Huston; and No autora canadense expatriada Nancy
Telephone to Heaven, by the Jamaican Huston; e No Telephone to Heaven, da
Michelle Cliffs. It compares the jamaicana Michelle Cliff. Compara
different strategies of appropriation as diferentes estratégias com que
of Shakespeare by these writers; the autoras apropriam-se de Shakespeare
essay also discusses the manner em suas obras; o trabalho tam-bém
through which they negotiate with discute a maneira com que as autoras
and recover the voice of women in negociam e resgatam a voz feminina
the play, thus promoting new na peça, promovendo novas
possibilities of reading the canon possibilidades de leitura do cânone
within the realm of post-colonial no âmbito dos estudos pós-
studies. coloniais.
Keywords: Shakespeare appropriation. Intertext. Novel. Women’s
writing. Post-colonial studies.
Palavras-chave: Apropriação de Shakespeare. Intertexto. Romance.
Escrita feminina. Estudos pós-coloniais.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 37
This isle is full noises, so they say, and Sycorax is the
source of many.
Marina Warner, Indigo
Captive. Ragôut. Confused. Jamaican. Caliban
Carib. Cannibal. Cimarron.
Michelle Cliff, No Telephone to Heaven
At that moment, said Miranda, our people were
defeated forever.
Nancy Huston, Plainsong
In the preface to the volume of essays, “The Tempest” And Its Travels,
Peter Hulme and William H. Sherman describe Shakespeare’s romance as
not only “a source of inspiration and provocation for writers and artists”,
but also as “one of the most contested texts in the critical sphere” (HULME;
SHERMAN, 2000, p. xi). Partly because it challenges conventional
classification, this play occupies a place of prominence in Shakespearean
scholarship, with a complex history of performances, editions, adaptations,
rewritings and critical interpretations. From the perspective of postcolonial
studies, allusions have been drawn between the figures of Prospero, Caliban
and the overall scheme of colonization and imperialism, underscoring the
idea of how the shipwrecked, exiled former duke of Milan, arrived at the
island and became its ruler, while making the original inhabitants his slaves.
Ania Loomba points out that, when The Tempest was created, based
on the story Shakespeare “found in certain pamphlets about a shipwreck in
the Bermudas”, his greatest contribution “was to make the island inhabited
before Prospero’s arrival.” Loomba offers here the interesting idea of
allegory, pointing out how “that single addition turned the adventure story
into an allegory of the colonial encounter” (LOOMBA, 2001, p. 2). Allegory
is an important strategy in postcolonial discourse because, as Sephen Slemon
argues, it “becomes a site upon which post-colonial cultures seek to contest
and subvert colonialist appropriation through the production of a literary,
and specifically anti-imperialist, figurative opposition or textual counter-
discourse” (SLEMON, 1987, p. 11).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 38
This paper proposes to examine three novels authored by women
where The Tempest is appropriated as an intertext, and to discuss how
Shakespeare’s female characters are given voice in these re-visions of the
canon: Marina Warner’s Indigo, Or Mapping the Waters (1993); Michelle Cliff ’s
No Telephone to Heaven (1989); and Nancy Huston’s Plainsong (1993). The
term “re-vision” here refers to a task proposed by the American poet
Adrienne Rich in the essay “When We Dead Awaken”, where she speaks of
re-vision as “the act of looking back, of seeing with fresh eyes, of entering
an old text from a new critical direction”, adding that re-vision “is for us
more than a chapter in cultural history: it is an act of survival” (RICH,
1975, p. 167). This procedure, so concisely phrased, seems to answer a
question put forward by the Shakespearean scholar Ann Thompson as to
the task of the feminist critic when confronted with “a male-authored
canonical text which seems to exclude women” (THOMPSON,1991, p.
46-7). Here, Thompson was referring specifically to The Tempest. Re-visioning
the play is a form of negotiating with and recovering the agency women
are denied in a work where, for many centuries, patriarchal discourse silenced
the voices of female characters.
One way in which feminist critics work with Shakespeare is by
interrogating the question of female agency in the plays and locating in
them the possibility of women’s resistance or even subversion. This is done
by examining the text’s discontinuities, ellipses and reticences, recovering
voices that are only marginally represented or, in some instances, completely
abandoned. Sometimes even the names of female characters become
powerful touchstones for a counter-discursive practice that contests and
subverts the marginal status of women in Shakespeare’s plays, proposing
new subject positions to the female roles.
Of absences and silences
The Tempest is, on the whole, notorious for its absence of female
voices. In the list of characters, the name of only one woman appears: that
of Miranda, Prospero’s daughter, who came to the island with him as a
young child when her father was forced to leave Milan. But there are two
other women who, in spite of never actually stepping on stage, are nonetheless
important in the dispute for power and territory which sets the background
for Shakespeare’s play. These absent female characters are Sycorax, Caliban’s
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 39
mother; and Claribel, daughter of the man who usurped Prospero’s dukedom.
Let us consider two instances where the voices of female characters in the play
have been silenced by the discursive practices related to patriarchy. In the Arden
text of The Tempest, edited by Virginia Mason Vaughan and Alden T. Vaughan,
the editors comment on Miranda’s articulate and forceful lines, where she
rebukes Caliban for his jocular remark of how, had he not been prevented
from raping her, he would have “peopled” the “isle with Calibans”:
Abhorred slave,
Which any print of goodness wilt not take,
Being capable of all ill; I pitied thee,
Took pains to make thee speak, taught thee each hour
One thing or other.
(1.2.352-54)
Vaughan and Vaughan point out how this reply to Caliban, which
belongs to Miranda in the Folio, was attributed to Prospero, from the
Restoration to the early twentieth century. In their introduction to the play,
the editors comment on how, beginning with Dryden and Davenant, this
speech was “re-assigned” to Prospero for reasons of decorum, in the sense
that it did not seem proper for a young woman to speak in this manner. In
the mid-eighteenth century, Vaughan and Vaughan note, “Lewis Theobald
contended, for example, that it would be ‘an Indecency in her to reply to
what Caliban was last speaking of [...] i.e., attempted rape” (quoted in
VAUGHAN & VAUGHAN, 1999, p. 135). Other arguments were also
presented to justify the attribution of the verses to Prospero, such as that
the verbal style, the tone and choice of words were allegedly more
characteristic of Prospero than of Miranda. Furthermore, some critics
doubted whether the young Miranda would have really taught Caliban how
to speak. Significantly, Caliban’s eloquent reply consists of the verses often quoted
in the body of criticism associated with post-colonial studies of The Tempest:
“You taught me language, and my profit on’t/Is I know how to curse” (1.2.364).
Is his rebellion directed against the father or the unattainable young woman?
This example reveals how the cultural context in which the text
was read and performed denied voice and agency to Miranda in the play. It
also enhances the relevance of re-assessing her role in readings of the play
associated with post-colonial theories. Another significant instance where a
similar erasure of female subjectivity occurs in The Tempest takes a palimpsest-
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 40
like character, as an earlier text is erased to make room for a newer one.
The earlier text in question is Ovid’s Metamorphoses, specifically Medea’s chant,
the source behind Prospero’s words when he renounces his power. As
Jonathan Bate and other critics have demonstrated, Shakespeare was well
acquainted with Arthur Golding’s 1567 translation of Ovid and drew freely
from this translated version: the verses in Act 5, which begin “Ye elves of
hills, brooks, standing lakes and groves,” are indebted to Medea’s speech in
Book VII of the Metamorphoses. Marina Warner comments on the use
Shakespeare makes of the classical source, observing that, “as is well known,
Prospero does not speak his own words here, but borrows from the
incantation that Ovid gives the sorceress Medea in the Metamorphoses, a poem
that Shakespeare drew on so richly and deeply in manifold ways …”
(WARNER, 2000, p. 100). Warner also makes a compelling case for the
identity between Medea and Sycorax, by demonstrating how the latter
belongs to a tradition of the feminine grotesque in literature which includes
Circe and Medea, “two of the most notorious witches of antiquity”
(WARNER, 2000, p. 100). She points out, for instance, how Medea was
known as the “Scythian Raven”, an epithet that indicates a possible
etymological identity between Sycorax and Medea, since “korax” is a Greek
term for “raven”.
The identification of Medea with Sycorax has interesting
implications in what concerns the silencing of Caliban’s mother in the play.
When Prospero renounces his magic, the verses he speaks are, according to
Stephen Orgel, a “powerful literary allusion” and also a “close translation”
of Medea’s words. Orgel further adds that “Prospero has incorporated
Ovid’s witch, prototype of the wicked mother Sycorax,” and that his powers
are “revealed as translation and impersonation” (ORGEL, 2002, p. 183).
For if Sycorax is an echo, a reconfiguration of the earlier witch, then
Prospero’s appropriation of Medea’s words is also an appropriation of
those of Sycorax. In this manner, we might assume that, as well as having
usurped the island that belonged to Caliban’s mother, Prospero has also
stolen her words and magic, which are used in the play to secure the order
of patriarchy.
Rewritings of The Tempest aligned with a feminist perspective which
gives voice to female characters in the play appear at a time when postcolonial
readings focused on the relationship between Prospero and Caliban seemed
to have reached a point of exhaustion, signaling a decline in the play’s
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 41
pertinence to postcolonial writers (CARTELLI, 1999, p. 119). But in the
last thirty years or so attention has been re-directed to the female characters
and the figure of Sycorax in particular has attracted a lot of critical interest.
It is from the late 1980s onward that “womanized” novels such as Warner’s
Indigo, Or Mapping the Waters; Cliff ’s No Telephone to Heaven; and Huston’s
Plainsong are written, re-articulating the voices of women in the play. These
three novels are authored by women coming from very diverse backgrounds
but sharing a transnational experience: Warner, born in Britain, was raised
both in Belgium and Egypt; Cliff, Jamaican, studied in Britain and now
lives in California; Huston, originally Canadian, has lived in France for over
twenty years, writing both in English and French. Their works bring the
issue of gender to the foreground, in distinct explorations of the relevance
of The Tempest to the female experience of colonization.
Undermining Prospero’s book
Warner is the author of various works of fiction, as well as books
about symbolic and mythological worlds, such as her detailed study of
fairy tales and their narrators, From Beast to Blonde, a work that re-asserts the
importance of women in the oral tradition. In Indigo, Warner creatively
reconfigures Shakespeare’s “foul witch” in line with a different ideological
framework, turning her into one of the central characters in the narrative:
Sycorax’s voice is restored and her magical powers are also recovered, no
longer viewed as black magic but as a power linked to both wisdom and
healing. History, fiction and autobiography are imbricated in the novel, for
the socio-political context in which the plot unfolds includes the colonization
of two fictional Caribbean islands, Liamuiga and Oualie, which corresponds
to the historical occupation of St. Kitts and Nevis, in the West Indies, by
one of the author’s ancestors, Sir Thomas Warner, the first European to
inhabit St. Nevis, thus initiating its British colonization in the seventeenth
century. Through the references she makes to The Tempest, Warner finds a
means of articulating the violence executed by her forefathers in the process
of occupying the Caribbean islands. Warner herself admits that because her
“family was involved in an enterprise that so resemble[d] Prospero’s theft,
that foundation act of Empire, [she] felt compelled to examine the case,
and imagine, in fiction, the life and culture of Sycorax, and of Ariel, and
Caliban” (quoted in SANDERS, 2001, p.140).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 42
Steven Connor considers that “Indigo is more of an improvisation
upon its original than an attempt to translate it” (CONNOR, 2001, p. 186).
Expanding on this metaphor, it is conceivable to think of the relationship
between Indigo and its Shakespearean intertext as a jazz improvisation with
variations on a theme, but where Warner, instead of exploring musical
scales, navigates a course determined by a sequence of colours. Entangled
in various narratives, texts and intertexts, the work presents a complex system
of internal divisions, characterized by different parts and segments. The
first level is introduced by the stories narrated by Serafine, a character who
is a black servant and shares an identity with Shakespeare’s Sycorax. She
permeates the narrative: her stories, embedded in the oral tradition of the
Caribbean, foreground certain ideas developed in Indigo even though they
might seem disconnected from what comprises its “main” plot; some of
these issues involve the struggle of the slaves, the culture of the islanders,
and the unarticulated voices of women. Serafine’s oral tales, which frame
the narrative, are contrasted to and undermine the authority of Prospero’s
books. The next level consists of six parts, each designated by the name of
a colour and a corresponding tone or nuance: Lilac/Pink; Indigo/Blue;
Orange/Red, Gold/White, Green/Khaki and Maroon/Black. These parts
of the novel are further divided into chapters.
Equally elaborate is the novel’s relation totime, as there are two
narratives that take place in different chronological periods: the first occurs
in London in the late 1940s and continues up to the 80s, alternating between
Europe and the Caribbean; the other takes place in the isles of Liamuiga
and Oualie during the colonization of the region in the seventeenth century.
But the different periods are also juxtaposed and enmeshed: while the past
appears as though filtered through the lens of the twentieth century, the
latter also bears the scars of colonialism. The figure of Sycorax, whether
physically present or merely invoked, provides continuity between the
seventeenth and twentieth century sections of the novel. Whereas linear and
progressive time is characteristic of the European project of colonization,
the indigenous islanders experience time “as a churn or a bowl, in which
substances and essences were tumbled and mixed, always returning …”
(WARNER, 1993, p. 122). Connor further points out that the linear,
progressive view of time is associated with a myth of origins, where the
colony was viewed as a “tabula rasa, an empty field of possibility.” In this
manner, the history of those who were already in the colonized land is
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 43
obliterated, and the violence by means of which this erasure occurs often
concealed (CONNOR, 2001, p. 189-90).
During the twentieth century, the focus of the narration is the story
of Miranda, from childhood to adult life. She is the granddaughter of Sir
Anthony Everard, a descendent of the man who “discovered” and occupied
Liamuiga in the name of England in 1619. Before his arrival, the island
belonged to Sycorax, a wise woman and healer, specialist in the preparation
of the indigo dye. She was banished from her village for having transgressed
the customs of her people when she dug up the corpse of an African
woman to rescue, from her womb, a baby boy who was still alive. The tide
had brought to Liamuiga the chained bodies of African slaves thrown
overboard from a slave ship crossing the Atlantic. Before the cremation
that would cleanse the pollution caused by their arrival, the islanders had
prepared and buried the bodies in a temporary grave. But on the eve of the
ritual of purification, Sycorax heard the dead speak among themselves and
went out alone to dig up the corpse of a pregnant woman, delivering an
African baby whom she named Dulé. This child would later be renamed
Caliban, by the British occupiers of Liamuiga.
Exiled, Sycorax also adopts a native girl from the coast of Surinam
who had been abandoned on the islands. She comes to love this girl, Ariel,
possessively and unconditionally, raising her in isolation along with Caliban,
and teaching her the art of making dye and curing with plants. The
relationship between Sycorax and Ariel recalls Prospero’s care of Miranda
in The Tempest. Because of her magic powers and the role she fulfills as
guardian of Ariel and Caliban, an analogy may be established between
Indigo’s Sycorax and Shakespeare’s Prospero. But Prospero is also present in
the figure of Kit Everard, the European who invades the island in Warner’s
novel, taking it away from Sycorax, in a manner similar to what happens in
The Tempest.
The symmetrical structure of correspondences in Warner’s re-vision
of Shakespeare establishes a tension between similarity and difference with
the source text(s) she appropriates. As the British novelist rewrites her sources,
she puts into practice a critical perspective in relation to the past and to
historiography. The presence of The Tempest as an intertext is declared in the
manner through which the author rewrites the characters she borrows from
Shakespeare, making her references explicit, re-phrasing Shakespeare’s words
and even quoting fragments from the play, such as “This isle is full of
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 44
noises, so they say, and Sycorax is the source of many” (WARNER, 1993,
p. 77). Towards the end of the novel, there is even a moment when Warner’s
Miranda walks into a rehearsal of The Tempest. She watches the second
scene of Act I, precisely the moment when Caliban is accused of the
attempted rape of Prospero’s daughter. Interestingly, in Warner’s novel, it is
the stage Miranda, rather than Prospero, who speaks the forceful lines:
“Abhorred slave,/Which any print of goodness wilt not take,/Being capable
of all ill” (WARNER, 1993, p. 387). Restoring these lines to Miranda, Warner
contests those patriarchal readings of the play that denied the only female
character in the play the agency to speak on her own behalf, in her own defense.
The Caliban/Miranda hybrid
Such direct references to Shakespeare’s play are less evident in
Michelle Cliff ’s No Telephone to Heaven and in Nancy Huston’s Plainsong. In
these two works, the presence of The Tempest takes a more allusive shape,
akin to that of an allegorical transformation of the Renaissance text, which
occurs by means of a counter-discursive appropriation and re-articulation
of the English canon. This is signaled, above all, by the authors’ references
to Caliban and Miranda in their novels, and to the meanings that these two
names have come to evoke.
In the essay “Caliban’s Daughter: The Tempest and the Teapot”,
where Michelle Cliff discusses some of the themes in her novels, she describes
the Caribbean people’s experience of being inscribed in the colonizer’s history
and of internalizing a history that was not theirs. She tells of her childhood,
when, in the colonial school for girls that she attended, she and her classmates
learned to sing:
Rule Britannia/Britania rules the waves
Britons never, never shall be slaves.
It is ironic that children, descendants of the African diaspora, should
sing this “sea chantey” and identify with lyrics that, according to the Jamaican
writer, “were sung by sailors plowing the Atlantic during the Middle Passage,
cutting south into the Caribbean on the Windward Passage” (CLIFF, 1991,
p. 36). This incident from her childhood illustrates an experience of
alienation, of assimilating the culture of the oppressor; it is an instance of
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 45
deterritorialization, that moment in language and literature signaled by
Deleuze and Guattari as a radical distanciation between signifier and signified;
as an estrangement of meanings and utterances. Cliff ponders on how to
reclaim one’s identity after years of the civilizer’s attempts to tame, to remove
all traces of “wildness” from the child. “When our landscape is so tampered
with,” she asks, “how do we locate ourselves?” (CLIFF, 1991, p. 37). As
she reflects on such issues, she refers to works such as Roberto Fernández
Retamar’s essay “Caliban”, as well as Aimé Césaire’s play, Une tempête, which
have radically rewritten Shakespeare’s play, making Caliban their protagonist.
According to Cliff, “the colonizer works against the constant danger of the
forest, of a landscape ruinate, gone to ruination” (CLIFF, 1991, p. 40, my
emphasis). She explains how these Jamaican terms signify the “disruption
of cultivation, civilization, by the uncontrolled, uncontrollable forest”, where
“carefully designed aisles of cane are envined, strangled, the order of empire
is replaced by the chaotic forest” (CLIFF, 1991, p. 40). This is Sycorax
salvaging the land, for, as Cliff explains, “the landscape of the Caribbean is
Caliban, the realm of his mother Sycorax, savage, witch – wildwoman”
(CLIFF, 1991, p. 41).
Such an acknowledgment of one’s pre-colonial identity is present
in No Telephone to Heaven, a novel with various autobiographical elements,
where the main character, Clare Savage, shares an identity with the author. It
should be noted that Cliff ’s novel dialogues not only with The Tempest but
also with Charlotte Brontë’s Jane Eyre. Whereas the former, rather than
providing the framework for a plot, lingers throughout the text residually,
the latter appears refracted through the lens of another Caribbean novel,
Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea, a work which gives voice to Bertha Mason, a
silenced character from the West Indies in Brontë’s novel. There is an often
quoted passage from No Telephone to Heaven, where Clare is reading Jane
Eyre. Jamaican by birth, Clare was abandoned by her mother and raised in
New York City by her father, a White Creole who tried to convince his
light-skinned daughter to “pass” as a white woman. As an adult, Clare
moves to London, to pursue a degree in Renaissance Studies. One night,
alone in her room, as she reads Jane Eyre, the temptation to merge her
subjectivity with Jane is strong. Tricked by fiction, she falls into an
identification circuit where she sees herself as the “motherless”, “solitary”
and “betrayed” Jane. But then she comes to and realizes her mistake:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 46
No, she could not be Jane. Small and pale. English. No, she paused. No,
my girl, try Bertha. Wild-maned Bertha. Clare thought of her father. Forever
after her to train her hair … Coming home from work with something
called Tame. She refused it; he called her Medusa … She held to her curls,
which turned kinks in the damp of London. Beloved racial characteristic …
Yes, Bertha was closer to the mark. Captive. Ragôut. Mixture. Confused.
Jamaican. Caliban. Carib. Cannibal. Cimarron … (CLIFF, 1989, p. 116)
In this passage, the racially mixed Clare explicitly identifies with
Caliban, the evocative metaphor in No Telephone to Heaven. However, as
Thomas Cartelli sees it, Clare is also a Miranda figure, a cross between
Miranda and Caliban:
Unlike the majority of those of her silent or silenced postcolonial sisters
who have been identified as socially or politically updated versions of The
Tempest’s Miranda, Clare Savage is presented as the self-determining agent
of her own education who, in the end, refuses to use the advantages of pale
skin and privileged class-standing either to “pass” or to deny the Caliban
within. (CARTELLI, 1999, p. 112)
Having acquired the colonizer’s culture, Clare is the rebellious
daughter of empire who refuses to accept the rules which will allow her the
privilege of white society; she consciously gives up this possibility and returns
to Jamaica, to engage in a guerrilla-like struggle for social change. The
experience she acquires while studying in London provides her with the will
to curse, Caliban-like, against the “civilized” west.
A similarly hybridized personage is found in Nancy Huston’s
Plainsong, where, in spite of being named Miranda, the Canadian First Nations
character in the novel has more clearly identifiable Calibanic attributes. Diana
Brydon considers this “conflation” of the two roles, Caliban and Miranda,
“an interesting but troubling innovation”: if, on the one hand, it allows for
the juxtaposition of “the usually disarticulated categories of gender and
race, colonizer and colonized,” on the other, the traditional association of
Miranda with the privilege of white society “clashes with the reality of a
native woman’s oppression” in Huston’s novel (BRYDON, 1999, p. 202).
Nancy Huston is an expatriate Canadian who lives in Paris and
writes both in French and English; similarly to Samuel Beckett, she is a self-
translator. Thus Plainsong is a work with the particularity of existing in two
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 47
languages, each with its own nuances. Interestingly, however, Plainsong is the
first novel written by the author originally in English; its “twin” version,
Cantique des plaines, won the Governor General’s Award for fiction in French
in Canada in 1993, with much repercussion in the Quebec press.
Aside from the métis character Miranda, a Native woman whose
grandmother had been raped by a white man, Huston’s novel dialogues
with The Tempest in other, less obvious ways. The Shakespearean intertext is
located, according to Brydon, “through [Plainsong’s] metaphoric arrangement
around musical motifs, its thematic arrangement around ‘the dark backward
abyss of time,’ its invocation of the magic of [the Caribbean], and its
organization around the lives of three central characters whose family
dynamics reflect the larger political issues of colonialism” (BRYDON, 1999,
p. 2000).
Plainsong is a novel that covers the lives of three generations of the
Sterling family in the Canadian province of Alberta, throughout the twentieth
century. The narrative voice belongs to a woman, Paula, who reinvents the
life of her grandfather, Paddon, by means of putting together and making
sense of scraps of paper and notes, “ancient pages” for a treatise of time,
a book that Paddon meant to write but was never able to accomplish. It is
thus Paula who writes P’s Book (HUSTON, 1999, p. 5). The central character,
Paddon – a Prospero figure –, is a bright and educated man struggling
against poverty and hardship in the Canadian Prairies, a man forced to
abandon his dream of writing a thesis about time to get married when
Karen, the woman he will live with for the rest of his life, gets pregnant.
They have very little in common and go through various crises. But Paddon
lives an intense and secret passion with Miranda, the woman who voices
the indigenous version of how the land of First Nations people was taken,
indicating the duplicity of the government and the violence perpetrated by
missionaries who destroyed the traditions of the Blackfoot people. She
leads Paddon into a re-assessment of his values and notions, thus
simultaneously enriching his life and deepening the conflicts he has with his
culture. Unlike Shakespeare’s Caliban, who profits from Prospero’s language
by learning to curse, Miranda abandons missionary school and refuses literacy.
But the eloquence of the verses “This island’s mine by Sycorax my mother”
(1.2.332), resonates in her outburst: “… this whole fucking area is our
property including the city of Montreal itself ” (HUSTON, 1999, p. 119).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 48
However, unlike No Telephone to Heaven, where the author and
the main character, Clare Savage, share a cultural identity, Huston’s novel
has been criticized for appropriation of voice, in the sense that a white
Canadian author speaks for the indigenous people, telling their stories and
expressing their opinions. According to Brydon, “Miranda is almost always
spoken for, and Paddon’s fragments of text are inherited, reinterpreted,
and rearranged by his granddaughter into an invented narrative …”
(BRYDON, 1990, p. 204). In Canada, the appropriation of Native material
in literature by non-Native writers is a controversial issue; the seizing of the
indigenous people’s legends is regarded as a continuing act of usurpation.
Thus the representation of a Native woman by a white Canadian has been
rendered problematic in critical reception of Plainsong.
In the three novels addressed here, the Shakespearean intertext is
most explicitly present in Warner’s Indigo, Or Mapping the Waters, where the
characters, besides sharing names with those of The Tempest, one finds quotes
and even a rehearsal for a performance of the play. Warner rewrites the
canon from a postcolonial perspective, an approach also present in both
No Telephone to Heaven and Plainsong. The three novels raise important issues
regarding cultural identity, empire and deterritorialization. In the last two
works, however, it is above all by means of the compelling allusions that
the names of Caliban and Miranda carry that the texts are read as re-visions
of Shakespeare; as Brydon observes, “The Tempest is both there and not
there as an intertext” (BRYDON, 1999, p. 211). All three novels are radical
transformations of The Tempest; all three draw on the names of Shakespeare’s
characters as powerful signifying matrices that re-affirm the enduring
relevance of the Renaissance play.
WORKS CITED
BRYDON, Diana. “Tempest Plainsong: Returning Caliban’s Curse.” In:
NOVY, Marianne (org.) Transforming Shakespeare: Contemporary Women’s
Revisions in Literature and Performance. New York: St. Martin’s Press,
1999. p. 199-216.
CARTELLI, Thomas. Repositioning Shakespeare: National Formations,
Postcolonial Appropriations. London and New York: Routledge, 1999.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 49
CÉSAIRE, Aimé. A Tempest: Based on Shakespeare’s The Tempest, Adaptation
for a Black Theater. Trans. Richard Miller. New York: Ubu Repertory Theater
Publications, 1985.
CAKEBREAD, Caroline. “Sycorax Speaks: Marina Warner’s Indigo and The
Tempest.” In: NOVY, Marianne (Org.) Transforming Shakespeare: Contemporary
Women’s Revisions in Literature and Performance. New York: St. Martin’s
Press, 1999. p. 217-35.
CLIFF, Michelle. No Telephone to Heaven. New York: Vintage, 1989.
CLIFF, Michelle. “The Tempest and the Teapot”. A Journal of Women’s Studies.
Vol. 12. No.2 (1991), p. 36-51.
CONNOR, Steven. The English Novel in History 1950-1995. New York:
Routledge, 2001.
DELEUZE, Gilles and Felix GUATTARI. Kafka: Toward a Minor
Literature. Trans. Dana Polan. Minneapolis and London: University of
Minnesota Press, 1986.
HULME, Peter and William H. SHERMAN. “Preface”. In: HULME, Peter
and William H. SHERMAN (org.). The Tempest and Its Travels. Cambridge:
Reaktion, 2000. p. xi-xiv.
HUSTON, Nancy. Plainsong. Toronto: McArthur & Company, 1999.
LOOMBA, Ania. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge, 2001.
LOOMBA, Ania. “The Colour of Patriarchy.” In: CHEDGZOY, Kate.
Shakespeare, Feminism and Gender. New York: Palgrave, 2001. p. 235-255.
NOVY, Marianne (Org). Women’s Re-Visions of Shakespeare: On the Responses
of Dickinson, Woolf, Rich, H.D., George Eliot, and Others. Urbana: Univ.
of Illinois Press, 1990.
ORGEL, Stephen. The Authentic Shakespeare and Other Problems of the Early
Modern Stage. New York and London: Routledge, 2002. p. 173-186.
RETAMAR, Roberto Fernández. 1989 . Caliban: Notes Toward a Discussion
of Culture in Our America. In: Caliban and Other Essays. Trans. Edward
Baker. Minneapolis: University of Minnesota Press. p. 3-45.
RICH, Adrienne. “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision”. In:
Adrienne Rich’s Poetry and Prose. New York: Norton, 1975. p. 166-77.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 50
SANDERS, Julie (Org.). Novel Shakespeares: Twentieth-Century Women
Novelists and Appropriation. Manchester and New York: Manchester UP,
2001.
SHAKESPEARE, William. The Tempest. The Arden Shakespeare. Ed.
VAUGHAN, Alden T.; VAUGHAN, Virginia Mason. Walton-on-Thames,
Surrey, 1999.
SLEMON, Stephen. “Monuments of Empire: Allegory/Counter-
Discourse/Post-Colonial Writing.” Kunapipi, 9(3):1-16.
THOMPSON, Ann. ‘Miranda, Where’s Your Sister?’: Reading Shakespeare’s
The Tempest. In:. SELLERS, Susan (Org). Feminist Criticism: Theory and Practice.
Toronto: Univ. of Toronto Press, 1991. p. 45-55.
VAUGHAN, Alden T.; VAUGHAN, “Introduction”. In: SHAKESPEARE.
William. The Tempest. The Arden Shakespeare. Walton-on-Thames, Surrey,
1999. p. 1-138.
WARNER, Marina. Circean Mutations in the New World. In: HULME,
Peter; SHERMAN, William H. (Orgs.) “The Tempest”and Its Travels. Cambridge:
Reaktion, 2000. p. 97-113.
WARNER, Marina. Indigo or, Mapping the Waters. London: Vintage Books,
1993.
ZABUS, Chantal. Tempests after Shakespeare. New York: Palgrave, 2002.
Maria Clara Versiani GALERY
Doutora pela Universidade de Toronto, Canadá. Professor Adjunto e
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da
Linguagem, da Universidade Federal de Ouro Preto.
Artigo recebido em 27 de setembro de 2012.
Aceito em 23 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 51
WHO’S AFRAID OF FEMALE SEXUALITY?:
PAULA VOGEL’S DESDEMONA,
A PLAY ABOUT A HANDKERCHIEF
Anna Stegh Camati
ascamati@gmail.com
Abstract: Shakespeare’s texts have been Resumo: Os textos de Shakespeare vêm
appropriated to serve multiple purposes sendo apropriados com objetivos
in different times and socio-cultural diversos em tempos e contextos
contexts, in a movement of transtextual socioculturais diferentes, em um
interplay of past and present that movimento transtextual de interação
demands continual adjustment to new entre passado e presente que demanda
circumstances, ideologies and cultural contínuos ajustes a novas circunstâncias,
imaginaries. His female characters, ideologias e imaginários culturais. Suas
neglected by traditional Shakespearean personagens femininas, negligenciadas
scholarship, have been rescued from pelos estudos shakespearianos tradicionais,
critical invisibility by feminist criticism foram resgatadas da invisibilidade crítica
since the 1970s and have assumed center pelos estudos feministas a partir de 1970,
stage positions in a number of assumindo posições de destaque em um
contemporary adaptations and grande número de adaptações e
appropriations. In Desdemona, A Play apropriações. Em Desdemona, uma peça
About a Handkerchief (1979), the sobre um lenço (1979), a dramaturga
American playwright Paula Vogel draws estadunidense Paula Vogel se inspira não
not only on Shakespeare’s Othello (1603- somente em Otelo (1603-1604) de
1604), but also on feminist critical Shakespeare, mas também em
approaches emerging at the time the play considerações críticas feministas que
was written, to reexamine male anxieties surgiram no tempo em que a peça foi
over female sexuality. In this paper, formal escrita, para reexaminar as preocupações
and thematic issues of Vogel’s parodistic masculinas a respeito da sexualidade
appropriation of Shakespeare’s tragedy feminina. No presente artigo, aspectos
will be examined in the light of formais e temáticos da apropriação
intermedial, intertextual and feminist parodística da tragédia shakespeariana
theoretical perspectives. serão examinados à luz de perspectivas
teóricas intermidiáticas, intertextuais e
feministas.
Keywords: Shakespeare. Paula Vogel. Intermediality. Intertextuality. Feminist
Criticism.
Palavras-chave: Shakespeare. Paula Vogel. Intermidialidade. Intertextualidade. Crítica
feminista.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 52
Introduction
Every writer creates his own precursors. His
work modifies our conception of the past, as
it will modify the future.
Jorge Luis Borges
Appropriation as an aesthetic and cultural phenomenon raises
questions of individual agency and authority. Christy Desmet and Robert
Sawyer (1999) argue that a founding text for adaptation/appropriation
studies is the essay “What is an Author?” (1969), inspired by the Bakthinian
concept of dialogism, in which Michel Foucault demystifies the concept of
authorship by arguing that all discourses are re-appropriations of the
discourse of (an)other (p. 4-5). They also point out that, in practice,
appropriation is both a creative and critical tool that manifests itself as a
dialogue between source and target-text to question or subvert values and
ideologies in a variety of forms and practices (p. 8).
The phenomenon of adaptation/appropriation has been
approached from different and, at times, contradictory theoretical positions.
Within the tradition of Shakespearean appropriation, Othello (1603-1604)
has been one of the most textualized plays in the form of criticism,
rewritings, parodies, prequels, sequels, translations, film and stage adaptations,
graphic novels, fan fiction, etc. Nevertheless, the trio female characters,
Desdemona, Emilia and Bianca, neglected by traditional Shakespearean
scholarship, has received due attention only after the 1970’s, when feminist
criticism and female creative writers rescued them from invisibility, reversing
their position from margin to center.
Desdemona, A Play about a Handkerchief (1979)1 is a pioneering text,
which deconstructs Shakespeare’s Othello, unfolding the action from the
perspective of the female characters. It was written by the American
playwright and university professor Paula Vogel2, first produced in 1993,
long before she won the Pulitzer Prize for Drama for How I Learned to
Drive (1997). Her revisionist gaze can be seen as an act of “parodistic
appropriation”, defined by Linda Hutcheon (1987) as “a major mode of
thematic and formal structuring, involving […] integrating modeling
processes. […] It marks the intersection of creation and re-creation, of
invention and critique” (p. 101).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 53
Vogel’s play served as inspiration and trigger for other female
appropriations that have taken Shakespeare’s text as material and source to
tell Desdemona’s story anew, among them Ann-Marie MacDonald’s Good
Night Desdemona, Good Morning Juliet (1998), in which the hypothesis that
Shakespeare’s tragedies Othello and Romeo and Juliet were originally comedies
is explored; Harlem Duet (2006), by Djanet Sears, a prequel of Othello that
“gives voice to otherwise occluded voices and writes back to a professional
stage history (closely associated with forms of Shakespeare production)
that tells of African exclusion from Western theatre” (KIDNEY, 2009, p.
71); and Desdemona (2011), by the Nobel Prize winning novelist Tony
Morrison, a plurimedial narrative of words, music and song, in which
Desdemona and her African nursemaid Barbary meet as equals in the afterlife
and talk back to Othello from the grave (SCIOLINO, 2011).
In his literary profile on Vogel, David Savran (1996) argues that she
tends to direct “her energies towards responding to, critiquing and
dismantling someone else’s work”, and that each of her plays “questions,
resists and teases a particular dramatic text and, more important, the text’s
guiding assumptions in regard to (among other things) gender, family, sexual
identity, love, sex, aging and domestic violence” (p. x).
She distinguished herself not only for her sensitive and honest way
of examining controversial issues, but also for her creative, highly imaginative
dramaturgy and stylistic variation from work to work, exploring devices
from several traditions, genres and media. In this paper, formal and thematic
aspects of Vogel’s Desdemona will be discussed, mainly the intermedial
cinematic references employed for structuration, creation of mood, tone
and pace, the intertextual dialogue with Shakespeare’s Othello, and the feminist
twist with which she deconstructs traditional readings of the bard’s text.
1 Intermedial References: Theatricalization of Cinematic Devices
in Desdemona
Play-texts display similarities with film-scripts in several aspects, and
stage plays can be compared to motion pictures since, like the movies, they
use sound effects, music, lighting, sets, props, costumes and other common
specificities. The rhyzomatic interconnections between these two arts of
multimedial complexity have been discussed by a number of theorists, who
investigate specific instances of the “in-between” situation, when the theatre
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 54
appropriates cinematic devices and cinema employs techniques developed
by theatre, highlighting tensions generated by media differences.
Vogel’s play-text (1994)3 is, in fact, a modern performance-script,
very similar to a film-script, providing detailed instructions for directors
about how to construct the scenes. She introduces and theatricalizes cinematic
devices in Desdemona, such as the use of short scenes, rapid dialogue,
accelerated pace and the production of stage images. In a short paragraph
entitled “Note to Director”, she recommends that in performance the action
must be speeded up in cinematic fashion: “Desdemona was written in thirty
cinematic “takes”; the director is encouraged to create different pictures to
simulate the process of filming: change invisible camera angles, do jump
cuts and repetitions, etc. There should be no blackouts between scenes” (p.
4, my emphasis).
This aspect of simulating the filming process, mentioned by Vogel,
is described by Irina Rajewsky (2010) as an intermedial phenomenon. She
claims that such practices can be denominated intermedial references
(intermediale Bezüge), for example, “references in a literary text to a specific
film, film genre or film qua medium (that is, so called filmic writing)” (p.
55). She further clarifies that as far as intermedial references are concerned,
cinematic devices are not present in a direct manner in playtexts, they are
“employed and fashioned in a way that corresponds to and resembles
elements, structures and representational practices” (p. 57) of the cinema,
thus creating the illusion of cinematic qualities. These manipulations of
cinematic medial specificities “entail material and operative restrictions that
can be played with, but cannot be undermined with the use of the respective
media-specific means and instruments” (p. 63), that is, theatre cannot become
genuinely cinematic. “What can be achieved in this respect is only an illusion,
an “as if ” of the other medium” (p. 63).
Vogel’s play-text opens with stage-directions (written in italics),
providing detailed descriptions for a prologue in the manner of film-scripts.
The motif of the handkerchief is introduced visually, right at the beginning,
to expose tensions over Othello’s acceptance of a piece of linen as visual
evidence or “ocular proof ” of Desdemona’s infidelity:
A spotlight in the dark, pin-pointing a white handkerchief lying on the ground. A
second spotlight comes up on Emilia, who sees the handkerchief. She pauses, and then
cautiously looks about to see if she is observed. Then, quickly, Emilia goes to the
handkerchief, picks it up, stuffs the linen in her ample bodice, and exits. Blackout. (p. 5)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 55
As in Shakespeare’s text, the handkerchief is the central pivot of
the action in Desdemona, but when isolated and pin-pointed visually in a
spotlight in the dark, it constitutes a frame of reference foreshadowing the
atmosphere of treason, lies, suspicion and slander that governs the narrative
a whole.
Visual elements are present in all thirty scenes or “takes”, as Vogel
calls them, and there are some takes that are entirely visual, among them 4,
18, 19, 24, 25, 28, 29 and 30. In take 4, class differences are highlighted
when we see Emilia scrubbing the bridal sheets stained with an old hen’s
blood (which had been used to dupe Othello as regards his wife’s virginity),
while “Desdemona lies on her back on the table, feet popped up, absent-mindedly fondling
the pick” (p. 10), on which she had stumbled in take 3. In the preceding
scene, she compared the pick to the male sexual organ: “Oh me, oh my –
if I could find a man with just such a hoof-pick – he could pluck out my
stone – eh, Emilia? (They laugh.) Emilia – does your husband Iago have a
hoof-pick to match? (Emilia turns and looks, then snorts.)” (p. 9). Emilia is
reluctant to reveal physical intimacies , but after Desdemona’s insistence,
she confidentially reveals: “The wee-est pup of the litter comes a’bornin’ in
the world with as much – (Desdemona laughs.) There. Is m’lady satisfied?” (p. 10).
In scene 18, we see Desdemona and Bianca exchanging intimacies,
drinking wine and laughing, while Emilia is sewing and visibly upset. In
scene 19, “Desdemona and Bianca try to control themselves. Then Desdemona holds up
the hoof-pick, and Bianca and Desdemona explode in raucous laughter. Emilia is furious”
(p. 30). These three mute scenes, discussed so far, highlight the hoof-pick
visually to undermine the myth of female chastity.
Scenes 28, 29 and 30 allude to Shakespeare’s “Willow Song” scene
(4.3). Emilia brushes Desdemona’s hair, counting the number of strokes.
The scenes are edited in cinematic fashion, with Emilia counting from one
to six, in scene 28; from forty-five to forty-seven, in scene 29; and from
ninety-seven to ninety-nine, in scene 30. Then, the two women freeze (p.
46). This tableau is followed by a blackout which foreshadows the tragic ending.
2 Feminist Critical Perspectives: Male Anxieties Regarding Female
Sexuality in Shakespeare’s Othello
Shakespeare’s texts allow contradictory readings that can be interpreted
for or against sexist ideologies. His complex attitudes towards women have
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 56
been investigated by feminist critics, who, rejecting all answers based on
metaphysical, essentialist or deterministic concepts, examine women’s status
as object within patriarchy in specific historical and theoretical contexts.
Juliet Dusinberre’s (1996) book on feminist criticism, first published
in 1975, inaugurated a critique of inherited male discourse about
Shakespeare’s women. She affirms that Shakespeare’s flexible moral vision
impelled him “to create passions without preconceptions” (p. 130),
complicating moral issues and subverting Puritan theories of binary
opposites, such as marriage/whoredom or love/lust. In this respect, to
illustrate the anxieties that troubled men during the early modern period,
Dusinberre refers to an incident in Othello, when the Moor treats Desdemona
as a whore:
Shakespeare is the only dramatist who understood what the Puritans meant
by restraint: that it was a way of differentiating in kind between marriage
and whoredom. […] When Puritans preached temperate sex in marriage
they wanted, by dissociating marriage from the heat of the brothel, to clarify
their conviction that being a wife owed nothing to the commerce of being
a whore. […] Marriage only offered a woman a better life than whoredom,
according to the Puritans, if her husband treated her as a partner instead of
a possession. In the drama violence is something a man may use towards
his whore because he has purchased her person; Othello’s striking of
Desdemona shocks Ludovico – ‘What, strike his wife?’ – because it denies
her a wife’s dignity. Some productions make the point having Cassio strike
Bianca for plaguing him. Intimidation makes a mockery of marriage.
(DUSINBERRE, 1996, p. 119-120, 126)
Valerie Wayne (1991) argues that, in Othello, Shakespeare evokes
cultural anxieties and explores the tensions between residual, dominant and
emergent discourses. Early modern discourses, says Wayne, continued to
incorporate residual medieval prejudices, showing the extent of male anxieties
about female sexuality and desire, as the misogynistic passage from The
Romance of the Rose, by Guillaume de Lorris and Jean de Meun, testifies:
All you women are, will be, and have been whores, in fact or in desire, for,
whoever could eliminate the deed, no man can constrain desire. All women
have the advantage of being mistresses of their desires. For no amount of
beating or upgrading can one change your hearts, but the man who could
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 57
change them would have lordship over your bodies. (LORRIS; MEUN,
quoted in WAYNE, 1991, p. 156)
Wayne (1991) claims that Iago’s rude conversation with Desdemona
(2.1.100-164), “associates him quite specifically with the residual Renaissance
discourse of misogyny” (p. 154). She makes clear that his banter reviling
women is a retextualization of medieval rhetoric found in books of courtly
love, proverbs, books of conduct and writings of church fathers, adapted
by Shakespeare for specific purposes in Othello, offering evidence that residual
misogynist thinking was still active in the cultural process of the early modern
period to restrict women’s agency and hold their sexual desire in check.
In my view, Othello’s soliloquy in Act III, scene iii (3.3.262-281)
which expresses his psychological turmoil after Iago’s calumnies and
malevolent insinuations, is also constructed according to residual discourses
on misogyny and fear of feminine sexuality:
OTHELLO
[…] She’s gone, I am abused, and my relief
Must be to loathe her. O curse of marriage
That we can call these delicate creatures ours
And not their appetites! I had rather be a toad
And live upon the vapour of a dungeon
Than keep a corner in the thing I love
For others’ uses. […] (3.3.271-277, my emphasis)
The soliloquy shows that Othello’s view of Desdemona is very far
from considering her a partner as Puritans preached in sermons; he laments
not being able to control her sexual desire (“her appetites”) and refers to
her as a possession, an object (“the thing I love”).
On the other hand, Wayne (1991) observes, Emilia’s alternative
discourse on women’s eroticism (4.3.83-104) shows that Shakespeare also
investigates the emergent discourses on women’s behalf that argue for
“equality on the grounds of similarity between the sexes” (p. 167).
[…] Let husbands know,
Their wives have sense like them; they see, and smell,
And have their palates both for sweet and sour
As husbands have. What is it that they do
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 58
When they change us for others? Is it sport?
I think it is. And does affection breed it?
I think it doth. Is’t frailty that does errs.
It is so too. And have not we affections?
Desires for sport? and frailty, as men have?
Then let them use us well: else let them know,
The ills we do, their ills instruct us so. (4.3.92-102)
In Desdemona, Vogel re-visions issues addressed by feminist critics,
in a perverse and subversive mode, calling into question values and ideologies
expressed by male characters in Othello. Her text is set in a context not very
far removed from the early modern period, referred to as “Ages ago” in
the play’s introductory notes (p. 4). As we shall see, tradition and innovation
alternate in her process of creation.
3 Vogel’s Feminist Theatre: Parodistic Appropriation of
Shakespeare’s Othello in Desdemona
According to David Savran (1996), Paula Vogel has succeeded in
creating her own distinctive feminist theatre, by recognizing, in her own
words, “that feminism means being politically incorrect. It means avoiding
the easy answer – that isn’t really an answer at all – in favor of posing the
question in the right way. […] It means writing speculative rather than
polemical plays (p. xi-xii).
In Desdemona, Savran (1996) remarks, “Shakespeare’s women are
not quite the innocent victims of masculine desires as they appear to be, but
active makers – and unmakers – of each other’s destinies” (p. x). He claims
that Vogel’s method of “deconstructing the work of her forebears comes
from her reading of the theories of Bertolt Brecht” (p. xi), mainly those
involving the defamiliarization device which allows spectators and readers
to see characters and situations in a new light. Like Brecht, “she writes from
a deeply rooted political sense”, but unlike her predecessor she “is an avowed
feminist. All her work is devoted to exposing not just how women are
entrapped or oppressed, but the possibilities that figures like Desdemona
[…] have to contest, subvert and redefine the roles they have been
assigned” (p. xi).
For a discussion of Vogel’s Desdemona, the terms ‘encounter’ and
‘reconfiguration’, considered key words in contemporary feminist
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 59
appropriations of classics, will appear inextricably bound in her process of
writing back:
Feminist theatre, in particular, challenges the notion that the classic, having
attained almost mythic stature, contains transcendental truths to be applied
uncritically to ever new historical conditions and that canonical texts represent
links on a cultural continuum. In their creative and critical encounter
with earlier texts, theatre artists and audiences focus more on transformation
than preservation. (FRIEDMAN, 2009, p. 2, my emphasis)
In her counter-discursive encounter with Shakespeare’s Othello, Vogel
reconfigures and destabilizes the Shakespearean narrative: Desdemona is set in
“back room of the palace of Cyprus” (p. 4), where the female characters
take the lead with entirely different identities. In a sense, this dislocation to
center stage is ironic, because women’s discourse and agency remain restricted
to a back room and male characters, although never actually appearing
onstage, continue determining their behavior.
Friedman (2009) postulates that theatre texts or productions inspired
by classics, “engage various approaches to intertextuality – ways in which
texts and performances echo or are linked to earlier renditions, whether by
allusion, by assimilation of formal and thematic features, or by divergence
from the classic story” (p. 1-2). Rewritings or stage productions tend to
[…] alter or parody a text, interject anachronistic language, and rearrange its
parts to denaturalize the values we have come to associate with its iconic
figures moving through seeming inevitable destinies. In Brechtian terms,
these distancing devices make the familiar strange, drawing our attention to
ideology encoded in the plot, language and structure of the dramatic or
literary text as well as in performance. They demand that we consider these
theatrical choices as divergent from earlier versions and historically situated.
(FRIEDMAN, 2009, p. 2, my emphasis)
The target of Vogel’s critique is not Shakespeare, but the inherited male
discourse about female characters. Like Shakespeare, she tends to question “the
normal” by setting up stereotypes “only to knock them down”
(HONIGMANN, 1997, p. 61), and like Brecht, she uses parody as a mode of
distanciation to prevent empathy and make the spectators think critically about
the limitations of female agency in a misogynistic society dominated men.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 60
Through parodic intertextuality, she deconstructs sexist ideologies
and the myth of female chastity, built upon “the double standard that permits
men’s adultery and forbids a woman’s” (WAYNE, 1991, p.165). To prevent
the audience to empathize with Othello, who thinks his wife “must die, else
she’ll betray more men” (5.2.6), she destroys the chastity of the heroine. In
Vogel’s revisionist look at Othello, Desdemona is a guilt-free adulteress; Bianca
is a prostitute who aspires marital status; and Emilia, the bawdy serving-
woman in Shakespeare, embodies the chaste married woman.
The feminist playwright appropriates and expands mainly the
Shakespearean scene where Desdemona and Emilia chat about men (4.3.9-
104), but she also revisits other key moments of the source-text to construct
her play. The roles of Desdemona and Emilia are parodically reversed. In
scene 11, for example, Desdemona speaks the lines that in the Shakespearean
narrative belong to Emilia (4.3.59-81), mainly the words that precede the
revolutionary discourse expressed by Emilia (4.3.92-102) quoted in the
previous section (which is not reconfigured at this point, but reverberates in
Vogel’s play as a whole):
DESDEMONA. Emilia – have you ever deceived your husband Iago?
EMILIA. (With a derisive snort.) That’s a good one. Of course not, miss –
I’m an honest woman.
DESDEMONA. What has honesty have to do with adultery? Every
honest man I know is an adulterer… (Pause.) Have you ever thought
about it?
EMILIA. What is there to be thinkin’ about? It’s enough trouble once each
Saturday night, than to be lookin’ for it. I’d never cheat, not for all the world
I wouldn’t.
DESDEMONA. The word’s a huge thing for so small a vice.
EMILIA. Not my world, thank you – mine’s tidy and neat and I aim to
keep it that way.
DESDEMONA. Oh, the world! Our world’s narrow and small, I’ll grant
you – but there are other worlds – worlds that we married women never
get to see.
EMILIA. Amen – and don’t need to see, I should add.
DESDEMONA. If you’ve never seen the world, how would you know?
[…] (p. 19, my emphasis)4
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 61
This dialogue, in scene 11, is part of Shakespeare’s Act IV, scene ii
(4.3.59-68), appropriated and transformed by Vogel, to allude to the double
moral standard and make the ironic point that as most honest men are
adulterers, honesty has nothing to do with adultery.
The image of the pure, submissive heroine is subverted: Desdemona
is, in fact, an adulterous wife, just as Iago paints her in Shakespeare’s play
who, out of boredom and in pursuit of pleasure, “fills in” (p. 37) for Bianca on
Tuesdays at her brothel, having sex with lots of soldiers of the garrison (except
Cassio, the man suspected by Othello). The outrageous words of Shakespeare’s
Othello come true: “I had been happy if the general camp, / Pioneers and all,
had tasted her sweet body, / So I had nothing known (3.3.448-350).
Conversely, Emilia who utters a revolutionary speech in Othello, a
kind of Brechtian song in which Shakespeare condenses the emergent
Renaissance discourse on women’s sexuality and desire (4.3.83-102), becomes
the embodiment of chastity and resignation, seeking consolation in religion:
EMILIA. […] It’s not right of you, Miss Desdemona, to be forever cutting
on the matter of my beliefs. I believe in the Blessed Virgin, I do, and the
Holy Fathers and the Sacraments of the Church, and I’m not one to be
ashamed of admittin’ it. It goes against my marrow, it does, to hear of you,
a comely lass from a decent home, giving hand-jobs in the pew; but I says
to myself, Emilia, I says, you just pay it no mind, and I go about my
business. […] (p. 18)
Desdemona, feeling frustrated in every respect – life, marriage and
society –, finds no better alternative for transgressing the patriarchal
constraints than trading her body. In her naïve way of thinking, she wants
to be like Bianca “a free woman – a new woman, who can make her
own living in the world – who scorns marriage for the lie that it is” (p. 20,
my emphasis). Of course, she is completely wrong. To her disappointment,
Bianca dreams of getting married to Cassio and live in a cottage by the sea,
shunning the concept of the new woman:
BIANCA. Why, that “new woman” kind o’ fing’s all hog-wash! (Emilia nods
her head in agreement.) All women want t’get a smug, it’s wot we’re made
for, ain’t it? We may pretend differnt, but inside very born one o’ us want
smugs an’ babies, smugs wot are man enow t’ keep us in our place. […]
(p. 38, my emphasis).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 62
Emilia, in turn, professes she hates her husband, but as she believes
she can only rise socially through the agency of Iago, she begs for his
promotion all the time:
EMILIA. […] The more I’d like to put the nasty rat-ridder in the stew, the
more I think of money – and he thinks the same. One of us will drop first,
and then, what’s left, saved and earned, under the mattress for th’ other
one? I’d like to rise a bit in the world, and women can only do that
through their mates – no matter what class buggers they all are. I says to
him each night – I long for the day you make me a lieutenant’s widow! (p.
14, my emphasis)
The playwright’s feminist protest against the marginalization of women
manifests itself most clearly when she creates a Desdemona who freely expresses
and realizes her sexual desires, challenging cultural norms. However, through
the display of the female characters’ conformist attitudes, she also critiques
women’s tacit agreement with the restrictions of patriarchal structures.
According to Vogel’s distinctive method of speculation, the
assumptions, made by feminist criticism, that “women’s shared conversation,
mutual affection, and extraordinary intimacy create a kind of subculture
apart from the man’s world” (LENZ; GREENE; NEELY, 1983, p. 5)
neither apply to Othello nor to Desdemona. Female friendship and solidarity
are questioned and undermined throughout Vogel’s play. After the visual
prologue, described in the first section, which makes the audience aware
that Emilia has pinched the handkerchief and hidden it in her bodice, Vogel
shows Desdemona desperately searching for it:
As the play begins, Desdemona is scattering items and clothing in the air, barely
controlling a mounting hysteria. Emilia […] watches, amused and disgusted at the
mess her lady is making.
DESDEMONA. Are you sure you didn’t see it? The last time I remember
holding it in my hand was last week in the arbor – you’re sure you didn’t see
it?
EMILIA. Aye –
DESDEMONA. It looks like –
EMILIA. – Like any body’s handkerchief, savin’ it has those dainty little
strawberries on it. I never could be after embroiderin’ a piece of linen with
fancy work to wipe up the nose –
DESDEMONA. – It’s got to be here somewhere –
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 63
EMILIA. – After you blow your nose in it, an’ it’s all heavy and wet, who’s
going to open the damn thing and look at the pretty stitches?
DESDEMONA. Emilia – are you sure it didn’t get “mixed up” somehow
with your … your things?
EMILIA. And why should I be needin’ your handkerchief when I’m wearing
a plain, soft shift which works just as well? And failing that, the good Lord
gave me my sleeves…
[…]
DESDEMONA. […] It’s got to be here, it’s got to be here, it’s got to be
here – Emilia – Help me find it!
EMILIA. You’re wasting your time, m’lady. I know it’s not here. (p. 5-7)
Emilia’s duplicitous act is highlighted as a betrayal, since she insistently
professes not knowing where the handkerchief is. Even later, when she
becomes aware that the handkerchief is the pivot of Othello’s suspicions
of his wife’s infidelity, she keeps silent. Her dissimulation and
untrustworthiness is further enhanced, in scene 7, when she professes
complete loyalty and truthfulness, but lies when Desdemona asks her if she
has heard anything about Othello’s jealousy regarding Cassio:
EMILIA. Oh, no, m’lady, he surely no longer suspects Cassio; I instructed
Iago to talk him out of that bit of fancy, which he did, risking my lord’s
anger at no little cost to his own career; but all for you, you know?
DESDEMONA. You haven’t heard of anything else?
EMILIA. No, Ma’am. (But as Desdemona is to Emilia’s back, Emilia drops a
secret smile into the wash bucket. Emilia raises her head again, though, with a sincere,
servile face, and turns to Desdemona.) But if I did know anything, you can be
sure that you’re the first to see the parting of my lips about it – (p.14-15)
Here, the stage-directions make it clear that servility and friendship
are social masks worn by Emilia, and that Desdemona accepts without
questioning her show of loyalty. Questions addressed by male critics are
audible in this part “How guilty is Emilia of acting as a passive accomplice
in Iago’s plot?” (HONIGMANN, 1997, p. 44). How much does she
contribute to Desdemona’s undoing?
However, Desdemona also has social masks at her disposal: she
makes promises to Emilia, which she never intends to fulfill. And Bianca
drops the mask of friendship she had put on as soon as she finds out
that the handkerchief Cassio has given to her belongs to Desdemona.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 64
She suspects Desdemona is sexually intimate with Cassio and threatens her
with the hoof-pick.
The issue of female solidarity is overtly discredited. When Bianca
claims that Desdemona is her friend, Emilia sneers at her using harsh words
and declaring that there is no such thing as friendship between women:
EMILIA – Don’t be a little fool hussy. There is no such creature, two, three,
or four-legged, as “friend” betwixt ladies of leisure and ladies of the night.
And as long as there be men with one member but two minds, there is no
such thing as friendship between women. An’ that’s that. […] (p. 25-26)
In Vogel’s rereading, the transit of the charmed handkerchief
embroidered with strawberries that had belonged to Othello’s mother, given
to her by his father, changes hands several times as in Othello, but differently
from Shakespeare’s tragedy it returns to Desdemona’s hands in a complete
circular movement. In scene 23, Vogel’s final twist is that Bianca, instead of
returning the handkerchief to Cassio, cherishes it as a love token from the
lieutenant and proudly shows to Desdemona:
DESDEMONA. (Starting.) – Why – (Desdemona looks carefully, then in relief.)
Oh, thank God, Bianca, you’ve found it. I’m saved. (Desdemona stops.) But
what – whatever are you doing with my handkerchief ?
EMILIA. (To herself.) Oh Jesus, he gave it to Cassio!
BIANCA. (Blank.) Your handkerchief? Yours?! (Dangerously.) What’s Cassio
doin’ wi’ your hand-ker-chief ?
DESDEMONA. That’s precisely what I want to find out – Emilia –
BIANCA. (Fierce.) – Aw bet. So – you was goin’ t’ elp´me out once a week
fer Cassio? (Advancing.) You cheatin’ hussy – Aw’ll pop your peepers out –
(Bianca lunges for Desdemona; Emilia runs.)
[…]
BIANCA. – You gulled yer husband an’ you gulled me! An’ Aw thought
we was mates! (Bianca starts to leave; Emilia calls after her.)
EMILIA. I told you there’s no such thing as friendship with ladies – (p. 39, 41)
In this scene female intrigues surface violently. When Bianca
concludes Cassio is Desdemona’s lover, as in action films, in a fit of rage
and jealousy, she threatens Desdemona with the hoof-pick and the latter
tries to defend herself with a broken wine bottle (p. 40). To express her
disappointment, after becoming aware that Emilia pinched the handkerchief
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 65
to please Iago, Desdemona says that now it is useless to her, because Othello
will think that her lover Cassio gave it back to her. Emilia, trying to mend
the critical situation, starts the following dialogue:
EMILIA. Miss Desdemona – oh, my lady. I’m sure your husband loves
you!
DESDEMONA. How do you know that my husband – !
EMILIA. – More than the world! He won’t harm you none, m’lady – I’ve
often seen him –
DESDEMONA. – What have you seen?!
EMILIA. I’ve seen him, sometimes when you walk in the garden, slip
behind the arbor just to watch you unawares … and at night … in the
corridor … outside your room – sometimes he just stands there, Miss,
when you’re asleep – he just stands there –
DESDEMONA. (Frightened.) Oh, Jesus –
EMILIA. And once – I saw … I came upon him unbeknowin’, and he
didn’t see me, I’m sure – he was in your chamber room – and he gathered
up the sheets from your bed, like a body, and … and he held it to his face,
like, like a bouquet, all breathin’ it in – (The two women pause: they both realize
Othello’s been smelling the sheets for traces of a lover.)
DESDEMONA. That isn’t love. It isn’t love. (Beat.) Why didn’t you tell
me this before? (p. 45, my emphasis)
Although subject-object positions are complicated in Vogel’s
rereading, the uxoricide follows in the end, but with a feminist twist – the
heroine, shortly before her assassination, becomes conscious of her position
as the object of Othello’s obsessive, misogynistic vision.
Final Remarks
In Desdemona, Vogel makes use of filmic writing. As Rajewsky (2010)
puts it, “the medial difference between the referencing medium and the
medium referred to”, that is, between live performance and film, “becomes
apparent in quite an obvious way, as is typical of intermedial references in
general” (p. 59). However, it is not cinema “which manifests itself materially”,
but rather film’s “instruments and means are shaped in such a way that
experiences, or ‘frames’ are evoked in the observer” (p. 58) that are medially
bound to film, leading to an illusion, an “as if ” of a filmic quality.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 66
Vogel’s parodistic appropriation of Shakespeare’s text is politically
motivated, calling into question residual sexist structures in immediate
historical contexts. Her creation of a Desdemona, who is in fact adulterous,
has produced multiple reactions among critics. Marianne Novy, for instance,
believes that Desdemona marks an important interpretative shift, interrogating
whether murder is justified in case of female adultery: “Do we feel different
about a husband killing a wife who is really unfaithful? Should we? In what
ways do we feel the same?” (NOVY, 1999, p. 72-73).
Besides showing the negative effects caused by women collaborating
with their own undoing, Vogel criticizes the “the double standard that permits
men’s adultery and forbids a woman’s” (WAYNE, 1991, p.165), a persistent
ideology that equates female restraint with virtue and female desire with
vice, allowing men to commit murder to defend their honor. The playwright’s
sharpest insight is the dramatization of the tragic recognition of the heroine,
who differently from Shakespeare’s Desdemona, realizes her plight shortly
before her assassination, discrediting Othello’s argument that he killed her
because of excessive love (5.2.342), and thus disrupting the ideological codes
embedded in the myth of female chastity.
Notes
1
Henceforth the title of the play will be referred to in abbreviated form as Desdemona.
2
Paula Vogel, born in Washington in 1951, is a prolific playwright since the late 1970s,
and a renowned university teacher who has led the graduate playwriting program at
Brown University for more than two decades. Currently, she is adjunct professor and
Chair of the playwriting program at the Yale School of Drama, and the Playwright-
in-Residence at Yale Repertory Theatre. She first earned recognition for her AIDS
related seriocomedy The Baltimore Waltz (1992), followed by Hot’n Throbbing (1994),
The Mineola Twins (1996) and How I Learned to Drive (1997) for which she received the
1998 Pulitzer Prize for Drama. A number of her students have by now also achieved
notoriety, among them Bridget Carpenter, Adam Block, Sarah Ruhl, and the Pulitzer
Prize winners Nilo Cruz, for Anna in the Tropics (2003), and Lynn Nottage, for Ruined
(2009). In 2003, the Kennedy Center of American College Theater Festival created
the Paula Vogel Award in Playwriting for the best play written by students that
“celebrates diversity and encourages tolerance while exploring issues of dis-empowered
voices not traditionally considered mainstream” – See The Paula Vogel Award in
Playwriting. Disposable at: <www.kennedy-center.org/education/actf/
actf_vogel.htlm> Accessed on: May 17th 1912.
3
All textual references of the play will be taken from the edition mentioned in “Works
Cited”, identified by page numbers.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 67
4
Here I reproduce the dialogue between Desdemona and Emilia in Shakespeare’s
Othello (4.3.59-81), recontextualized by Vogel: “DESDEMONA […] O, these men,
these men! / Dost thou in conscience think – tell me, Emilia – That there be women
do abuse their husbands / In such gross kind? EMILIA There be some such, no
question. DESDEMONA Wouldst thou do such a deed for all the world? EMILIA
Why, would you not? DESDEMONA No, by this heavenly light! EMILIA Nor I
neither, by this heavenly light: / I might do’t as well i’th’ dark. DESDEMONA
Wouldst thou do such a deed for all the world? EMILIA The world’s a huge thing;
it is a great price/ For a small vice” (4.3.59-68).
WORKS CITED
DESMET, Christy. Introduction. In: DESMET, Christy; SAWYER, Robert.
(Eds.). Shakespeare and Appropriation. London and New York: Routledge,
1999, p. 1-12.
DESMET, Christy; SAWYER, Robert. (Eds.). Shakespeare and Appropriation.
London and New York: Routledge, 1999.
DUSINBERRE, Juliet. Women as Property. In: _____. Shakespeare and the
Nature of Women. London: Macmillan, 1996, p. 110-136.
FRIEDMAN, Sharon. Introduction. In: _____. (Ed.). Feminist Theatrical
Revisions of Classic Works: Critical Essays. Jefferson NC: McFarland and
Company, 2009, p. 1-20.
HONIGMANN, E. A. J. Introduction. In: SHAKESPEARE, William.
Othello. The Arden Shakespeare. Third Series. Ed. E. A. J. Honigmann.
London: Methuen, 1997, p. 1-111.
KIDNIE, Margaret Jane. Shakespeare and the Problem of Adaptation. London
and New York: Routledge, 2009.
NEELY, Carol Thomas. Women and Men in Othello: “What should such a
fool/ Do with so good a woman?” In: LENZ, Carolyn Ruth Swift;
GREENE, Gayle; NEELY, Carol Thomas (Eds.). The Woman’s Part: Feminist
Criticism of Shakespeare. Urbana and Chicago: University of Illinois Press,
1983, p. 211-239.
NOVY, Marianne. Saving Desdemona and/or Ourselves: Plays by Ann-
Marie MacDonald and Paula Vogel. In: _____. (Ed.). Transforming Shakespeare:
Contemporary Women’s Revisions in Literature and Performance. New York:
St. Martin Press, 1999, p. 67-85.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 68
SAVRAN, David. Loose Screws: An Introduction. In: VOGEL, Paula. The
Baltimore Waltz and Other Plays. New York: Theatre Communications Group,
Inc., 1996, p. ix-xvi.
SCIOLINO, Elaine. ‘Desdemona’ Talks Back to ‘Othello’. New York Times,
Oct. 26th 2011, p. C1. Disposable at: <www.nytimes.com/2011/10/26/
arts/music/tony-morrisons-desdemona-and-peter-sellars-
othello.html?pagewanted=all&_r=0> Accessed on: May 17th, 2012.
SHAKESPEARE, William. Othello. The Arden Shakespeare. Third Series.
Ed. E. A. J. Honigmann. London: Methuen, 1997.
VOGEL, Paula. Desdemona, A Play About a Handkerchief. New York:
Dramatists Play Service Inc., 1994.
WAYNE, Valerie. Historical Differences: Misogyny and Othello. In: _____.
(Ed.). The Matter of Difference: Materialist Feminist Criticism of Shakespeare.
Ithaca NY: Cornell University Press, 1991, p. 153-179.
Anna Stegh CAMATI
Doutora em Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-Americana pela
Universidade de São Paulo (USP). Pós-doutoramento pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Titular do Mestrado em Teoria
Literária da UNIANDRADE. Membro do Centro de Estudos
Shakespearianos (CESh) e da International Shakespeare Association (ISA).
Coeditora da revista Scripta Uniandrade.
Artigo recebido em 30 de setembro de 2012.
Aceito em 11 de novembro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 69
“WHY JANE, WHY NOW?”
A PRESENÇA DE JANE AUSTEN NO SÉCULO XXI
Mail Marques de Azevedo
mail_marques@uol.com.br
Priscila Maria Menna Gonçalves Kinoshita
priscilakino@gmail.com
Resumo: Na busca de repostas para Abstract: This article examines a
a presença marcante da obra de Jane selection of Jane Austen´s letters and
Austen ainda hoje, em reedições e the biographical material written by
adaptações para diferentes mídias, members of her family, aiming to
este artigo examina uma seleção de find reasons for her outstanding
suas cartas e o material biográfico literary reputation in our time, both
produzido por familiares, para in recurrent editions of her novels
concluir que a escritora corresponde and in their adaptation to various
tanto ao mito de domesticidade media. It reaches the conclusion that
conservadora quanto á imagem Austen fulfills both the ideal myth
atemporal de sátira aos vícios da of domesticity, and the timeless
natureza humana. Com referências determination to satirize human
a Orgulho e preconceito, evidencia o follies. With examples from Pride and
protesto da autora contra uma Prejudice, the article evidences the
sociedade que camufla defeitos sob author´s protests against a society
a observação de regras rígidas. that disguises vices under the
Austen utiliza como arma o apparent observation of rigid rules.
divertimento e como palco a With humor and irony as weapons,
Inglaterra do século XVIII, para and eighteenth-century England as a
denunciar com ironia sutil e espírito stage, Austen denounces with sharp
arguto a situação mesquinha da wit and cutting irony the unfair
mulher na escala social e econômica situation of women in the economic
da sociedade. and social scale.
Palavras-chave: Jane Austen. Mulher. Sociedade. Ironia.
Keywords: Jane Austen. Woman. Society. Irony.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 70
Introdução
A presença marcante da obra de Jane Austen em nosso século, em
repetidas reedições ou em adaptação para diferentes mídias, conduz á
pergunta: “Why Jane, Why Now?”
Seus livros são traduzidos para todas as línguas e continuamente
reeditados em formatos diversos: edições de bolso; versões condensadas
para o aprendizado da língua e iniciação à literatura inglesa; edições bilíngues
e revistas em quadrinhos. Publicam-se manuais sobre a utilização de sua
obra em sala de aula. Todos os seus romances foram adaptados para as
mídias fílmica e televisiva. Nesta última, a série Clássicos da BBC já apresentou
duas versões de Pride and Prejudice. Na realidade, o conflito amoroso entre
Elizabeth Bennet e Darcy é de longe o enredo preferido também pelos
cineastas, haja vista o número de leituras e adaptações mais, ou menos,
próximas do texto “original”.
Causou estranheza e mesmo indignação entre os “janófilos” a mais
recente e esdrúxula dessas adaptações: dessa feita uma adaptação textual,
em que o americano Seth Grahame-Smith transforma as heroínas de Jane
Austen em caçadoras de zumbis, a praga dos mortos-vivos que assola a
Inglaterra, no mash-up Pride and Prejudice and Zombies (2009), a contribuição
do século XXI para perpetuar ou desconstruir uma reputação literária.
Na tentativa de buscar respostas para a escalada da reputação de
Jane Austen nos dias atuais, este artigo faz breve incursão na crítica literária
e biográfica de seus contemporâneos que, simultaneamente, lhe apresenta
restrições ou a transforma em mito intocável. Nas críticas feministas do
século XX, Susan Gubar e Sandra Gilbert, busca visão mais recente sobre o
papel avant-garde desempenhado por Jane Austen. De cartas selecionadas
de Letters of Jane Austen, de Edward Hugessen Knatchbull-Hugessen (1829-
1893) e Jane Austen: her Life and Letters (1913), de autoria de William Austen-
Leigh (1843-1921) e Richard Austen-Leigh (1872-1941), retira evidência ou
refutação das posições muitas vezes contraditórias da crítica.
O mito
A nenhum estudante de literatura inglesa, nos cursos de Letras, é
permitido escapar do estudo de Jane Austen, – o que é muito positivo –,
nem dos clichês a seu respeito. “Três ou quatro famílias em um distrito é o
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 71
assunto ideal para um romance”, palavras atribuídas à própria Jane Austen,
tornam-se mote direcionador dos estudos sobre a autora. Em A literatura
inglesa, Anthony Burgess (2004) afirma:
Em seus romances [...] ela tenta tão somente mostrar um pequeno
segmento da sociedade inglesa de sua época [...] o anestesiado pequeno
mundo das famílias rurais com um razoável padrão de conforto. Esse
mundo fornece todo o material de que ela precisa; os grandes movimentos
históricos que explodiam lá fora pouco significavam para ela, e as guerras
napoleônicas mal chegam a ser mencionadas. (p. 19)
A reclusão e o afastamento, a que se adiciona o temperamento
dócil e amoroso, compõem a imagem ideal da escritora, divulgada pela
família Austen e adotada por grande parte dos historiadores da literatura
inglesa. Em nota biográfica em Persuasion, romance publicado postumamente
em 1818, seu irmão, Henry Austen, exalta a delicadeza da escritora, que
nunca pronunciara palavras “descuidadas, tolas ou grosseiras” e cujo
comportamento impecável estava à altura de seu espírito arguto. Tornar-se
escritora, para ela, nada tinha a ver com a esperança de obter fama e lucro:
It was with extreme difficulty that her friends, whose partiality she suspected
whilst she honored their judgment, could prevail upon her to publish her
first work. [...] no accumulation of fame could have induced her, had she
lived, to affix her name to any productions of her pen. [...] in public she
turned away from any allusion to the character of an authoress. [...] Her
own works, probably, were never heard to so much advantage as from her
own mouth.1 (AUSTEN, 1818)
Verifica-se, porém, que Jane Austen tinha intenção de ser, senão
reconhecida, recompensada financeiramente pelos seus méritos como
escritora. Em carta à irmã, Cassandra, preservada nas coletâneas organizadas
por Lord Brabourne, Jane fala de suas conquistas financeiras: ‘’You will be
glad to hear that the first edition of M. P. [1] is all sold. [...] I am very greedy
and want to make the most of it [...]’’2 (BRABOURNE, 1884, p. 263). Para
o irmão, Frank William Austen, em julho de 1813, Jane admite:
You will be glad to hear that every copy of Sense and Sensibility is sold and
that it has brought me £140 besides the Copyright, if that should ever be
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 72
of any value. — I have now therefore written myself into £250 — which
only makes me long for more’’. 3 (HUBBACK, 1844, p. 237)
O profissionalismo evidenciado nas cartas contrapõe-se à imagem
ideal divulgada pelos Austen. A intenção da família de proteger sua reputação
de verdadeira dama, “uma autora particular, delicada e doméstica’’
(FERGUS, 1997, p. 12), cria um halo de respeito e veneração que perpetua
o “mito” Jane Austen até o século atual. James Edward Austen-Leigh (1798-
1874) publica, em 1869, Memoir of Jane Austen, em que enfatiza a imagem da
mulher caseira, cujo único objetivo ao escrever era entreter a própria família
(LE FAYE, 2002, p. 23). Mais tarde, Edward Hugessen Knatchbull-Hugessen
(1829-1893), Lord Brabourne, filho de Fanny Knight, sobrinha de Jane
Austen, seleciona e publica as cartas que restaram, depois que Cassandra
Austen destruiu grande parte da correspondência com a irmã, para
resguardar sua intimidade. Ao compêndio de cartas e comentários,
Brabourne adiciona uma introdução elogiosa em que, apesar de perpetuar
o ‘’mito’’, reconhece a capacidade de Jane Austen de fazer descrições realistas
da natureza humana, que é a mesma em todos os tempos. Embora
demorasse a atingir popularidade, a obra de Austen é, por isso mesmo,
duradoura e inimitável:
She does not attract our imagination by sensational descriptions or
marvelous plots; but, with so little “plot” at all as to offend those who read
only for excitement, she describes men and women exactly as men and
women really are, and tells her tale of ordinary, everyday life with such
truthful delineation, such bewitching simplicity, and, moreover, with such
purity of style and language, as have rarely been equaled, and perhaps never
surpassed [...].4 (BRABOURNE, 1884, p. 7)
Verdade e simplicidade na descrição do cotidiano “de homens e
mulheres como realmente são” encantam o leitor. O que para os Austen é
simplicidade que encanta, no entanto, é rechaçado pejorativamente como
superficial, por Charlotte Brontë: “She does her business of delineating the
surface of the lives of genteel English people curiously well [...]’’5 (citado em
SHERRY, 1969, p. 10; ênfase acrescentada). Para Brontë, Austen não tem
conhecimento das paixões humanas e não atinge profundamente o leitor.
A avaliação crítica feita por Sir Walter Scott, que enaltece o talento
da escritora para descrever relações e sentimentos de pessoas comuns, impele
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 73
o pêndulo novamente em sentido contrário: “That young lady had a talent
for describing the involvements and feelings and characters of ordinary
life, which is to me the most wonderful I ever met with’’6 (1826, p. 74).
Em épocas mais recentes, Ralph Waldo Emerson avalia
desfavoravelmente os mesmos aspectos que a crítica da família aponta como
positivos. Afirma que Jane era “vulgar in tone, sterile in artistic invention,
imprisoned in the wretched conventions of English society, without genius,
wit, or knowledge of the world. Never was life so pinched and narrow’’7
(citado em GUBAR; GILBERT, 2000, p. 109). É evidente que Sandra
Gubar e Susan Gilbert discordam do filósofo transcendentalista americano,
por entenderem os romances de Austen como reveladores de um panorama
ampliado: ao aceitar sua posição desconfortável como mulher em uma
sociedade fechada, sobrevive tentando tornar menos difícil uma situação
ruim, e expõe os problemas por trás da camuflagem que construiu para se
proteger (GUBAR; GILBERT, 2000, p. 111-112).
A imagem de modéstia e recolhimento divulgada pelos Austen é
vista por Gubar e Gilbert como simples disfarce de um temperamento
combativo e da preocupação com a inferioridade da mulher na Inglaterra
georgiana. Dedicam a Jane Austen dois capítulos de sua obra, amplamente
discutida na academia, The Madwoman in the Attic, em que defendem sua
visão da autora como protofeminista. Dentro de seu mundo restrito,
afirmam, Jane Austen consegue manifestar repúdio à situação da mulher,
utilizando-se da ironia para expor insatisfação com a estrutura social que
discrimina o sexo feminino:
[...] persistently Austen demonstrates her discomfort with her cultural
inheritance, specifically her dissatisfaction with the tight place assigned
women in patriarchy and her analysis of the economics of sexual
exploitation. At the same time, however, she knows from the beginning
of her career that there is no other place for her but a tight one, and her
parodic strategy is itself a testimony to her struggle with inadequate but
inescapable structures.8 (2000, p. 112)
Gubar e Gilbert acrescentam que a qualidade de “graciousness
under pressure”, exibida por Austen, é não somente refúgio de uma realidade
perigosa, mas também comentário sobre o assunto (2000, p. 112). Dividida
entre o impulso de manifestar desconforto com a situação da mulher, em
uma sociedade patriarcal repressora, e a consciência do espaço restrito que
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 74
ela própria ocupa nesse contexto, a autora recorre a estratégias paródicas
como instrumento de luta.
Protofeminismo, ironia e sátira
Aparentemente, seu mundo ficcional não vai além do mundo factual
em que não ultrapassa os limites impostos às mulheres, conservando-se na
posição de uma dama que escreve trivialidades para divertir a família. Na
realidade, Jane Austen manipula com tanta habilidade as farpas irônicas
lançadas contra indivíduos e situações que seu propósito satírico passa quase
despercebido. Exemplo ilustrativo é a carta endereçada pelo Sr. Bennet ao
Sr. Collins para comunicar o casamento de Elizabeth e Darcy, em Orgulho e
preconceito:
Caro senhor.
Devo importuná-lo mais uma vez por congratulações. Elizabeth logo será
a esposa do Sr. Darcy. Console Lady Catherine tão bem como puder. Mas,
se eu fosse você, ficaria ao lado do sobrinho. Ele tem mais a oferecer. Seu,
sinceramente, etc. (AUSTEN, 2008, p. 395)
A carta é um primor de ironia, como sátira espirituosa tanto do
orgulho tolo e preconceituoso de Lady Catherine, representante da
aristocracia rural, como do caráter dissimulado e interesseiro do Sr. Collins,
– um dos alvos prediletos da autora –, cuja mesquinharia deslustra a igreja
da Inglaterra.
Seu foco principal nos romances é a natureza humana e usa suas
personagens como instrumentos para satirizar a falta de compostura, as
excentricidades e os defeitos do ser humano, particularmente a hipocrisia,
em suas relações sociais. De sua pena, os tolos recebem punição exemplar,
mas branda. A pomposidade e as intromissões inconvenientes de Sir George
Lucas, depois que recebeu o título de cavalheiro, fazem dele um ridículo
amistoso e ingênuo, que não percebe a censura provocada por suas atitudes.
Repetidas exclamações ‘’Capital! Capital!’’ encerram suas desastradas
tentativas de conversar com Darcy, fazê-lo dançar com Elizabeth e de se
oferecer às irmãs do Sr. Bingley para apresentá-las na corte de St. James. A
hipocrisia e irresponsabilidade de Wickham e Lydia, por outro lado,
condenam ambos a viver de expedientes e da caridade de Elizabeth e de
Jane. O romance conclui com previsões sombrias para o futuro do casal:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 75
Estavam sempre se mudando de um lugar para outro, em busca de aluguéis
baratos, e gastando mais do que deviam. O afeto dele por ela logo se
transformou em indiferença; o dela durou um pouco mais; e apesar de sua
juventude e modos espalhafatosos, ela conservou intacta a reputação que
lhe fora assegurada pelo matrimônio. (AUSTEN, 2008, p. 378)
No capítulo final, o narrador substitui a ironia e a sátira pelo tom
sério e quase dogmático, próprio da conclusão dos romances na época,
manipulado certamente por Austen, que se submete, assim, ao decoro
exigido de sua condição de escritora e mulher.
Gubar e Gilbert (2004) põem em destaque, nos romances de Jane
Austen, as temáticas sociais que abordam as limitações da mulher sob o
regime patriarcal: a reserva de propriedades para herdeiros masculinos; a
situação precária da mulher solteira, dependente da boa vontade e auxílio
dos irmãos (caso da própria escritora); regras de conduta que restringem a
expressão espontânea dos sentimentos e fatores econômicos restritivos. Para
Lord Brabourne, ao contrário, Jane Austen é uma divulgadora dos ideais
ingleses de bom senso e recato ou, como declara G. E. Mitton em 1905,
“Austen was the most thoroughly English writer of fiction’’9 (citado em
SALES, 1994, p. 11).
Na realidade, Jane Austen constrói em Orgulho e preconceito um
microcosmo do contexto georgiano, dos detalhes mais triviais aos mais
significativos: a importância do legado paterno; a necessidade do casamento
para a mulher; o comportamento em público como representação familiar
de educação; as prendas femininas como requisito para o matrimônio. Em
carta endereçada à irmã mais velha, Cassandra, diz: “His wife is discovered
to be everything that the neighbourhood could wish her, silly and cross as
well as extravagant’’10. (BRABOURNE, 1884, p. 38), palavras quase textuais
do Sr. Bennet quando observa, em Orgulho e preconceito, o comportamento
das filhas mais novas e comenta: “De tudo que posso concluir por sua
maneira de falar, vocês devem ser as duas garotas mais estúpidas do país.
Eu já suspeitava há algum tempo, mas agora eu estou convencido’’
(AUSTEN, 2008, p. 34).
A soma dos registros valiosos das cartas de Jane Austen e de seus
romances aponta para seu senso de mundo e para a capacidade de tecer
julgamentos sobre a essência da sociedade em que vivia, examinando-a no
contexto histórico vigente. Muitos não entenderam sua forma peculiar de
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 76
denúncia, ao mesmo tempo ativa e passiva, enquanto outros se inspiraram
em sua obra. Ativa, quando se utiliza de suas personagens para se posicionar
em relação aos problemas sociais; passiva, porque o faz sem ofender as
regras femininas de conduta.
É nosso argumento que as personagens de Jane Austen são
instrumentos de que se utiliza para criticar a posição da mulher na sociedade
patriarcal, que estabelece regras repressoras na conduta feminina e relega a
mulher a uma posição de inferioridade na estrutura legal e econômica. A
visão deturpada do certo e do errado das personagens, no entanto, é
apresentada pela autora como reflexo da natureza humana, acarretando
consequências infelizes na trama. Os relacionamentos são conduzidos como
palcos de desmistificação da ilusória estabilidade social, cujos discursos
falaciosos são questionados pela ironia satírica de Jane Austen.
Máscaras
Roger Sales (1994) afirma que representações socioculturais são
facilmente reconhecíveis nos romances que transmitem novos significados
e mensagens (1994, p. xvii). De fato, a leitura dos romances de Jane Austen,
à luz do contexto sócio-histórico do período regencial, é enriquecedora e
nos permite distinguir as diferentes posições que assume como autora
implícita: de moralização; de protesto contra injustiças; de denúncia dos
abusos do patriarcalismo; de alerta contra o ridículo das atitudes humanas.
Wayne Booth (2005) defende com veemência os propósitos éticos da
literatura:
Quando autores seriamente engajados nos confiam suas obras, o autor em
carne e osso cria um autor implícito que aspira, conscientemente ou não, ao
nosso apoio crítico. E os autores implícitos são infinitamente superiores
aos autores em carne e osso com quem convivemos na vida real. ( p. 78)
Os comentários impiedosos de Jane Austen, a escritora de carne e
osso, nas cartas à família, certamente causariam profundo desagrado entre
seus contemporâneos. Entretanto, o mesmo espírito crítico é empregado
como arma pela autora implícita nos romances, em que usa o ridículo
como força moralizadora. Máscaras de elegância e boas maneiras encobrem
a indignação e o inconformismo pela situação das personagens femininas,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 77
as quais, entretanto, ela caracteriza como exemplos dos bons costumes
ingleses e de obediência a regras sociais. Em última análise, encobre as reações
femininas com a mesma máscara que ela, autora de carne e osso, usa em
público para esconder a contrariedade: “I spent Friday evening with the
Mapletons, and was obliged to submit to being pleased in spite of my
inclination’’11 (BRABOURNE, 1884, p. 55).
Para Simone de Beauvoir (1949), em seu estudo sobre Jane Austen,
são justamente suas atitudes de exagerado conformismo com um meio
social tolo que caracterizam o protesto: “Sua extrema delicadeza e aguda
sensibilidade é que manifestam a repugnância pela vulgaridade de seu meio;”
(p. 329).
O aparente conservadorismo de Jane Austen é uma ferramenta de
que se utiliza para denunciar o comportamento formal que se exigia das
mulheres. Para além do realismo na construção do aspecto exterior de
personagens e ações, diz Virginia Woolf, vislumbra-se nos romances
requintado discernimento dos valores humanos: “Jane Austen is thus a
mistress of much deeper emotion than appears upon the surface. She
stimulates us to supply what is not there’’12 (1984, p. 225).
No mesmo ensaio, intitulado “Jane Austen”, Virginia Woolf
observa que a escritora, por quem nutria grande admiração, tinha a singular
capacidade de enxergar a fundo os vícios e a mesquinhez da natureza humana
e de ridicularizá-los em seus romances. Austen manipula suas personagens
como marionetes, criadas especificamente pelo prazer de dominá-las e
controlar o seu destino:
Never did any novelist make more use of an impeccable sense of human
values. It is against the disc of an unerring heart, an unfailing good taste, an
almost stern morality, that she shows up those deviations from kindness,
truth and sincerity which are among the most delightful things in literature.13
(Citado em LEASKA, 1984, p. 228)
Em suma, Virginia Woolf considera impecável a percepção de
valores humanos na visão satírica de Jane Austen que não agride o bom
gosto, mas se revela eficaz, como produto de julgamento certeiro e moral
rígida. A exposição dos defeitos de suas marionetes, feita com humor
irresistível, é, na realidade, uma das coisas mais deliciosas da literatura.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 78
Considerações finais
Roger Sales chega à conclusão de que a crítica atual começa a
reconhecer que as duas posições de Jane Austen – ideologicamente
conservadora ou ligada ao feminismo iluminista – podem coexistir nos
seus próprios textos, havendo debates entre ambas.
Gubar e Gilbert seguem a mesma linha de pensamento:
reconhecem que comentários de Austen sobre suas personagens, que revelam
conceitos pré-concebidos de educação e/ou julgamento a priori de seu
comportamento, parecem indicar que a escritora opera em uma tradição
repressiva (2000, p. 116). Esta é apenas uma das asas da urna da razão,
porém. Na asa do lado oposto encontram-se os argumentos das autoras
sobre uma Jane Austen protofeminista.
A análise de passagens em suas cartas nos revela uma Jane Austen
diferente da reverenciada por muitos de seus fãs e da imagem
cuidadosamente construída por seu sobrinho, James Edward Austen-Leigh.
Vários críticos absorveram esse caráter construído e depreenderam dos
romances o que seu irmão Henry oferece como verdade inquestionável:
uma Jane Austen terna e recatada, inteiramente dedicada à família. A nosso
ver, a influência dessa escritora recatada não teria alcançado o nosso século.
Na resposta à pergunta “Why Jane? Why now?” consideramos, de
preferência, a visão de mundo perspicaz e abrangente da escritora, revelada
na abordagem de problemas maiores, como a sobrevivência econômica
da mulher em uma sociedade que lhe impõe padrões restritivos de
proporções avassaladoras na época. Este é o foco principal de uma Jane
Austen que tem muito a dizer aos leitores de nosso tempo. Em carta a
Cassandra, Jane Austen descreve visitas a museus e exposições, durante
uma breve viagem, mas logo se penitencia: “I am a wretch, to be so occupied
with all these things as to seem to have no thoughts to give to people and
circumstances which really supply a far more lasting interest — the society
in which you are [...]”14 (BRABOURNE, 1884, p. 172). É o ser humano em
sociedade seu interesse principal.
Dois séculos se passaram, mas os mesmos questionamentos de
valores colocados em pauta por Jane Austen provocam querelas em nossos
tempos. As adaptações recorrentes de seus romances, para vários meios e
em diferentes países, demonstram que sua obra atinge problemas sociais e
humanos relevantes até hoje o que nos remete à premissa de estar diante de
uma escritora para todos os tempos.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 79
Notas
1
Foi com extrema dificuldade que seus amigos, de cuja parcialidade suspeitava ao
mesmo tempo que respeitava seu julgamento, conseguiram convencê-la a publicar
seu primeiro trabalho. [...] Nem a fama consolidada poderia induzi-la, tivesse ela
vivido, a colocar o nome em um de seus trabalhos. Em público, rejeitava qualquer
referência a sua condição de autora. Nunca se ouviu de sua boca qualquer elogio a seus
próprios trabalhos. A tradução das citações em inglês é de responsabilidade das
autoras..
2
Você ficará feliz de saber que a primeira edição de M. P. foi totalmente vendida [...]
Eu sou muito gananciosa e quero ganhar muito com isso [...].
3
Você ficará feliz de saber que todas as cópias de Sense and Sensibility foram vendidas
e que isso me proporcionou £140 além do direito autoral, se isso for de algum valor
— Portanto eu tenho agora £250 — o que somente me faz desejar mais.
4
Ela não atrai nossa imaginação com descrições extraordinárias ou enredos admiráveis;
mas, com tão pouca trama que chega a ofender aqueles que leem apenas por entusiasmo,
descreve homens e mulheres exatamente como são realmente, e conta a história da
vida comum, cotidiana com tanta precisão, simplicidade encantadora e, mais ainda,
com tanta pureza de estilo e linguagem, que raramente foi igualada e, talvez nunca,
superada.
5
Ela faz o seu trabalho de esboçar a superfície da vida da nobreza inglesa curiosamente
bem...
6
Para mim, o talento daquela jovem para descrever envolvimentos, sentimentos e
personagens da vida cotidiana, é o mais maravilhoso que já conheci.
7
[...] comum no modo de falar, estéril em termos de inovação artística, prisioneira
das infelizes convenções inglesas, sem talento, sagacidade ou conhecimento de mundo.
Nunca a vida foi tão restrita.
8
[...] Constantemente, Austen demonstra desconforto com sua herança cultural,
especificamente com o restrito espaço designado para as mulheres no patriarcado e
sua análise da economia da exploração sexual. Ao mesmo tempo, entretanto, sabe,
desde o início de sua carreira, que não há outro lugar para ela exceto aquele espaço
restrito. Sua estratégia paródica é por si só uma testemunha de sua luta com estruturas
inadequadas, mas inescapáveis.
9
Austen foi a mais inglesa de todos os escritores de ficção.
10
A esposa dele é tudo o que os vizinhos poderiam esperar dela, tola e rabugenta,
assim como extravagante.
11
Passei a noite de sexta-feira com os Mapletons e fui obrigada a me mostrar satisfeita
contra minha vontade.
12
Jane Austen é senhora de uma emoção mais profunda do que parece à primeira
vista. Ela nos incentiva a suprir o que não está explícito.
13
Romancista nenhum jamais fez uso tão apropriado de um impecável senso dos
valores humanos. É contra o fundo de julgamento certeiro, de bom gosto infalível, e
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 80
de moral quase rígida, que expõe desvios da bondade, verdade e sinceridade que estão
entre as coisas mais deliciosas da literatura.
14
Sou uma ingrata; ficar tão ocupada com essas coisas a ponto de parecer não pensar
nas pessoas e circunstâncias que realmente fornecem interesse duradouro – a sociedade
ao nosso redor.
REFERÊNCIAS
AUSTEN, H. Biographical notice of the author. In: AUSTEN, J. Persuasion.
Disponível em: http://www.austen.com. Acesso em: 8 ago. 2012.
AUSTEN, J. (1813). Pride and Prejudice. Trad. Marcella Furtado. São Paulo:
Landmark, 2008.
AUSTEN-LEIGH, J. E. Memoir of Jane Austen. London: Richard Bentley
and Son edition by Les Bowler, 1871.
AUSTEN-LEIGH, W. & AUSTEN-LEIGH, R. A. Jane Austen her Life and
Letters: A Family Record (1913). Disponível em: http://www.archive.org.
Acesso em: 10 ago. 2012.
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Trad. Sérgio Miliet. 2. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2009.
BOOTH, W. Resurrection of the Implied Author: Why Bother? In: PHELAN, J.
& RABINOWITZ, P. A Companion to Narrative Theory. Oxford: Blackwell
Publishing Ltd., 2005. p. 75-89.
BURGESS, A. A literatura inglesa. Trad. Duda Machado, 2.ed. São Paulo:
Editora Ática, 2004.
FAYE, D. LE. Jane Austen: the World of her Novels. London: Frances
Lincoln, 2002.
FERGUS, J. Jane Austen and the Didactic Novel: Northanger Abbey, Sense and
Sensibility and Pride and Prejudice. The International Fiction Review, 1983. p. 139-
141. Disponível em: http://www.journals.hil.unb.ca. Acesso em: 4 ago. 2012.
GILBERT, S. M. & GUBAR, S. The Madwoman in the Attic: the woman
writer and the nineteenth-century literary imagination. 2nd ed. New Haven:
Yale University Press, 2000.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 81
HUBBACK, J. H. & EDITH C. H. Jane Austen’s Sailor Brothers: Being the
Adventures of Sir Francis Austen ... and ... Charles Austen (1906). Disponível
em: http://www.archive.org. Acesso em: 8 ago. 2012.
KNATCHBULL-HUGESSEN, E. H. Letters of Jane Austen. London:
Bentley, 1884.
LEASKA, M. A. The Virginia Woolf Reader. New York: Harcourt Brace,
1984.
SALES, R. Jane Austen and Representations of Regency England. London:
Routledge, 1994.
SCOTT, W. The Journal of Sir Walter Scott. Disponível em: http://
www.gutenberg.org/ebooks. Acesso em: 10 jun. 2012.
SHERRY, N. Jane Austen. New York: Arco, 1969.
WOOLF, V. A Room of One’s Own: Three Guineas. Disponível em: http://
www.books.google.com.br. Acesso em: 6 jun. 2012.
________.The Common Reader. Disponível em http://
www.ebooks.adelaide.edu.au. Acesso em: 7 jun. 2012.
________. Jane Austen. In LEASKA, M. A. The Virginia Woolf Reader.
New York: Harcourt Brace, 1984. p. 220-232.
Mail Marques de AZEVEDO
Doutora em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela USP. Vice-
Coordenadora e professora do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade
– PR.
Priscila Maria Menna Gonçalves KINOSHITA
Mestre em Teoria Literária pela Uniandrade.
Artigo recebido em 30 de setembro de 2012.
Aceito em 11 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 82
O ENCONTRO, DE ANNE ENRIGHT:
EM BUSCA DA MEMÓRIA PERDIDA
Patrícia B. Talhari
ptalhari@uol.com.br
Brunilda T. Reichmann
brunilda9977@gmail.com
Resumo: Utilizando os conceitos de Abstract: Using the concepts of
memória voluntária e involuntária, voluntary and involuntary memory
apresentados por Samuel Beckett em seu presented by Samuel Beckett in his essay
ensaio sobre Proust, e principalmente on Proust, and mainly the notions of
noções da psicanálise lacaniana, Lacan’s psychoanalysis, in this paper, we
adentramos, neste artigo, o universo enter the fictional universe of The
ficcional de O encontro, de Anne Enright. Gathering, by Anne Enright. The narrative
A narrativa é desencadeada pelo suicídio is triggered by Liam’s suicide, the brother
de Liam, irmão da narradora e of the narrator and protagonist of the
protagonista do romance. Ao construir novel. As she constructs her fictional text,
seu texto ficcional, a autora desafia o leitor the author defies the reader to perform
a perfazer o mesmo nebuloso e tortuoso the same nebulous and tortuous path
caminho da narradora no desvenda- of the narrator in the revelation of the
mento do complexo contexto de abuso complex context of sexual abuse suffered
sexual sofrido por seu irmão quando by her brother when he was a child. The
criança. Os dias que seguem à notícia da days that follow the news of his death
morte até o sepultamento são dias de until the burial are days of suffering,
sofrimento, devaneios e buscas volun- daydreaming and voluntary search. Inside
tárias. Dentro dessa narrativa do “presente” this narrative in the “present” tense, there
há outra, em que Veronica procura is another one, in which Veronica tries to
reconstituir, através de resgates do reconstruct, through rescuing of the
passado, o momento em que o agressor past, the moment the aggressor entered
imiscuiu-se na família. Tempos e vozes the family. Times and voices intermingle
fundem-se nessa busca da memória in this quest for lost memory, emulating
perdida, simulando um movimento do a movement of the game fort-da in
jogo fort-da em termos psicanalíticos, em psychoanalytic terms, around the act that
torno do ato que originou o trauma. originated the trauma.
Palavras-chave: Escritora irlandesa contemporânea. Resgate do passado. Psicanálise
lacaniana.
Keywords: Contemporary Irish woman writer. Rescue of the past. Lacanian
psychoanalysis.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 83
Porque o mundo nunca saberá o que aconteceu com a gente
e o que a gente leva consigo como resultado disso.
Anne Enright
A Irlanda é berço de escritores internacionalmente conhecidos
como James Joyce e Oscar Wilde, além de ser o país de ganhadores do
Prêmio Nobel da Literatura: William Butler Yeats, em 1924, George Bernard
Shaw, em 1925, e Samuel Beckett, em 1969. Nenhuma mulher atingiu o
sucesso de tais nomes na Irlanda do passado; no presente, Anne Enright é
uma das escritoras de expressão inglesa que se destaca entre vários
romancistas de seu país. Autora de contos, livros de ficção e não ficção,
Enright obteve repercussão internacional em 2008, quando recebeu o Man
Book Prize e o prêmio Irish Novel of the Year pelo romance The Gathering [O
encontro]. Após este romance, o primeiro a ser traduzido para o português,
Enright lançou dois livros de contos – Taking Pictures (2008) e Yesterday’s
Weather (2009). Ainda em 2009, Enright participou da 7ª Festa Literária
Internacional de Paraty (FLIP).
Pode-se perceber, na narrativa de Enright, ressonâncias tanto das
inovações literárias introduzidas por escritores como James Joyce, como
das profundas modificações sociais que vêm ocorrendo no país desde o
século passado. Este artigo debruça-se sobre o romance O encontro e propõe
uma leitura do nebuloso e fragmentado universo ficcional construído por
Enright, com base nos escritos de Samuel Beckett sobre a memória e na
psicanálise lacaniana.
Em entrevista oferecida a Folha de São Paulo por ocasião da FLIP
de 2009, Enright comentou que muito da discussão presente em sua ficção
se deve ao considerável enfraquecimento da influência da igreja católica no
país. Na opinião da escritora, foi sua geração (ela nasceu precisamente no
primeiro dia do Segundo Conselho do Vaticano, no dia 11 de outubro de
1962) que iniciou esse debate (CHAVES, 2009).
Quase cinquenta anos depois do grande encontro de católicos em
Roma, a mídia mundial expõe o cenário que o motivou. Em 2009, os
resultados de uma longa investigação revelaram que casos de pedofilia em
instituições católicas para crianças irlandesas foram endêmicos entre 1930 e
1990. A comissão ouviu, durante nove anos, os depoimentos de milhares
de homens e mulheres, atualmente com idades entre 50 e 70 anos que
foram enviados a mais de 250 instituições dirigidas pela Igreja, por serem
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 84
considerados, quando jovens, menores infratores ou em situação de risco,
devido aos crescentes desajustes de família disfuncional. De modo geral, os
pais, os responsáveis por esses estabelecimentos, as autoridades de órgãos de
proteção ao menor e da própria igreja não acreditavam neles, quando
denunciavam atos abusivos de pessoas que deveriam protegê-los. “Na melhor
das hipóteses, os acusados eram trocados, mas nada era feito para compensar
o mal às crianças. Na pior, a criança era acusada e vista como corrompida pela
atividade sexual – o que garantia punição severa” (COMISSÃO, 05/2009).
Essa “onda de escândalos pelos abusos a crianças começou
primeiramente na Irlanda e estendeu-se à Alemanha, Áustria, Itália, Holanda
e Bélgica, além dos Estados Unidos e de vários países da América Latina”
(VATICANO, 11/2010). Com relação a isso, o Papa, como chefe da Igreja,
procura defender a instituição, ao afirmar que se trata de atos individuais;
de outro, reconhece sua responsabilidade ao “enviar às conferências
episcopais de todo o mundo uma carta circular com as diretrizes para
‘oferecer um programa coordenado e eficaz’ em resposta a casos de padres
pedófilos” (VATICANO, 11/2010).
Este artigo não pretende trabalhar o romance sob esse viés, ou
seja, estender-se sobre os quadros de abuso em comunidades católicas na
Irlanda, mas investigar como Enright constrói seu universo ficcional num
vai e vem – fort-da – de lembranças nítidas e embaçadas, verdadeiras e
duvidosas, da protagonista Veronica sobre o trauma da infância que a
narradora considera causador da morte do irmão. Ela transpõe o problema
social de abuso infantil para o âmbito privado de sua ficção.
A narrativa de O encontro tem início em novembro de 1998, quando a
narradora-protagonista, Veronica, é informada do suicídio de seu irmão, Liam,
e termina em março de 1999, quando a família toda se reúne para prestar-lhe as
últimas homenagens. O tempo “presente” do relato tem como referência a
compra da casa de Veronica: “Compramos há oito anos, em 1990” (p. 37)1.
As lembranças aparentemente sem importância de cenas cotidianas
da infância e adolescência, envolvendo seus onze irmãos, seus pais e seus
avôs maternos são entremeadas com reflexões de Veronica adulta sobre a
dor da perda do irmão. A narrativa difusa e a fragmentação do enredo
captam e prendem a atenção do leitor. O texto ficcional é, na verdade,
orientado pela tentativa de reconstituição dos acontecimentos que
culminaram na morte de seu irmão mais próximo, apenas onze meses mais
velho do que ela: “As sementes da morte de meu irmão foram plantadas
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 85
muitos anos atrás. A pessoa que as plantou está morta há muito, pelo menos
penso que está. Então, se quero contar a história de Liam, tenho que começar
muito antes de ele nascer” (p. 17).
Assim, o romance começa com a determinação de Veronica de
recuperar a lembrança difusa do abuso sexual de que seu irmão fora vítima,
quando ambos eram crianças. A cena de que se recorda realmente
acontecera? “Eu gostaria de registrar o que aconteceu na casa de minha avó
no verão em que eu tinha oito ou nove anos, mas não tenho certeza se
realmente aconteceu. Tenho de testemunhar um acontecimento incerto” (p. 7).
Nessa busca da memória perdida, é particularmente importante
estabelecer que ela, Liam e a pequena Kitty, entre os doze filhos, foram
deixados na casa da avó materna que não tinha espaço para crianças, “cujos
quartos eram cheios de coisas [...] que não se podiam tocar” (p. 46), enquanto
sua pobre mãe, ausente e frágil, “o esquecimento em pessoa, [...] uma pessoa
tão vaga que é possível que ela nem se veja” (p. 9), recuperava-se de mais um
esgotamento nervoso, ou da perda de mais um bebê – foram sete natimortos.
A memória, constantemente evocada por Veronica, pode brotar,
segundo Samuel Beckett, em seu ensaio Proust (2003), de forma voluntária
ou involuntária. A memória voluntária é “a memória que não é memória,
mas simples consulta ao índice remissivo do Velho Testamento do indivíduo”
(p. 31) e a memória involuntária que “é explosiva, ‘uma deflagração total,
imediata e deliciosa’ [r]estaura não somente o objeto passado, mas também
o Lázaro fascinado ou torturado por ele [...] e em seu fulgor revela o que a
falsa realidade da experiência não pôde e jamais poderia revelar – o real”
(p. 33). Em O encontro, a construção da narrativa está vinculada a esses dois
tipos de memória apresentados por Beckett, a involuntária, que é acionada
pela notícia do suicídio de Liam, e a voluntária, na busca consciente de
Veronica ao folhear o álbum de família imaginário e tentar resgatar o momento
que causou o grande trauma na vida do irmão. Ao reconstituir o nebuloso
passado, realidade que a experiência não revelara, mas que agora explode claro
em sua mente, Veronica sente-se compelida a gritar a verdade para sua mãe,
mas, reconhecendo que talvez a própria mãe tenha sido vítima do agressor do
irmão, cala-se novamente, como faziam todos os irmãos na casa paterna.
Como parte do processo de lembrar-se voluntariamente, Veronica
passa noites em claro escrevendo outra narrativa sobre a juventude de sua
avó Ada, em especial sobre os acontecimentos do longínquo ano de 1925,
em que tenta (re)criar a situação na qual Ada conhece Lambert Nugent e
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 86
Charlie Spillane, casando-se com este último: “Ela não se casou com Nugent,
você [leitor] vai ficar aliviado de saber. Casou com o amigo dele, Charlie
Spillane. [...] Mas ele nunca a deixou. Minha avó era o ato mais imaginativo
de Lamb Nugent” (p. 24). Esse triângulo abre as portas da casa para Nugent,
que passa a ser o “amigo da família que estava lá o tempo todo” (p. 63).
A construção do romance segue na busca da lembrança perdida
em um processo similar ao da psicanálise: Veronica – que conduz o leitor –
aproxima-se e recua diante da lembrança fundamental, evitando enfrentar
diretamente o ato deflagrador do trauma de Liam e de seu próprio. Como
protagonista, Veronica é a paciente que procura, através da memória voluntária
ou involuntária, trazer à tona lembranças reprimidas e eventos nebulosos.
Como narradora, tem o papel de psicanalista, cuja ação “deve consistir em
suspender as certezas do sujeito, até que se consumem suas últimas miragens. É
no discurso que devem escandir-se a resolução delas” (LACAN, 1998, p. 253).
Lacan conclui que o simples fato de organizar os eventos psíquicos
significantes por meio da linguagem e dirigir esse discurso a um ouvinte, já
faz o psicanalisado organizá-los para si mesmo. O papel do analista, no
entanto, não é o de mero receptor da mensagem. Muito além do que propunha
Jacobson, todos os envolvidos no discurso têm papel em sua construção. O
psicanalista ajuda a organizar os acontecimentos como “uma pontuação oportuna
que dá sentido ao discurso do sujeito. [...] assim se pode operar a regressão, que
é apenas a atualização [desse] discurso” (LACAN, 1998, p. 253).
Quão complexo é o problema do que ela [a linguagem] significa, quando o
psicólogo a relaciona com o sujeito do conhecimento, isto é, com o
pensamento do sujeito. [...] A linguagem, antes de significar alguma coisa,
significa para alguém. [...] o que ele [paciente] lhe [ao analista] diz pode não
ter nenhum sentido, mas o lhe2 diz contém um sentido. (LACAN, 1998, p. 86).
Assim, Veronica, narradora, protagonista e testemunha da ação,
assumindo sua função múltipla, elabora, por meio da memória voluntária
mas nebulosa, e do discurso, tanto a lembrança como a narrativa do evento
causador do sofrimento psíquico. Por meio de indicações disseminadas ao
longo do romance, informa ao leitor que Veronica tinha oito anos e Liam
nove, em 1967. Nesse ano, no que “eram para ser apenas umas férias de
verão, ela e Liam constataram que as crianças tinham sumido das ruas: eles
tinham sido deixados para trás” (p. 119). Como devem ficar na casa de
Ada, têm que ser matriculados em escolas católicas. Veronica é bem acolhida no
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 87
colégio St. Dympna, embora a irmã Benedict prefira se alienar – e às crianças –
tanto da situação particular de Veronica como da Irlanda através da religião:
[...] uma mulher passional [...] que nos beijou com ímpeto e apertou nossas
caras de crianças [...]. Ela me empurrou, se ajoelhou na minha frente e
segurou minha cabeça com as mãos grandes. Ela na verdade pôs a mão em
cima de minhas orelhas, de forma que era o eco do corpo dela que eu ouvia
quando me disse que eu era uma menina muito bonita e que a escola ia ficar
muito, muito contente de me receber. Eu [...] seria um dos soldadinhos de
Deus, e é assim que me lembro da minha época de Benedict, como uma
época de marchas [...]: Jesus em nossos corações, Maria olhando por cima
de um ombro, nosso Anjo da Guarda do outro [...]. E não havia em parte
alguma lugar para o Diabo. (p. 120)
Esse capítulo é fundamental para nossa análise, especialmente pelo
nome da escola, como forma de aludir ao assunto central do romance:
A escola tinha o nome de Dympna, uma antiga princesa irlandesa que se
recusou a casar com o próprio pai. Quando a mãe dela, a rainha, morreu, o
pai de Dympna procurou o reino inteiro, mas não conseguiu encontrar
uma noiva. Então pousou os olhos sobre a própria filha. Dympna fugiu
com seu padre confessor até a Bélgica, onde o pai dela, o rei, a alcançou e
cortou fora sua cabeça. Que história fantástica. Santa Dympna, padroeira
dos loucos, [...] porque o pai dela era louco de querer casar com ela. (p. 120)
Esse resgate da história de Dympna, a princesa, faz referência a
um tipo bem específico de abuso sexual infantil, o incesto. A consequência
para a princesa é análoga às relatadas nos documentos oficiais de 2009: as
vítimas de abuso sexual eram consideradas culpadas; portanto, merecedoras
de castigo. Na melhor das hipóteses, tiveram que conviver com as
consequências de suas feridas psíquicas. Na pior, foram assassinadas como
no caso de Dympna ou recorreram à morte mental – ou real, como Liam
– como única forma de acabar com a dor. O rei foi tratado como louco,
uma exceção ao sistema social, um caso pontual. Seja louco, seja autoridade
ou exceção, não havia nada a fazer, muito menos a comentar. De forma
geral, essa atitude de envolvidos ou informados do abuso enraizou-se na
Irlanda. Por medo, culpa ou ignorância não se falava sobre “isso”.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 88
A analogia entre os nomes de Santos e os utilizados por Enright
prossegue. Irmã Benedict informa a Veronica sobre a referência a seu nome:
“Santa Verônica enxugou o rosto de Cristo a caminho do Calvário. [...]
Achei que podia me tornar uma limpadora de coisas quando crescesse:
sangue, lágrimas, essas coisas todas” (p. 121). É o que, de fato, a narradora
metaforicamente tenta fazer. Limpar, esclarecer, aliviar a dor. Mais
esclarecedora ainda é a relação que faz de seu nome com o evento que
(talvez) presenciara: “Eu confundia Veronica com a mulher sangrando do
Evangelho, aquela para quem Cristo disse: ‘Alguém me tocou’, e confundia
também com a mulher a quem Ele disse ‘Noli me tangere’, coisa que
aconteceu depois da ressurreição. ‘Não me toque’. Por que ela não podia
tocá-Lo?” (p. 121).
O paralelo cresce em significado, quando se refere a Nugent:
Ada o chamava de Nolly, embora nós todos soubéssemos que ele se
chamava Mr. Nugent, se fosse preciso chamá-lo de alguma coisa, o que não
fazíamos. Às vezes, ela o chamava de Nolly May, e falava depois que ele ia
embora: “Ah, Nolly May”, empurrando a cadeira onde ele se havia sentado
virado para a parede. (p. 96)3
O leitor é levado então a retomar uma referência anterior a essa
do apelido, Nolly May. Os fragmentos da narrativa parecem ter mais sentido,
agora. O que “Nolly May” evoca para Veronica? “É a segunda-feira de
Páscoa, uma época ainda branda4. É o dia em que o Cristo diz “Noli me
tangere” para a mulher do horto. Não me toque. É cedo demais. Cedo
demais para ser tocado. Ah, Nolly May” (p. 99). Era muito cedo para que
Nolly May tocasse em Liam. Veronica-personagem se pergunta por que
Verônica-do-horto não podia tocar em Jesus.
A narradora-protagonista, como uma paciente em terapia, não
consegue falar sobre a essência, nem nomear quem causou a dor psíquica.
Recorda e relata, contudo, as lembranças que provocam pouca ou nenhuma
angústia, as que ocorreram imediatamente antes ou logo depois do ato
violento, num processo conhecido como dissociação ou deslocamento. O
leitor, que vive a ação junto a Veronica, também faz às vezes de paciente.
Desorientado, vivencia esse percurso desordenado da memória, tanto
voluntária como involuntária, e retorna ao ponto da diegese em que lera
algo semelhante.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 89
Veronica-narradora, narratário e leitor atuam também como
psicanalistas, ao verbalizar o que acontecera, para – como Santa Verônica –
enxugar as lágrimas, aliviar a dor. Essa reconstituição intencional de eventos
dá corpo do romance: “[...] a ordem simbólica que é constituinte para o
sujeito, demonstrando-lhes numa história a determinação fundamental que
o sujeito recebe do percurso de um significante. É essa verdade, podemos
notar, que possibilita a própria existência da ficção” (LACAN, 1998, p. 13).
Da mesma forma, o discurso constrói a personagem Veronica: afinal, narradora
e/ou protagonista, ela é um construto ficcional. Mais do que isso, sua identidade,
como a do indivíduo real só se configura por meio da linguagem.
Prosseguindo na leitura psicanalítica, podem-se levantar indícios,
na narrativa de que, em relação ao abuso sexual, não se trata de uma
lembrança inventada. Primeiramente, porque a psique em formação de
uma criança não cria uma imagem que lhe provoque sofrimento psíquico.
A própria Veronica esclarece para o leitor que não esteja familiarizado com
o funcionamento da mente em formação: “Crianças não entendem a dor;
elas fazem experiências com a dor, mas pode-se dizer que não sentem, ou
não sabem como sentir dor, até crescerem” (p. 121). Além do mais, a
narradora – e o leitor, junto a ela – só será capaz de evocar a cena em que
seu irmão poderia ter sido abusado depois de elaborá-la várias vezes.
Nesse sentido, as prolepses são tanto o prenúncio do que virá,
uma indicação para o leitor da veracidade do evento ocorrido em 1967,
como uma referência de que a narradora tentará reunir, organizar suas
lembranças até que consiga recriar esse episódio em sua memória, até que
chegue a “hora de pôr um fim a histórias cambiantes e a divagações [...] de
pôr um fim no romance e contar apenas o que aconteceu” (p. 132). É por
meio da desconstrução do discurso, da desestabilização do enredo, do
questionamento da própria memória e de suas certezas previamente
estabelecidas que Veronica determinará, por fim, a verdade, ao mesmo
tempo em que o leitor constata a verossimilhança da narrativa. No ponto
culminante da busca voluntária da lembrança perdida:
O que me surpreendeu foi a estranheza que vi quando abri a porta. Era como se
o pênis do Sr. Nugent, que estava espetado para fora da calça, tivesse crescido
estranhamente e florescido na ponta, produzindo uma grande e desajeitada
forma de menino, sendo esse menino meu irmão Liam, que, acabei por ver,
não era uma extensão do membro do homem, ali misteriosamente no chão na
frente dele, mas um menino de nove anos chocado [...]. (p. 133)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 90
Para o senso comum também pode causar estranhamento que
esse contato físico, se limitado a esse evento, possa ter gerado tanto
sofrimento para Liam e tanta culpa para Veronica. Assim, cabe definir o
que a Psicologia entende como ASI:
[...] refere-se a todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual,
cujo agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais
adiantado que a criança ou adolescente. O ASI envolve diferentes atos
abusivos, com e sem intercurso sexual completo, em que o abusador busca
obter suas próprias gratificações sexuais, de modo repetitivo e intencional,
através da estimulação precoce da sexualidade da criança. (BORGES, p.12)
Entende-se, dessa forma que, ainda que aparentemente consentido
ou não-violento, o abuso sexual infantil imprime sequelas profundas nas
crianças, que as acompanharão durante toda a vida:
[...] vítimas de Abuso Sexual Infantil podem apresentar sentimentos de
culpa, dificuldade em confiar no outro, comportamento hipersexualizado,
medos, pesadelos, isolamento, sentimentos de desamparo e ódio, fugas de
casa, baixa auto-estima, sintomas somáticos, agressividade, [...] depressão,
ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de
conduta, transtorno de abuso de substâncias, dificuldades na vida
profissional [...] (BORGES, p. 14).
O personagem Liam apresenta esses sintomas. Aos nove anos Liam
“começou a ter medo durante a noite” (p. 111). Antes disso, já era “dado a
súbitas mudanças e alterações de conduta, mas que eram muitas vezes tão
hilárias quanto horrendas” (p. 49). Chegou a ir à faculdade, mas perdera os
exames finais (p. 112) e como consequência, “passou a maior parte de sua
vida profissional como atendente de hospital [...]. Ele empurrava camas
pelos corredores, embalava tumores cancerosos em sacos, levava membros
amputados para o incinerador e gostava disso, dizia. Gostava da companhia”
(p. 40). A agressividade, do mesmo modo, fazia-se notar:
Ainda adolescente brigava com as pessoas [...]. Havia um problema com o
aluguel: ele colocara o envelope debaixo da porta, disse, era um envelope
branco, comprido, como o nome do sujeito escrito com esferográfica vermelha.
Quando Liam entrava em detalhes, eu sabia que ele estava mentindo,
também que estava começando a convencer-se a si mesmo. (p. 115)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 91
Era também um alcoólico diagnosticado. Quando Veronica deu à
luz à sua primeira filha, oito anos antes de Liam suicidar-se, a narradora
descreve que “dava para sentir o cheiro do calmante que ele havia tomado
antes de chegar à porta do hospital, dava para sentir o cheiro do vinho do
almoço e da cerveja da noite anterior. [...] Ele já não comia muito, naqueles
últimos anos, o corpo já num ciclo de álcool” (p. 53). “Sóbrio, ele perdia o
ônibus, esquecia de fazer baldeação, perdia ou roubava coisas” (p. 118).
Apesar desses comportamentos provenientes de sequelas psicológicas,
“era astuto sobre a vida das pessoas, suas fraquezas e esperanças, as pequenas
mentiras que contavam a si mesmas [...] esse era o grande talento de Liam:
expor a mentira” (p. 117), de forma análoga à narrativa.
Seguindo o emaranhado das idas e vindas da memória de Veronica,
processo no qual as memórias, voluntária e involuntária, se entrelaçam e
sobrepõem, concentremo-nos na construção da personagem Lambert
Nugent. Sua descrição corresponde perfeitamente ao perfil do pedófilo,
como descrito em blog especializado (RUGGLES, 02/2009). O pedófilo
faz-se uma presença constante no núcleo (família, escola, oficinas) de seu(s)
objeto(s) de desejo, como ocorria com Nugent, sempre presente na casa
de Ada na época em que Veronica, Liam e Kitty moravam com ela. Quando
o avô Charlie morrera, quem estava ali, rezando, acalmando e controlando
a viúva Ada? “O Sr. Nugent. Claro. E agora que lembro de Nugent lá, no
fim, devo me lembrar dele no quarto o tempo todo, sentado ao lado do
guarda-roupa [...]. Nunca confiei em homens que rezam” (p. 62-63).
O pedófilo também apresenta padrões de conduta impecáveis e
sempre procura agradar às crianças, sobretudo com presentes: “O pedófilo
aparenta ser confiável e respeitável. Tem uma boa posição na sociedade.
Cuida das crianças com tempo de qualidade, oferecendo-lhes jogos de
vídeo, festas, doces, brinquedos, presentes, dinheiro”5:
Aquela manhã de Natal estava clara e revigorante como sempre: minha
lembrança não permite que chova. Mas também não permite que a gente vá
para a casa em Griffith Way, porque foi o ano em que estávamos acampados
com Ada, eu, Liam e Kitty, e não vimos nossa mãe [...] – mamãe ainda não
está bem [...]. E à noite o Sr. Nugent apareceu com uma caixa de geléia com
frutas, ou geléias em forma de frutas, em semicírculos laranja, amarelos e
verdes. (p. 82-83)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 92
O molestador de crianças também “prefere a companhia de
crianças. Sente-se mais confortável com elas do que com adultos”6: “O Sr.
Nugent veio depois com uma caixa de geléia de frutas. Ignorou Ada e
preferiu conversar com as crianças. Era Natal: era o nosso dia” (p. 87):
E lá estava Nolly May no quarto bom, pigarreando e engolindo, enquanto
comíamos os biscoitos VoVo que ele trazia e as balas de anis Blackjack. Eu
o conhecia pelo gosto dos doces e pelo brilho de seus óculos, ou pelo
volume de seus bolsos, ou pelos estranhos pelos que cresciam dentro de
sua orelha. Ele colocava a mão bem em cima de cada joelho e sempre se
inclinava ligeiramente para a frente, sem encostar direito nas costas da cadeira.
Sentava-se como alguém que não estava praticando muito sexo, agora que o
vejo com o olho da memória, e seu olhar era também casual demais, de um
jeito que agora reconheço. Embora ele tivesse, à sua maneira sombria, quatro
filhos e uma esposa que nunca vimos, chamada Kathleen. Quando Ada
não estava na sala, ele se levantava da cadeira, ia até a televisão e a desligava
com um tranco. Então se voltava e olhava para nós. Depois de um minuto
tirava de dentro do bolso alguma coisa. (p. 97)
Com esse modus operandi do pedófilo, reconhecível em Nugent,
compreende-se porque Liam tinha papel ativo na cena que Veronica
testemunhara: “[o pedófilo] raramente força ou coage uma criança a ter
contato sexual. Geralmente o faz através de confiança e amizade. O contato
físico é gradual começando por tocar, cutucar, pegar no colo, beijar, etc.”7.
A construção da narradora-protagonista também obedece
rigorosamente ao funcionamento da psique. Uma pessoa que houvesse
presenciado, aos oito ou nove anos, um abuso sexual infantil (ASI), sofreria
também de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Note-se que o
perfil de Verônica encaixa-se em um de seus sintomas mais característicos:
O TEPT, ainda, é compreendido como um distúrbio de memória, devido
às falhas no processamento da informação do evento traumático, que pode
estar associado ao processo seletivo do conteúdo do evento traumático. [...]
Como consequência, ocorre um distúrbio da memória autobiográfica, que
é caracterizado pela pobre elaboração e contextualização de estímulos
presentes no momento do evento traumático, além de forte associação ou
generalização das memórias do evento. (BORGES, p. 24)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 93
A inabilidade em recordar e organizar um evento passado
significativo, como esse que Veronica sente “rugir dentro dela” (p. 7), traduz-
se em dissociação: “A representação de um acontecimento necessita que o
mesmo seja ‘percebido’, ‘codificado’, ‘armazenado’ e que possa ser ‘evocado’
(por outro lado, que possa ser ‘esquecido’), para usar as expressões mais
comuns nesta área” (CHAVES, 1993). Assim, a cena não pôde ser codificada
devido à imaturidade psicossexual da narradora-protagonista. Sem
referências para entender o que significava aquilo, embora intuísse que algo
não estava bem, Veronica bloqueara a imagem da memória, recordando
apenas fragmentos deslocados, até que a morte do irmão a leva de volta à
cena. “Mas nunca teria tirado essa conclusão [de que presenciara uma cena
de pedofilia] por conta própria: se eu não estivesse ouvindo rádio, lendo o
jornal, ouvindo o que acontecia em escola, igrejas, nas casas das pessoas.
Aquilo estourou na minha cara e mesmo assim eu não entendi” (p. 158).
Não entender, ou seja, não elaborar o ocorrido reflete-se também
em não ser capaz de falar sobre ele. Some-se a esse silêncio o medo do
castigo/culpabilização que seria infligido por quem deveria cuidar dessas
vítimas.
[...] O comportamento de esquiva, em geral, interfere nas atividades
cotidianas da pessoa, devido à alta energia emocional empenhada na
aquisição de lembranças e sentimentos relacionados ao trauma. Percebe-
se ainda, o entorpecimento emocional, o qual pode se caracterizado pela
dificuldade do paciente com TEPST em descrever, expressar e ganhar
afeto. (BORGES, p. 23)
O fato de não ter mencionado o que presenciara é a maior dor da
protagonista, a que a imobiliza, que não a permite desfrutar do prazer
sexual, que paralisa também seu casamento – pelo menos depois da morte
de Liam:
Eu amo meu marido, mas lá estava com uma perna de cada lado de seu
dançante quadril de garoto do campo e não me senti viva. Me senti como
uma galinha quando é destrinchada. (p. 40)
A última vez que toquei nele foi na noite do velório de Liam. E não sei o
que acontece comigo desde então, mas não acredito mais no corpo de meu
marido. (p. 69)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 94
É precisamente essa impossibilidade de expressão verbal que dá
origem ao romance. O silêncio, partilhado por todas as personagens, mais
do que incômodo, é identificado com a dor, com o sofrimento. Quando
criança, Veronica perguntara ao pai como a Virgem Maria, se havia subido
de corpo e alma ao céu, ia ao banheiro. Como resposta, recebeu do pai
uma forte pancada:
Depois que papai me bateu do lado da cabeça, eu me virei e me afastei em
absoluto silêncio. Ele pode ter se sentido chocado consigo mesmo. E
certamente me chocou. Mas a verdade é que eu não acreditava em céu na
época, e nunca acreditaria. E quando pensava no inferno, o inferno era
apenas muito quieto. (p. 209)
Note-se que era esse o protocolo de interação esperado na época.
Veronica observa que o pai “tinha lindos modos. O que, se você perguntar
para mim, era sobretudo uma questão de não dizer nada para ninguém
nunca” (p. 42). Assim, ele nem sequer explicava porque, mas “cutucava o
ombro dos meninos com o indicador esticado: O quê. Estou. Afinal.
Dizendo para você?” (p. 152).
Veronica e os irmãos, do mesmo modo, sempre conversam “sobre
outras coisas” (p. 239). Tampouco é possível conversar sobre o abuso com
a mãe. Desde muito cedo, o “mantra” da infância de Veronica, repetidamente
proferido pelo pai e irmãos ao longo da narrativa era “não conte para
mamãe” (p. 14). Essa mulher frágil, com suas eternas pílulas, suas ausências
e passividade, parece também ter sido vítima de Nolly May. Ao saber que
seu filho se suicidara, emudece e então profere um “som terrível” que
atravessa todo o romance:
[...] se vira, procura a bancada para se apoiar e se pendura ali, entre a bancada
e a mesa; a cabeça afundada abaixo dos braços abertos. Durante um
momento fica em silêncio e então um som terrível sai de dentro dela. Muito
macio. Parece subir de suas costas. Ela levanta a cabeça e se vira para mim, de
forma que posso ver seu rosto; a expressão dele, naquele momento, e como
jamais voltará a ser o mesmo outra vez. (p. 14)
O silêncio como expressão da dor também é empregado por
Veronica: “Enquanto estou fazendo isso – dando meu grito mudo em
meu Saab conversível” (p. 30). Como personagem, presenciou a ação, mas
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 95
não consegue contá-la para os os pais e irmãos: “Nunca contei a verdade à
mamãe. Nunca contei a verdade a nenhum deles” (p. 188).
Mais representativa, ainda, é a cena em que Veronica, ao descobrir
recibos de aluguel, que comprovavam que Lamb Nugent era o proprietário da
casa em que Ada morava, atreve-se a perguntar para a mãe, logo após o funeral:
– Lembra de um homem na casa da vovó?
– Qual homem [...]?
– [...] um homem na casa da vovó, que costumava nos levar doces na sexta-
feira?
– [...]
– O que você está falando?
– Nada, mamãe.
– O que você está falando para mim?
– Olho para ela.
Estou falando que, no ano que você nos mandou embora, seu filho morto
foi molestado, quando você não estava lá para consolá-lo ou protegê-lo, e
esse abuso foi suficiente para colocá-lo num rumo que termina no caixão lá
em baixo. Era isso que eu estava falando, se você quer saber.
– Eu gostei dos doces, só isso mamãe. Volte para a cama. Só me lembrei
dos doces, mais nada. (p. 194)
Note-se que não há travessão no texto mais longo da citação.
Veronica não é capaz – nem teria sentido, naquele momento – falar com a
mãe, confusa e sem memória, sobre o ocorrido. Liam, a vítima; Nugent, o
agressor, e Ada, a conivente – com ou sem intenção de dolo –, estão
mortos, e “não se pode difamar os mortos, acho, só se lhes pode dar
consolação” (p. 7). Esta é a explosão mental não verbalizada da memória
involuntária, revelando o que “a falsa realidade da experiência não pôde e
jamais poderia revelar – o real” (BECKETT, 2003, p. 33).
Esse incômodo “não diga nada” que se opera na narrativa é, do
mesmo modo que a construção dos personagens, análogo à reação da
vítima e ao pacto de silêncio entre os envolvidos no abuso sexual infantil na
vida real. As personagens não são capazes de verbalizar o que sentem.
No tempo presente da narrativa Veronica é despertada pela dor
da perda, e consegue reconstituir os acontecimentos, com ajuda da discussão
sobre os abusos. Daí a necessidade de verbalizar: “Agora eu sei. Sei agora
que a expressão nos olhos de Liam era a expressão de alguém que estava
sozinho. Porque o mundo nunca saberá o que aconteceu com a gente e o
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 96
que a gente leva consigo como resultado disso” (p. 158). Em seu papel de
narradora, pode reelaborar o evento por meio do discurso para si mesma
e para o leitor. Nesse sentido, joga “o jogo da verdade, [no qual] só fazemos
redescobrir um segredo [...] que é ao se ocultar que ela mais verdadeiramente
se oferece a eles” (LACAN, 1998, p. 24).
Desse modo, Veronica-protagonista recupera a lembrança perdida,
ao mesmo tempo em que Veronica-narradora verbaliza os acontecimentos
para o leitor, tanto na narrativa principal como na narrativa secundária,
possibilitando a elaboração da dor. O discurso ficcional presta-se tanto à
fruição estética quanto à identificação – e compreensão – do leitor dessa
complexa situação familiar e suas implicações psicológicas. Anne Enright
prova, em O encontro, que é possível aliar a expressão artística à denúncia
social, através da construção do abuso sofrido por um personagem. A
narrativa em O encontro subverte a narrativa linear tradicional, sem se
desvincular dos dramas individuais, do contexto histórico-social e do
necessário questionamento do artista.
Notas
1
Todas as referências ao romance O encontro são da edição incluída nas Referências e
serão documentadas no corpo do trabalho com o(s) número(s) da(s) página(s) apenas.
2
Ou seja, o discurso é dirigido a alguém, e o simples fato de considerar um interlocutor
ajuda o paciente a organizar mentalmente os acontecimentos.
3
Este e todos os outros grifos são das autoras deste trabalho.
4
Ainda branda para a Irlanda, que ainda não debatia publicamente o abuso sexual
infantil? Ainda branda para as crianças?
5
Versão em inglês: “The pedophile appears to be trustworthy and respectable. Has
good standing in the community. Grooms children with quality time, video games,
parties, candy, toys, gifts, Money”.
6
Versão em inglês: “prefers the company of children. Feels more comfortable with
children than adults”.
7
Versão em inglês: [the pedophile] “rarely forces or coerces a child into sexual contact.
Usually does that through trust and friendship. Physical contact is gradual, from
touching, to picking up, to holding on lap, to kissing, etc.”.
REFERÊNCIAS
BECKETT, Samuel. Proust. Trad. Arthur Nestrovski. São Paulo: Cosac &
Naify, 2003.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 97
BORGES, Jeane Lessinger. Abuso Sexual Infantil: conseqüências cognitivas
e emocionais. Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em
Psicologia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Julho de 2009.
CHAVES, Márcia L. F. Memória humana: aspectos clínicos e modulação
por estados afetivos. Psicol. USP, v. 4, n.1-2, 1993.
CHAVES, Teresa. Anne Enright explora hoje na Flip a sensualidade da
mulher irlandesa. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/
ilustrada/ult90u590726.shtml. Acesso em: 21 ago. 2010.
Comissão revela milhares de casos de pedofilia em escolas católicas da Irlanda. Disponível
em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u568788.shtml.
Acesso em 02 ago. 2010.
ENRIGHT, Anne. O encontro. Trad. José Rubens Siqueira. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2008
LACAN, Jacques. Escritos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1998.
RUGGLES, Tammy L. Profile of a pedofile. Disponível em: http://
www.mental-health-matters.com. Acesso em: 03 ago. 2010.
VATICANO cria circular para conferências episcopais com diretrizes sobre
casos de pedofilia. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
833242-vaticano-cria-circular-para-conferencias-episcopais-com-diretrizes-
sobre-casos-de-pedofilia.shtml. Acesso em: 22 nov. 2010.
Patrícia B. TALHARI
Mestre em Teoria Literária do Centro Universitário Campos de Andrade –
Uniandrade. Assessora Pedagógica da Área de Línguas Estrangeiras na Editora
Positivo.
Brunilda T. REICHMANN
PhD em Literaturas de Língua Inglesa pela UNL, EUA. Professora Titular do Curso
de Letras da UFPR (aposentada). Professora Titular do Mestrado em Teoria Literária
da Uniandrade, PR. Fundadora e coeditora da revista Scripta Uniandrade.
Artigo recebido em 30 de setembro de 2012.
Aceito em 09 de novembro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 98
O BRASIL SOB O OLHAR DE P. K. PAGE:
A VIAGEM COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA,
SOCIAL E CULTURAL1
Sigrid Renaux
sigridrenaux@terra.com.br
Resumo: A nova edição do Brazilian Abstract: The new edition of
Journal (2011), da escritora, poeta e Braz ilian Jour nal (2011) by the
artista canadense P. K. Page, registra Canadian writer, poet and artist
fatos da época em que morou no P.K.Page, registers facts from the
Rio de Janeiro, de 1957 a 1959, time she lived in Rio de Janeiro, from
como esposa do embaixador 1957 to 1959, as the wife of the
canadense Arthur Irwin. Além de Canadian ambassador Arthur Irwin.
comentar episódios de nossa história Besides commenting on episodes of
social, política e cultural, Page our social, political and cultural
expressa no Diário, através de seu history, Page expresses in her Diary,
olhar estrangeiro, sua sensibilidade through her foreign glance, her
estética diante de nosso povo, aesthetic sensibility towards our
tradições culturais, fauna e flora, e, people, cultural traditions, fauna and
mais ainda, retrata a paisagem flora, and, even more, she depicts
brasileira em numerosas pinturas, the Brazilian landscape in several
que nos permitem acompanhar, paintings, which allow us to visually
visualmente, seu deslumbramento follow her fascination about Brazil.
pelo Brasil. Este artigo faz uma This article presents a reading of
leitura de trechos do diário, excerpts from her diary, emphasizing:
enfatizando: a natureza e a Page´s eco-critical perception of
percepção eco-crítica de Page; o nature; the diplomatic, political and
mundo diplomático, político e cultural world; Brazilian soccer,
cultural; o Brasil do futebol, fazendas, balangandãs, favelas and
fazendas, balangandãs, favelas e macumba.
macumba.
Palavras-chave: Brazilian Journal (2011) P. K. Page. Narrativas de viagem.
Keywords: Brazilian Journal (2011). P. K. Page. Travel narratives.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 99
Mesmo que a primeira edição do Brazilian Journal, de 1987, da
renomada escritora, poeta e artista canadense Patricia Kathleen Page (1916-
2010) – registrando acontecimentos da época em que morou no Rio de
Janeiro, de 1957 a 1959, como esposa do embaixador canadense Arthur
Irwin – já tenha recebido diversas leituras por parte de pesquisadores
brasileiros, como Miguel Nenevé e Sandra Goulart Almeida, entre outros,
o simples fato de uma nova edição, de 2011, estar complementada com
uma elucidativa introdução da editora Suzanne Bailey, notas explanatórias,
lista de ilustrações, índice e, principalmente, estar acrescida de trechos que
não constavam da versão original, já justifica uma nova leitura.
Como Bailey (2011) acentua na Introdução, os três anos de Page
no Brasil retêm uma “qualidade luminosa, levemente surreal na memória
da poeta; certa vez ela caracterizou esta paisagem e cultura de ‘barrocas’.
Page viaja ao Brasil, mas o país igualmente viaja com ela através de sua
carreira poética, sob qualquer aparência que suas lembranças possam assumir
– emocionais, intelectuais ou estéticas” (p. 7)1. Adiante, afirma que “Page,
ao preparar seus diários para publicação, já havia chegado a ver o Brasil
como marcando um importante ponto crítico em sua carreira, algo que
não ficara aparente a ela na ocasião em que estava escrevendo os diários”.
Ressalta ainda que, ao revisar os diários, Page tende a enfatizar suas profundas
reações ao Brasil baseadas nos sentidos, amenizando o lado mais sombrio
de suas experiências pessoais e sociais (p. 8). Essas considerações deixam
claro que a estadia de Page no Brasil não só a acompanhou, mas influenciou
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 100
sua carreira artística posterior, e, igualmente, a fez rever certas posturas
críticas expressas no diário de 1987, evidentemente advindas de sua formação
cultural.
Assim, mesmo que por ocasião da primeira publicação da obra
Page tenha escrito no Prefácio que o Brazilian Journal é um texto que
representa uma época passada, baseado em cartas à família e trechos de seu
diário escritos durante aqueles “anos privilegiados” em que morou no Brasil
e que “mais de 30 anos se passaram desde que os fatos descritos
aconteceram. A residência oficial em que morávamos e que amávamos foi
demolida. Nosso último contato com amigos brasileiros terminou. Neste
ínterim, a língua mudou; o Brasil mudou; eu mudei. Mas para mim – naquela
época – foi assim que aconteceu” (Victoria, B.C., 1987) (PAGE, 2011, p.
21)2, Page evidentemente continuou mudando e amadurecendo como pessoa
e artista: ela não só revisou o diário de 1987 para esta segunda publicação,
mas acrescentou “material para criar continuidade narrativa, removendo
comentários negativos a respeito da cultura brasileira, removendo ou
alterando o que ela sentia serem comentários demasiado íntimos sobre
outras pessoas e, mais interessante, retirando muitas passagens significativas
de sua vida interior” (BAILEY, 2011, p. 17). Como também revela Zailig
Pollock, executor literário da obra de Page,
Um depósito secreto de manuscritos, descoberto recentemente e ainda não
disponível nos arquivos de Page na Library & Archives Canada, abre uma
nova perspectiva no projeto de Page de reformular a experiência de seus
anos no Brasil para ajustá-la a uma narrativa retrospectiva de sua evolução
espiritual e artística que estava longe de perceber naquela ocasião. (POLLOCK;
DOODY, 2012 )
Por esta razão, as considerações de Sandra Goulart Almeida (2001)
a respeito da citação de Page no Prefácio – mesmo que o trabalho da
memória bem como o caráter particular das fontes sejam evocados para
justificar o aspecto pessoal e subjetivo do diário e que a declaração final,
unindo o presente e o passado, insira a escrita da memória, que é o diário,
no contexto da narrativa pessoal, procurando excluir o Brazilian Journal de
uma perspectiva de relatos de viagens objetivos, “o discurso de viagem
nunca é objetivo ou inocente, mas sim intermediado por relações de poder,
quase sempre a serviço de uma atitude de superioridade cultural, social e
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 101
econômica” (2001, p. 103) – essas considerações podem ser revistas, a
partir desta nova edição.
Não descartando, igualmente, a ideia de que “o diário de Page se
insere em um contexto pós-colonial de relações interculturais, sem contudo
estar isento de posicionamentos problemáticos que reforçam, muitas vezes,
as oposições binárias centro/periferia” (ALMEIDA, 2001, p. 101), nossa
perspectiva visa ressaltar o fato de que Page vai muito além desta postura
de oposições binárias, típica do olhar estrangeiro de viajantes ao Brasil, o
que pode ser verificado numa leitura mais atenta de trechos selecionados
do Brazilian Journal de 2011.
Esta perspectiva já aparece ao abrirmos o livro e nos depararmos
com o desenho de um mapa intitulado “The Brazil of P. K. Page”.
Mesmo que este mapa descortine um “movimento de posse, de
apropriação através de um olhar subjetivo na construção do outro pela
visão primeiro-mundista” (ALMEIDA, 2001, p. 100), pois os contornos
do mapa correspondem ao Brasil, mas o mapa está inscrito com os locais
que ela visitou, não há dúvida de que esta “apropriação através de um olhar
subjetivo” é neutralizada e até desfeita ao Page descobrir como aos poucos
se apaixona pelo país e como sua percepção, mesmo que estética, se modifica
neste novo contexto, ao indagar: “Desconcertada e entusiasmada com o
Brasil. Por quê? O que significa tudo isto? O lugar modifica a pessoa? É
como se apaixonar – pelo próprio país”. (Maio 12, 1957). (BJ, p. 77).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 102
Por esta razão, iremos apresentar e comentar algumas passagens
do Brazilian Journal em que a autora retrata, sob uma perspectiva crítica
temperada por seu senso de humor, não apenas sua experiência cultural e
social, mas também outras em que transparecem sua visão estética diante
da beleza de cenas, acontecimentos e artefatos culturais de nosso povo e
sua postura eco-crítica diante da destruição da natureza, deste modo
enfatizando algumas das diferentes facetas de seu olhar captando nossa
realidade.
Ademais, o Brazilian Journal, além de descrever o contato com o
Brasil sob o ponto de vista da embaixatriz, torna-se ainda o meio pelo qual
P. K. Page, a poeta, descreve como se tornou P. K. Irwin, a pintora.
Incapacitada de escrever poesia, diante do episódio estético que é seu
encontro com o Brasil tropical, Page aos poucos descobre sua outra vocação
artística, traduzindo o sentimento poético da escrita para a pintura. Segundo
Hannah McGregor (2012), Denise Heaps se refere ao silêncio poético de
Page no Brasil como um sintoma do “choque de linguagem” no qual Page
encontrou os limites de sua própria “linguagem, referentes culturais e
compreensão”. O resultado foi o início da carreira de Page como pintora
como também uma compreensão mais sofisticada da relação entre
linguagem e identidade (McGREGOR, 2012). Desta perspectiva, o Brazilian
Journal trata menos do Brasil e mais do impacto do espaço estrangeiro
sobre a imaginação da artista. O Diário intercala destarte, significativamente,
a narrativa dos acontecimentos com os desenhos e pinturas dos espaços e
da natureza brasileira que Page produziu durante a estadia no país3.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 103
I – A viagem como experiência estética, social e cultural
A natureza e a percepção eco-crítica de Page
É no jardim (projetado por Burle Marx) circundando o palacete
da Estrada da Gávea – residência oficial do embaixador canadense –, que
Page avista, pela primeira vez, uma borboleta azul. Como ela descreve, em
suas “anotações sobre a flora e fauna”, “Pela primeira vez, inesquecível, vimos
uma borboleta azul brasileira – tão grande como uma mão voando – as
superfícies superiores das asas de um azul cor-de-Maria, iridiscente, o lado
inferior suave como a cor de rapé. E estas são as borboletas colocadas em
quadros para os caçadores de souvenirs!” (Fevereiro 13, 1957). (BJ, p. 39).
Percebemos pelo comentário final como ela já era não só sensível à beleza
da borboleta azul, mas simultaneamente consciente do extermínio desta
espécie, representado pelos caçadores de borboletas, numa época em que
esta profissão ainda não era considerada predadora.
A conscientização ecológica de Page também se revela na visita ao
Clube Hípico, em Curitiba, quando fica encantada com o pinheiro do Paraná.
Mesmo que a descrição do pinheiro reflita parcialmente informações que
lhe foram dadas, ela está enriquecida pelo olhar estético e humanizador de
Page e, no final, por sua postura crítica perante a destruição da natureza:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 104
Uma parede inteira da sede do Clube era de pinheiro do Paraná, cortado em
seções transversais no lugar em que o anel dos galhos encontra o tronco. O
tronco é de cor clara e, onde os galhos se juntam, os nós são rosados. O
efeito é de pétalas – uma espécie de margarida. Uma linda madeira na
granulação e na cor. É também elegante como árvore. Quando pequena
parece como qualquer outro pinheiro, mas quando cresce adquire uma
personalidade distinta. Seus galhos agora cercam o tronco como os raios de
uma roda, as ‘rodas’ tornando-se mais separadas uma das outras cada ano.
Quando totalmente adulta, todas suas ‘rodas’ mais baixas caíram (galhos
decíduos?) e seu tronco alto e despido está coberto por uma esplêndida
coroa em forma de guarda-chuva. Detesto pensar que seu fim é papel. (Maio
1, 1958). (BJ, p.181)
O fato de Page considerar o pinheiro adulto como tendo adquirido uma
“personalidade distinta”, análoga à personalidade humana mesmo que em
sentido figurado, já demonstra a humanização dada à araucária como ser
vivo e, consequentemente, a aversão de Page ao imaginar que ela será
derrubada, apesar de sua “linda madeira” e “esplêndida coroa”, para fins
comerciais.
A postura eco-crítica de Page, além de estar expressa também em
outros trechos do Diário, será tema recorrente em sua poesia, como o
título de um de seus últimos livros – Planet Earth: Poems Selected and New
(2002)4 – já revela.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 105
II – O mundo diplomático, político e cultural
A Academia Brasileira de Letras
Além de ter conhecido e convivido com personalidades do mundo
diplomático, político e cultural – Cecília Meireles, Portinari, Assis
Chateaubriand, Matarazzo, Dutra, Kubitschek, Jânio Quadros, entre tantos
outros, ela também participou – como poeta já renomada e premiada no
Canadá – de nosso mundo literário: foi convidada por Austregésilo de
Athayde a falar na Academia Brasileira de Letras, juntamente com outras
duas esposas de embaixadores. Como ela relata, com toda franqueza,
“Como uma imbecil eu adiei escrever meu discurso até uma semana antes
e então quase fiquei louca. Eu não havia levado o assunto muito a sério.
Senti que, se não fossemos esposas de embaixadores, isto nunca teria
acontecido – é claro que não teria” (Maio 12, 1958). (BJ, p. 186)
Na noite do evento, descrito com todos os pormenores no diário,
seu discurso – que terminava com uma frase de Gonçalves Dias “meninos,
eu vi” – foi muito aplaudido. E, ao olhar para o marido e este lhe ter dado
um “sinal de ótimo” ela conclui: “Então percebi que meu discurso deve ter
sido bom. Ele parecia extremamente satisfeito”. Na manhã seguinte ela
comenta, bem humorada: “Publicidade considerável no dia seguinte –
notícias na primeira página dos jornais. Fotografias e trechos dos discursos
e algumas reportagens muito truncadas. Bem divertido. O presidente
Kubitschek reclamou que não havia sido convidado. Recebi flores, telefonemas
e telegramas. Poderia ter sido meu aniversário” (Maio 12, 1958). (BJ, p. 189).
A alta sociedade carioca
O círculo social que Page frequenta como parte do corpo
diplomático é principalmente o da elite carioca que vive num mundo de
moda parisiense e elegantes reuniões sociais. Como ela observa, em relação
às senhoras presentes à recepção oferecida pelo presidente Lopez de
Portugal no Palácio do Itamarati: “As brasileiras, em trajes de gala, são algo
digno de se ver. Que joias! Que penteados! Que alta moda! Se as saias justas
estão na moda, aqui elas são ainda mais justas. Uma senhora elegante teve
de levantar a barra de sua longa saia acima dos joelhos para poder subir um
lance de escadas” (Junho 29,1957). (BJ, p. 93-4).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 106
Page se refere à alta sociedade brasileira em diversos trechos, tanto
elogiando como estranhando certos trajes, conversas e costumes, o que
condiz com sua posição de estrangeira, observando e tentando entender
este novo mundo social, tanto no Rio, com em outros locais visitados.
O castelo do Batel
Entre os compromissos de sua viagem ao Paraná, e, em especial, a
Curitiba – visitas ao Clube Hípico, a uma fábrica de mate, à Base da Força
Aérea –, Page relata a visita que fez, com a esposa do chefe de cerimonial, à
esposa do governador Moisés Lupion, ao Castelo do Batel. Como D.
Hermínia estava viajando, havia sido combinado que a filha do governador
iria receber Page. Enquanto aguardavam numa “sala barroca”, Page ficou
apreciando uma sala “ainda mais barroca – móveis dourados, um tapete
azul-cerúleo, cortinas cor de cenoura, um lustre imenso, e um retrato em
tamanho natural da esposa do governador, ao qual fui apresentada como
se estivesse na presença dela. Eu praticamente senti que havia feito a visita”
(Maio 1, 1958). (BJ, p. 180).
Mesmo a visita não tendo se concretizado – quando surgiu uma
senhora explicando que a filha do governador estava gripada, ambas
tomaram um cafezinho e sairam –, esta descrição nos permite visualizar a
decoração de uma das salas do castelo na época em que o governador lá
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 107
residia, edifício que até hoje continua sendo um ponto de referência histórico
e social de Curitiba. Em compensação, Page e o marido jantaram, na noite
seguinte, no Palácio do Governo. Como Page comenta, “O governador
Moisés Lupion, nosso anfitrião, não poderia ter sido mais gentil conosco”.
(Maio 1o, 1958) (BJ, p. 181).
A arquitetura de Oscar Niemeyer
Em diversas ocasiões, como em sua viagem a Minas Gerais, Page
faz comentários sobre a arquitetura de Niemeyer:
A verdadeira surpresa da viagem é minha desilusão com Niemeyer. Com
exceção dos prédios em São Paulo, vi sua obra apenas do exterior ou –
mais abstratamente – como desenhos arquiteturais. De qualquer modo,
fica-se impressionada. Mas observando-os mais de perto, um pouco da
mágica se evapora. Por ex., uma de suas escolas em Belo Horizonte consiste
em três prédios. São não-ortodoxos e agradáveis ao olhar até você perceber
que eles representam uma régua, um pedaço de giz e um mata-borrão
antigo. (Outubro 8, 1957). (BJ, p. 127-8)
Após mencionar outros projetos de Niemeyer em Belo Horizonte,
ela reitera, a respeito do hotel projetado pelo arquiteto em Ouro Preto:
“Niemeyer é extremamente sensível aos arquétipos ocultos da forma barroca.
Entretanto – entre no hotel e você se surpreende com o que parece ser a
consistente falta de graça e deselegância no uso de espaço interno “( Outubro
8, 1957) (BJ, p. 129).
Mas Page recebe o troco por sua crítica, como ela relata, dois
anos mais tarde,
[...] um jovem arquiteto da Universidade de Manitoba, discutindo a
arquitetura brasileira, diz: “Bem, existe Niemeyer e depois existe a
arquitetura brasileira”. Ele acha Niemeyer fabuloso, inventivo, em geral
maravilhoso. Quando eu lhe disse que seus prédios não são habitações
aconchegantes, ele me olhou como se fosse me bater. “Mas as suas
formas...!” exclamou.
A propósito de Niemeyer e Brasília, lembro-me que, quando um convidado
num jantar queixou-se a Kubitschek sobre o prédio do congresso e
perguntou por que uma parte tão grande da construção estava no subsolo,
Kubitschek respondeu “Você não entende. Meu Miguelangelo tem alma
de tatú (Junho 21, 1959). (BJ, p. 277)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 108
Vemos então mais uma vez como Page consegue aliar, no Diário, franqueza,
senso crítico e humor, o que torna a leitura leve e prazerosa, evidentemente
muito mais para nós brasileiros do que para o leitor estrangeiro, que não
consegue ler nas entrelinhas.
III – O Brasil do futebol, fazendas, balangandãs, favelas e macumba
Ao lado desse mundo oficial aparece igualmente, nas descrições e
comentários do Diário, uma Page fascinada e sensível às particularidades
sociais e culturais do Brasil de todo dia.
Futebol
Na primeira visita oficial a São Paulo, Page e Arthur Irwin vão a
um jogo de futebol – São Paulo contra Palmeiras – no qual o embaixador
deveria dar o chute inicial, perante uma torcida de cinquenta mil pessoas,
com foguetes e fogos de artifício cada vez que se fazia um gol. Como Page
relata, “O jornal da manhã seguinte incluía uma foto do pontapé de Arthur
aparentemente sendo estudado intensamente por Mazzola, o capitão do
time da casa, que havia estado sob intensa crítica por haver perdido muitos
jogos. Tipicamente brasileira, a legenda dizia ‘Mazzola presta muita atenção
– mas nunca aprende’” (Maio 12, 1957). (BJ, p. 79). O comentário sobre a
legenda demonstra que Page, além de acompanhar as notícias pelos jornais,
e, portanto, já dominar razoavelmente o português, já havia assimilado
também um pouco o humor brasileiro de fazer troça de seus ídolos.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 109
Duas fazendas
Na mesma viagem oficial a São Paulo, Page e Irwin visitaram duas fazendas.
Como Page descreve o passeio,
Domingo foi o melhor dia de todos. Visitamos duas fazendas do início do
século XIX. A primeira, uma casa colonial, cor-de-rosa claro com pilares
brancos e grades negras rendadas nas janelas. Seus proprietários atuais [...]
deixaram tudo o mais possível no estado original. O hall de entrada, com o
piso de pedra cor de mel e o teto com vigas rústicas de madeira, estava
decorado com três lindos querubins e quatro candelabros de igrejas antigas,
de madeira, pintados de cor creme e folhados a ouro. Além do hall, um
quarto cheio de troféus e relíquias de escravos, e, ainda mais adiante, o
quarto dos escravos. [...] Numa varanda extensa, sombreada por trepadeiras
com campânulas rosas, havia pássaros em gaiolas e uma rede nupcial com
borlas brancas. [...] Após o almoço visitamos a plantação de café. Arbustos
verdes reluzentes, brilhantes, com frutos vermelhos – pássaros num arbusto,
contas de fogo. Até onde a vista alcançava, cafeeiros pontilhavam a terra,
linda e ondulante. [...]
A segunda fazenda, menor que a primeira, também era antiga. A casa de
adobe fora construída pelos escravos. [...]
Após visitarem os estábulos, viram também “a capela, com uma bela Nossa
Senhora, e no altar, como na casa, um ramalhete de flores de criança – cravos
amarelos – na frente de um pano de fundo de veludo vermelho.” (Maio 12,
1957). (BJ, p. 73-75).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 110
A partir desses trechos descritivos Page escreverá o poema “Brazilian
Fazenda” (1974), no qual ela revela a profunda impressão que lhe causou
esta visita, ao resgatar associações históricas, religiosas e culturais e transformar
os aspectos referenciais das fazendas em intensa percepção poética e
consciência cultural5.
A loja de antiguidades
Além de haver percorrido as igrejas e as partes antigas de Salvador,
a visita de Page a uma loja de antiguidades a faz comentar:
Fiquei fascinada com os artefatos religiosos – castiçais de altar, santos
esculpidos e pintados, sempre – inexplicavelmente – com as mãos
quebradas; e os objetos, às vezes os mais sinistros, associados com macumba,
ou candomblé, como é chamado no Norte. Os mais exóticos e elegantes são
os balangandãs de ouro ou prata, feitos em forma de grandes chaveiros
ovais, nos quais estão pendurados uma variedade de amuletos: romãs,
cachos de uvas, peixes, papagaios, tambores, chaves, figas – objetos fetiches
da magia oriental e ocidental – feitos com grande perícia. Imaginando o dia
em que eu mesma precisaria poli-los, não fiquei tentada, apesar de me
fascinarem. Mas eu quase comprei (e agora gostaria de tê-lo feito!) uma
velha figura de candomblé, de madeira, negra, com cerca de um pé de altura,
cobrindo as orelhas com as mãos. Será que sua mágica se dissipa quando
chegam às lojas de antiguidades? (Março 28, 1958). (BJ, p. 169)
Page demonstra assim não só interesse e admiração pelas relíquias
religiosas e pela cultura afro-brasileira mas igualmente seu senso prático, a
ponto de resistir à compra de balangandãs; e, por outro lado, o arrependimento
de não haver comprado aquela figura do candomblé. A pergunta final revela
quão intrigante é, para ela, a força mágica contida nesses objetos, a ponto de
imaginar por quanto tempo esta magia permaneceria neles. Pergunta esta que
nós brasileiros, evidentemente, não chegaríamos a formular.
Seu encantamento com Salvador é tão grande que, ao retornar, escreve:
Eu adoraria voltar. Seis dias não são suficientes. Se tivesse a ocasião, eu
mudaria para Salvador e viveria por um tempo nesta cidade em dois níveis
[cidade alta e cidade baixa] – antiga/moderna, portuguesa/africana, católica/
candomblé – com seus dias de um azul ofuscante e suas noites de veludo –
e assimilar os mil e um detalhes de arquitetura, vegetação e trajes que tanto
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 111
me chamaram a atenção. Bem, um dia, talvez... Quem sabe? (Março 28,
1958). (BJ, p. 175)
Lembrando-nos de que esta entrada no Diário ocorre após estar
no Brasil há mais de um ano e de já conhecer uma grande parte do país,
este deslumbramento por Salvador torna-se ainda mais significativo, por
seu olhar de estrangeira já estar matizado e enriquecido pelo conhecimento
cultural que adquiriu neste meio tempo.
A favela
Como Page registra sua percepção social e estética diante da visão
de uma favela no Rio,
Passamos hoje por cima dos morros e através das favelas, o que deveria
fazer qualquer pessoa decente e sensível devotar a vida à reforma social, mas
receio que minha reação inicial tenha sido de intenso prazer em sua beleza.
Virando uma esquina vimos um grupo de pessoas em trajes de cores vivas
em frente a uma grande muralha de latas quadradas de gasolina, pintadas
em todas as cores imagináveis. Água, naturalmente. E socialmente
perturbador. Mas meu olhar opera separadamente de meu coração ou cabeça
– ou pelo menos antes deles – e eu vi, primeiro, a beleza. (Agosto 17, 1957).
(BJ, p. 105)
O fato de Page estar ciente de sua reação estética diante da favela
antecipar e predominar num primeiro momento sobre sua profunda reação
social, pois, como argumenta, “meu olhar opera separadamente de meu
coração ou cabeça – ou pelo menos antes deles – e eu vi, primeiro, a
beleza”, ameniza ou até invalida a observação de alguns críticos que, em
Page, predomina a tendência estetizante, própria dos relatos de viagem.
Como Bailey pergunta, retoricamente, a respeito deste episódio, “Seria anti-
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 112
ético representar como bela uma cena de pobreza, a própria questão com
a qual Page se confronta aqui? A possibilidade de tal percepção representa
o privilégio da viajante de classe-média, tão removida da pobreza que o
estético é registrado em primeiro lugar?” (2011, p.14-15). A visão “estetizante”
– que tende a atribuir importância exagerada ao aspecto estético das coisas,
em detrimento do seu conteúdo ou significado – se presente neste trecho,
certamente não está em detrimento do significado que a imagem das favelas
proporcionou a Page – imagem esta que “deveria fazer qualquer pessoa
decente e sensível devotar a vida à reforma social”.
Macumba
O interesse de Page por macumba está registrado com detalhes
após haver assistido a este ritual afro-brasileiro de um apartamento na
Avenida Atlântica, de onde se via a “curva enorme da praia de Copacabana
iluminada com um milhão de velas em honra a Iemanjá, a Rainha do Mar:
Na noite de Ano Novo todos os macumbeiros aglomeram-se nas praias do
Rio, as mulheres com saias brancas e, por baixo, com calças até os tornozelos
(disseram-me que é o antigo traje das escravas), flores brancas, velas brancas.
Pequenos buracos em forma de xícara cavados na areia para proteger as
chamas das velas do vento, flores brancas colocadas na areia como se
estivessem crescendo, e os homens e mulheres – em seus trajes brancos –
dançando. À meia noite todos entram no mar, oferecendo bebidas,
cosméticos, flores a Iemanjá – o que quer que seja que ela possa querer. Uma
profusão de presentes é jogada às ondas.
Do alto do prédio cor de platina, podíamos ver a praia inteira com suas
luzes bruxuleantes e vultos brancos se movimentando à frente das ondas
escuras e ritmadas do mar. Era como se crianças estivessem tendo um
sonho estranho. (Janeiro 2, 1959). (BJ, p. 230).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 113
Mais tarde Page e o marido ainda foram à praia de Ipanema,
onde ela caminhou “em traje de gala e chinelos emprestados” (Janeiro 2,
1959). (BJ, p. 230) entre as pessoas e participou do ritual.
Se bem que ela se refira a ambos os episódios de maneira contrastiva –
enquanto estávamos nas alturas, a cerimônia na praia era linda – tantas velas
[...], tantas figuras vestidas de branco à frente das ondas escuras do oceano.
Mesmo de mais perto, havia uma espécie estranha de inocência – as velas
brancas, as dálias brancas, os copos-de-leite brancos, margaridas brancas
crescendo num jardim de areia. Mas no momento em que estávamos
realmente entre os celebrantes, entre os sacerdotes e sacerdotisas abençoando
seu rebanho [...], vendo os charutos negros e sentindo sua fumaça pungente,
observando os delírios que, para mim, pareciam auto-induzidos e não
podem absolutamente me convencer da “incorporação de um santo” –
então a representação toda não é bela ou comovente ou inspiradora de
temor religioso, mas desordenada, feia. (Janeiro 2, 1959). (BJ, p. 231)
– manifestando sua visão estética do ritual visto das “alturas” e seu
estranhamento e aversão ao participar da cerimônia ao esta se revelar, a
seus olhos, “desordenada, feia”, Page comenta: “Eu gostaria de saber mais
sobre macumba. É uma forma de vodu, naturalmente, trazido da África
pelos escravos”(Janeiro 2, 1959) (BJ,p. 232). Ela demonstra assim, como,
apesar da reação negativa quando participou in loco do ritual, seu interesse
por macumba é genuíno. Muitos anos mais tarde, ela escreveria o poema
“Macumba: Brazil”, no qual retoma elementos desse ritual que presenciou,
comprovando, mais uma vez, sua sensibilidade e curiosidade por nossas
tradições culturais, aliadas ao seu senso estético6.
A despedida
A transformação da experiência real do Brasil em memória está
refletida nas passagens finais do Diário, quando, ao reagir à notícia de que
deveriam voltar a Ottawa, Page escreve: “Sinto, também, deixar meu “eu”
brasileiro, tão diferente do meu eu canadense – mais livre, mais espontâneo.
[...] Difícil deixar tanta beleza, tanto sol, um povo tão gentil. E deixar esta
casa, que eu passei a amar como se fosse minha” (Julho 10, 1959). (BJ, p.
278).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 114
E, na última entrada do Diário, já a bordo do S. S. Brazil, ela
ainda comenta:
É difícil acreditar que o Brasil se foi [...].
Ele já faz parte de um passado que irá se desvanecer mais e mais, até que se
torne tão pálido como as águas-marinhas, os topázios e berilos extraídos
do solo brasileiro. A qualidade muito especial que foi o “Brasil” já existe
para nós apenas em nossas memórias e não há palavras que possam recriar,
para nós ou qualquer outra pessoa, o que foi dourado, perfeito, completo
(Agosto 21, 1959). (BJ, p. 280)
Desta maneira, mesmo que “muito pouco do Brasil como o
conhecemos será narrado e muito do olhar, definitivamente estrangeiro,
estetizante, gendrado e aristocrático – da esposa de um diplomata e da
artista canadense – irá emergir” (ALMEIDA, 2001, p. 102), e mesmo que
em muitos trechos Page, com toda a franqueza – inestimável, para qualquer
leitor receptivo –, apresente uma visão complexa e ambígua de sua
experiência, devemos nos lembrar que sua postura, naquela época, não
poderia ter sido diferente. Reiterando o ela mesma faz questão de enfatizar,
na Introdução citada acima: “Neste ínterim, a língua mudou; o Brasil mudou;
eu mudei. Mas para mim – naquela época – foi assim que aconteceu”
(Victoria, B.C., 1987).
Se “é a paixão de pessoas como Patricia que forjaram a identidade
cultural e artística de nosso país”, como enfatizou o Premier Gordon
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 115
Campbell da Columbia Britânica, por ocasião do falecimento de P.K.Page,
em 14 de janeiro de 2010, poderíamos acrescentar que o Brazilian Journal –
mesmo apresentado através de trechos selecionados que, evidentemente,
retratam apenas uma parte da trajetória social, cultural e artística de Page
pelo Brasil – também contribui para reavaliarmos nossa identidade cultural
ao revelar nosso país a nós mesmos, por meio do olhar poliédrico de Page,
simultaneamente artístico, crítico e profundamente humano.
Notas
1
As traduções de trechos dos autores Suzanne Bailey, P.K.Page. Gordon Campbell,
Zailig Pollock e Christopher Doody são de minha autoria.
2
As referências seguintes à obra serão apresentadas como BJ, seguidas do número das
páginas.
3
A permissão para reproduzir imagens das pinturas de P. K. Irwin foi gentilmente
concedida por Elke Inkster, CM BA, da Editora Porcupine’s Quill, Erin, Ontario,
Canada, em 05/10/2012.
4
“Por uma resolução especial das Nações Unidas, em 2001 o poema “Planet Earth”
foi lido simultaneamente em Nova York, na Antártida e no Pacífico Sul para celebrar
o Ano Internacional de Diálogo entre as Civilizações”. Peter Scowen, P. K. Page dies
at age 93. The Globe and Mail, January 14, 2010. Retrieved 2010-01-15. Referências de
fonte eletrônica. Disponível em http://Wikipedia. Acesso em 30/09/2012.
5
Ver RENAUX, S. “P. K. Page: percepção poética e consciência cultural em ‘Brazilian
Fazenda’”. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008, p. 201-221.
6
Ver RENAUX, S. “P. K. Page: percepção poética e consciência cultural em ‘Brazilian
Fazenda’”. Scripta UNIANDRADE, n. 06, 2008, p. 201-221.
7
Ver RENAUX, S. “Da repressão à resistência cultural em ‘Macumba:Brazil’ de
P.K.Page”. Interfaces Brasil/Canadá . v. 1, n. 3, 2003, p. 171-195.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Sandra R. Goulart. “O Brasil de P. K. Page: deslocamentos,
olhares e viagens”. Revista Interfaces Brasil/Canadá v. I, n. 1, 2001. p. 97-118.
BAILEY, Suzanne (Ed.). “Introduction”. In: PAGE, P. K. Brazilian Journal.
Erin, Ontario: The Porcupine´s Quill, 2011.
CAMPBELL, Gordon.”The Passing of P. K. Page”, Premier’s Statement,
14 January 2010. Retrieved 2010-01-16. Referências de fonte eletrônica.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 116
Disponível em: http://www.Wikipedia.P. K. Page.doc. Acesso em 30 set.
2012.
McGREGOR ,Hannah. (Re)Writing the “Foreign”: P. K. Page’s Brazilian
Journal and the Digital Turn. Referências de fonte eletrônica. Disponível
em: http:// BEYOND ACCESSIBILITY: TEXTUAL STUDIES IN THE
21ST CENTURY. UNIVERSITY OF VICTORIA .JUNE 8 - 10, 2012 >
Acesso em: 30 set. 2012.
PAGE, P. K.. Brazilian Journal. Eds: BAILEY, Suzanne; DOODY,
Christopher. Erin, Ontario: The Porcupine´s Quill, 2011.
POLLOCK, Zailig & DOODY, Christopher. “‘I Have Changed’: Textual
Transformations in P.K. Page’s Brazilian Journal”. Disponível em: http://
BEYOND ACCESSIBILITY: TEXTUAL STUDIES IN THE 21ST
CENTURY. UNIVERSITY OF VICTORIA .JUNE 8 - 10, 2012. Acesso
em: 30 set. 2012.
Sigrid RENAUX
Pós-doutora em Literatura Norte-Americana e Inglesa, University of
Chicago. Professora Titular do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade.
Artigo recebido em 29 de setembro de 2012.
Aceito em 17 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 117
ALEGORIAS CONTEMPORÂNEAS:
(AUTO)RETRATOS POR ANNA BANTI,
SUSAN VREELAND E ARTEMÍSIA GENTILESCHI
Miriam de Paiva Vieira
miriamvieira@gmail.com
Resumo : Artemísia Gentileschi Abstract: Artemísia Gentileschi
(1593-1652) é a única representante (1593-1652) is the only female
mulher na mostra “Caravaggio e representative in the exhibition
seus seguidores” que aconteceu em “Caravaggio e seus seguidores”,
Belo Horizonte, São Paulo e Buenos which took place in Belo Horizonte,
Aires em 2012. Artemísia, escrito pela São Paulo, and Buenos Aires in 2012.
italiana Anna Banti (1953), e A paixão Artemísia, by the Italian writer Anna
de Artemísia, da americana Susan Banti (1953), and The Passion of
Vreeland (2002), são romances do Artemisia, by the American Susan
tipo Künstlerroman que resgatam Vreeland (2002), are Künstlerroman
reminiscências da vida e obra da novels that rescue reminiscences
pintora para contar sua trajetória, from the painter’s life and artwork
mesclando realidade e ficção. Os in order to narrate her lifecourse,
limites entre a ficção e os fatos blending reality to fiction. The
históricos, entre o passado e o boundaries between fiction and
presente, e ainda entre a arte e a historical facts, between past and
literatura, formam uma fronteira present, and also between art and
borrada, onde não sabemos até que literature make up a blurred
ponto o relato da trajetória da borderline, in which it is not possible
pintora é verídico, até que ponto é to distinguish in the painter´s life
inventado. what is true and what is invented.
Palavras-chave: Literatura. Pintura. Artemísia Gentileschi.
Keywords: Literature. Painting. Artemísia Gentileschi.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 118
A mostra, intitulada “Caravaggio e seus seguidores”, que apresenta
seis telas do mestre ao lado de quatorze obras dos chamados caravaggescos,
foi exibida na Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte, no Masp em São
Paulo, e no Museo Nacional de Bellas Artes em Buenos Aires entre maio e
dezembro de 2012. Artemísia Gentileschi (1593-1652/3) é a única
representante mulher na coletânea.
Uma das características do barroco é a representação de temas
bíblicos, como a figura de Maria Magdalena, que aparece na mostra em
duas versões feitas pela família Gentileschi: Maria Maddalena, de autoria do
pai, Orazio, e Maddalena Svenuta, recentemente atribuída à filha, Artemísia.
A legenda explica que a última tela foi a princípio creditada a Guido Cagnacci,
devido ao típico torso nu, e também a Francesco Trevisani, pelo característico
nu sensual de figuras femininas bíblicas. Problemas de autoria são recorrentes
no histórico da artista, uma vez que seus melhores trabalhos foram, até o
século XX, atribuídos a seu pai ou a outros caravaggescos, conforme observado
pela historiadora holandesa Mieke Bal, na coletânea de ensaios críticos
intitulada The Artemisia Files: Artemisia Gentileschi for Feminists and Other Thinking
People (2005).
A pintora foi praticamente ignorada pelos estudiosos da arte barroca
até os anos 1970, momento histórico em que o “feminismo arrombou a
janela” (HALL, 2003, p. 197). Segundo Bal, apesar de ter “trabalhado como
artista no século XVII, Artemísia é uma fabricação do final do século XX....
ela foi (re) descoberta como um dos grandes artistas da Itália barroca
somente depois de ter sido inventada como uma das primeiras mulheres a
produzir arte de qualidade”1 (BAL, 2005b, p. ix). A partir de então, foram
lançados vários livros de historiadores, assim como trabalhos críticos
feministas, alguns deles diminuindo o mérito artístico da pintora e
transformando-a em uma heroína, e outros atribuindo seus melhores
trabalhos aos seus contemporâneos. Bal organizou a coletânea com o intuito
de possibilitar um olhar sobre a obra da artista sem escândalo ou
sensacionalismo preconcebido.
No folheto recebido na entrada da mostra lê-se: “A filha de
Gentileschi, Artemísia, protagonista de tumultuados incidentes sentimentais
e raro exemplo de mulher pintora, também recebeu [...] ‘influência’ da
linguagem de Caravaggio”. O comentário reforça a imagem da pintora
disseminada na década de 1970, valorizando mais o fato de ser ela uma
mulher marcada por contratempos em sua vida pessoal, do que pela
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 119
qualidade de sua obra, e ainda enfatiza a ideia de deixá-la à sombra de
seu pai.
Na coletânea editada por Bal, são levados em conta documentos
da cultura popular, tais como o filme do gênero biopic (1997), de Agnes
Merlet; os romances Artemisia: A Novel (1998), de Alexandra Lapierre; as
peças teatrais Life without Instruction (1994), de Sally Clark, e Lapis Blue Blood
Red (1995), de Cathy Caplan. A maioria das obras é simplesmente intitulada
Artemísia, sem mencionar o sobrenome ou nome completo da artista; por
um lado, isso ocorre à semelhança de Michelangelo (Buonarrote) ou
Rembrandt (van Rijn), mas por outro gera certa familiaridade infantil, de
acordo com Bal (BAL, 2005b, p. xi-xii). Um texto-fonte comum a esses
produtos culturais é a transcrição dos testemunhos do julgamento de
Agostino Tassi, encontrada na contribuição imparcial da pioneira em história
da arte sob o ponto de vista feminista, Mary Garrard. A sua obra, Artemisia
Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art, reproduz também
correspondências da pintora enviadas aos seus patronos. O primeiro
romance baseado na vida da artista, escrito pela italiana Anna Banti,2 também
intitulado Artemisia, foi publicado em 1947, antes de a pintora entrar em
voga, e traduzido para o inglês em 1988, no apogeu da (re)descoberta de
Artemísia como figura histórica. Em 2002, a autora americana Susan Vreeland
lançou o romance The Passion of Artemisia. A tradução de Beatriz Horta, A
paixão de Artemísia, foi lançada no Brasil em 2010.
O objetivo deste artigo é analisar os limites entre a ficção e os fatos
históricos, entre o passado e o presente, e ainda entre a arte e a literatura,
que formam uma fronteira borrada, onde não se sabe até que ponto um
fato é verídico ou inventado. Toda a documentação em torno da figura de
Artemísia – incluindo os vários romances, as peças teatrais e o filme – passa
a ser suplemento da obra da artista, pois a cada novo texto, algo é adicionado
à memória fragmentada da vida da pintora.
Minha hipótese é que, ao ressignificar os pressupostos benjaminianos
na atualidade, de acordo com a proposta de Craig Owens, os romances
Artemísia, de Anna Banti, e A paixão de Artemísia, de Susan Vreeland, podem
ser lidos como alegorias contemporâneas, em contraponto à alegoria
iconográfica da tela Autorretrato como a alegoria da Pintura (1630), de Artemísia
Gentileschi.
Griselda Pollock argumenta que existe uma indústria crescente de
ficção sobre artistas – romances e filmes sobre pinturas e seus autores.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 120
Essas obras se baseiam em pesquisas acadêmicas documentais para construir
suas personas históricas, compondo os sentimentos e as vozes das personagens
das pinturas ou de seus criadores (POLLOCK, 2005, p. 177). Esse tipo de
romance em que “a obra de arte, ou a figura de um artista – pintor, escultor,
músico, não importa – aparece como elemento estruturador” (OLIVEIRA,
1993, p. 40) é conhecido como Künstlerroman. Solange Oliveira resume que
o Künstlerroman é uma narrativa na qual os aspectos estéticos e técnicos
fazem parte da trama, e as soluções ficcionais afetam outros aspectos da
vida do artista. Os romances Artemisia e A paixão de Artemísia mesclam
realidade e ficção para contar a trajetória da pintora, resgatando os vestígios
de sua vida por meio de relatos históricos. Para narrar o processo de criação
de Artemísia, o segundo romance retoma não apenas a obra da pintora,
mas também produções artísticas de outros artistas, tais como pinturas,
esculturas e obras arquitetônicas.
A tradutora Shirley Caracciolo menciona, no posfácio do romance
Artemisia, que Anna Banti afirmou haver encontrado, em meio aos arquivos
antigos de seu marido, o renomado historiador e crítico italiano Roberto
Longhi, papéis mofados contendo alguns poucos, porém primordiais,
documentos relacionados à vida da pintora (BANTI, 1995, p. 217). O romance
teria sido escrito a partir de tais registros. Caracciolo também alega que o
manuscrito teria sido incendiado no bombardeio nazista a Florença em 1944,
que foi seguido pela ocupação alemã e queda de Mussolini. Banti, contudo,
não teria desistido, reescrevendo a história. Entretanto, devido à natureza
inventiva do enredo, tais fatos poderiam ser questionados. Nessa recriação,
a voz da autora se mistura à voz da narradora até pouco mais da metade
do romance, quando a autora-narradora reconhece ter tentado compartilhar o
horror de seu tempo com uma mulher morta há mais de três séculos3.
Em A paixão de Artemísia, Susan Vreeland costura os vestígios de
fatos históricos por meio de descrições da obra da pintora; de pinturas e
esculturas de outros artistas, entre eles seu pai Orazio, seu tutor Agostino
Tassi, o mestre Caravaggio, Michelangelo, Donatello, Masaccio e outros; e
através da arquitetura das cidades onde a artista morou. Para compor sua
narrativa e contar o processo de criação da artista, Vreeland faz vasto uso de
ecfrase, recurso literário descritivo praticado pelos gregos, retomado pelo
movimento romântico no século XIX e trazido de volta ao discurso literário
em meados do século XX, quando representações verbais de representações
visuais tornaram-se um campo de interesse (CLÜVER, 2008, p. 216).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 121
Uma das maiores façanhas de Artemísia foi, segundo Garrard, seu
Autorretrato como a alegoria da Pintura (1630) (ver Fig. 1), que hoje faz parte da
coleção da Rainha da Inglaterra e se encontra nas paredes do Palácio
Kensington, em Londres. A tela, aparentemente modesta, faz um comentário
audacioso e sofisticado a um tema filosófico central na teoria da arte da
Renascença. A pintora consegue uma identificação pessoal com sua profissão,
que seria literalmente inviável para qualquer artista do sexo masculino,
alcançando a fusão de dois temas. Artemísia se representa como artista no
ato da pintura acompanhada dos atributos da personificação feminina da
Pintura, conforme estabelecido por Cesare Ripa, em seu Dicionário de iconologia
(1609): a corrente de ouro com um pingente em forma de máscara
representa a imitação; os cachos de cabelo indisciplinados simbolizam a
exaltação divina do temperamento artístico; e o traje furta-cor faz alusão à
habilidade da pintora no manejo de pigmentos. Artemísia funde a imagem
da artista e a alegoria em uma imagem única para criar uma rica aplicação
estética filosoficamente significativa (GARRARD, 1989, p. 337-9).
Fig. 1 – Artemísia Gentileschi, Autorretrato como a alegoria da Pintura, 1630. Tela a
óleo, 96,5cm por 73,7cm. Acervo da Rainha, Palácio Kensington, Londres. Disponível
em <http://www.artemisia-gentileschi.com/index.shtml>. Acesso em: 04 jun. 2012.
A palavra alegoria vem do latim allegorìa e é derivada do grego
allégoría: allos (outro/outra) + agoreu (falar em público) + ia (sufixo formador
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 122
de substantivo abstrato). De acordo com o dicionário Houaiss, a palavra
significa um “modo de expressão ou interpretação que consiste em
representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada”. Na
literatura alegoria significa uma “sequência logicamente ordenada de
metáforas que exprimem ideias diferentes das enunciadas”. No âmbito das
artes plásticas é expressa por uma “obra de pintura ou de escultura que, por
meio de suas formas, representa uma ideia abstrata” (HOUAISS, 2009, p. 88).
Walter Benjamin vai além da tradicional “alegoria retórica ilustrativa
através da imagem” (BENJAMIN, 2011, p. 173), como aquela proposta
no dicionário iconográfico de Ripa, quando desenvolve uma noção de
alegoria barroca para melhor compreender o drama trágico alemão do
século XVII. Para o autor, “as alegorias são, no reino dos pensamentos, o
que as ruínas são no reino das coisas” (BENJAMIN, 2011, p. 189). Ele
sugere que a alegoria é uma forma de expressão, por meio da linguagem
falada e da escrita, estabelecida com a aproximação entre o efêmero e o
eterno. Na tensão desmedida entre palavra e escrita manifesta no Barroco,
a palavra é a diminuição do homem perante Deus, e a escrita é a
superioridade do homem perante o mundo.
O alegorista benjaminiano olha para o passado buscando
reminiscências nas ruínas da história para tentar decifrar o enigma de sua
experiência. Benjamin argumenta que as coisas se agrupam de acordo com
os seus significados, mas seus fragmentos perdem a significação e são
esvaziados quando retirados de seu contexto original. Todavia, são reciclados
ao serem inseridos em outro contexto. Uma nova forma nasce do
estilhaçamento alegórico, os cacos de um vaso quebrado, ao serem colados,
precisam se corresponder em cada detalhe. Apesar do uso continuar o
mesmo, o vaso colado jamais será igual ao original.
De encontro ao conceito, ainda que dissipado, do temperamento
artístico sustentado por Ripa, Benjamin apresenta o alegorista como um
melancólico que tenta desvendar os enigmas que restam ao reconstituir os
fragmentos da história. O alegorista contemporâneo, por sua vez, deixa
essa melancolia transparecer por meio da ironia.
O mundo contemporâneo, assim como o barroco, é marcado
pela destruição e fragmentação do ser e das coisas. Quando as ruínas, com
seus “fragmentos faustosos magnificamente conservados” (BENJAMIN,
2011, p. 189), passam a ter uma finalidade própria, deixam de ser apenas
reminiscências do passado e ganham sensibilidade estilística contemporânea.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 123
No ensaio “O impulso alegórico: sobre uma teoria do pós-modernismo”
(1980), Craig Owens ressignifica a alegoria benjaminina na atualidade. Ele
examina como a alegoria, presente na estrutura de obras de arte
contemporâneas, oferece um novo significado à forma de apresentação
confiscando imagens e apropriando-se do imaginário alegórico. Para Owens,
a alegoria reemerge na arte contemporânea, uma vez que é concebida tanto
como “uma atitude quanto uma técnica, uma percepção quanto um
procedimento” (OWENS, 2004, p. 114). O autor sugere que o modelo de
uma obra alegórica é o palimpsesto.
Owens estende a noção benjaminiana propondo que o alegorista
apodera-se das imagens, as interpreta culturalmente, agrega novos sentidos
em forma de suplemento, e assim as transforma em outra coisa. Apesar de
o autor ter elaborado sua proposta para examinar a estrutura de obras de
arte contemporâneas, ao questionar “a veemência com a qual a estética
moderna” resiste à alegoria, retoma a questão da tensão entre palavra e
escrita inferindo que, para Benjamin, a “alegoria, visual ou verbal, é
essencialmente uma forma de escrita”, e nos lembra que “interpretar é
desenterrar algo” (OWENS, 2004, p. 122). Por mais fragmentada,
descontínua, ou desordenada que seja a relação dentro de uma estrutura
alegórica, um texto é sempre lido por intermédio de outro.
Portanto, estendo a proposta de Owens ao estudo dos romances
Artemisia e A paixão de Artemísia, lendo-os como suplementos da obra da
pintora. Ambos (re) significam os fragmentos da vida e obra da pintora,
permitindo leituras desse palimpsesto como alegorias contemporâneas.
A tela de Artemísia, Autorretrato como a alegoria da Pintura, é o caso
que melhor ilustra o termo composto “outro-retrato” (allo-portrait), proposto
por Bal para incluir o gênero autorretrato na alteridade da alegoria de acordo
com o jogo entre o “auto” (self) e o “outro” (allo). O espelho é eliminado
da composição da tela. A mão da pintora que segura a paleta parece cortar
o espaço entre ela e o observador. Para Bal, ao invés de ficar nos domínios
da abstração alegórica, a imagem em atividade frenética torna-se viva (BAL,
2005a, p. 139).
Uma vez criada e popularizada por meio do imaginário pictórico,
Garrard argumenta que a personificação feminina da Pintura poderia afirmar
seu status em relação às artes tradicionais, mais especificamente à Poesia. A
tradição de Horácio ut pictura poesis envolve a representação da pintura com
a boca tampada, como se fosse a poesia muda (GARRARD, 1989, p. 344-
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 124
46). Artemísia, por ser mulher, tem a possibilidade de tirar vantagem criativa
de tal tradição alegórica, restaurando a antiga vitalidade que a alegoria deveria
ter e se afirmando de maneira tanto simples como profunda.
A tela sugere que o valor da arte da pintura vem do simples negócio
de o artista fazer seu trabalho. Os obstáculos teóricos preestabelecidos pelos
pintores de sua época se evaporam nessa livre performance. A imagem
não é tão simples quanto parece, pois se trata de uma observação fiel dos
meios reais nos quais a pintura foi realizada: a artista olhando para a luz,
curvando-se por cima da tela para ver a modelo, que é seu próprio reflexo
no espelho, revelando a inspiração artística da pintora e seus pensamentos
na doutrina da imitação (GARRARD, 1989, p. 361).
O autorretrato de Artemísia oferece uma releitura do conceito de
o temperamento artístico ser melancólico, como sustentado por Ripa. A
melancolia, associada com sensibilidade, absorção meditativa, isolamento e
genialidade, era considerada um valor esnobe por muitos artistas da
Renascença. Entretanto, ao contrário de tal tradição, a pintora, sem inibições,
se representa em vida (GARRARD, 1989, p. 359).
Banti faz alusão ao manuscrito perdido nos destroços da guerra
em vários momentos, por exemplo, quando a narradora do romance alega
carregar Artemísia consigo em fragmentos4. Para JoAnn Cannon, a nostalgia
de Banti por este manuscrito perdido pode ser lida como uma alegoria da
noção de uma história a ser encontrada na História (CANNON citado em
POLLOCK, 2005, p. 179-80). A alegoria do momento nostálgico pós-
guerra vivido pela autora reforça sua natureza melancólica como alegorista,
como no argumento da narradora de que já faz um ano que as ruínas se
tornaram ruínas5, reforçando os estragos, físicos e emocionais, provocados
pela guerra e na comparação da pintora, fonte de inspiração da autora, a
um fantasma6.
No prefácio à edição americana do romance, Susan Sontag
argumenta que, apesar de heróica no desafiar as normas de seu gênero para
tornar-se uma artista, a Artemísia de Banti é um tipo feminino familiar,
com vida e personagem estabelecidas pelo medo e subserviência a um pai
confuso ao mesmo tempo que poderoso, a adoração a ele remete à
reverência da romancista a seu marido. Citações a Anna Banti, na grande
maioria das vezes, são acompanhadas da menção ao fato de ser ela esposa
de Longhi, assim como Artemísia costuma ser apresentada sempre como
filha de Orazio Gentileschi (BANTI, 1995, p. xiii-xiv). A protagonista de
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 125
Artemisia é uma mulher voluntariosa, caprichosa e solitária, que vive à sombra
de seu pai e da memória do amor do marido, que, por própria vontade,
preferiu abandonar para privilegiar sua carreira. Anna Banti, por sua vez,
passou a vida trabalhando em prol da produção intelectual do renomado
marido, não se firmando como escritora de ficção. Portanto o romance
pode também ser lido como uma alegoria da trajetória de Banti como
escritora de ficção.
Em A paixão de Artemísia, a protagonista narradora de Vreeland
enfrenta o pai, acusa seu violador em júri, muda de cidade para recomeçar
a vida em um casamento arranjado, sem lamentações deixa esse marido
quando percebe que sua arte é mais importante, e passa a viver em busca
de patronos para tirar o sustento de sua arte, criando assim sua filha sozinha.
Toda essa trajetória é também traçada por Banti. O que diferencia os dois
romances é a atitude das autoras ao ‘colar os cacos’ da vida da artista. Cada
uma percebe e pinta Artemísia à sua maneira.
A protagonista narradora de Vreeland resolve seus dramas pessoais
por meio de momentos catárticos durante o processo de criação e execução
de suas obras. Após ser torturada com a sibille que quase deceparam seus
dedos da mão no tribunal, Artemísia decide não parar de pintar e descarrega
suas emoções contraditórias em relação ao pai e a Agostino na tela Judith
matando Holofernes. No ato da pintura, ela afasta “a mão da tela e [vê] que
ficaram algumas gotas de sangue na roupa branca de cama de Holofernes”.
O contraste das cores é estimulante, ela comprime ainda mais a mão e a
dor se mistura com prazer, o sangue pinga na cabeça dele. Ao se lembrar
do sangue que encharcou as mangas de seu vestido no tribunal, e também
daquele que tentou estancar depois do estupro, deixa escorrer mais sangue,
agora nos dedos das mãos de Judith. A protagonista-narradora conclui o
capítulo dizendo que “se Roma queria circo, [ela] ia dar circo” (VREELAND,
2010, p. 42).
Durante o longo processo de julgamento de Agostino, em que ela
é forçada a se lembrar dos detalhes do abuso sofrido, ao ter suas mãos
apertadas nas cordas, e quando é examinada por parteiras em sessão aberta
ao público, ela se questiona como é que outras moças que passaram por
aquela experiência horrenda conseguiram continuar vivendo e se não deveria
ir para um convento (VREELAND, 2010, p. 28).
Artemísia se sente traída pelo próprio pai que retira a queixa contra
seu tutor, depois que ele devolve um quadro desaparecido de Orazio. O
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 126
julgamento é encerrado e Agostino é apenas banido de Roma. Ao voltar
para casa continua a ouvir “as palavras do locumtenente: o acusado está
perdoado” (VREELAND, 2010, p. 45). Ela passa pelo arco da Via Appia,
se irrita com o som emitido pelas cigarras e descreve “as casas abandonadas:
o reboco havia caído, mostrando os tijolos e as pedras embaixo. Vários
arcos levavam a lugar nenhum. Muros quebrados e túmulos derrubados
estavam cobertos de anêmonas, loios azuis e papoulas amarelas. Era uma
fantasia de ruína, cada pedra em vida perdida”. Ela senta-se em um muro
meio desmoronado e pede que um raio ali caia e tudo destrua: ela, seu pai,
Agostino, e a própria Roma. Contudo a lembrança de que “coisas maiores
e menores do que a [sua] vida tinham se passado ali naquele lugar” a leva
até a Santa Trinità, onde conversa com a irmã Graziela sobre a história de
Susana e os anciãos. Ali chega a sentir um chamado para a clausura, porém
aquela vida sem ousadia, sem interpretação e dramatização não era para
ela. A protagonista consegue voltar para casa e pede ao seu pai para consertar
as coisas. Ela não pode mais viver com ele e é impossível continuar em
Roma (VREELAND, 2010, p. 45-8).
Seu pai arranja um casamento com um pintor de talento mediano,
Pietro, e ela se muda para Florença para começar uma nova vida. A partir
deste ponto da trama, a protagonista-narradora de Vreeland se mostra
mais assertiva do que melancólica e nada a faz desistir de sua maior paixão:
a arte. Vreeland reforça a personalidade de Artemísia como uma mulher à
frente de seu tempo. Apesar de inicialmente recusada na Academia de
Florença, ela é a primeira mulher a ser efetivamente aceita na renomada
instituição. Pietro não recebe bem a notícia e se sente traído. Mesmo assim,
Artemísia continua se empenhando e passa a receber comissões de
importantes patronos, entre eles Cosimo de Médici. O romance pode ser
lido como uma alegoria da mulher bem-sucedida em um universo
exclusivamente masculino, o que reflete um dos valores prezados pela
sociedade nesse início do século XXI.
Além da técnica literária utilizada pelo escritor, a alegoria também
depende da percepção do leitor. Talvez o enredo devesse ser entendido
como um domínio de transferência, projeção e fantasia, que nos conta
mais sobre nós mesmos, como sonhadores, do que sobre aqueles nos quais,
em devaneio, nos projetamos e com os quais nos identificamos
(POLLOCK, 2005, p. 177), uma vez que “a alegoria é o único divertimento
oferecido ao melancólico” (BENJAMIN, 2011, p. 197). Enquanto o foco
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 127
do romance intitulado simplesmente Artemisia é a tentativa de superação da
dor da autora, que se mistura com a trajetória de vida da pintora, o foco de
A paixão de Artemísia é a maneira como essa trajetória de vida gira em torno
do trabalho, a maior paixão da artista.
Coincidentemente, o processo de criação da tela Autorretrato como
a alegoria da Pintura é resgatado nos desfechos dos dois romances. As
protagonistas dos dois romances partem para a Inglaterra em busca de
uma reconciliação com o pai. No entanto, na descrição do processo de
criação da tela, a única em forma de ecfrase do romance, Banti opta por
tratar a pintura como um retrato de outra pintora, a jovem Annella de
Rosa, e não como a própria imagem de Artemísia, que pela primeira vez na
trama pinta um retrato de memória, sem uma modelo presente:
[...] sua mão dava vida a uma face pálida e quente, cabelos negros arrumados
em um coque desleixado, caindo sobre o pescoço e as orelhas. Lembrada, e
não enfeitada: o cacho que caía da têmpora, desvendando sobre a face e
escondendo as orelhas fora desenhado e pintado com primor que ela
reconhecia e sentia prazer, em um momento de pura alegria. Agora o formato
da pequena cabeça estava completo, como se a modelo estivesse presente,
com uma naturalidade surpreendente somente encontrada na vida. [...] É
alguém que Artemisia amava inconscientemente, alguém que era
involuntariamente muito observada com intensidade. O reconhecimento
veio do impertinente ângulo da cabeça curvado sobre o ombro esquerdo, e
vinha com um nome: Annella de Rosa. Sua boca amuada, seus olhos
sombrios debaixo de cílios pesados; e isso é porque somente dois terços de
sua face estão visíveis, como se ela tivesse maliciosamente fugido da vista
do artista7. (BANTI, 1995, p. 195-6)
Depois da reconciliação com seu pai, Orazio, e em seguida velar
seu corpo, a protagonista é deixada por sua narradora em um quarto de
pensão barata em algum lugar da Inglaterra, reforçando a alegoria
benjaminiana, em que a única certeza que temos é que um dia todos nós
morreremos.
Em A paixão de Artemísia, Orazio, em seu leito de morte, dá a filha
uma sacolinha com uma “corrente de ouro com uma medalha de bronze
em forma de máscara de teatro” (VREELAND, 2010, p. 318) com a
iconografia da alegoria da Pintura. A protagonista narradora encerra o
romance com a promessa ao seu pai moribundo de “um autorretrato, uma
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 128
alegoria da Pintura que seja para sempre” (VREELAND, 2010, p. 320). A
contribuição da alegoria contemporânea de Vreeland se assemelha à
desinibida representação do autorretrato da pintora Artemísia Gentileschi.
São muitos os deslocamentos no tempo e espaço – uma autora
italiana, na primeira metade do século XX, e outra americana, no início do
século XXI – contam a vida da pintora italiana que viveu em meados do
século XVII, por meio de vestígios documentais e relatos encontrados em
um livro escrito no final do século XX, na mesma época da exposição dos
Gentileschi em Roma, Nova York e St. Louis. Também são várias as relações
entre o local e o global – o romance de Banti é hoje reconhecido de maneira
global como um ícone para qualquer estudo acerca da pintora, nas mais
diferentes formas de saber. Já “Vreeland essencialmente domesticou
[Artemísia] para [seu público] original e, por conseguinte, para uma maior
audiência global”8 (ZUPAN, 2009, p. 120), uma vez que seu romance foi
traduzido para mais de vinte idiomas. Mas isso seria assunto para outro
artigo, pois o que interessa aqui é a leitura dos romances como alegorias
contemporâneas. As autoras resgataram do passado técnicas e procedimentos
em forma de documentação – o livro de Garrard e também os demais
produtos culturais –, em forma de pintura, escultura e arquitetura, e ainda
em forma de recurso literário, a ecfrase; para transgredir, além das fronteiras
entre o verídico e o inventado, aquelas entre as mídias.
O romance de Banti apresenta uma alegoria ao pensamento da
escritora em relação ao momento pós-guerra e se expressa por meio da
reciclagem das ruínas da documentação da vida da pintora. De maneira
benjaminiana, os resíduos da história são montados como um quebra-cabeça,
no qual a escritora tenta decifrar enigmas de sua própria experiência. Em
acordo com o pressuposto de Owens, o romance de Susan Vreeland, por
sua vez, tira proveito de técnicas e procedimentos de modo que, por meio
das descrições ecfrásticas, mesmo o leitor não familiarizado com a obra da
pintora consegue visualizá-la sob a estrutura alegórica.
A obra da pintora Artemísia Gentileschi pode hoje ser lida por
meio do palimpsesto composto por várias produções culturais populares,
entre eles os romances de Anna Banti e Susan Vreeland. Ambas apoderam-
se da imagem de Artemísia, interpretam os significados dos fragmentos de
sua vida e obra, transformando essa imagem ao agregar novos sentidos e
valores em forma de suplemento, de modo que os dois romances
caracterizam-se como alegorias contemporâneas.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 129
Artemísia, de Anna Banti, e A paixão de Artemísia, de Susan Vreeland,
livre de uma ordem hierárquica, clamam pela ressignificação do que o
produto ‘Artemísia’ representa e acumulam algo inédito à documentação
da vida da pintora. Sem rompimento ou submissão, essas duas alegorias
contemporâneas oferecem uma sobrevida à obra da pintora Artemísia
Gentileschi.
Notas
1
No original: “Although Artemísia Gentileschi worked as an artist during the seventeenth
century, ‘Artemísia Gentileschi’ is a fabrication of the last decades of the twentieth…. she was
(re)discovered as one of the great artists of baroque Italy only after having been invented as one
of the first women making great art” (BAL, 2008b, p. ix).
2
Pseudônimo de Lucia Lopresti Longhi (1895-1985), historiadora de arte, crítica de
cinema, co-fundadora da revista Paragone e romancista.
3
Na edição em inglês: “I limit myself to the short span of my own memory, condemning my
presumptuous idea of trying to share the terrors of my own epoch with a woman who has been
dead for three centuries” (BANTI, 1995, p. 111).
4
Na edição em inglês: “I carry Artemisia round with me in fragments” (BANTI, 1995,
p.40).
5
Na edição em inglês: “…and now that the ruins have been ruins for a year…” (BANTI,
1995, p.111).
6
Na edição em inglês: “... she might as well have been a ghost” (BANTI, 1995, p.138).
7
Na edição em inglês: “She wondered about this as her hand gave life to a pale, warm cheek, to
black hair gathered in a careless knot, falling down over the neck and ears. Remembered, not
mannered: the lock that fell from the temple, unraveling down over the cheek and hiding the ear
was drawn in and painted with a mastery that she recognized and took pleasure in, in a moment
of pure joy. Now the shape of the small head is completed, as though the model were present, with
a striking naturalness that has to be drawn from life. … It is someone Artemisia unknowingly
loved, whom she was unwittingly looked at long and intensely. It was due to the peevish angle of
the head bent over the left shoulder that recognition came, and with a name: Annella de Rosa.
That is her sulky mouth, her sullen eyes beneath the heavy lids; and that is why only two thirds
of her face is visible, as though she had spitefully turned it away from the artist’s gaze”
(BANTI, 1995, p. 195-6).
8
No original: “Vreeland essentially domesticates the artist for the original American and then
for the wider global audience” (ZUPAN, 2009, p. 120).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 130
REFERÊNCIAS
BAL, Mieke. Grounds of Comparison. In: ________ (Org.). The Artemisia
Files: Artemisia Gentileschi for Feminists and Other Thinking People.
Chicago: University of Chicago Press, 2005b. p. 129-67.
________. Introduction. In: ________ (Org.). The Artemisia Files: Artemisia
Gentileschi for Feminists and Other Thinking People. Chicago: University
of Chicago Press, 2005a. p. ix-xxv.
BANTI, Anna. Artemísia (1953). Trad. Shirley D’Ardia Caracciolo. Lincoln:
University of Nebraska Press, 1995.
BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor. Trad. Maria Filomena Molder.
Disponível em: <http://www.c-e-m.org/wp-content/uploads/a-tarefa-
do-tradutor.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2012.
________. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo
Horizonte: Editora Autêntica, 2011.
CLÜVER, Claus. Intermedialidade e estudos interartes. In: NITRINI, Sandra
et al. (Org.). Literaturas, artes, saberes. São Paulo: Aderaldo & Rothschid;
ABRALIC, 2008. p. 209-32.
GARRARD, Mary D. Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero
in Italian Baroque Art. Princeton, NJ: Princeton UP, 1989.
HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Org. Liv
Sovik. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da
UNESCO no Brasil, 2003.
HOUAISS, Antonio e Mauro de Salles Villar. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009.
OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. Literatura e artes plásticas: o Künstlerroman
na ficção contemporânea. Ouro Preto: UFOP, 1993.
OWENS, Craig. O impulso alegórico: sobre uma teoria do pós-modernismo
(1980). Arte e ensaios: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes
Visuais. EBA, UFRJ, n. 11, p. 113-23, 2004.
POLLOCK, Griselda. Feminist Dilemmas with the Art/Life Problem. In:
BAL, Mieke (Org.). The Artemisia Files: Artemisia Gentileschi for Feminists
and Other Thinking People. Chicago: University of Chicago Press, 2005. p.
169-206.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 131
RAJEWSKY, Irina O. Intermidialidade, intertextualidade e “remediação”:
uma perspectiva literária sobre intermidialidade. Trad. Thaïs Flores Nogueira
Diniz e Eliana Lourenço de Lima Reis. In: DINIZ, Thaïs (Org.).
Intermidialidade e Estudos Inter-Artes (no prelo).
VREELAND, Susan. A paixão de Artemísia. Trad. Beatriz Horta. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2010.
_________. The Passion of Artemisia (2002). New York: Penguin Books,
2003.
ZUPAN, Patty. Artemisia’s Art and the Art of the Historical Novel: Anna
Banti, Alexandra Lapierre and Susan Vreeland. In: LAMARRA, Annamaria,
FEDERICI, Eleonora (Orgs.). Nations, Traditions and Cross-Culture Identities:
European Connections. Berna: Peter Lang AG, 2010. p. 101-22.
Miriam de Paiva VIEIRA
Doutoranda em Letras – Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da UFMG
e colaboradora autônoma do Grupo de Pesquisa Intermídia: Estudos sobre a
Intermidialidade, UFMG. Bolsista Capes-REUNI.
Artigo recebido em 28 de setembro de 2012.
Aceito em 02 de novembro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 132
CURIOSIDADE E TRANSGRESSÃO FEMININAS SOB
NOVA PERSPECTIVA: RELEITURA DE “O BARBA
AZUL” EM “THE BLOODY CHAMBER”,
DE ANGELA CARTER
Maria Cristina Martins
mariacristinamart@gmail.com
Resumo: “The Bloody Chamber”, Abstract: “The Bloody Chamber”,
de Angela Carter é uma deliciosa by Angela Carter is a delicious
releitura do conto “O Barba Azul”, rereading of Charles Perrault’s
de Charles Perrault, considerado a “Bluebeard”, which is considered
versão escrita mais antiga da história. the oldest written version of the
Apesar de haver vários pontos de story. Although there are several
contato entre a história tradicional e points of contact between the
a releitura proposta por Carter, a traditional story and Angela Carter’s
autora, na verdade, nos conta outra rereading, we are told another story
história que subverte noções that subverts distorted notions of
distorcidas de gêneros sexuais. No gender. In the present paper, I
presente trabalho discuto as discuss the implications of the
implicações da entrada da protagonist’s entering the forbidden
protagonista no quarto secreto e da room and confronting the material
confrontação da realidade material reality of her husband’s crimes, and
dos crimes do marido e também also the way female curiosity and
como, nessa releitura, a curiosidade disobedience are given positive
e a desobediência femininas ganham connotations which transform the
conotações positivas que transfor- transgressive gesture into a way to
mam o gesto transgressor em mola freedom.
propulsora de libertação.
Palavras-chave: Revisionismo feminista. Barba Azul. Transgressão.
Curiosidade feminina.
Keywords: Feminist revisionism. Bluebeard. Transgression. Female curiosity.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 133
Não se coloca ... vinho novo em odres velhos; do
contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama
e os odres se perdem. (Mt 9, 17)
I am all for putting new wine in old bottles,
especially if the pressure of the new wine makes
the old bottles explode.
Angela Carter
Em The Bloody Chamber and Other Stories (1979), de Angela Carter
(1940-1992), encontramos diversas releituras inovadoras de contos de fadas
tradicionais, provenientes basicamente da famosa antologia de Charles
Perrault. Combinando o fantástico e o real, Carter cria histórias inusitadas
que provocam um estranhamento em relação aos contos tais como os
conhecemos, expondo, entre outras coisas, o quanto as representações
culturais de gêneros sexuais são, na realidade, construídas historicamente.
A história que dá título à coletânea, por exemplo, é uma deliciosa
releitura do conto “O Barba Azul”, de Charles Perrault. Como observa
Marina Warner, “Barba Azul é um bicho-papão que fascina: o nome em si
desperta associações com sexo, virilidade, energia masculina e desejo” (1999,
p. 275). A história, publicada por Charles Perrault na coletânea Histoires ou
contes du temps passé ou Contes de ma Mère l’Oye (1697), além de figurar entre os
oito contos de fadas mais famosos da coleção (WARNER, 1999, p. 303), é
não somente a primeira versão escrita de que se tem notícia, mas também
a mais conhecida e difundida e “prenuncia as fantasias do século XX sobre
serial killers e assassinos como Jack, o Estripador” (WARNER, 1999, p. 275).
Apesar de haver vários pontos de contato entre a história de Perrault
e a releitura proposta em “The Bloody Chamber”, o que Carter faz, na
verdade, é nos contar outra história, na qual o vilão é um perito colecionador
de material pornográfico e a entrada da esposa na câmara sangrenta,
tradicionalmente apresentada como gesto transgressor, ganha conotações
positivas. No presente trabalho, meu propósito central é discutir exatamente
como Carter transforma a curiosidade e a desobediência femininas em
molas propulsoras de libertação, ao fazer com que a confrontação da
realidade material dos crimes do marido se torne fundamental para que a
protagonista tome consciência de sua própria objetificação em sua união
matrimonial com o Marquês.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 134
A trama de Perrault gira em torno de três elementos: o quarto
secreto, onde se encontram os corpos das esposas assassinadas, a proibição
expressa pelo marido (não entrar no quarto secreto) e a transgressão da
esposa (desobedecer à ordem dada, movida por sua curiosidade extrema).
No conto, o vilão é consideravelmente abastado e possui a famosa barba
azul que aterroriza as mulheres. A chave, manchada de sangue, é o que
denuncia a transgressão feminina, ou seja, a desobediência da esposa. Nessa
história, a heroína é a mais jovem de duas irmãs e atual esposa do cruel
assassino. Apesar de desobedecer a ele, acaba sendo resgatada e salva por
seus irmãos, que chegam a tempo de liquidar com o Barba Azul. Um
segundo casamento encerra a história, dessa vez com um homem que a
fará esquecer-se de seu passado ao lado do cruel marido.
Ao parodiar o conto do Barba Azul em “The Bloody Chamber”,
Carter promove deslocamentos narrativos importantes que alteram
sensivelmente os rumos e as mensagens tradicionais da história. Os contrastes
paródicos são vários na releitura e, entre os mais relevantes nesta discussão,
no que concerne ao tratamento da questão de gênero, destaco a mudança
de enfoque no que diz respeito à culpa ou à desobediência feminina e à
curiosidade feminina e a caracterização do protagonista como um marquês,
curiosamente um colecionador de pornografia e de objetos de arte.
Em se tratando da questão da culpa e da curiosidade femininas,
ambas encontram-se intimamente relacionadas no conto tradicional. A versão
de Perrault enfatiza a culpa feminina ao fazer da curiosidade das mulheres
mola propulsora da desobediência ao marido que é punida com a morte
das esposas pelas mãos do próprio Barba Azul. No conto, a voz narrativa
põe em evidência o reconhecimento dessa culpa por parte da protagonista:
“Ela jogou-se aos pés de seu marido, chorando e implorando seu perdão,
com todos os sinais de arrependimento sincero por ter desobedecido a
ele” (1979a, p. 146, minha ênfase)1. O fato de a protagonista sentir remorso
reforça ainda mais o caráter transgressor de sua desobediência às ordens
do marido.
Nas mãos de Angela Carter a história é bem diferente, pois, entre
outras coisas, o texto realça algo não explicitado nas versões tradicionais de
Barba Azul, ou seja, o papel instigador do marido que, na verdade, incita a
esposa à transgressão, ao aguçar sua curiosidade. A releitura de Carter contém
um comentário do Marquês marcado pela ironia, quando este se refere à
câmara sangrenta ao entregar as chaves à esposa:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 135
É somente um gabinete particular, um esconderijo, um “recanto” [...] para
onde posso ir, às vezes, naquelas ocasiões infrequentes, porém inevitáveis
em que o jugo do casamento parece pesar muito sobre meus ombros.
Posso ir para lá, você compreende, para saborear o raro prazer de imaginar-
me sem esposa. (1979a, p. 21)
No contexto da releitura, a ironia desse comentário feito pelo
Marquês reside no fato de que o “imaginar-se sem esposa” pode ser lido
tanto como imaginar-se na condição de solteiro como também na de viúvo.
Nessa fala do Marquês transparece a realidade dos assassinatos das esposas.
O leitor familiarizado com o enredo tradicional pode perceber o real teor
desse comentário do Marquês. Quando tomada em relação ao conto original,
a ironia como estratégia que estabelece o contraste paródico contribui para
dar visibilidade ao papel instigador do marido que, apesar de representar o
fator determinante da transgressão feminina, não é evidenciado como tal
na história.
Outro ponto que merece destaque é a identificação positiva da
protagonista de Carter com a figura bíblica da transgressora por excelência,
Eva. Isso se dá quando a protagonista de Carter tem dificuldade para
compreender a razão da pena imposta pelo Marquês: “Quem pode dizer
o que merece ou não? [...] Não fiz nada, porém isso deve ser razão suficiente
para condenar-me” (1979a, p. 37, minha ênfase). Diferentemente da
personagem no conto de Perrault, a protagonista de Carter não vê nada de
errrado em seu procedimento. Quando o afinador de pianos, Jean-Yves,
argumenta “[v]ocê desobedeu-lhe ... Isso é razão suficiente para ele punir
você” (1979a, p. 37; minha ênfase), é significativo que ela retruque “Somente
fiz o que ele sabia que eu faria” (1979a, p. 37, minha ênfase), pois coloca
em evidência tanto o abuso do poder masculino de dominação como a
parcela considerável de responsabilidade masculina no ato transgressor da
esposa.
Também vale ressaltar o fato de que a identificação da protagonista
com a figura de Eva provenha de uma personagem masculina, ou seja, do
afinador de pianos, pois isso dá visibilidade a uma das fontes principais da
misoginia sobre a qual se construiu o mito da transgressão feminina. Chama
minha atenção que, imediatamente após a identificação, a protagonista passe
a se referir ao afinador de pianos como “meu amado ou amante” (1979a,
p. 38).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 136
Em várias interpretações tradicionais da história, a curiosidade
feminina é vista como sendo de natureza sexual. Nesses casos, a transgressão
apontada é a infidelidade conjugal durante a ausência do marido. No texto
de Angela Carter, a mudança abrupta do tratamento do afinador de pianos
soa irônica, a meu ver, e parece ridicularizar interpretações dessa natureza.
No que diz respeito à importância que a entrada na câmara
sangrenta adquire em “The Bloody Chamber”, a mesma pode ser percebida
a partir do próprio título que Carter confere à releitura. Nele, percebe-se
um importante deslocamento narrativo em relação ao conto de Perrault,
com a opção da autora por colocar em primeiro plano, não o vilão assassino
do conto tradicional, mas sim o quarto secreto, onde se encontram as
evidências dos crimes do violento marido, ou seja, os corpos das esposas
por ele vitimadas. A substituição do vilão pela câmara secreta, palco de seus
crimes, retira o protagonista de Perrault do primeiro plano, para que agora
o leitor tenha a oportunidade de prestar mais atenção ao que acontece às
mulheres, ou melhor, aos seus corpos, na câmara sangrenta. De fato, esse
lugar na releitura de Carter é espaço de confrontação.
Essa simples mudança de foco é altamente significativa, pois o
deslocamento da atenção para o local dos assassinatos, “altera as expectativas
do leitor de uma história sobre um homem metonimicamente nomeado
por sua característica física mais proeminente, para um conto sobre sexo e
violência, e sua conexão ao corpo feminino” (FULLERTON, 1996, p.
120), revelando a séria e reconhecida preocupação de Carter em relação às
questões da sexualidade, do desejo e da objetificação da mulher no olhar
masculino. Nessa nova leitura da antiga história do Barba Azul, todas essas
questões estão, de fato, no centro da trama.
Diante dos efeitos revisionistas identificados na constituição do
título da releitura por Angela Carter, confesso que me causa certo desconforto
deparar-me com traduções dessa obra de Carter para o português, na qual
o título conferido – “O quarto do Barba Azul” – não só elimina o adjetivo
bloody (“sangrenta”), mas mantém a menção ao Barba Azul, o que não faz
jus, a meu ver, ao teor e ao impacto revisionista do título da releitura.
Além do título, também merece destaque o fato de o texto de
Carter abrir as páginas da coletânea com a voz da personagem feminina
central que conta, em retrospectiva, sua própria história. “The Bloody
Chamber” tem início com as lembranças de quando tudo teria começado:
“o trem[...] transportou-me através da noite, para longe de Paris, para longe de
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 137
minha infância, para longe da quietude enclausurada do apartamento de minha
mãe, introduzindo-me no país inimaginável do casamento” (1979a, p. 7).
Na trama de Carter, o valor da voz feminina que ouvimos em
“The Bloody Chamber” ganha importância adicional, sobretudo quanto
ao tratamento de aspectos importantes da sexualidade e do desejo femininos.
Facultando à sua heroína o poder de assumir o controle da narração da
história de sua própria experiência num momento posterior a tudo que
viveu, Carter abre espaço para que muitos aspectos tradicionalmente
emudecidos ou desconsiderados na história tradicional possam emergir. O
fato de, na versão de Carter, a história chegar até os leitores por meio da
própria voz narrativa dessa personagem feminina promove um importante
deslocamento da atenção, tendo em vista que ganha centralidade na narração
a própria transformação experimentada por essa jovem ao adquirir plena
consciência dos reais propósitos de seu marido, o que decididamente vai
alterar a sua forma de enxergar tanto o casamento como a sua própria vida.
Como parte dessa tomada de consciência das verdadeiras intenções
do Marquês, a protagonista-narradora revela, em sua retrospectiva, que, no
dia anterior ao casamento, durante a ópera, acaba sendo surpreendida com
o reconhecimento de sua própria objetificação no olhar do Marquês:
“Quando eu o vi olhando-me com desejo, baixei meus olhos mas, ao desviá-
los, vi-me no espelho. Vi a mim mesma de repente como ele me via”
(1979a, p.11). O reflexo no espelho permite à heroína de Carter uma visão
dupla de si mesma, ou seja, ela se vê, mas não diretamente, e sim filtrada
pelo espelho do olhar masculino do Marquês. A própria maneira como ela
descreve sua noite de núpcias e o tratamento que o Marquês lhe dispensa
confirma cada vez mais a materialidade da sua objetificação: “Ele me despiu,
guloso que era, como se estivesse removendo as folhas de uma alcachofra
[...]. Ele aproximou-se de seu deleite familiar com um apetite saturado”
(1979a, p. 15).
O ponto alto dessa narração em primeira pessoa encontra-se, a
meu ver, na entrada na câmara sangrenta. Esse evento, filtrado pelos olhos
da protagonista, ganha nova dimensão e desnuda aspectos silenciados na
história original como, por exemplo, o momento crucial da tomada de
consciência da heroína: “Meu primeiro pensamento, quando vi o anel pelo
qual eu havia vendido-me a esse destino, foi como escapar dele” (1979a, p.
29). Esse é um lado da história provavelmente desconhecido, mas que o
deslocamento narrativo produzido por Carter faz ganhar voz nessa releitura.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 138
Cabe ressaltar que a conotação positiva que a entrada no quarto
secreto do marido assassino ganha em “The Bloody Chamber” está
diretamente associada à importante inversão que Carter promove na história
do Barba Azul, ao alterar o modo de tratar a curiosidade feminina. No
conto original, a postura é bastante desfavorável a esse respeito, fazendo
com que a curiosidade da esposa ganhe mais relevo como gesto transgressor
do que os próprios crimes cometidos pelo marido assassino.
Nessa releitura, no entanto, assistimos a algo completamente distinto,
pois a entrada da heroína no quarto secreto representa um momento de
reconhecimento, de tomada de consciência sobre sua condição de objeto
nas mãos do marido. A voz que relata a experiência vivida é a da própria
heroína, emudecida na história tradicional. Ao explorar o quarto secreto, a
heroína passa a enxergar seu marido e a si mesma de uma maneira diferente.
O modo como Carter relê a entrada da heroína na câmara sangrenta
leva-me a identificar, no relato da confrontação da dura realidade do destino
das esposas vitimadas pelo vilão, uma instância significativa de abjeção, na
forma como é delineada por Julia Kristeva em Powers of Horror: An Essay
on Abjection (1982). A noção de abjeção advém do esforço de Kristeva
no sentido de propor o mapeamento de uma nova região do inconsciente,
onde o self não seria nem sujeito nem objeto, mas sim abjeto. Assim, nessa
perspectiva, o abjeto é o que se encontra na fronteira, sem respeitar fronteiras
(KRISTEVA, 1982, p. 69). O abjeto não é uma qualidade em si mesmo. É,
sim, um relacionamento com uma fronteira e representa o que foi “atirado
para fora daquela fronteira, seu outro lado, uma margem” (KRISTEVA,
1982, p. 69). O abjeto é o que ameaça a identidade. O abjeto é ambíguo:
nem bom, nem mau; nem sujeito, nem objeto; nem ego, nem inconsciente.
O abjeto é, portanto, uma constante ameaça para a unidade ou a identidade,
tanto da sociedade quanto do sujeito, pois questiona as fronteiras nas quais
essas identidades são construídas.
Na releitura proposta por Carter em “The Bloody Chamber”, a
manifestação do abjeto pode ser percebida quando a jovem esposa,
desobedecendo à proibição de seu marido, decide entrar na câmara sangrenta
do castelo, onde se encontram as evidências de sua violência e crueldade. O
confronto com o abjeto tem lugar no momento em que a protagonista
descobre os cadáveres das esposas anteriores do Marquês. A constatação
dos crimes do marido é algo muito significativo, pois, a partir daí, a jovem
toma consciência do inexorável destino reservado também a ela, como
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 139
mais uma esposa da Barba Azul. Samantha Pentony (1996, p. 2) observa
que, ao descobrir esses cadáveres, a protagonista “cruza a fronteira imaginária
de Kristeva e entra no reino da morte, da mutilação, do sangue e do horror”.
Nesse ponto, o abjeto torna-se uma ameaça tangível, ao romper com o
sistema de identidade e com a concepção de ordem que prevalecia até esse
momento.
Uma das peculiaridades do abjeto é que, ao confrontá-lo, o
indivíduo sente-se tanto atraído como repelido por ele. Isso pode ser
percebido em “The Bloody Chamber”, quando, ao entrar e deparar-se
com o terrível cenário, a protagonista não se retira imediatamente, como
seria de se esperar, mas segue verificando todos os detalhes. Algo mais
forte que ela parece impulsioná-la. Quando ela se vê diante do esquife no
centro do aposento, percebemos a mistura de sensações: “Eu mal ousava
examinar mais de perto esse catafalco e sua ocupante; no entanto eu sabia
que tinha que fazê-lo” (1979a, p. 28), ou seja, enquanto uma parte dela
recusava-se a confrontar a realidade, outra a pressionava nessa direção.
O confronto com os cadáveres vai, aos poucos, conduzindo a
heroína de Carter, que se move do centro para as margens da câmara
sangrenta, onde se dá o seu encontro com o caixão daquela que teria sido a
última esposa do Marquês, pois ela “parecia estar morta há pouco tempo,
tão cheia de sangue” (1979a, p. 29). Foi nesse momento que a jovem “deixou
a chave cair [...] na poça que se formava com o sangue dela” (1979a, p. 29).
Ao abrir o caixão, o confronto com o abjeto atinge seu clímax. O cadáver
“estava perfurado, não por um, mas por uma centena de cravos” (1979a,
p. 29), refletindo o grau de violência e sadismo do marido assassino.
Essa confrontação é seguida de uma reação física que representa o
reconhecimento biológico do abjeto: “Fechei a tampa do caixão dela... e
irrompi num tumulto de soluços que continham tanto minha compaixão
pelas outras vítimas dele como uma terrível angústia de saber que eu também
era uma delas” (1979a, p. 29, minha ênfase). Essa resposta física que se
manifesta em seguida ao confronto reforça a possibilidade de ser essa uma
experiência visível de abjeção nessa releitura. Depois da revelação, a
protagonista de “The Bloody Chamber” não é mais a mesma, e reconhece
que “[deve] pagar o preço de [seu] novo conhecimento” (1979a, p. 34),
numa referência explícita à transgressão da primeira mulher, Eva. Isso, no
entanto, não a intimida, pois, a partir da descoberta, a jovem rejeita
completamente a posição de mero objeto dos desejos masculinos.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 140
Nessa história, o confronto não significa a extinção do abjeto e, de
fato, “nenhuma tinta ou pó [...] pode disfarçar aquela marca vermelha”
(1979a, p. 41) que a chave manchada com o sangue deixou gravada na
fronte da protagonista de Carter. Em relação a esse caso específico da
abjeção em “The Bloody Chamber”, concordo com Pentony quando
afirma que “Carter abala a estrutura tradicional de gênero sexual colocando
o clímax da história no abjeto ao invés de um desfecho reconciliador”
(1996, p. 3).
Analisando a forma como Angela Carter constrói a cena da entrada
da protagonista na câmara sangrenta, ocorre-me, também, uma possibilidade
de leitura dessa passagem como um renascimento da protagonista,
decorrente da experiência do confronto com os crimes do marido assassino.
Ao dirigir-se para o referido aposento do castelo, a jovem esposa comenta
“agora eu caminhava tão firmemente como fazia na casa de minha mãe”
(1979a, p. 27), sendo o castelo, agora, a representação do corpo da mãe. E,
ao percorrer o corredor que leva à câmara sangrenta, sente que “ficava
muito quente” e que, ao movimentar-se nele, é como se estivesse “nas
vísceras do castelo” (1979, p. 27), o que nos permite pensar que ela esteja
nas entranhas do corpo da mãe.
A câmara sangrenta, por sua vez, pode ser interpretada como o
próprio útero materno. A experiência vivida nesse aposento não é nada
fácil e, ao sair dele, a protagonista de Carter, como já vimos, é outra mulher,
pois tomou posse de um conhecimento que ninguém pode lhe roubar.
Além disso, a entrada triunfal da mãe no final da história de Carter vem
reforçar a importância da manutenção do elo entre mãe e filha, vital para a
sobrevivência das mulheres. Assim, o renascimento da protagonista pode estar
sugerindo um resgate do valor da manutenção dessa ligação à figura materna.
Como pôde ser observado, portanto, no que diz respeito ao
tratamento da culpa feminina, o incidente do confronto da câmara sangrenta
no texto de Carter dá-se de forma diversa do conto de Perrault, tendo em
vista que a desobediência da personagem feminina assume uma conotação
visivelmente positiva. Como observa Robin Ann Sheets, nessa releitura,
Carter “escreve contra a tradição interpretativa que enfatiza a curiosidade
sexual ilícita da esposa” (1998, p. 104). Para a protagonista de Carter, o
confronto com a realidade material dos crimes do marido é o ponto
culminante da tomada de consciência sobre sua objetificação, sua condição
de carne no sentido de alimento em sua união matrimonial com o Marquês,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 141
nos termos definidos por Carter em The Sadeian Woman: and the ideology
of pornography (1978).
O relato da cena da consumação do casamento pelo ato sexual
apresenta-nos o seguinte: o Marquês “em seu traje londrino” e a jovem
noiva “nua como uma costeleta de carneiro. A mais pornográfica de
todas as confrontações” (1979a, p. 15, minha ênfase). É importante observar
que, como a narração acontece em retrospectiva, esse relato é posterior à
confrontação com a câmara sangrenta e deixa transparecer o nível de
consciência adquirida quanto à sua objetificação nas mãos do marido cruel.
A confrontação com a realidade dos crimes do marido permite que ela
veja com outros olhos não somente sua própria pessoa, mas também o
verdadeiro caráter do marido sádico e dominador. Depois dessa tomada
de consciência, ver-se livre da aliança de casamento é motivo de júbilo para
a protagonista de Carter: “De bom grado tirei-o de meu dedo, e mesmo
naquele lugar doloroso, meu coração estava mais leve devido à falta dele”
(1979a, p. 38), o que implica um sentimento novo de leveza, de liberdade
reconquistada.
A caracterização da personagem masculina central também merece
ser considerada, tendo em vista que produz um contraste paródico
importante quando comparada à da versão de Perrault. O emprego de
dinâmicas sadomasoquistas em “The Bloody Chamber”, o vínculo que o
texto estabelece entre a figura do marido e o Marquês de Sade, e o fato de
o marido assassino ser colecionador de pornografia e de obras de arte,
apontam “uma base cultural para o sadismo dele, sugerindo um
relacionamento entre arte e agressão” (SHEETS, 1998, p. 104), sendo
importante para uma maior compreensão das definições de masculinidade
baseadas no princípio de dominação. Ao expor a questionamento o poder
exercido pelo Marquês em “The Bloody Chamber”, Carter dá relevo à
questão do olhar masculino que sujeita a protagonista de Carter à condição
de objeto dos desejos masculinos. Acrescento, neste ponto, algumas
considerações importantes tecidas por Carter em The Sadeian Woman:
Ser o objeto de desejo é ser definida no caso passivo.
Existir no caso passivo é morrer no caso passivo – isto é, ser assassinada.
Essa é a moral do conto de fada sobre a mulher perfeita. (1979b, p. 77)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 142
Essa imagem da mulher perfeita segundo padrões convencionais
dos contos de fadas é um dos alvos prediletos de Angela Carter ao manipular
as histórias consagradas do gênero.
Após a morte do marido assassino, a heroína de Carter vê-se livre
da objetificação no olhar masculino quando Carter promove outro contraste
paródico ao fazer com que a figura de Jean-Yves, um afinador de pianos,
cego, desempenhe o papel do segundo marido da versão de Perrault.
Enquanto o conto de Perrault informa-nos sucintamente que o segundo
marido seria “um homem de muito valor, que baniu a lembrança dos dias
infelizes vividos com o Barba Azul” (PERRAULT, 1999, p. 148), o de
Carter participa de boa parte da trama e sua cegueira tem implicações
importantes no revisionismo dos contos de fadas.
Embora seja evidente que a deficiência visual de Jean-Yves o coloca
em situação de desvantagem, privando-o de um dos sentidos, também é
verdade que essa mesma deficiência possa ser vista por um outro ângulo,
não convencional, que não necessariamente o diminua no contexto da
narrativa. Por exemplo, julgo pertinente a interpretação de Aidan Day,
segundo a qual o afinador de pianos “é simbolicamente ampliado como
homem em virtude do fato de que em sua cegueira ele não fixa e objetifica
sua parceira através do olhar masculino” (1998, p. 157), protegendo a
protagonista de Carter contra essa ameaça. Também acredito que a cegueira
de Jean-Yves possa ser vista sob o prisma do aguçamento dos demais
sentidos, especialmente o do tato, o que é comum acontecer com os
deficientes visuais.
A importância do aprimoramento de outros sentidos pode significar
uma maior sensibilidade em relação aos desejos femininos e uma forma
diferente de lidar com a sexualidade feminina. Discutindo Lucy Irigaray,
Susan R. Suleiman (1990) enfatiza a importância da compreensão de que “a
sexualidade da mulher não é uma, mas múltipla, baseada não no olhar que
objetifica, mas no tato que une” (p. 124). A inserção do segundo marido no
texto de Carter, portanto, emerge como uma alternativa de relacionamento
entre os sexos, estabelecido sobre novas bases e contribui para que a autora
confronte definições tradicionais de masculinidade baseadas na dominação.
O texto de Carter deixa transparecer que não consegue eliminar a marca
tradicional da transgressão feminina, estampada na fronte da protagonista,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 143
mas sugere que um novo tipo de olhar é necessário para transcender a
visão convencional, ou seja, o olhar com o coração. A protagonista de
Carter não teme ser rejeitada pelo afinador de pianos, pois ela sabe que ele
a enxerga desse modo, não estando preso às formas convencionais do
olhar masculino.
O contraste entre a figura do marido assassino e a do afinador de
pianos é considerável. Como bem observa Ann Sheets, “Jean-Yves não
tem nem o poder do Marquês e nem o encanto de um príncipe dos contos
de fadas”. Ele também “não é perfeito: quando diz à noiva que ela, como
Eva, deveria ser punida por sua desobediência, ele revela que suas atitudes
foram moldadas por mitos do mal feminino” (1998, p. 112). Além disso,
uma outra importante distinção entre ele e o Marquês reside no fato de
que, enquanto “[o] Marquês levou a jovem para longe da mãe dela”, o
afinador de pianos “ajuda a abrir o portão do quintal para que a mãe
pudesse retornar” (SHEETS, 1998, p. 112), contribuindo para o
fortalecimento do vínculo entre as duas mulheres.
Diante do que foi exposto, vê-se que, nas mãos de Carter, a história
de Perrault é transformada, surtindo o efeito de “vinho novo em odres
velhos”. “The Bloody Chamber” é, de fato, outra história, na qual a
curiosidade e a desobediência da mulher ganham novas conotações positivas
que subvertem as do conto tradicional, ao serem tratadas como “os meios
de descobrir uma importante verdade: permitir a própria objetificação
pode ser aniquilador” (GOERTZ, 2000, p. 218). Essa descoberta é o passo
essencial que antecede e posssibilita a mudança da condição de submissão
ao desejo do outro. “The Bloody Chamber”, portanto, transforma o gesto
transgressor feminino em instrumento de libertação de uma condição
objetificante. Esse tipo de intervenção narrativa reafirma a importância de
um revisionismo como o de Carter, no contexto atual do tratamento das
questões de gênero, sobretudo por desestabilizar noções de feminilidade
deturpadas ou limitadoras, propagadas por histórias consagradas como a
do Barba Azul.
Nota
1
Minha tradução. Doravante, as citações presentes no texto, sejam de textos teóricos
ou de ficção, escritos originariamente em inglês, serão traduzidas por mim.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 144
REFERÊNCIAS
CARTER, Angela. The Sadeian Woman: and the Ideology of Pornography.
New York: Pantheon Books, 1978.
______. “The Bloody Chamber”. In ______. The Bloody Chamber and Other
Stories. London: Penguin, 1979a, p. 7-41.
______. The Sadeian Woman: An Exercise in Cultural History. London: Virago,
1979b
______. Notes from the Front Line. In: WANDOR, Michelene (Ed.). On
Gender and Writing. London: Pandora, 1983. p. 69-77.
DAY, Aidan. Angela Carter: The Rational Glass. Manchester and New York:
Manchester University Press, 1998.
FULLERTON, Romayne Chaloner Smith. Sexing the Fairy Tale: Borrowed
Monsters and Postmodern Fantasies. 1996. 229 f. Tese de Doutorado. Saint
Louis University, 1996.
GOERTZ, Dee. To Pose or not to Pose: The Interplay of Object and
Subject in the Works of Angela Carter In: WERLOCK, Abby H. P. (Ed.)
British Women Writing Fiction. Tuscaloosa and London: The University of
Alabama Press, 2000. p. 213-228.
KRISTEVA, Julia. Powers of Horror: An Essay on Abjection. Transl. Leons
S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1982.
PENTONY, Samantha. “How Kristeva’s Theory of Abjection Works in
Relation to the Fairy Tale and Post Colonial Novel: Angela Carter’s The
Bloody Chamber, and Keri Hulme’sThe Bone People”. Deep South, v. 2, n. 3, p. 1-
7, Spring 1996. Disponível em: <http://www.otago.ac.nz>. Acesso em:
25 maio 1998.
PERRAULT, Charles. Bluebeard. In TATAR, Maria (Ed.). The Classic Fairy
Tales: texts, criticism. London and New York: WW Norton & Company,
1999. p. 144-148.
SHEETS, Robin Ann. Pornography, Fairy Tales, and Feminism: Angela
Carter’s “The Bloody Chamber”. In TUCKER, Lindsey (Ed.). Critical essays
on Angela Carter. New York: G. K. Hall (Macmillan), 1998. p. 96-118.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 145
SULEIMAN, Susan Rubin. Subversive Intent: Gender, Politics, and the Avant-
garde. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
WARNER, Marina. Da fera à loira: sobre contos de fadas e seus narradores.
Trad. Thelma Médici Nóbrega. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
Maria Cristina MARTINS
Doutora em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Professora de Literatura Inglesa e de Literaturas de Expressão em Língua
Inglesa no Instituto de Letras e Linguística (ILEEL)/Universidade Federal
de Uberlândia (UFU/MG).
Artigo recebido em 28 de setembro de 2012.
Aceito em 25 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 146
DE FLORES E RETALHOS: AS ARTISTAS AFRO-
AMERICANAS E A TRADIÇÃO FEMININA
Eliana Lourenço de Lima Reis
elianalourenco@terra.com.br
Resumo: Este artigo discute a Abstract: This essay discusses African
tradição feminina afro-americana American women´s tradition in the
em Alice Walker e Faith Ringgold, works of Alice Walker e Faith
focalizando em especial a confecção Ringgold, focusing especially on
de quilts não só como signo de quilting both as a sign of resistance
resistência à escravidão e à to slavery and social marginalization
marginalização social, mas também and as a technique based on the
como técnica para a criação de association between narrative and the
obras que aliam a narrativa às artes visual arts.
visuais.
Palavras-chave: Tradição feminina. Artistas afro-americanas. Quilts. Alice
Walker. Faith Ringgold.
Keywords: Women´s tradition. African American artists. Quilting. Alice
Walker. Faith Ringgold.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 147
Despite/ the hunger/ we cannot possess/ more/ than/ this:/
Peace/ in a garden/ of/ our own.
Alice Walker
Ela gostava, mais do que tudo, de arrumar coisas. Alinhar coisas em
fileiras – vidros em prateleiras para conservas, caroços de pêssego em degraus,
varinhas, pedras, folhas – e os membros de sua família deixavam esses
arranjos para lá [...]. Qualquer pluralidade portátil que ela encontrasse,
ela arrumava em fileiras cuidadosas, de acordo com seu tamanho, formato
ou gradações de cores. Assim como ela nunca alinharia uma agulha de
pinheiro com uma folha de choupo ela nunca poria os vidros de tomate ao
lado das vagens. [...] Ela sentia falta – sem saber do que sentia falta – de
tintas e lápis de cor.
Toni Morrison
Em busca de precursoras
Alice Walker e Faith Ringgold pertencem a uma geração de afro-
americanas formadas, por um lado, pelo movimento feminista e, por outro,
pelas lutas em favor dos Direitos Civis e pela ressignificação das matrizes
culturais africanas. Em suas obras, essas duas linhagens se encontram na
valorização das chamadas artes femininas, utilizadas como táticas de
sobrevivência emocional e espiritual entre as mulheres marcadas pelo duplo
preconceito de gênero e de origem étnica. Essa nova consciência, entretanto,
implica certo desenraizamento, trazido pela educação universitária e pelo
afastamento do meio rural, onde a cultura afro-americana preservou por
mais tempo os elementos ancestrais africanos. Assim, o projeto de
recuperação da tradição afro-americana envolve, necessariamente, um
deslocamento – não só em sentido espacial, mas também intelectual e
emocional – e a consequente busca por um novo lugar cultural e social.
Entre perdas e ganhos, as artistas afro-americanas educadas nas décadas de
1950 e 1960 procuraram criar o que Virginia Woolf chamou de “um quarto
só para si”1, transmutado no jardim simbólico da resistência de suas
antepassadas, bem como revalorizar os trabalhos manuais, em especial a
tradição de confecção de quilts2.
Em seu conhecido ensaio “In search of our mothers’gardens”
(Em busca dos jardins de nossas mães), Alice Walker evoca as mulheres
negras que ficaram à sombra, nos Estados Unidos ou em outras regiões do
mundo, devido à impossibilidade de acesso à educação formal e à ascensão
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 148
social, mas que desenvolveram sua arte não só na área da literatura oral e
escrita, mas também em outros campos. A obra de Alice Walker busca dar
visibilidade a essas mulheres anônimas retratando-as como personagens
fortes, que servem de inspiração para aquelas agora elevadas a uma nova
posição social após as conquistas dos direitos civis e dos movimentos
feministas. Nesse ensaio, Walker parte do texto de uma precursora, Virginia
Woolf (“A room of one’s own”) 3, para definir, em termos pessoais,
históricos e literários, as maneiras em que as mulheres negras tiveram negado
seu direito à expressão artística, tornando-se, no máximo, artistas ocultas, já
que eram consideradas apenas como fonte de mão de obra barata. Apesar
disso, afirma Walker, elas eram dotadas de uma profunda espiritualidade,
que, na maior parte das vezes, era quase inconsciente, por não conseguirem
perceber sua riqueza interior:
Elas tropeçavam, vacilantes e cegas, por sua vida: criaturas tão maltratadas e
mutiladas em seu corpo, tão embotadas e confundidas pela dor, que elas
não se consideravam merecedoras nem mesmo de esperança. [...] Essas
Santas loucas olhavam espantadas para o mundo de modo selvagem, como
lunáticas – ou quietas, como suicidas. [...] Algumas delas, sem dúvida,
eram nossas mães e avós. [...] [É] assim que foram vistas por Jean Toomer4:
borboletas raras capturadas num mel maligno, passando sua vida em trabalho
duro em uma era, um século, que apenas as reconhecia como “as mulas do
mundo.”5 (WALKER, 1997, p. 2380-2381)
Essas mulheres estão como que “em suspensão” (p. 2381), à espera
do dia em que sua criatividade não utilizada deixe de ser uma força destrutiva
para, finalmente, ser posta em prática: “Pois essas nossas avós e mães não
eram Santas, mas Artistas [...]. Elas eram Criadoras, que viviam vidas de
desperdício espiritual, pois eram tão ricas em espiritualidade – que é a base
da Arte – que o esforço de suportar seu talento não usado e indesejado
levou-as à loucura” (p. 2381). Apesar de tudo, essas mulheres conseguiram
legar “a seus descendentes a centelha criativa, a semente da flor que elas
mesmas nunca esperavam ver: ou como uma carta selada que elas
simplesmente não conseguiam ler” (p. 2385). É essa herança que Alice Walker
considera a fonte de sua própria arte, pois não apenas as histórias que ela
narra, mas até mesmo sua maneira de contá-las lhe foram passadas por sua
mãe. Esta mulher forte, paciente com os filhos, além de trabalhar na lavoura
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 149
o dia todo, costurar para a família e preparar as conservas para o inverno,
punha em prática sua criatividade na confecção de quilts e, principalmente,
nos seus “jardins ambiciosos”, com um número grande de espécies que
floriam quase o ano todo: “Percebo que é apenas quando minha mãe está
trabalhando com suas flores que ela fica radiante, quase a ponto de ficar
invisível – exceto como Criadora: mão e olho. [...] Organizando o universo
à imagem de sua concepção pessoal de Beleza” (p. 2386). E completa:
“Guiada por minha herança de amor pela beleza e respeito pela força – em
busca do jardim de minha mãe, eu encontrei o meu” (p. 2387). Em outras
palavras, a ausência de uma tradição artística feminina afro-americana no
sentido clássico de “alta” cultura, faz com que Alice Walker a procure no “baixo”,
como observa Barbara Christian, onde as mães-artistas transformaram o material
a que tinham acesso à sua imagem de beleza. O resultado foi que Walker acaba
por “virar a ideia de Arte de cabeça para baixo” (CHRISTIAN, 1990, p. 44),
elevando as táticas das afro-americanas à categoria de arte.
A arte dos retalhos
Entre os inúmeros exemplos de criações artísticas de mulheres
afro-americanas no passado, Alice Walker cita um quilt que chamou sua
atenção durante uma visita ao Smithsonian Institution na cidade de
Washington: “em figuras fantásticas, inspiradas, porém simples e identificáveis
[o quilt] retrata a história da Crucifixão” por meio de retalhos de tecidos
aplicados de maneira a representar visualmente a cena bíblica. “Abaixo
desse quilt eu vi uma nota dizendo que havia sido feito por ‘uma mulher
negra anônima no estado de Alabama, cem anos atrás’”, que Walker descreve
como “uma artista que deixou sua marca nos únicos materiais a que ela
podia ter acesso, e no único meio que sua posição na sociedade permitia
que ela usasse” (p. 2385). Nos termos de Michel de Certeau, a confecção
de quilts e as outras formas de expressão artística de que fala Walker
constituem táticas de resistência e sobrevivência, fora dos espaços de poder
– em oposição às estratégias dos fortes, daqueles que possuem um ponto
de visão privilegiado. A tática seria a “arte do fraco”, já que a ação se dá
“dentro do campo de visão do inimigo”, no espaço controlado por este,
tornando necessário o uso da astúcia e o aproveitamento do que se encontra
disponível no momento (CERTEAU, 1994, p. 329). Assim, as práticas
cotidianas, as “maneiras de falar” e “as maneiras de fazer” são do tipo
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 150
tático, pois permitem colocar em ação práticas heterogêneas aos mecanismos
de repressão.
Numa situação de falta de liberdade e de meios de subsistência,
somente essas táticas artísticas permitiram que as afro-americanas cultivassem
seu jardim interior, legando a seus descendentes uma tradição associada às
artes ocidentais, mas que traz elementos diferenciados. As escravas aprendiam
a fazer quilts com suas senhoras, incorporando então padrões e gostos que
refletiam os da sociedade branca. Entretanto, muitas peças apresentavam
elementos que vários pesquisadores acreditam estar ligados às tradições
têxteis das culturas da África Ocidental e Central, que teriam sido levadas
para os Estados Unidos por escravos vindos daquelas regiões e, ao longo
de gerações, acabaram formando uma tradição afro-americana de confecção
de colchas. Entre essas características estão o uso de cores fortes, desenhos
assimétricos, padrões múltiplos, formas e motivos de tamanho grande,
desenhos em listas e improvisações em torno de padrões tradicionais
(ATKINS, 2004, p. 418). Assim, em lugar da organização geométrica que
marca o modo europeu de unir os quadrados, os quilts afro-americanos
geralmente apresentam um arranjo mais informal das peças, originado, por
um lado, pelas reinterpretações de modelos tradicionais como Cabana de
Madeira ou Estrela, e, por outro, pelo uso concomitante de diversos padrões
(ATKINS, 2004, p. 419). Isso torna cada peça única, ao mesmo tempo em
que está associada a uma tradição conhecida. Segundo Elsa Brown (1989),
as artesãs afro-americanas “preferem a variação à regularidade”, o que dá
“a impressão de vários padrões movimentando-se em direções diferentes
ou em ritmos múltiplos dentro do contexto de um design controlado”,
fazendo com que a simetria seja alcançada justamente “através da
diversidade”, o que, para muitos críticos, seria um traço estético característico
também da música e a dança afro-americana, em que as várias vozes parecem
tomar rumos diferentes, mas ao mesmo tempo, mantêm relação entre si
(BROWN, 1989, p. 923-925).
Entre os tipos mais marcantes de quilts afro-americanos estão aqueles
que apresentam narrativas visuais, pictóricas (story quilts), como a obra que
chamou a atenção de Alice Walker no museu, e que constituiriam recriações
das artes têxteis africanas. Entre alguns grupos étnicos africanos, artefatos
com aplicações em tecido (armaduras, painéis, estandartes) serviam para
registrar a história política e da família e tinham uso ritual e cerimonial
(CASH, 1995, p. 34). A primeira afro-americana de que se tem notícia a
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 151
utilizar essa técnica foi Harriet Powers (1837-1911), cujos quilts representavam
as narrativas bíblicas que ela ouvia nos sermões (e, mais tarde, depois de
alfabetizada, a partir de suas leituras da Bíblia6) e a história popular baseada
em acontecimentos locais. Nascida escrava no estado de Geórgia, Powers
tornou-se conhecida ainda em vida ao expor seus painéis em feiras de
agricultura, chamando a atenção de uma artista e professora de arte (Jennie
Smith), que, mais tarde, numa época em que Harriet Powers, então liberta,
enfrentava dificuldades financeiras, conseguiu comprar seu Bible Quilt,
atualmente exposto no Smithsonian Institute7.
Embora Alice Walker discuta em seu ensaio apenas os benefícios
pessoais das práticas artísticas na vida das afro-americanas, é preciso lembrar
que a confecção de quilts constituía uma atividade geralmente comunitária.
Em parte, tratava-se de trabalho, isto é, uma forma de prover cobertores
para a família através da reciclagem de retalhos e tecidos usados; por outro
lado, o lazer era um componente importante, pois a atividade incentivava o
exercício da criatividade em grupo, contribuindo para a formação de redes
sociais e de parentesco dentro da família ampliada. Entre as mulheres brancas,
as chamadas quilting bees eram (e ainda são) muito populares e tinham por
objetivo promover reuniões regulares de grupos femininos para confeccionar
quilts em conjunto. Escolhia-se um padrão e as cores; em seguida juntavam-
se os retalhos para as aplicações nos quadrados de tecido, que eram feitos
individualmente e, posteriormente, costurados, forrados e acolchoados –
uma tarefa grande demais para uma só pessoa. Nos estados do Sul surgiram,
ainda no século XIX, as quilting parties, ou frolics, a versão afro-americana das
quilting bees, que reuniam grupos de mulheres escravas e, posteriormente,
libertas, com objetivos semelhantes, tornando-se importantes instrumentos
de coesão cultural e de grupo. As reuniões aconteciam à noite ou aos
sábados à tarde, depois do trabalho, e estavam voltadas para atividades
mais diversificadas: as mulheres fiavam, teciam ou costuravam, mas havia
também outras diversões, como comidas, sessões de histórias, jogos, cantos
(CASH, 1995, p. 32).
No Norte não escravocrata, esses grupos logo assumiram função
também política: grupos de mulheres negras e brancas trabalhavam
confeccionando quilts para serem vendidos a fim de apoiar campanhas
políticas e de reforma social. Organizavam também feiras e bazares para
levantar fundos para a Underground Railroad (literalmente, “ferrovia
subterrânea”, um sistema informal secreto para apoio à fuga de escravos)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 152
bem como para jornais e sociedades abolicionistas, formadas às vezes apenas
por mulheres negras, outras vezes por grupos inter-raciais. Durante a Guerra
da Secessão, as colchas eram enviadas por esses grupos para os soldados
que lutavam no sul. Algumas artesãs mais hábeis vendiam as colchas para
sustentar a família ou para comprar sua liberdade e a dos filhos (CASH,
1995, p. 32-33). Alguns pesquisadores acreditam que, no Sul, os quilts teriam
uma função política ainda mais radical. Jacqueline Tobin e Raymond Dobard
defendem a ideia de que, durante a época da escravidão, os quilts teriam
sido utilizados para informar aos fugitivos as rotas e horários mais seguros
por meio de códigos secretos. Baseados em depoimentos de descendentes
de escravos, os autores afirmam que colchas com desenhos apontando
determinadas direções eram penduradas nas janelas das casas para dar
informações aos que planejavam fugir; outras imagens nos quilts
indicariam aos fugitivos que por ali passassem se o local era uma parada
segura ou não.
Essa função política dos quilts afro-americanos foi retomada na
década de 1960, no contexto do Movimento pelos Direitos Civis. A
Freedom Quilting Bee foi a primeira organização a resgatar essa tradição.
Em 1966, um grupo de mulheres afro-americanas do estado do Alabama
fundou uma cooperativa para oferecer apoio financeiro às mulheres de
áreas rurais pobres, que acabou se tornando tão importante quanto as
associações ligadas às igrejas na comunidade negra. A cooperativa contava,
no início, com 150 mulheres, que buscaram retomar os padrões pertencentes
à tradição negra e aprender com as mulheres mais velhas da família (CASH,
1995, p. 37). O primeiro leilão aconteceu ainda em maio de 1966, quando
foram vendidos os quilts da comunidade de Gee’s Bend (PROKOPOW,
2003, p. 57-58) pela média de 27 dólares; o segundo, dois meses depois,
contribuiu para aumentar o reconhecimento da cooperativa e atrair o
interesse de artistas e jornalistas, provocando o renascimento do interesse
pela arte popular e por quilts. Foi assinado um contrato com a
Bloomingdale’s, o que criou a necessidade de um aperfeiçoamento do
acabamento e mudanças de padrões8.
A revalorização dos quilts afro-americanos no âmbito das
campanhas pelos Direitos Civis foi reforçada pela ressignificação das
atividades consideradas próprias do universo das mulheres, empreendida
pelas feministas. Assim, a utilização literária da confecção de quilts contribuiu
para a divulgação desse artefato cultural e vice-versa, já que o novo valor
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 153
simbólico do quilt no âmbito cultural teve seu impacto ampliado por seu
uso pela literatura, que, por sua vez, chamou a atenção para ele, realimentando
o interesse. A crítica feminista da época apropriou-se do quilt de modo tão
sistemático que Elaine Showalter, no ensaio “Piecing and writing”9 (1986)
considera o quilt como a metáfora central da produção cultural da mulher
norte-americana, em especial na literatura, já que se trata de uma atividade
vista como feminina, que faz uso de materiais “femininos” (retalhos) para
produzir um artefato de valor tanto utilitário quanto estético. Na época da
publicação do artigo, a metáfora da agulha e da pena para se referir à
escrita por mulheres já se tornara conhecida, pois sua utilização era bastante
comum entre autoras até meados do século XX como forma de
autoproteção e de afastar os temores de uma instituição literária patriarcal
ao sugerir que escrever seria como costurar, portanto uma atividade inocente,
que reconheceria o “lugar” da mulher. Como afirmaram Sandra Gilbert e
Susan Gubar, “Como Ariadne, Penélope e Filomela, as mulheres têm
utilizado seus teares, linhas e agulhas para se defender e para, silenciosamente,
falar sobre si mesmas” (GILBERT; GUBAR, 1978, p. 642). Um símbolo
fálico (a pena) seria “traduzido” em um signo associado ao mundo das
mulheres (a agulha), fazendo com que uma atividade transgressora dos
papéis sociais da época fosse apresentada como algo inocente, que não
poria em risco a hegemonia masculina. Em seu ensaio, Elaine Showalter
parte da comparação entre a agulha e a pena, utilizando a confecção de
quilts para definir o que ela denomina uma estética feminina. Como cada
peça é composta de quadros independentes, porém interligados, a técnica
constituiria “um modelo para a organização da linguagem na zona selvagem
do texto da mulher”, que seria marcado por “estruturas não hierárquicas”
e por narrativas que teriam vários centros, em lugar de seguir a estrutura
tradicional (SHOWALTER, 1986, p. 226-227)10.
Em seu conto “Everyday use” (Uso diário), publicado inicialmente
em 1973, Alice Walker utiliza o quilt, bem como outros artefatos afro-
americanos, para discutir as maneiras diversas de se posicionar quanto à
herança cultural afro-americana numa época em que esta está sendo
redescoberta por participantes dos movimentos negros, em geral
representantes de uma das primeiras gerações a ter acesso à educação
universitária e, por meio dela, à ascensão social. Em “Everyday use”, um
quilt feito pela avó das duas jovens com retalhos de roupas que, de certa
forma, recontam a história da família, é o pomo da discórdia entre Dee e
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 154
Maggie. Dee abandonou a tradição rural afro-americana, a casa da família
e até mesmo a mãe e a irmã, trocando-as por uma nova identidade
africanizada, mas basicamente de classe média, simbolizada pelos trajes
africanos e pelo novo nome que adota. Em lugar de Dee, nome que atravessa
gerações em sua família, escolhe Wangero Leewanika Kemanjo como forma
de se libertar dos resquícios da escravidão por meio da recusa da língua
dos antigos senhores (o que causa dificuldades para Mama Johnson, a
narradora, que, ironicamente se refere à filha com o nome original, seguido,
entre parênteses, pelo nome adotado, que ela considera exótico e descabido,
mas que se torna um signo da nova identidade assumida pela filha).
Desde o início, ficam claras as diferenças entre as três mulheres da
família: a filha que saiu de casa para estudar e sempre se ressentiu da pobreza
da vida na comunidade rural afro-americana; a mãe, que se descreve como
a típica mulher forte e trabalhadora, até mesmo masculinizada pela
necessidade de trabalho duro; e Maggie, que, ao contrário da irmã, teve
pouca educação formal e se resigna a seguir a vida conforme a tradição
das mulheres da família. Assim, de um lado está Maggie, feia, tímida, “como
um animal manco” (p. 2388), levando no próprio corpo as marcas do
sofrimento da mulher negra: as cicatrizes resultantes do incêndio da casa da
família quando ela era criança – um incêndio percebido por Dee como
uma libertação da casa pobre, mais tarde reconstruída. Como observa
David Cowart,
Ela [a casa queimada] subsume toda uma história afro-americana de
violência, desde a escravidão (pensa-se aqui nas cicatrizes de Maggie
multiplicadas entre os escravos fugitivos ou emancipados em Beloved, de
Morrison), passando pelos tumultos em que se incendiaram guetos em
1964, 1965, 1967 e 1968 (“Deixa queimar!”) até a violência generalizada nos
bairros pobres durante as décadas seguintes. O fogo, isto é, o passado afro-
americano, uma conflagração cujos sobreviventes seguem, aos tropeços,
cobertos, como Maggie, de cicatrizes do corpo ou, como Dee, com cicatrizes
da alma. (COWART, 1996)
Do outro lado está Dee, a irmã bonita, de pele mais clara e cabelos
lisos, que sempre exigiu roupas boas e que “olhava nos olhos de todo
mundo”, pois a “hesitação não fazia parte de sua natureza” (p. 2388). Seu
namorado mostra-se adequado para sua nova identidade: seu nome (captado
pela mãe como Hakim-a-barber) busca emular suas raízes africanas, que
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 155
também estão presentes em sua saudação (aparentemente muçulmana, numa
referência irônica à adoção de elementos culturais africanos e do Islamismo
pelos diversos movimentos negros da época). Dee procura impor à sua
mãe e à irmã o mesmo discurso que ela abraçou:
“Ela [Dee] costumava ler para nós sem dó nem piedade; forçando palavras,
mentiras, hábitos de outra gente, vidas inteiras, sobre nós duas, sentadas,
presas e ignorantes sob a voz dela. Ela nos inundava com um rio de faz-de-
conta; ela nos queimava com uma quantidade de conhecimento que nós
não tínhamos necessariamente de ter.” (p. 2389)
Quando Dee volta à casa para uma visita, está atenta a todos os
artefatos que, após sua “conversão” ao discurso nacionalista negro, ela
percebe como signos de autenticidade e de suas raízes: o rústico batedor de
manteiga, o banco de madeira feito pelos tios e, principalmente, os quilts.
Estes não deveriam, em sua opinião, ser colocados em “uso diário”, como
sugere o título do conto, mas dependurados na parede a fim de celebrar
seu legado afro-americano.
Os quilts passam a representar, então, o centro da disputa, não
tanto pelos objetos em si, mas, por um lado, pelo que eles significam como
signos de identidade e, por outro, pelos posicionamentos diferentes sobre
a cultura afro-americana – vista como um valor de “uso diário” ou então
redescoberta como que de fora, através de uma ideologia de resgate de
algo que se sente como perdido ou distante. Não se pode esquecer que é
neste contexto histórico que surgem obras de enorme sucesso como Negras
raízes (Roots, publicado originalmente em 1976), de Alex Haley, bem como
a revalorização de artefatos originários do mundo rural, que são
transformados em bens de consumo cultural a serem exibidos nos lares
como provas de apreço ao passado étnico. Foi isso o que ocorreu, por
exemplo, com os quilts da cooperativa de Gee’s Bend, vendidos em leilões
e até mesmo em lojas sofisticadas (depois de “adaptados” ao gosto do
público mais exigente). Ao abandonar a casa da família, Dee sente que
perdeu suas raízes, que ela busca resgatar através dos signos do passado,
antes rejeitados, mas que agora voltam como bens culturais redescobertos
através de seu olhar nostálgico que se “esquece” da pobreza que está ligada
a esses objetos. Os artefatos serão, assim, deslocados de seu “uso diário”:
os quilts seriam expostos na parede e a tampa da batedeira de manteiga se
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 156
tornaria um enfeite de centro de mesa. Do ponto de vista de Dee, é esta a
maneira certa de respeitar e dar valor ao passado; assim, doar as colchas
para Maggie como parte de seu enxoval seria um completo desperdício e
até um desrespeito por seu significado.
Para Mama Johnson e Maggie, o legado afro-americano é aquilo
que se vive, o passado dentro do presente, representado pelos retalhos que
compõem os quilts: pedaços da roupa da avó, do macacão de trabalho do
avô e até mesmo da farda de um tio que lutou na Guerra da Secessão.
Além disso, os quilts poderão ser usados no dia-a-dia porque são substituíveis,
já que Maggie havia aprendido a fazê-los com a avó e uma tia; mais, ainda,
Maggie afirma não precisar das colchas para se lembrar dos antepassados,
pois eles fazem parte dela própria.
“Everyday use” encena o dilema dos afro-americanos jovens das
décadas de 1960 e 1970 quanto à sua identidade e expõe as cicatrizes que
marcam o corpo ou a alma. Apesar do tom irônico que caracteriza a voz
da narradora (Mama Johnson) quando se refere a Dee e a sua pose de
militante dos movimentos negros, que para ela parece falsa, o texto em si
não manifesta preferência por uma ou outra das irmãs. Na verdade, a
simpatia parece estar dividida entre os dois tipos de sofrimento e as diversas
formas de buscar conciliar a vida fora dos guetos ou das zonas rurais com
a herança cultural afro-americana. O preço a pagar por escapar da pobreza
e pela aceitação na sociedade branca foi, frequentemente, a negação da
etnicidade e a alienação do grupo de origem, que poderia oferecer apoio.
Esta compreensão dos dois lados do dilema da mulher afro-americana em
meados do século do século XX tem, provavelmente, um componente
autobiográfico: Alice Walker, nascida em 1944, a mais nova dos oito filhos
de um casal de trabalhadores rurais do estado da Geórgia, consegue se
formar em 1964, com a ajuda uma bolsa de estudos e de professores que
acreditaram em seu talento. Data dessa época o início de seu ativismo dentro
do movimento pelos Direitos Civis e uma viagem de intercâmbio à África,
acompanhando o interesse dos jovens negros em conhecer as origens de
seu povo e as novas nações africanas. Se esses elementos aproximam a
autora de Dee, outros refletem a experiência do sofrimento de Maggie:
como relata em ensaios, entrevistas e em sua breve biografia em seu sítio
oficial11, Walker sofreu um acidente na infância, quando, durante uma
brincadeira com os irmãos, foi ferida num olho por um tiro de espingarda
de chumbinho, fazendo com que perdesse a visão do olho direito e deixando
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 157
uma grande cicatriz. A marca profunda foi tanto física quanto psicológica,
agravada pelo fato de que, pressionada pelos irmãos, ela assume a culpa
pelo acidente, o que contribui para torná-la uma jovem reclusa, triste e
insegura até que, aos 14 anos, seu irmão mais velho custeou uma cirurgia
reparadora. A marca do sofrimento permaneceu, como aconteceu com
Maggie; contudo, a artista, intelectual e ativista Alice Walker se aproxima
mais de uma versão mais amadurecida de Dee, depois de superar a
experiência da opressão e incorporar a sabedoria adquirida através do “uso
diário” de sua herança afro-americana.
A partir de 1972, começa a diminuir o interesse pelos quilts afro-
americanos; entretanto, eles retomam seu lugar na mídia e na crítica de artes
com a exposição de obras produzidas em Gee’s Bend no Whitney Museum
of American Art, em Nova York, de setembro a novembro de 2002, que
marca uma mudança no estatuto dos quilts (PROKOPOW, 2003. p. 66).
Sua presença num dos museus de arte mais conceituados dos Estados
Unidos, expostos como telas, segundo o crítico Michael Prokopov,
“significou uma espécie de legitimação”, pois, “ao exibir os quilts como
objetos de arte, os curadores não só desafiaram as supostas diferenças
entre artefatos e arte, mas também aumentaram a consciência do público
sobre um aspecto importante da cultura material americana” (p. 59). Assim,
objetos que seriam normalmente expostos em museus de arte popular ou
folclórica, em que a relevância histórica é mais importante do que o valor
estético, são deslocados para “um dos grandes panteões da alta arte” (p.
60). Contudo, o crítico chama a atenção para o fato de que essa entronização
dos quilts no ambiente do museu significa também sua transformação em
mercadorias, separadas de seu “uso diário” (para se usar a expressão de
Walker) no universo privado de áreas rurais pobres no Alabama, para onde
vão voltar, terminada a exposição; além disso, as colchas continuam sendo
“artefatos situados nas margens das idéias estabelecidas sobre a sociedade e
sua ordenação” (p. 66).
Em sua fase inicial, as pesquisas sobre a produção cultural afro-
americana se preocuparam preferencialmente com as origens africanas dos
artefatos, comportamentos e instituições. Mais recentemente, a tendência
tem sido enfatizar o que os afro-descendentes fizeram com o que herdaram
da África, isto é, passa-se a se interessar menos pelas “raízes” do que pelos
“galhos” ou pelas “rotas”, em especial a partir das discussões de James Clifford
(1988) e Paul Gilroy (1993) sobre a cultura negra como fenômeno transnacional
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 158
ou transcultural, formado através de interações diversas ao longo dos
tempos. Assim, a cultura afro-americana seria eminentemente híbrida,
crioulizada e sem raízes fixas, o que exigiria conferir maior importância à
criatividade do que à memória (VLACH, 1998, p. 213). De fato, restaram
poucos exemplares de quilts produzidos em épocas mais antigas, o que
torna difícil uma pesquisa mais abrangente, capaz de confirmar a existência
de elementos africanos ou mesmo de uma tradição tipicamente afro-
americana nessa arte. As peculiaridades que distinguem os quilts afro-
americanos decorreriam, então, de fatores diversos, entre eles a busca
consciente (em especial após o movimento dos Direitos Civis) de celebrar
as origens africanas, incorporando esses elementos em seus trabalhos
(ATKINS, 2004, p. 418). Assim, mesmo que as raízes africanas dos padrões
de quilts não possam ser comprovadas, a tradição afro-americana certamente
está consolidada e tem servido de modelo para obras de outras artistas
contemporâneas através do uso consciente das táticas criadas por suas mães
e avós.
O quilt como arte narrativa
Faith Ringgold foi uma das primeiras a fazer objetos artísticos em
mídias vistas como tipicamente femininas (produtos têxteis, tecido costurado,
tecelagem, bordado) para produzir arte e literatura, e não apenas artesanato.
Nascida em 1930 no Harlem, em Nova York, em uma família dedicada à
costura, Faith Ringgold aprendeu com a mãe, uma conhecida designer de
moda, a costurar tecidos de modo criativo, enquanto a trisavó, ex-escrava,
lhe ensinou a arte das colchas de retalhos que ela costumava fazer para a
família dos seus antigos senhores12. Em 1950, iniciou seus estudos de arte
no City College de Nova York, especializando-se em pintura, e completou
seu mestrado em Belas Artes em 1961, ao mesmo tempo em que lecionava
em escolas públicas. Pouco depois, Faith Ringgold fez uma viagem à Europa
com sua mãe e as duas filhas, a fim de conhecer melhor os mestres da
pintura, em especial os modernos – uma experiência que será revivida e
registrada anos mais tarde, em sua French Collection (Coleção francesa). É
interessante notar que a linhagem artística continua com a filha de Ringgold,
a crítica de arte e também feminista Michelle Wallace, que acompanha de
perto toda a carreira da mãe.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 159
A década de 60 foi decisiva para Faith Ringgold, pois marcou não
só o início de sua carreira como pintora, mas também sua aproximação
com o Movimento dos Direitos Civis e com o Feminismo, em cujas
campanhas ela trabalhou ativamente, principalmente junto aos museus
americanos, que, em sua avaliação, ofereciam menos oportunidades às
mulheres e aos afro-americanos (em especial às mulheres negras), o que
explicaria em parte a ausência destes na tradição artística europeia (tanto
como artistas quanto como imagens representadas). Na verdade, a defesa
da inclusão das escritoras e artistas afro-americanas na tradição cultural do
país e sua incorporação ao cânone constituíram algumas das maiores lutas
das feministas negras até os anos 80, como comprova a leitura da produção
crítica da época13.
Nos anos 70, Ringgold iniciou sua colaboração com a mãe ao
introduzir bordas de tecido ao redor das telas, como nos quilts afro-
americanos. Entretanto, essa inovação se inspira em duas tradições artístico-
culturais diversas: por um lado, as artes “femininas” afro-americanas e, por
outro, as thangkas tibetanas14. A artista substitui então as telas convencionais,
em que o tecido é mantido preso e esticado por meio de um quadro de
réguas de madeira, pela técnica oriental: o tecido é fixado, por meio de um
sistema de amarração cruzada, a réguas de bambu ou madeira e, depois de
pintado, recebe bordas de tecido decoradas. Como se sabe, as imagens
religiosas budistas que recobrem as thangkas têm como objetivo auxiliar nas
meditações, pois retratam eventos ligados à história de Buda. Na obra de
Faith Ringgold, essas cenas são traduzidas, ou transladadas, para o contexto
afro-americano, de onde provêm os personagens representados. O primeiro
trabalho nessa técnica, completado em 1980, resulta da colaboração entre a
artista e sua mãe, a designer de moda Willi Posey Jones – o que reforça a
importância da linhagem nas artes afro-americanas. Intitulado Echoes of
Harlem15 (Ecos do Harlem), a obra compõe-se de 30 retratos pintados de
moradores do Harlem, organizados em grupos de 3 ou 4 e divididos por
tiras de tecido estampado colorido costuradas como em quilts. É interessante
notar que o título aponta indiretamente para a maneira como Faith Ringgold
utiliza a tradição afro-americana, recriando-a por meio de seus “ecos” e da
mediação de seu olhar (talvez nostálgico) de artista cosmopolita. Infelizmente,
essa colaboração foi interrompida, um ano depois, pela morte da mãe,
mas essa nova fase na carreira de Ringgold continuou em seus quilts-histórias
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 160
(story quilts), que combinam a narrativa oral e a história de sua família e das
comunidades negras com as artes têxteis.
Um dos primeiros foi Who’s afraid of Aunt Jemima?16 (Quem tem
medo de tia Jemima?), de 1983, que inverte a imagem negativa da mulher
negra a partir do próprio nome da personagem: ao contrário do simbolismo
do nome – a contraparte feminina de Uncle Tom (Pai Tomás), símbolo do
comportamento passivo do negro – a personagem é uma bem-sucedida
mulher de negócios, cuja história é narrada nos textos entremeados às
imagens. Faith Ringgold inova ao juntar a pintura acrílica em tela com tecido
aplicado de acordo com a técnica dos quilts, aliada a textos narrativos que
se alternam com os textos visuais, organizados segundo os padrões dos
quilts tradicionais, baseados na justaposição de quadros. Esta e outras
narrativas ilustradas que se seguiram deram origem a inúmeros livros para
crianças, como Tar Beach17 (literalmente, Praia de alcatrão, numa referência à
pintura asfáltica que protege a laje superior dos prédios no Harlem), depois
que um quadro-quilt18 com o mesmo tema foi visto por um editor, que
sugeriu transformar a obra em livro ilustrado, voltado para o público infantil.
Tar beach recria a infância da artista no Harlem, onde, nas noites de verão, as
famílias costumavam fazer as refeições e jogar baralho na laje superior dos
prédios. Esse livro foi seguido por uma série de histórias que representam
a vida das famílias afro-americanas de modo positivo e não só como
experiências de opressão ou pobreza, estimulando então o sonho e a
imaginação, mesmo quando se trata de recuperar o passado de escravidão,
como em Aunt Harriet’s Underground Railroad in the Sky19 (A ferrovia
subterrânea de tia Harriet no céu), sobre os sistemas organizados de fuga
antes da abolição.
Faith Ringgold inspira-se na arte popular afro-americana – cores
vivas, imagens “ingênuas”, ausência de perspectiva ou sombreamento que
indique três dimensões no volume –; porém, fica claro que se trata da
exploração consciente das matrizes afro-americanas, seguindo a tradição
dos chamados contadores de histórias modernos20, Romare Bearden (1911-
1988) e Jacob Lawrence (1917-2000), além da própria Faith Ringgold.
Todos eles viveram e trabalharam ativamente no Harlem numa época
culturalmente rica de valorização da herança afro-americana e da identidade
negra; em todos também se verifica o comentário social, sobretudo
relacionado a questões de raça e classe, bem como uma visão da arte como
narrativa (em parte uma influência dos muralistas mexicanos). Embora os
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 161
três usem mídias pouco convencionais, é Ringgold a mais inovadora, ao
usar tecidos, uma escolha claramente ligada às suas atividades como feminista
negra. Mas as razões dessa opção, principalmente no início de sua carreira,
eram também econômicas, como aconteceu com as precursoras buscadas
por Alice Walker: retalhos de tecido constituíam não só um material fácil de
encontrar (principalmente tendo uma mãe costureira), mas também para se
guardar e transportar, o que fez com que Faith Ringgold promovesse
mostras de seus trabalhos em universidades e outros espaços alternativos
em que todo o material era levado em baús, evitando assim intermediários
como os comerciantes de arte. Isso funcionava muito bem, por exemplo,
para suas performances e instalações com grandes bonecos de pano, criadas
na década de 1970, como Wake and Resurrection of the Bicentennial Negro (Velório
e ressurreição do negro do bicentenário, uma referência à comemoração
dos 200 anos da independência americana em 1976), que funciona como
uma cena teatral silenciosa que, num misto de tristeza e humor, evoca os
problemas das comunidades afro-americanas, mas enfatiza as conexões
entre os vivos e os mortos, bem como a força das relações familiares
(KOPPMAN, 1991-1992, p. 41).
Uma das séries mais interessantes de quilts-histórias de Faith Ringgold
é sua Coleção francesa (French Collection), de 1991, composta por doze obras
que refletem sobre questões de raça e gênero em suas relações com o
mundo das artes. Nessa série, Ringgold mistura autobiografia e ficção ao
recriar sua viagem de estudos à Europa em 1961, em companhia da mãe e
das duas filhas, com o objetivo de visitar os museus em que estão os grandes
mestres da pintura. À época de sua viagem, Faith Ringgold era uma artista
jovem, que havia completado seu mestrado na área pouco antes e que
desejava um acesso direto às obras que até então só conhecia por meio de
reproduções. Já o olhar que recria essa experiência é totalmente outro, pois
Ringgold está plenamente consciente de seu lugar na tradição artística não
apenas europeia, mas também norte-americana e, principalmente, afro-
americana. Assim, trinta anos depois, a experiência é rememorada e
ficcionalizada com distanciamento e em tom bastante irônico, marcado
por um sentimento de familiaridade para com os grandes nomes das artes
europeias, feito de admiração, mas sem respeito excessivo. Na verdade, o
assunto da série não é exatamente autobiográfico, pois sua experiência na
década de 60 serve apenas de base para uma narrativa visual e literária que
está também fundada em extensa pesquisa bibliográfica e em uma série de
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 162
viagens à França, onde se passa a ação, a fim de conhecer melhor as
experiências dos afro-americanos que lá viveram nos anos 1920, bem como
locais importantes para a pintura modernista, como Giverny e Arles
(WALLACE, 1998, p. 15).
“Todas nós amávamos tudo que era francês”, observa Michele
Wallace em seu artigo sobre a Coleção francesa da mãe, Faith Ringgold: para
Wallace, o amor era para com a língua e a literatura, enquanto para a avó, a
França simbolizava a alta costura; já para a mãe, Faith, significava o espaço
da arte. Entretanto, para as duas mulheres mais velhas, esse amor
tinha muito mais a ver com a promessa (em oposição à realidade) de liberdade
de ser qualquer coisa que se pudesse desejar ser, que a geração de Momma
Jones [a avó] via em sua geração de expatriados afro-americanos (como
Josephine Baker21 e Sidney Bechet22) e Faith (minha mãe) via na dela (James
Baldwin23, Chester Himes24, e outros). (WALLACE, 1998, p. 14)
Desse modo, a coleção constituiu “o vestígio mais concreto [...] da
porção de nosso legado que é francesa” (WALLACE, 1998, p.14),
misturando verdade histórica, fato e fantasia.
Ringgold usa técnica mista nas obras dessa coleção, aliando tinta
acrílica sobre tela e tecido (estampado ou tingido) costurado e acolchoado
segundo a técnica de confecção de quilts. Os textos aparecem em retângulos
de tecido branco, na parte superior e inferior dos quadros, em narrativas
que se valem principalmente do gênero epistolar – um gênero “feminino”
a que Alice Walker também recorre em The Color Purple (1982). Essa série
de quilts-histórias narra os pontos altos da vida de uma afro-americana
chamada Willia Marie Simone, composta de traços da artista e de sua mãe
Willi Posey quando jovem, mas também de outras afro-americanas
igualmente corajosas e donas de personalidade forte, como Josephine
Baker.25
Aos 16 anos, a protagonista sai de Atlanta, onde nasceu, para morar
na Paris da década de 1920, onde leva uma vida que, provavelmente,
nenhuma mulher afro-americana teria no mundo das artes da época. Willia
Marie encontra os grandes artistas, posa para Picasso, vai à festa de aniversário
de Josephine Baker, casa-se com um francês rico, fica famosa no meio
artístico modernista e, finalmente, aposenta-se como proprietária do “Café
des artistes”. A ficção se junta à narrativa histórica para abordar a experiência
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 163
de uma pintora negra e suas relações com os desenvolvimentos artísticos
associados a Paris desde o final do XIX até aproximadamente 1925. Como
a ordem cronológica não é observada, a história inclui encontros improváveis
entre personagens históricos de épocas e lugares diversos, entre eles a própria
autora, Faith Ringgold. A narrativa assume, assim, características de um
realismo fantástico adequado para o objetivo central da coleção, em que a
ação está subordinada ao comentário metalinguístico: os quilts-histórias,
acima de tudo, apresentam reflexões sobre as artes e os artistas por meio
da apropriação criativa da história das artes e de obras canônicas. Como
observa Dan Cameron, a série busca
reconciliar o questionamento crítico que moveu a apropriação com as
abordagens revisionistas da história. [...] Uma narrativa de dimensões épicas,
a Coleção francesa funciona como uma meditação sobre a relação do indivíduo
com a história, dando tanta importância ao que pode ter acontecido quanto
ao que certamente aconteceu, ou não. (CAMERON, 1998, p. 9)
Mais, ainda, as obras chamam a atenção para a relação estreita
entre a história da arte europeia e a norte-americana (percebida como
marginal à “grande tradição”) e enfatizam o papel das tradições não ocidentais
(principalmente a arte africana) e dos artistas afro-americanos no
modernismo europeu. Daí a atitude de admiração, mas também de
familiaridade, da protagonista Willia Marie, que se manifesta desde a primeira
obra da série, Dancing at the Louvre26 (Dançando no Louvre), em que três
crianças negras, acompanhadas de duas mulheres, brincam, despreocupadas,
diante de três quadros de Leonardo da Vinci: ao centro, a Mona Lisa, tendo
de cada lado uma representação da Sagrada Família. Segundo o texto, trata-
se de Willia Marie, sua amiga Márcia e as filhas desta, pois as filhas de Willia
estavam nos Estados Unidos, aos cuidados de uma tia – um comentário
sobre as dificuldades de conciliar carreira artística e vida privada entre as
mulheres, que são levadas a adotar novos modelos de maternidade. As
mulheres e crianças em visita ao Louvre refletem o que está representado
nas telas de Da Vinci, mas também se afastam, indicando a necessidade de
novos modos de representação da família e, sobretudo, de inclusão de
personagens não brancos como produtores e consumidores de arte.
Em Matisse’s Model27 (O modelo de Matisse), Faith Ringgold se
apropria de imagens da obra desse pintor para comentar sua utilização de
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 164
modelos negras, chamando a atenção para as associações evidentes entre a
pele negra e o desejo masculino, representado pelo retrato do artista olhando
para ao espectador, colocado na margem direita do quilt, em meio aos
retalhos de tecidos que compõem a moldura. Já em Picasso’s Studio28 (O
estúdio de Picasso), este pintor trabalha rodeado por suas telas de inspiração
africana, colocadas ao lado das máscaras que inspiraram a ele e a inúmeros
modernistas – de modo irônico, Ringgold se apropria de obras de um
pintor europeu que se apropriou da arte “primitiva”, tornando-a um
elemento-chave das vanguardas. Esta obra ganha outra dimensão quando
contrastada com Picnic at Giverny (Piquenique em Giverny)29, em que Willia
Marie aparece agora como pintora no jardim de Monet em Giverny, em
companhia de amigos e patrocinadores de Faith Ringgold. Ironicamente,
quem posa como modelo é Picasso, sentado em um tecido sobre a grama
como as mulheres que ele retrata, totalmente nu, apenas com um chapéu na
cabeça, olhando para o espectador e sendo olhado pelas 11 mulheres
sorridentes, sentadas à volta de uma toalha de piquenique. Enquanto Picasso
se torna objeto do olhar feminino, as mulheres tomam uma posição forte
de sujeito, sobretudo Willia Marie, que assume o papel de artista num espaço
onde reinou Monet, outro grande nome das artes.
Nesses três quadros, Ringgold reflete sobre seus precursores
artísticos masculinos e o papel deles no campo das artes e dos papéis de
gênero; em outros, ela se volta para as mulheres que a precederam como
artistas e modelos de comportamento, numa “busca pelos jardins de nossas
mães” semelhante àquela empreendida por Alice Walker. Segundo a narrativa
de The Sunflower Quilting Bee at Arles30 (O clube de quilt dos girassóis em
Arles), Willia Marie e as outras sete mulheres historicamente importantes
(entre elas Rosa Parks31 e Sojourner Truth32) foram reunidas em um campo
de girassóis, a convite de Tia Melissa, para fazer um quilt que servirá como
“um símbolo de sua dedicação para mudar o mundo”. Uma segunda razão
para a reunião seria levantar o ânimo de Willia, que está longe de casa,
lembrando-a da tradição afro-americana que deveria ampará-la. Durante a
conversa entre as mulheres, estas descrevem a confecção de quilts como “o
que fizemos depois de um dia de trabalho árduo no campo para nos manter
sãs, manter nossas camas quentes e trazer beleza para dentro de nossas
vidas” – uma frase que certamente ecoa o ensaio de Alice Walker. À direita
do quadro, vê-se a única figura masculina da cena: Vincent Van Gogh,
segurando um buquê de girassóis, que também cobrem a praça de Arles e
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 165
estão bordados no quilt criado pelo grupo. Para Dan Cameron, “a tradição
americana de quilts pode ter tido um papel tão seminal no crescimento de
uma sensibilidade caracteristicamente americana no final do século XX
quanto os girassóis míticos de Van Gogh dentro do desenvolvimento da
pintura europeia moderna” (CAMERON, 1998, p. 10). Os girassóis,
entretanto, também unem um artista europeu marginalizado em vida aos
jardins afro-americanos das antepassadas de Alice Walker, em especial sua
mãe, “que literalmente cobria os buracos em nossas paredes com girassóis”
(WALKER, 1998, p. 2386).
No quilt que marca o final da narrativa, Café des Artistes33 (Café dos
Artistas), um grupo formado por europeus e afro-americanos conversa
em frente ao café aberto por Willia após sua aposentadoria. Entre os homens
estão Hemingway, Picasso, Gauguin, Van Gogh, Toulouse Lautrec e Utrillo,
além dos pintores afro-americanos Romare Bearden e Jacob Lawrence
(dois contadores de histórias visuais), e dos escritores negros Langston
Hughes e Richard Wright. Através do humor, abolem-se possíveis noções
de anterioridade e de superioridade em termos culturais e raciais, o que é
enfatizado pelo manifesto apresentado por Willia Marie e as outras mulheres
do grupo (entre elas, Gertrude Stein e a própria Faith Ringgold). Como o
“Manifesto da mulher de cor sobre arte e política” não consegue atrair a
atenção dos homens, Willia os interpela em voz alta, com a ajuda das outras
mulheres:
Sou uma mulher de cor internacional. Minha ancestralidade africana data do
início da humanidade, nove milhões de anos atrás, na Etiópia. A arte e a
cultura da África foram roubadas pelos europeus ocidentais e meu povo foi
colonizado, escravizado e esquecido. O que é muito antigo se tornou novo.
E o que era negro se tornou branco. “Nós usamos a máscara”34, mas ela
tem um novo uso como arte cubista. [...] A arte moderna não é sua, ou
minha. Ela é nossa.
A atitude desafiadora das personagens, transportada para a década
de 1920, acaba por colocá-las na mesma linhagem das mães-artistas de que
fala Alice Walker em seu ensaio. Contudo, suas descendentes souberam
utilizar “a centelha criativa, a semente da flor que elas mesmas nunca
esperavam ver” e se tornaram artistas conscientes de seu valor.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 166
Uma utopia feminina afro-americana?
Numa época claramente pós-utópica, ainda haveria propostas
positivas para o futuro, fornecidas pelas artes e pela literatura? Se
considerarmos um grande número de artistas afro-americanas, representadas
aqui por Alice Walker e Faith Ringgold, a resposta seria positiva, já que sua
obra está fundada na ressignificação da experiência de exclusão e preconceito,
baseada numa solidariedade e apoio mútuo resultantes de relações de gênero
positivas, bem como na valorização do papel das mulheres. Esta atitude
explicaria a força da ficção produzida por afro-americanas, mas, ao mesmo
tempo, uma das razões da pouca visibilidade alcançada por elas, como
aponta Mary Helen Washington:
Se há uma única característica que distingue a literatura das mulheres negras
– e que explica sua falta de reconhecimento – é esta: sua literatura é sobre
mulheres negras; ela tem o trabalho de registrar os pensamentos, palavras,
sentimentos e feitos das mulheres negras, experiências que mostram que a
realidade de ser negro na América é muito diferente daquilo que os homens
escreveram. [...] Mulheres conversam com outras mulheres nessa tradição, e
suas amizades com outras mulheres – mães, irmãs, avós, amigas, amantes
– são vitais para seu crescimento e bem-estar. [...] [As relações de amizade
entre as personagens] dizem respeito à criação de vínculos femininos e
sugerem que as relações entre mulheres são, para elas, um aspecto essencial
de sua autodefinição. (WASHINGTON, 1990, p. 35-6)
Na obra dessas autoras, falar sobre a vida das mulheres negras significa
chamar atenção para o que as mulheres em geral valorizam; contudo, estes não
seriam valores “femininos”, alerta Alice Walker ao defender sua noção de
womanism (termo de difícil tradução para o português). O verbete womanist é
definido na introdução da coletânea de ensaios In Search of our Mothers’ Gardens,
cujo subtítulo é Womanist Prose, como equivalente a “feminista negra ou feminista
de cor” – para Walker, o feminismo estaria voltado preferencialmente para as
mulheres brancas e de classe média ou alta. Uma pessoa (homem ou mulher)
womanist “aprecia e prefere a cultura das mulheres”, mas está “preocupada
com a sobrevivência e a integridade de todo um povo, homens e mulheres”
(citado em GOODMAN, p. 162). Uma das formas de reforçar essa opção
parece ser, por um lado, a utilização recorrente do quilt como imagem do
trabalho em conjunto, bem como da reciclagem de restos ou refugos (em
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 167
sentido literal e metafórico) para criar beleza; e, por outro lado, construir
personagens femininas fortes, que possam servir de modelos de
comportamento diante de desafios35 – como Mama Jones, a narradora de
“Everyday use”, ou as artistas e ativistas que povoam o universo de Faith
Ringgold. Mas isso não significa ocultar conflitos, como aqueles enfrentados
por afro-americanas cosmopolitas, muitas vezes levadas a se distanciar de
seus ambientes étnico-culturais de origem devido à ascensão social e
profissional – uma questão sintetizada na figura de Dee, no conto de Walker.
Se, na obra de Alice Walker, o conceito de womanism e a imagem
do quilt resumem sua visão de um mundo melhor, o horizonte utópico de
Faith Ringgold está estampado não só em suas obras, mas também em
todas as páginas de seu sítio na internet, sintetizado em seu lema, que chama
atenção para si pelas iniciais em maiúsculas e ausência de pontuação: If One
Can Anyone Can All You Gotta Do Is Try (Se alguém consegue/pode, qualquer
um consegue/pode; tudo que você tem de fazer é tentar)36. Sua obra,
especialmente seus quilts-histórias, está de acordo com esse lema, pois trata
de realidades duras, mas busca reforçar a ideia de que cada um deve seguir
seu sonho e enfrentar as dificuldades.
Notas
1
Refiro-me aqui ao ensaio Woolf “A room of one’s one”.
2
Minha opção de utilizar o termo, de preferência, em inglês, explica-se pelas
especificidades dos quilts norte-americanos. Embora se assemelhem às colchas de
retalhos feitas no Brasil, os quilts têm algumas peculiaridades; entre estas estão a
utilização de padrões ou modelos frequentemente baseados na aplicação de tecidos
sobre uma base, bem como o costume de acolchoar o produto final, em geral a fim de
garantir melhor proteção contra o frio. Os quilts constituem, então, uma tradição
especial e possuem objetivos tanto utilitários quanto decorativos (como, por exemplo,
os painéis narrativos, representando histórias bíblicas e populares).
3
Walker cita, adaptando-a para a realidade afro-americana, uma das formulações mais
conhecidas de Virginia Woolf: “seria possível imaginar que Anon. [anônimo], que
escreveu tantos poemas sem assiná-los, era frequentemente uma mulher” (p. 2385).
4
Jean Toomer (1894-1967), escritor modernista afro-americano e um dos nomes
importantes do Renascimento do Harlem, tornou-se conhecido por Cane, uma coleção
de narrativas e poemas, e por contribuições a periódicos negros e de vanguarda.
5
Referência às palavras da antropóloga e ficcionista afro-americana Zora Neal Hurston
(1891-1960), em Their Eyes were Watching God (1937): “De nigger woman is the mule
uh de world” (A mulher negra é a mula do mundo).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 168
6
Embora em geral se afirme que Harriet Powers era analfabeta, documentos provam
que ela aprendeu a ler com os filhos de seus patrões, tendo deixado cartas comentando
seus quilts. Ver, entre outros, http://www.historyofquilts.com/hpowers.html.
7
Ver: < http://americanhistory.si.edu/collections/object.cfm?key=35&objkey=
7233&gkey=169> (October, 2004).
8
Sobre as origens e a história da cooperativa, ver: CALLAHAN, Nancy. The Freedom
Quilting Bee. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1987.
9
No contexto das técnicas de confecção de quilts, piecing se refere a uma das etapas do
processo: emendar pequenos pedaços de tecido, cortados previamente em formatos
geométricos, a fim de formar um padrão previamente escolhido.
10
Esta afirmativa precisa ser lida dentro do contexto da crítica feminista dos anos 80,
ainda preocupada em marcar as diferenças entre os gêneros. Na verdade, a característica
que Showalter aponta como caracteristicamente feminina pode ser encontrada na
escrita contemporânea, independentemente do gênero do autor.
11
Disponível em: <http://www.alicewalkersgarden.com/alice_walker_bio.html>
(October 2004).
12
Devo as informações biográficas sobre a artista a seu próprio sítio na internet:
<http://www.faithringgold.com/ringgold/bio.htm>; e à página de Nancy Doyle:
<http://www.ndoylefineart.com/ringgold.html>
13
Ver, entre outros, a antologia editada por Henry Louis Gates, Jr, Reading Black,
rRading Feminist: A Critical Anthology (1990), em especial “‘The Darkened Eye
Restored’: Notes Toward a literary history of Black women”, de Mary Helen
Washington, “The highs and the Lows of Black Feminist Criticism”, de Barbara
Christian, e “Some Implications of Womanist Theory”, de Sherley Anne Williams.
14
Esta informação é dada pela própria artista na entrevista concedida a Michelle
Wallace, “The Mona Lisa Interview”.
15
Disponível em: <http://www.faithringgold.com/ringgold/d33.htm> (October
2004).
16
Disponível em: < http://www.faithringgold.com/ringgold/d34.htm > (October
2004).
17
Informações sobre os livros infantis de Ringgold estão disponíveis em: <http://
www.faithringgold.com/ringgold/books.htm> (October 2004).
18
Disponível em: <http://www.faithringgold.com/ringgold/d06.htm> (October
2004).
19
Disponível em: <http://www.faithringgold.com/ringgold/book02.htm>
(October 2004).
20
PAUL, Stella. Modern Storytellers: Romare Bearden, Jacob Lawrence, Faith Ringgold.
In: Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art,
2000. <http://www.metmuseum.org/toah/hd/most/hd_most.htm (October
2004)>
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 169
21
Josephine Baker (1906-1975), atriz, cantora e dançarina afro-americana, fez sucesso
na Europa e Estados Unidos; teve importante liderança durante o movimento pelos
Direitos Civis.
22
Sidney Bechet (1897-1959), músico e compositor de jazz afro-americano, mudou-
se para Paris em 1950.
23
James Baldwin (1924-1987) foi um dos mais importantes escritores afro-americanos;
ativista dos Direitos Civis; viveu muitos anos na França.
24
Chester Himes (1909-1984), escritor afro-americano, conhecido por seus romances
de detetive; viveu na França, onde seus livros fizeram sucesso.
25
Sobre a gênese dessa coleção, ver Wallace, “The Mona Lisa Interview: With Faith
Ringgold”.
26
Disponível em http://www.faithringgold.com/ringgold/d11.htm.(October 2004).
27
Disponível em: http://www.faithringgold.com/ringgold/d17.htm (October 2004).
28
Disponível em: http://www.faithringgold.com/ringgold/d18.htm (October 2004).
29
Disponível em: http://www.faithringgold.com/ringgold/d16.htm (October 2004).
30
Disponível em: http://www.faithringgold.com/ringgold/d15.htm (October 2004).
31
Rosa Parks (1913-2005), ativista afro-americana, famosa por ter iniciado o boicote
aos ônibus em Alabama, em 1955, em protesto contra a discriminação racial.
32
Sojourner Truth (1797-1883), ativista pelos direitos civis e das mulheres, autora do
célebre discurso “Ain’t I a Woman?”
33
Disponível em: http://www.faithringgold.com/ringgold/d20.htm (October 2004).
34
Esta é uma referência ao conhecido poema “We Wear the Mask” (1896), de Paul
Laurence Dunbar (1872-1906), sobre o fato de os negros serem forçados a esconder
seu sofrimento e frustração por meio de uma aparência (máscara) de alegria.
35
Como uma simples análise dos títulos dos livros mais recentes de Alice Walker
demonstra, a escritora parece estar cada vez mais interessada em apresentar uma visão
positiva do futuro. Essa tendência fica evidente na coletânea de ensaios e palestras
publicada em 2007. WALKER, Alice. We Are the Ones we Have Been Waiting for: Inner
Life in a Time of Darkness. London: Weindenfeld & Nicolson, 2007.
36
Fica evidente a semelhança com o lema da campanha de Barack Obama (Yes, we
can). As datas de funcionamento do sítio parecem indicar que foi criado em 2002,
época anterior à campanha. Mas, nos dois casos, os lemas certamente ecoam os ideais
afro-americanos surgidos nas lutas pelos direitos civis.
REFERÊNCIAS
ATKINS, Jacqueline. Quilts, African American. In: WERTKIN, Gerard C.;
KOGAN, Lee (Eds.). Encyclopedia of American Folk Art. New York: Routledge,
2004. p. 418-419.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 170
BROWN, Elsa Barkley. African-American Women’s Quilting. Signs, v. 14, n.
4, Common Grounds and Crossroads: Race, Ethnicity, and Class in Women’s
Lives (Summer, 1989), p. 921-929.
CAMERON, Dan. Living History: Faith Ringgold’s Rendezvous with the
Twentieth Century. In: _____. (Ed.). Dancing at the Louvre: Faith Ringgold’s
French collection and Other Story Quilts. New York: New Museum of
Contemporary Art; 1998. p. 5-13.
CASH, Floris Barnett. Kinship and Quilting: An Examination of an African-
American Tradition. The Journal of Negro History. v. 80, n. 1 (Winter, 1995), p.
30-41.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Trad. Ephraim
Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1994.
CHRISTIAN, Barbara. The Highs and Lows of Black Feminist Criticism.
In: GATES, Jr. Henry Louis (Ed.). Reading Black, Reading Feminist: A Critical
Anthology. New York: Meridian, 1990. p. 44-51.
CLIFFORD, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century
Ethnography, Literature, and Art. Cambridge; London: Harvard University
Press, 1988.
COWART, David. Heritage and Deracination in Walker’s “Everyday Use”.
Studies in Short Fiction 33 (1996): 171-84. Disponível em <http://
www.questia.com/read/5000461812>. Acesso em: 20 jan. 2010.
DOYLE, Nancy. Artist Profile: Faith Ringgold. Disponível em: <http://
www.ndoylefineart.com/ringgold.html. Acesso em: 20 dez. 2009
GATES, Jr. Henry Louis (Ed.). Reading Black, Reading Feminist: A Critical
Anthology. New York: Meridian, 1990.
GILBERT, Sandra; GUBAR, Susan. The madwoman in the attic: The Woman
Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale
University Press, 1978.
GILROY, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.
GOODMAN, Lizbeth, com Joan Digby. Gender, Race, Class and Fiction.
In: GOODMAN, Lizbeth (Ed.). Literature and Gender. London: Routledge/
The Open University, 1996. p. 145-177.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 171
HALEY, Alex. Negras raízes. 3. ed. Trad. Alfredo B. Pinheiro de Lemos. Rio
de Janeiro: Record, 1976.
KOPPMAN, Debbie. Faith Ringgold: A 25 Year Survey by Eleanor
Flomenhsft, Lowery S. Sims, Thalia Gouma-Peterson, and Moira Roth.
Woman’s Art Journal, v. 12, n. 2 (Autumn, 1991 – Winter 1992), p. 40-42.
MORRISON, Toni. Preface. In: _____. Playing in the Dark. Whiteness and
the Literary Imagination. London: Picador, 1993. p. xiv.
PAUL, Stella. Modern Storytellers: Romare Bearden, Jacob Lawrence, Faith
Ringgold. In: Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan
Museum of Art, 2000–. <http://www.metmuseum.org/toah/hd/most/
hd_most.htm> (October 2004)
PROKOPOW, Michael. Material Truths: “The Quilts of Gee’s Bend” at the
Whitney Museum of Art: An Exhibition Review. Winterthur Portfolio, v. 38,
n. 1 (Spring, 2003), p. 57-66.
RINGGOLD, Faith. <http://www.faithringgold.com/ringgold>(October
2004)
SHOWALTER, Elaine. Piecing and Writing. In: MILLER, Nancy K. (Ed.).
The Poetics of Gender. New York: Columbia UP, 1986. p. 222-47.
TOBIN, Jacqueline L.; DOBARD, Raymond G. Hidden in Plain View: The
Secret Story of Quilts and the Underground Railroad. New York:
Doubleday, 1999.
VLACH, John Michael. Studying African American Artifacts: Some
Background for the Winterthur Conference, “Race and Ethnicity in American
Material Life”. Winterthur Portfolio, v. 33, n. 4, Race and Ethnicity in American
Material Life (Winter, 1998), p. 211-214.
WALKER, Alice. Everyday Use. In: GATES Jr., Henry ; MCKAY, Nellie
Y. (Ed.). The Norton Anthology of African American Literature. New York:
Norton, 1997. p. 2387-2394.
________. In search of our mothers’ gardens. In: GATES Jr., Henry;
MCKAY, Nellie Y. (Eds.). The Norton Anthology of African American literature.
New York: Norton, 1997. p. 2380-2387.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 172
________. In Search of our Mothers’ Gardens: womanist prose. San Diego:
Harcourt Brace Jovanovich, 1983.
WALLACE, Michele. The French Collection: Momma Jones, Mommy Fay,
and Me. In: CAMERON, Dan (Ed.). Dancing at the Louvre: Faith Ringgold’s
French Collection and Other Story Quilts. New York: New Museum of
Contemporary Art; 1998. p. 14-25.
________. The Mona Lisa Interview: with Faith Ringgold. Disponível
em: <http://faithringgold.com/ringgold/guest.htm> (October 2004).
WASHINGTON, Mary Helen. ‘The Darkened Eye Restored’: Notes
Toward a Literary History of Black Women. In: GATES, Jr. Henry Louis
(Ed.). Reading Black, Reading Feminist: A Critical Anthology. New York: Meridian,
1990. p. 30-43.
WHITSITT, Sam. In Spite of it All: A Reading of Alice Walker’s “Everyday
use”. African American Review. v. 34, n. 3 (Autumn, 2000), p. 443-459.
WOOLF, Virginia. A Room of One’s Own and Three Guineas. Oxford; New
York: Oxford University Press, 1998.
Eliana Lourenço de Lima REIS
Doutora em Estudos Literários: Literatura Comparada pela Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG. Professora Associada de Literaturas de
Língua Inglesa da Universidade Federal de Minas Gerais. Membro do Nú-
cleo Intermidia, Faculdade de Letras UFMG.
Artigo recebido em 27 de setembro de 2012.
Aceito em 25 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 173
LOOKING FOR A NEUTRAL SPACE:
A “POETICS OF DISLOCATION” IN THE
DIASPORIC FICTION OF EDWIDGE DANTICAT1
Leila Assumpção Harris
laharris@uol.com.br
Abstract: The varying circumstances Resumo: As várias circunstâncias
associated with cultural and historic associadas às especificidades
specificities and with the históricas e culturais e às interseções
intersectionalities embedded in the contidas nas identidades diaspóricas
diasporic subject create the potential criam o potencial para posiciona-
for multiple positionings when it mentos múltiplos na articulação de
comes to the articulation of ideas/ ideias/ideais por parte desses
ideals. Susan Friedman argues that sujeitos. Susan Friedman sugere que
the diasporic process “engenders o processo diaspórico estimula a
fictionalizing memories of the past ficcionalização de memórias e
and dreams of the future” sonhos para o futuro (FRIEDMAN,
(FRIEDMAN, 2004). The aim of 2004). O objetivo do presente
this paper is to discuss the fiction of trabalho é discutir a ficção de Edwidge
Edwidge Danticat, a contemporary Danticat, escritora contemporânea
writer who was born in Haiti and que nasceu no Haiti e migrou para
migrated to the U. S. at the age of os Estados Unidos aos doze anos
twelve, examining the connections de idade, examinando a conexão
between history and literature as well entre história e literatura assim como
as the role of memory in her writings, o papel da memória em sua obra e
and reflecting upon the connections refletindo sobre as conexões entre a
between diasporic consciousness and consciência diaspórica e a
literary representation. representação literária.
Keywords: Diasporic consciousness. Literary representation. History.
Contemporary Caribbean literature.
Palavras-chave: Consciência diaspórica. Representação literária. História.
Literatura caribenha contemporânea.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 174
Tell all the Truth but tell it slant–
Success in Circuit lies
Too bright for our infirm Delight
The Truth’s superb surprise
As Lightening to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind.
Emily Dickinson
My first encounter with Edwidge Danticat’s work took place in
2008 when one of my students was writing a Master’s thesis focusing on
Danticat’s Breath, Eyes, Memory and Maritza Loida Pérez’s Geographies of Home.
After reading other fictional works by Danticat, I started reflecting on the
intersection between history and literature in her writings while keeping in
mind the discursive and constructed nature of both fields of representation.
At some point, as I read The Dewbreaker (2004), Emily Dickinson’s poem
came to my mind and I decided to look further into the latitude afforded
the diasporic writer by the literary text.
According to Carole Boyce Davies, “geography is linked
deliberately to culture, language, the ability to hear and a variety of modes
of articulation. It is where one speaks from and who is able to understand,
to interpret that gives actuality to one’s expression. Many women speak,
have spoken, are speaking but are rarely heard”. She then refers to women’s
lack of credibility and/or authority to speak their experiences and argues
that “it is not solely a question of physical geography, but location or subject
position in their wider senses in terms of race, class, gender, sexuality, access,
education and so on (DAVIES, 1994, p. 20-21). From the perspective of
cultural studies, the intersection of these multiple locations constitutes the
locus where hybrid identities are forged and evolve, “producing and re-
producing themselves anew through transformation and difference” (HALL,
1990, p. 235).
The differentiating role of women in this contemporary diasporic
process has been acknowledged by different critics. Anthropologist James
Clifford was the first to point out that many theoretical accounts ignore the
gendered character of diaspora. Stressing the need to consider gender
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 175
relations when discussing diasporic processes, he points out that gender
subordination may be loosened or reinforced according to the specific
context. While in some situations the diasporic experience may have a
liberating effect upon women, in many other instances they remain “caught
between patriarchies, ambiguous pasts, and futures” (CLIFFORD, 1994, p.
313-314). In “Diasporas Old and New: Women in the Transnational World”,
Gayatry Spivak sees “the use, abuse, participation, and role of women” as
the most significant difference between old and new diasporas. She remarks
that the domination and exploitation of diasporic women may take different
guises and comments on the difficulties faced by women attempting to act
as critical agents of society. Although Spivak cautions against the dangers
of speaking for the Other, she does not dismiss that possibility and ponders
about “gendered outsiders” that may acquire voice and agency (SPIVAK,
1996, p. 249-252). Trinh Minh-ha also examines the role of insiders and
outsiders in order to describe the position from which a woman who
mediates between two cultures speaks: “The moment the insider steps out
from the inside, she’s no longer a mere insider. She necessarily looks in from the
outside while also looking out from the inside. … Undercutting the inside/
outside opposition, her intervention is necessarily of both not quite an insider
and not quite an outsider” (MINH-HA, 1997, p. 415).
Many critics emphasize the importance of going beyond theorizing
how diasporic identities are constructed in order to investigate how they
are “practiced, lived, and experienced” (BRAZIEL; MANNUR, 2003, p
7-9). Investigating the mediation of the diasporic process through diverse,
specific narratives thus becomes one of the objectives of diasporic studies.
The ruptures brought about by geographic, cultural, linguistic, and psychic
displacement affect the women of the new diaspora as they find themselves
having to build bridges from one culture to another, re-define national
affiliations, and even re-think epistemological categories such as home and
community. The varying circumstances associated to cultural and historic
specificities and to the intersectionalities embedded in the diasporic subject
create the potential for multiple positionings when it comes to the articulation
of ideas/ideals.
Sandra Almeida, in her research about contemporary migrant
woman writers, remarks that concern with cultural, political, and historical
specificities is present in the narratives of these writers and that the female
characters they create go through a variety of experiences, thus embodying
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 176
multiple representations of women as diasporic subjects (ALMEIDA, 2006,
p. 195). In At Home in Diaspora, Wendy Walters explores the connections
between diasporic consciousness and literary expression. Focusing on the
writings of black diasporic writers, Walters questions “the typical
construction of home and diaspora as binary opposites”, arguing that the
double displacement brought about by racial exclusion and diasporic
processes contributes to intellectual distancing and critical positioning and
claiming that “diaspora identity is performed in writing even as it precedes
the act of writing itself ” (WALTERS, 2005, p. VIII-X). Likewise, Susan
Friedman, who argues that the diasporic process “engenders fictionalizing
memories of the past and dreams of the future” and who discusses home
and homeland as “overlapping sites of violence against the female body”,
concludes that “a poetics of dislocation may begin for some in recognizing
home as no place they want to be, as a place where the heart may be, but a
place that must be left, as a place whose leaving is the source of speech and
writing” (FRIEDMAN, 2004, p. 194, 200, 205). The act of leaving home(land)
becomes then pre-requisite to speaking up, to writing, and to achieving agency.
In Black Women Writing and Identity, Carole Boyce Davies dwells on
the complex relationship between migration and writing. In the chapter
devoted to the discussion of gender, heritage and identity, Davies affirms:
Migration creates the desire for home, which in turn produces the rewriting
of home. Homesickness and homelessness, the rejection of home and the
longing for home become motivating factors in this rewriting. Home can
only have meaning once one experiences a level of displacement from it.
Still home is contradictory, contested space, a locus for misrecognition and
alienation. (DAVIES, 1994, p. 113)
Davies then proceeds to explore the connections between home
and nationalism, positing that Afro-Caribbean woman writers in the US
doubly destabilize “the seamless narrative of home and so of nation” (p.
113). Their varied (dis)locations contribute to widen their perspectives,
enabling them to articulate critiques of migration and nation(s) that
encompass their birth-places as well as different “diasporic switching points”
(APPADURAI, 1996, p. 171) where they may find themselves. As Clifford
reminds us, “diaspora cultures thus mediate, in a lived tension, the experiences
of separation and entanglement, of living here and remembering/desiring
another place” (CLIFFORD, 1994, p. 311).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 177
Reflecting on Caribbean history in the twentieth-century, Stuart Hall
points out that “the fate of Caribbean people living in the UK, the US, or
Canada is no more ‘external’ to Caribbean people than the Empire was
‘external’ to the so-called domestic history of Britain …” (HALL, 1999, p.
1). Trying to determine the way Caribbean nations are imagined some thirty
years after their independences, Hall asks questions that are relevant to our
understanding of these nations and of their dispersed population:
Where do their borders begin and end when each is culturally and historically
so close to its neighbors and when so many people live thousands of miles
away from ‘home’? How may we imagine their relationship with their
birthplace and their sense of belonging? And how should we think about
national identity and belonging for Caribbeans in light of this diasporic
experience? (HALL, 1999, p. 2)
In the case of a nation-state such as Haiti, with its history of chronic
economic problems, political violence and instability, the issues of national
identity and of belonging certainly come into play for those leaving the
country. The number of Haitians living abroad is estimated between one
and two million. Their remittances reportedly make up over half of the
national income.1 The impressive size of this diasporic community, its strong
ties to their birth place and its political and economic strength led Jean
Bertrand Aristide in 1990 to coin the phrase “the 10th Department”, which
has been widely used since then and which refers to Haitians living abroad
as constituting one department additional to the nine geographic provinces
that comprise Haiti.2
In the introduction to The Butterfly’s Way, Edwidge Danticat, who
was born in Haiti and has resided in the United States since the age of
twelve, underscores the difference between what is understood and what is
meant when she says “my country”: “When I say my country to some
Haitians, they think of the United States. When I say my country to some
Americans, they think of Haiti”. She then defines her country as “one of
uncertainty”, “the tenth department … the floating homeland, the ideological
one, which join[s] all Haitians living in the dyaspora” (DANTICAT, 2001, p
xiv). Other writers whose texts are included in the book organized by
Danticat foreground the diversity of Haitian voices living in diaspora. Joanne
Hyppollite, who writes children’s stories, associates her experiences in exile
with her decision to become a writer. “Through your writing they will see
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 178
you, dyaspora child, the connections and disconnections that have made
you the mosaic that you are. They will see where you are from and the
worlds that have made you. They will see you” (p. 11). Marie-Hélène
Laforest, who teaches postcolonial literature in Italy, confesses that she started
seeing herself as Black and Caribbean only after leaving Haiti (p. 24-29).
Maude Hertelou, who has lived in several diasporic locations, makes use of
the luggage metaphor to discuss her connections with her birth place and
her pride of her cultural background, sorting out what she misses from
what she “will never completely lose” (p. 93).
Of course, aside from historical and political specificities, many of
the predicaments and concerns revealed by Danticat and those who have
contributed to The Butterfly’s Way are shared by other contemporary writers
born in the Caribbean and living abroad. In 2003, the feminist,
interdisciplinary journal Meridians hosted its first Caribbean Women Writers
Series, Voices from Hispaniola: Haiti and the Dominican Republic at Smith
College and afterwards published a roundtable interview with the participating
writers3. Among the issues discussed were family relationships, borders, the
different meanings of home, and the implications of writing from “the
outside”, a topic eliciting lively discussion among the writers. Loida Maritza
Pérez, for instance, highlights the matter of perspective, which, according
to her, makes those who leave more prone to question “myths about their
history, culture, class, and race”. Emphasizing her role as a fiction writer,
who sees “reality as a multifaceted thing”, she says she writes “from multiple,
contradictory perspectives and in no way set[s] out to define what a specific
reality might be” (p. 73, 74). Edwidge Danticat observes that the distinction
made between writers living in and out of Haiti is based on geography and
comments: “Of course that’s a factor, but … there’s a whole generation of
us who left Haiti young and are now living outside. Are we supposed to be
silent because somebody thinks we’re not authentic enough?” (p. 73).
In “Dissemination”, Homi Bhabha establishes a distinction between
people as “historical objects” and “performative subjects”, thus underscoring
the tension that exists between the pedagogical narrative of a nation and the
varied narratives of the nation that people produce in their daily lives
(BHABHA, 1994, p. 145-146). In her novels, Danticat creates fictional
narratives that oftentimes run counter the official or “pedagogical” narrative
of Haiti as a nation. Undoubtedly, the 1937 massacre, the innumerous
atrocities committed during the Duvaliers’ regimes, and the rampant violence
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 179
of successive political upheavals are gruesome enough even when filtered
through the lens of official history, but according to Donette Francis,
Danticat consistently “uses marginalized subjectivities to grapple with the
intertwined histories of gender and sexuality, migration and culture, nation
building and empire in twentieth-century Haiti” (FRANCIS, 2004, p. 76).
Nonetheless, Danticat is as adamant about claiming her right to
speak up as she is about reminding people of her task as a fiction writer:
“what I write are novels, not anthropology or social research”. She is very
much aware that a subjective story may not be generalized or reduced to a
search for “real truth” (DANTICAT, 2002, p. 187). Thus, in the second
edition of Breath, Eyes, Memory, the writer added an afterword and resorted
to the strategy of writing a letter to Sophie, the protagonist of her novel,
expressing her dismay that the novel was being read as a study about all
Haitian women.
Your body is now being asked to represent a larger space than your flesh.
You are being asked, I have been told, to represent every girl child, every
woman from this land that you and I love so much. […] And so I write to
you now, as I write it to myself, praying that the singularity of your experience
be allowed to exist, along with your own peculiarities, inconsistencies, your
own voice. (DANTICAT, 1998, p. 236)
Memory plays a crucial role in narratives focused on the past. In
Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives, Sidonie
Smith and Julia Watson foreground the politically charged contexts of
memories: “What is remembered and what is forgot, and why change over
time. Thus remembering has a politics. There are struggles over who is
authorized to remember, struggles over what is forgotten, both personally
and collectively” (SMITH; WATSON, 2010, p. 24). In “Daughters of
Memory”, an essay included in Create Dangerously, published in 2010, Danticat
states that
Grappling with memory is, I believe, one of the many complicated Haitian
obsessions. We have, it seems, a collective agreement to remember our
triumphs, and gloss over our failures. Thus we speak of the Haitian
revolution as though it happened just yesterday but we rarely speak of the
slavery that prompted it. Our paintings show glorious Edenlike African
jungles but never the Middle Passage. In order to shield our shattered
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 180
collective psyche from a long history of setbacks and disillusionment, our
constant roller-coaster ride between saviors and dictators, homespun
oppression and foreign tyranny, we cultivate communal an historical amnesia,
continually repeating cycles that we never see coming until we are reliving
similar horrors. (DANTICAT, 2010, p. 63-64)
In a 2008 article featured in The New York Times, Marc Lacey
comments that the extreme poverty assailing Haitians was stirring nostalgic
feelings for the past among people who, faced with hunger and misery,
wondered whether the country had not been better off under the Duvaliers.
Given that the average life expectancy for Haitians was sixty years old,
those born after Jean Claude Duvalier, Baby Doc, fled the country in 1986
constituted the majority of the population in 2008 and did not know much
about the Duvaliers’ bloody dictatorships. Stressing the country’s poor
records on preserving the past, Lacey interviewed Wilson Laleau, then vice
president for academic affairs at the University of Haiti, who regretted the
amnesia and lack of historical perspective affecting the nation. Laleau, also
an economist, cautioned that children were being raised without any
knowledge of the atrocities committed in the past and expressed his
frustration by remarking that “We don’t use history and memory to
understand our present and build the future. We keep beginning again from
scratch” (LACEY, 2008, p. 1, 8).
Forgetting about traumatic events is a defense mechanism our minds
resort to almost automatically, yet the act of forgetting may haunt all writers,
and according to Danticat, “for the immigrant writer, far from home,
memory becomes an even deeper abyss” (DANTICAT, 2010, p. 65). Her
concern with preserving the memory and history of Haiti and its people is
exactly what Wilson Laleau says is necessary “to understand the present and
build the future” (LACEY, 2008, p. 8). As Ann Hua reminds readers,
problematizing the past through the strategic use of memory – “recalling
the forgotten or suppressed to bear witness” — can be instrumental for
achieving social justice (HUA, 2008, p. 198). Since the publication of her
first novel, Breath, Eyes, Memory, in 1994, written when she was twenty-five,
that is, thirteen years after migrating to the United States, Danticat has been
creating characters whose lives dramatize the role of individual and collective
memory for those living in a diasporic context and those who stay in the
home country.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 181
The novel provides, through the lives of its female characters, a
powerful exposé of the violence women are submitted to both in their
home/land and out of it. Martine Caco’s rape by a tonton macoute, her
“testing” of her daughter Sophie in the same fashion she and her sister had
been tested by their mother, and Sophie’s self-inflicted violation all carry
lasting physical and psychological consequences and all point to a cycle of
violence affecting women. Critic Donette Francis argues that “the society
embodied by the Caco women is one in which at multiple levels – state,
community, and family – violence is subtly inscribed on women’s body and
made invisible” (FRANCIS, 2004, p. 88). In the novel, characters submit to
the repression and cruelty of the regime, become silent as they witness
injustices, or like Martine, they escape to another country. However, in spite
of her moving to the United States and of the passing of time, Martine has
recurrent nightmares and, unable to overcome the trauma suffered in her
youth, ends up by committing suicide. Francis believes that Martine’s silence
about the rape causes her self-destruction, as “she attempts to live as if the
trauma has not irrevocably altered her subjectivity – her mind and her body”
(FRANCIS, 2004, p. 62).
The perpetuation of violence is yet another terrible consequence
of Martine’s inability to confront her trauma. Before Martine was raped,
she hated having her virginity “tested” by her mother, but when Sophie
grows up and she suspects that she is involved with a neighbor, Martine
“tests” her daughter just like her mother had tested her. As Susan Friedman
observes, Danticat establishes an analogy between the practice of “testing”
and rape, “by setting up an uncanny parallel between the politics of the
Haitian state and the politics of the Haitian home, wherever that home may
be (FRIEDMAN, 2004, p. 200).
Both the physical and psychological consequences of the violence
Sophie does against herself are also lasting and destabilizing, but, unlike her
mother, she is able to face her traumas. Cristiane Alcântara proposes that
“the novel points to the importance of revising and rewriting cultural
practices” (ALCÂNTARA, 2009, p. 80). Realizing that the decision to
continue or to discard the tradition of testing is in her own hands, Sophie
chooses to find a therapist. Thus, Sophie’s breaking of silence as she joins a
therapy group is an important step for her personal recovery, which in turn
will enable her to break away from a cycle of violence which makes women
both victims and victimizers.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 182
The breaking of silence also becomes an impelling force behind
Danticat’s writing of The Farming of Bones, first published in 1998. While
doing field research about the 1937 massacre and visiting the area close to
the Massacre River, Danticat was struck by the fact that “there was nothing
that reaffirmed what had happened. No memorial plaques. No apologies.
Life was just going on. That’s when I realized how fragile memory is. It can
just vanish in the air if we let it” (SHEA, 1999, p. 21). In “Race and Massacre
in Hispaniola”, Michele Wucker gives details about Rafael Trujillo’s plan to
purify, that is, “whiten” the Dominican Republic by ordering the
extermination of some thirty thousand Haitians who worked on the
Dominican sugar cane fields, providing cheap labor while trying to make
ends meet. In the Dominican Republic official history has rewritten the
incident, justifying his deed and exempting the Dominican dictator from
guilt. In Haiti the massacre was basically bunched with other tragedies
affecting the country and was mostly forgotten until Danticat, struck by
“the fragility of memory”, decided to write a novel in which the need to
remember becomes a central motif and the story of the massacre is retold
“not in the words of a strongman but in the words of the ones who for so
long have been silent” (WUCKER, 1998).
In the novel, even before the massacre, memories and narrated
experiences contribute to forge links between characters who, displaced
from their homeland, develop the habit of exchanging stories. “At times
you could sit for a whole evening with such individuals, just listening to,
their existence unfold, from the house where they were born to the hill
where they wanted to be buried. It was their way of returning home. […]
This is how people left imprints of themselves in each other’s memories
(DANTICAT, 1998, p. 73). One of the characters, Father Romain, preaches
sermons, before the massacre, on the importance of preserving common
ties: “language, foods, history, carnival, songs, tales, and prayers” (p. 73).
Amabelle Désir, the focalizing protagonist, is a member of his congregation
made up of Haitians living and working in the Dominican Republic near
the border with Haiti, the very group who becomes the target of Trujillo’s
exterminating plan. Amabelle says that Father Romain’s “creed was one of
memory, how remembering – though sometimes painful – can make you
strong” (p. 73). After surviving the massacre, though overwhelmed by grief,
she will live by this creed.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 183
Amabelle returns to the region where she had lived before the
massacre and to the house where she had been brought up. When Sylvie,
one of the maids asks señora Valencia why Trujillo had chosen the word
perejil (parsley) to determine who should be exterminated, Valencia answers
that there are many stories and proceeds to narrate one the best known
versions. When she concludes abruptly, the maid is shaking her head in
disbelief and Amabelle reflects: “Perhaps there was no story that could
truly satisfy. I myself didn’t know if that story was true or even possible,
but as the senõra said, there are many stories. And mine too is only one”
(DANTICAT, 1998, p. 305). Amabelle’s “only one [story]” together with
the stories that other survivors, unnamed characters, insist to tell to the
justice of peace provide a stark, dramatic contrast to the silence from government
officials not only in the fictional world but also in the so-called real one.
The Dew Breaker, published in 2004, is composed of nine seemingly
unrelated stories that defy attempts to simplify the complex interweaving
of narrative strands. Gradually, however, we realize that the characters from
the different stories are members of the Haitian diaspora in the United
States – more precisely in Brooklin, New York — and many of them are
connected through past incidents in their homeland. In an interview about
the book, Danticat declares:
I wanted the book to open up, as you read it, that is, with each new character,
each new situation, I wanted to add layers upon layers to the central figure,
the dew breaker. I wanted the reader to be introduced to the dew breaker
from different angles, and for those who love him, and even for him, to see
himself from various perspectives. (DANTICAT, 2012)
In another occasion, the author affirms that her intention was to
write neither a novel nor a short-story collection, “but something in
between” (DANTICAT, 2010, p. 62, my emphasis). We realize then that
the form of expression – including the non linearity of the narrative and
the fragmentation of time — reflects the in betweenness of the characters
that inhabit this fictional world. Here, the ambivalences and mediations
commonly involved in a hyphenised existence are complicated by the legacy
of violence that the characters carry along.
If on one hand, we cannot fail to be surprised with the representation
of a former torturer and assassin as a quiet, loving father and husband in “The
Book of the Dead”, “The Book of Miracles”, and “The Dew Breaker”,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 184
we cannot ignore the damage caused by silence that thrives on the complicity
of family members – Ka grows up without any knowledge of her father’s
past — and state governments alike – former torturers are rarely punished
for their crimes. Carol Boyce Davies claims that the central metaphor in The
Dew Breaker is the scar that Ka carves in a sculpture of her father and that
runs though his family, through Haiti, and, visibly, through his face.4 The
scar on the dew breaker’s face is indeed a very appropriate symbol of the
violence that clings to this fictional world. In reality, many other characters
in the book are scarred whether visibly or not. Violence, fear, or memories of
either permeate just about every story in the book.
Emphasizing that there is not one but many Caribbean diasporas,
Jana Braziel uses Danticat’s The Dew Breaker, and more specifically the story
“The Book of Miracles” in order “to illustrate the multiple divisive fractures
within diasporic formations, which too often violently reproduce and
reinscribe the divisions of home and homeland” (BRAZIEL, 2008, p. 154).
Braziel calls attention to the fact that in the book, Danticat introduces a
character based on a historical figure, Emmanuel “Toto” Constant, a torturer
and militia leader supported by the government of Raul Cédras and the
CIA, to establish a connection between the violence of the Duvaliers’
dictatorships and the rampant violence of the post Duvalier era, carried
out by military dictatorships, especially between 1991 and 1994, while Cédras
was in power5. In “The Book of Miracles”, Ka and her father accompany
the mother to the Christmas Eve Mass. The young woman, who knows
nothing about her own father’s past, is indignant when she sees a man in
church who bore a strong likeness to Constant, whose picture she had seen
on the “WANTED FOR CRIMES AGAINST THE HAITIAN PEOPLE”
flyers hanging on lampposts all over their neighborhood and who had
been” tried in absentia in a Haitian court and sentenced to life in prison, a
sentence he would probably never serve” (DANTICAT, 2004, p. 78-79).
Ka, of course, has no idea that her father is a former torturer who has
escaped to the United States decades earlier.
Braziel argues that in The Dew Breaker Danticat “challenges her
readers to rethink state violence as transnational, even diasporic, not
exclusively national, as traded between countries, not simply endemic to
one state” (BRAZIEL, 2008, p. 159). It is worth noting that many characters
in the book are haunted by the impression – oftentimes even obsession –
that they have met someone in the United States who had participated
actively in the bloody regimes of the Duvaliers or of the military juntas and
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 185
had tortured and killed their loved ones. Such disquieting, even harrowing
impressions are neither confirmed nor dismissed. What becomes clear,
however, is that violence is not contained within geographical or political
borders. The diasporic destination may shelter the formerly persecuted as
well as former persecutors.
The transnational nature of violence is also addressed in Brother,
I’m Dying, Danticat’s most recent work of fiction, which was published in
2007 and translated to Portuguese in 2010. In 2008 the book received the
National Book Critics Circle Award for the autobiography category, a detail
that deserves attention. There is a strong tendency in contemporary literature
to move away from a traditional definition of autobiography, privileging
instead the concept of autobiographical writing. As Sidonie Smith and Julia
Watson remind us, “While autobiographical narratives may contain
information regarded as ‘facts’, they are not factual history about a particular
time, person, or event. Rather, they incorporate usable facts into subjective
‘truth’ […]” (SMITH; WATSON, 2010, p. 13). This first-person narrative
by Danticat focuses on the lives of her biological father and of her uncle
Joseph, who raised her between the time when she was four (when her
mother left to the U. S. to join her husband) and twelve years old (when she
migrated, joining her parents) and. by extension, the history of her family
and that of her home country. Danticat, who has referred to her first novel
as an “emotional autobiography” (DANTICAT, 2002, p. 196), reveals how
she was profoundly affected by simultaneous discoveries: her first pregnancy,
her father’s impending death from a progressively debilitating disease, and
the unexpected death of her uncle. After having his church destroyed, his
house ransacked, and his life threatened, Joseph, by then old and fragile, manages
to escape from Haiti. However, because of a bureaucratic error and in spite of
his having the correct documentation for legal immigration, he is sent to a
detention center for illegal immigrants in Miami, where he ends up dying.
Once again, the role of individual and collective memory is
highlighted in Danticat’s fiction. Discussing collective remembering, Smith
and Watson argue that “Memory is a means of ‘passing on’, of sharing a
social past that may have been obscured, thereby activating its potential for
reshaping a future of and for other subjects. In sum, acts of personal
remembering are fundamentally social and collective” (SMITH; WATSON,
2010, p. 26). In Brother, I’m Dying, the narrator uses her narrative to construct
the memories of her family, of Haiti, and, concomitantly, her own memories.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 186
She makes clear that the sources of her narrative encompass the remembrance
of incidents she witnessed, official documents, “as well as borrowed
recollections of family members”, but most of what she narrates comes
from stories told by her uncle and her father along the years.
Some were told offhand, quickly. Others, in greater detail. What I learned
from my father and uncle, I learned out of sequence and in fragments. This
is an attempt at cohesiveness, and at re-creating a few wondrous and terrible
months when their lives and mine intersected in startling ways, forcing me
to look forward and back at the same time. I am writing this only because
they can’t. (DANTICAT, 2008, p. 25-26)
In 2010, when Brother, I’m Dying was translated to Portuguese as
Adeus, Haiti, Danticat gave an interview to O Estado de São Paulo, confirming
that writing this book enabled her to overcome her sadness and rage over
the loss of her father and her uncle, to “revisit” them, and to organize her
memories in order to pass them on to her daughters. She also speaks about
her condition as an immigrant:
You go away, leaving the physical past behind. Your connection with those
who remained in the homeland keeps you linked to [your roots]. Yet when
those people start dying, you feel as if your roots are being pulled beneath
your feet. Thus, I was able to create some roots for my daughters. Nowadays,
grandchildren do not speak the same language the grandparents did. We
gain a lot and lose a lot when we migrate. (DANTICAT, 2010; my translation)
In the Meridians roundtable, after stating that home “is migration”,
Danticat acknowledges that varying backgrounds and complex histories
generate different definitions of home for the writers engaged in that
discussion. She also argues that they “cross borders to reach a neutral space”
(2004, p. 71). She is, of course, alluding to common causes and to the
importance of raising consciousness to pressing issues, and I do believe,
that this ‘neutral space’, can be found in the literary text, a fertile territory
from where diasporic can write/rewrite home.
I would like to conclude my reflections by referring to Beatriz
Sarlo, Argentinian literary critic and professor, who spent years pouring
over the testimonios of those who had lived though the atrocities of Argentina’s
dictatorial regime. She offers a critical analysis of the theoretical, discursive,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 187
and historical elements of the selected texts, taking into consideration the
potential as well as the limitations of non-fictional first person narratives.
She then concedes that from a personal standpoint, she dare say that she has
found in literature the most precise images of the horrors of the past After
providing examples from contemporary Argentinian literature to support
her point of view, she adds: “Literature can’t, of course, put an end to
problems, or even explain them, but [in the literary text] there is a narrator
who thinks from ‘outside’ the experience, as if human beings could take
hold of nightmares instead of just living them” (SARLO, 2007, p. 117-
119). Edwidge Danticat’s writings highlight her attempts to get hold of and
transform, through literary representation, some of the nightmares that
have haunted Haitians, at home and in diaspora.
Notas
1
This article contains passages, translated and revised, previously published as book
chapters.
2
For further details see http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/
2010/01/21/AR2010012103508.html and http://www.ssrc.org/features/pages/
haiti-now-and-next/1338/1438/
3
JEAN-PIERRE, Jean. “The Tenth-Department”. NACLA Report on the Americas,
Vol. 27, 1994. http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=LvnPk
W2CFgTSSnJc1b81QcwQVQQqQ5RJJVvb8lSQJ3KlDmdL.
4
The participating writers were Edwidge Danticat, Loida Maritza Pérez, Myriam
Chancy, and Nelly Rosario. See Meridians , v. 5, n. 1, 2004, p. 69-91.
5
The lecture, “Caribbean Women Writing Migration and Diaspora”,was delivered in
Natal during the XIII Seminário Nacional Mulher e Literatura in 2009. The text has
been subsequently translated to Portuguese (see works cited).
6
For more details, see BRAZIEL, 2008, p. 157.
REFERENCES
ALCÂNTARA, Christiane Fontinha. A Legacy of Violence and Trauma in the
Diasporic Literature from Hispaniola. 2009. Dissertação (Mestrado em
Literaturas de Língua Inglesa) – Programa de Pós-Graduação em Letras,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
ALMEIDA, Sandra G. A nova diáspora e a literatura de autoria feminina
contemporânea. In: CAVALCANTI, Ildney; LIMA, Ana Cecilia Acioli,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 188
SCHNEIDER, Liane (Orgs.). Da Mulher às mulheres: dialogando sobre
literatura, gênero e identidades.Maceió: EDUFAL, 2006, p. 191-199.
APPADURAI, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
BHABHA, Homi. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
BRAZIEL, Jana Evans. Diasporic Disciplining of Caliban? Haiti, the
Dominican Republic, and Intra-Caribbean Politics. Small Axe, June 2008, p.
149-159.
BRAZIEL Jana Evans; MANNUR, Anita. (eds.) Theorizing Diaspora. Malden:
Blackwell, 2003.
CHANCY, Myriam J.A.; DANTICAT, Edwidge; PÉREZ, Loida Maritza.
Voices from Hispaniola”. Meridians, v. 5, n. 1, 2004, p. 69-91.
CLIFFORD, James. Diaspora. Cultural Anthropology, v. 9, n. 3 (1994), p.
302-338.
DANTICAT, Edwidge. Breath, Eyes, Memory. New York: Vintage Books,
1998.
________. The Farming of Bones. New York: Pengin Books, 1999.
________ (Ed.) The Butterfly’s Way: Voices from the Haitian Dyaspora in
the United States. New, York: Soho Press, 2001.
________. “An Interview with Edwidge Danticat Conducted by Bonnie
Lions”. Contemporary Literature, Madison, v. 44, n. 2, p. 183-198, Summer
2003.
________. The Dew Breaker. Disponível em: http://www.randomhouse.
com/acmart/catalog/display.pperl?isbn=9781400034291&view=qa. Acesso
em: 04 out. 2010.
________. Brother, I’m Dying.New York: Vintage Books, 2008.
________. Create Dangerously: the Immigrant Artist at Work. Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 2010.
DANTICAT, Edwidge. An Interview. Disponível em http://
www.bookbrowse.com/author_interviews/full/index.cfm?author_
number=1022. Acesso em: 04 out. 2010.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 189
________. Entrevista com a escritora Edwidge Danticat. Disponível em: http:/
/www.substantivoplural.com.br/entrevista-com-a-escritora-edwidge-
danticat/ Acesso em: 04 out. 2010.
DAVIES, Carole Boyce. Black Women, Writing and Identity: Migrations of the
Subject. London, New York: Routledge, 1994.
________. Mulheres caribenhas escrevem a migração e a diáspora. Revista
Estudos Feministas. Trad. Leila Harris e Peonia Viana Guedes. Florianópolis:
UFSC, v. 18, n. 3, 2010, p. 747-763.
FRANCIS, Donette A. “Silences Too Horrific to Disturb”: Writing Sexual
Histories in Edwidge Danticat’s Breath, Eyes, Memory. Research in African
Literatures, Vol. 35 No.2 (Summer 2004), 75-90.
FRIEDMAN, Susan. Bodies on the Move: A Poetics of Home and Diaspora.
Tulsa Studies in Women’s Literature, v. 23, n. 2 (2004), p. 189-212.
HALL, Stuart. Cultural Identity and Diaspora. In: RUTHERFORD, J. (Ed.)
Identity. London: Lawrence and Wishart, 1990.
________. Thinking the Diaspora: Home Thoughts from Abroad. Small
Axe n. 6, September 1999, p. 1-18.
HARRIS, Leila. História e memória na literatura diaspórica de Edwidge
Danticat. In: HARRIS, Leila (org). A Voz e o Olhado Outro. Rio de Janeiro:
Letra Capital, 2010, v. II, p. 30-39.
________. Edwidge Danticat: de história(s) em história. In: AREND, Silvia,
RIAL, Carmen, PEDRO, Joana Maria (orgs.). Diásporas, Mobilidades, Migrações.
Florianópolis: Editora Mulheres, 2011, p. 223-238.
HUA, Ann. Diaspora and Cultural Memory. In: AGNEW, Vijay (Ed).
Diaspora, Memory, and Identity: A Search for Home. Toronto: University of
Toronto Press, 2008, p. 191-208.
JEAN-PIERRE, Jean. The Tenth-Department”. NACLA Report on the
Americas, v. 27, 1994. Disponível em: http://www.questia.com/
googleScholar. qst;jsessionid=LvnPkW2CFgTSSnJc1b81QcwQVQQq
Q5RJJVvb 8lSQJ3 KlDmdL. Acesso em: 20 ago. 2010.
LACEY, Marc. Haiti’s Poverty Stirs Nostalgia for Old Ghosts. The New
York Times, p. 1, 8, 23 mar. 2008.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 190
MINH-HA, Trinh. Not You/Like You: Postcolonial Women and the
Interlocking Questions of Identity and Difference. In: McCLINTOK, Anne
et al (Eds.). Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Postcolonial Perspectives.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. p. 415-419.
SARLO, Beatriz. Tempo Passado: Cultura da memória e Guinada Subjetiva.
Tradução. Rosa Freire d’Aguiar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
SHEA, Renee H. “The Hunger to Tell”: Edwidge Danticat and The Farming
of Bones”. Macomere 2 (1999): 12-22.
SMITH, Sidonie, WATSON, Julia.. Reading Autobiography: A Guide for
Interpreting Life Narratives. Minneapolis: The University of Minnesota
Press, 2010.
SPIVAK, Gayatri. Diasporas Old and New: Women in the Transnational
World. Textual Practice, v. 10, n. 2, 1996, 245-269.
WALTERS, Wendy. At Home in Diaspora: Black International Writing.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
WUCKER, Michele. Race and Massacre in Hispaniola Disponível em: http:/
/www.tikkun.org/article.php?story=nov1998_wucker Acesso em: 04 out.
2010.
Leila Assumpção HARRIS
Pós-Doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em In-
glês pela Texas Tech University, Estados Unidos. Professor Associado da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Artigo recebido em 30 de setembro de 2012.
Aceito em 19 de novembro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 191
O COZINHEIRO, O LADRÃO, O JUIZ E SUA NETA:
MEMÓRIA E PODER EM O LEGADO DA PERDA
DE KIRAN DESAI
Gracia Regina Gonçalves
graciag@hotmail.com
Resumo: Neste estudo, pretendo Abstract: In this study, I intend to
explorar o romance O legado da perda explore the novel The Inheritance of Loss
(2006), de Kiran Desai, ambientado (2006), by Kiran Desai, set in the
na turbulenta região do Kanchenjunga, turbulent region of Kanchenjunga,
Índia, durante os conflitos indo- India, during the Indo-Nepalese
nepaleses da década de 1990, através conflicts of the 90s, through the
da perspectiva da divulgação dos perspective of the dissemination of
limites (BHABHA, 1994; HALL, boundaries (BHABHA, 1994; HALL,
1992), concentrando-me em uma 1992), focusing on a distinct lens, i.e.,
lente distinta, ou seja, a culinária. culinary. I believe that confrontation
Acredito que os confrontos, ou or interaction of the characters
interação, das personagens desta evokes a surreptitious irony
narrativa evocam uma ironia sub- (HUTCHEON, 1990) that through
reptícia (HUTCHEON, 1990) que subversive laughter ends up by
através de um riso subversivo acaba reversing hierarchies demarcated
invertendo as hierarquias demarcadas throughout the text, creating a hybrid
ao longo do texto, criando um olhar gaze that emerges in the narrative.
híbrido que surge na narrativa. As The theorethical perspectives of Paul
perspectivas teóricas de Paul Ricoeur, Ricoeur, Mallikarjun Patil, Michel
Patil Mallikarjun, Michel Foucault e Foucault, and Chris Weedon will
Chris Weedon lançarão luz sobre enlighten my investigation.
minha investigação.
Palavras-chave: Culinária. Pós-colonialismo. Ironia
Keywords: Culinary. Post-colonialism. Irony.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 192
Lembrar-se é, em grande parte, não esquecer.
Ricoeur
Este estudo, antes de ser mais uma reflexão sobre narrativa e poder,
pretende, mais especificamente, resgatar, na esteira dos estudos que
contrapõem memória e história, um de seus desafetos: o esquecimento.
Considerado à margem da discussão, este elemento esconde uma
envergadura que, por outro lado, pode revelá-lo como a própria condição
de possibilidade do ato de lembrar, revertendo-se assim o papel e a hierarquia
deste discurso. Em outras palavras, o esquecimento teria uma faceta não
meramente passiva, mas produtiva, na apreensão dos afetos e das coisas
do mundo.
Esta visada, que repensa o caráter estanque que, geralmente, se dá
a ambas as instâncias, ilumina os meandros de um texto como O legado da
perda (2006) de Kiran Desai, meu objeto de perquirição. Nascida em Nova
Delhi, e tendo abraçado os ramos da diáspora como lugar de pertencimento,
educada em Londres e nos Estados Unidos onde vive, Desai reúne
elementos significativos em sua trama, passada numa região conflituosa da
fronteira da Índia com o Nepal, conseguindo compor subjetividades que
se manifestam, invariavelmente, em torno do esquecimento. Este se faz
presente, sempre ligado, à origem, mesmo que camuflada de cada um; ou
ainda, por outro lado, via de fato à manipulação dos aparatos do poder.
Acredito que, de acordo com esta premissa, Desai construa uma
grande pilhéria da história da lembrança, ao fazer interagir, em seu romance,
um representante do judiciário que fuja à própria verdade, e a manipule, a
ponto de obliterar, a investigação das circunstâncias obscuras de sua viuvez;
uma jovem, dividida entre sua tendência em se ocidentalizar, legado do
avô, e as pretensões marxistas do homem por quem se apaixona; e,
finalmente, ao entrelaçar, com suas perdas e danos, as vidas de um cozinheiro
com a de seu filho, ambos numa sociedade de castas, serviçais de berço, os
quais se veem distanciados e reunidos pelo ideal do sonho americano.
O título de fundo paródico deste estudo não tem mais do que a
intenção de tentar antecipar economicamente, caracterizações que, de per se
delineiam o enredo, ao sugerir seus lugares de enunciação como constitutivos
das mesmas. O cozinheiro se coloca antagonicamente ao juiz decadente,
reforçando a crítica ao caráter determinista da estratificação social da
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 193
sociedade e da cultura indiana. O ladrão que, por sua vez, não é ladrão, mas
um informante: Gyan representa uma outra faceta, a de classe, mas de
cunho extremamente político, pois assinala a dominação hegemônica entre
duas nações rivais, Índia e Nepal. Nepalês, ao ser contratado para dar aulas
particulares à única neta do juiz, resgatada de um colégio de freiras quando
os pais, há muito fora da órbita do avô, são atropelados na Rússia da
guerra fria, este usa da recente familiaridade com os poucos bens
remanescentes do casarão para abrir caminho aos revolucionários que o
invadem e saqueiam a despeito de suas armas de caça ultrapassadas e seu
estado de precariedade. A última personagem eleita a prenunciar o enredo,
é sua neta. Esta, ponto de vista da narrativa onisciente, traz um olhar crítico
para aquele universo, o qual estranha mas do qual, ainda assim é, de certa
forma, cúmplice: serve chá ao avô, dentro de um ritual britânico, ao mesmo
tempo em que troca ideias com o cozinheiro, sugerido como única fonte
de informação sobre seu passado, isto porque o velho mal lhe dirige a
palavra, tendo-a menos em conta do que a Mutt, a cachorra. Vista sempre
a seu lado, esta teria certamente contribuído para sua acolhida de Sai após a
notícia da morte dos pais, posto que, segundo o juiz, “poderia ajudar a
tomar conta de Mutt” (DESAI, 2007, p. 75). Sobre ambos, e muito menos
sobre a avó, por motivo fútil devolvida ainda grávida do pai de Sai, jamais
se ouvirá da própria boca do juiz uma sequer menção. Toda a escritura é
uma série de apagamentos como veremos.
Para tal tarefa, tanto valho-me do suporte teórico de Paul Ricouer
no desenvolvimento que elabora sobre o tema do esquecimento, bem como,
no campo da constituição do sujeito, de pressupostos do gênero segundo
Weedon e Butler, e dos estudos pós-coloniais de Patil (2009).
Segundo Ricouer, a relação entre esquecimento e memória é
dialética, estando aquele, inelutavelmente, ligado a esta como propulsor da
mesma. Diz ele:
De um lado, as manifestações individuais do esquecimento constituem,
em grande parte, um simples anverso daquelas que dizem respeito à
memória; lembrar-se é, em grande parte, não esquecer. De outro lado, as
manifestações individuais do esquecimento estão inextricavelmente
misturadas em sua forma coletiva. (RICOEUR, 2010, p. 451)
Ricoeur desenvolve um extensivo mapeamento da relação entre as
duas instâncias rivais ao longo dos tempos, desde Platão a Le Goff com o
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 194
intuito de exatamente desmistificar a dualidade que as separa, promovendo
a tese da indecibilidade de ambas, não de um ponto de vista mediador,
mas reconhecendo esta propriedade como constitutiva. A respeito, alinha o
filósofo uma à outra ao dizer que
[...] na atitude por princípio retrospectiva comum à memória e à história, a
prioridade entre essas duas perspectivas do passado é indecidível. A ontologia
do ser histórico que abraça a condição temporal de sua tripartição – passado,
presente e futuro – está habilitada a legitimar esse caráter indicidível, sob a
condição temporal da abstração do presente e do futuro. Proponho proceder
a uma repetição dessa situação de indecibilidade, com o objetivo de autenticá-
la como legítima e justificada nos limites em que ela é reconhecida.
(RICOEUR, 2010, p. 397)
Foge ao nosso escopo delinear toda a trajetória desenvolvida pelo
filósofo, em débito com outros, para chegar ao pódio do esquecimento.
Vale, contudo, pinçar do autor algumas considerações importantes para a
presente análise, como quando resgata a teoria de Pomian contemplada
por LeGoff de que haveria “um remanejamento incessante da relação entre
história e memória coletiva” (RICOEUR, 2010, p. 400). No campo dos
relacionamentos sociais e políticos, através de seus sujeitos diaspóricos, esta
consciência se revela claramente no romance de Desai, no qual, parodiando
Terry Eagleton, todo esquecimento é político. Na obra delineiam-se via de
regra as duas instâncias de esquecimento levantadas por Ricoeur, sendo a
primeira denominada de esquecimento por apagamento dos rastros; e uma
outra, privilegiada por ele, a que chama, esquecimento de reserva, que serão
clarificados adiante. Não sendo necessariamente excludentes, tentarei mostrar
como cada qual pode ser pode ser percebida, a começar pelo primeiro
tipo, por exemplo, através da caracterização do juiz, e a de seu cozinheiro
em relação ao meio em que se inserem, ou o modo como lidam com o
mesmo, mais especificamente no âmbito da sociedade indiana. A segunda
instância a ser abordada, a de esquecimento do tipo “de reserva” aplicar-
se-ia, por exemplo, ao caso de Biju, filho único do cozinheiro, enquanto
imigrante ilegal em Nova York, experiência que dá ressonância à outra
análoga, também no plano diaspórico, do juiz na Londres das primeiras
décadas do século, quando se abrira, num plano meramente formal, um
panorama de cooperação da metrópole visando a formação cultural, ou,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 195
civilizatória, melhor dizendo, de seus membros na Índia, situação pela qual
Jhemmubbai se viu privilegiado.
Fechando a questão, porém não concluindo, uma interação de
ambos os casos, de rastros e de reserva pode ser apreciada, numa consciente
re-contextualização de um amor impossível em que confrontam Sai, a neta
híbrida do juiz, e Gyan, seu professor particular, pretensamente livre de
influências ocidentais, e capaz de, além de matemática, a ensiná-la como
“não ser”. No fundo musical do romance dentro do romance, ouve-se
uma risada subversiva sobre o embate e a tentativa de apagamento de
culturas, desacreditando identidades quaisquer que sejam. A trama de Desai
se desenvolve em consonância com a leitura que faz Hutcheon (1990) de
uma narrativa de caráter pós-moderno, ou seja, a que “assume a forma de
uma colocação autoconsciente, autocontraditória e auto pejorativa”1
(HUTCHEON, 1990, p. 1; tradução minha).
Patil (2009), por sua vez, especificamente na esfera crítica da literatura
indiana, reconhece na obra de Desai a mesma propriedade, ao lê-la ao lado
de nomes tais como, Bharati Mukherjee, Arundhati Roy, e outras sobre as
quais ele afirma
no que diz respeito à ficção pós-moderna, pode-se dizer que não há nenhuma
relação em particular entre todas as mensagens, exceto a de que a autora as
escolheu cuidadosamente de modo que quando vistas de imediato, estas
produzem uma imagem da vida que é plástica e surpreendente ao mesmo
tempo. Não há começo, meio, fim, suspense, moral, causas, nem efeitos2.
(PATIL, 2009, p. 22, tradução minha)
Neste contexto de esvaziamento de valores e significados pode-se
perceber, então, a pertinência de um olhar voltado para as sombras da
memória, não como que a encobrindo, porém, como catalizadoras de um
processo. A assertiva tem eco na apropriação que Ricoeur faz dos estudos
de Heiddeger, ao falar da história. Essa não teria como seu objeto,
“contrapontos mortos, para os quais ele constrói um túmulo escriturário”
(RICOEUR, 2010, p. 396), mas dedica-se, antes, em representar ações e
paixões. Assim, em meio aos meandros da filosofia da recordação x tempo,
Ricoeur levanta a hipótese:
Portanto, não é numa aporia paralisante que deve desembocar o debate
incessante retomado entre as pretensões rivais da história e da memória de
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 196
cobrir a totalidade do campo aberto, por trás do presente, pela representação
do passado. Certamente, nas condições de retrospecção comuns à memória
e à história, o conflito permanece indecidível. Mas sabemos por que ele é
assim, já que a relação do presente do historiador com o passado é recolocada
sobre o pano de fundo da grande dialética que mistura a antecipação resolvida,
a repetição do passado e a preocupação do presente. (RICOEUR, 2010, p.
403)
Entra, assim, em cena, o fio da descontinuidade. Passando por
Foucault e sua crítica da ideologia da continuidade memorial, ele argumenta
em favor de uma aceitação do passado como fratura, como condição
legítima de possibilidade.
É na esteira da plurissignificação da palavra fratura que se pode
sentir disseminada a presença do esquecimento também, contraditoriamente,
ativo. Tal noção traz à tona a exposição que Ricoeur faz do pensamento
deleuziano e heideggeriano sobre o assunto. Deleuze traz à tona a sempre
presente contemporaneidade do passado: “o passado é ‘contemporâneo’
do presente que ele foi” (RICOEUR, 2010, p. 442). Já Heidegger, mostrando
ter sedimentado a base da desconstrução crítica da linguagem, no caso da
apreensão do passado, apresenta uma inovação, ou seja, cunha o termo
“ser-sido” (Gewesenheit), rompendo com a expectativa de mero passado
(Vergangenheit). Resolve, portanto, segundo o filósofo francês, através de
uma duplicidade gramatical, o fato de que
dizemos do passado que ele não é mais, mas que ele foi [...] Em resumo, o
esquecimento, reveste-se de uma significação positiva na medida em que o
tendo-sido prevalece sobre o não mais ser na significação vinculada à idéia
do passado. O tendo-sido faz do esquecimento o recurso imemorial oferecido
ao trabalho da lembrança. (RICOEUR, 2010, p. 450-451)
Retomando o texto de Desai, nota-se que este se constrói em
diálogo com tais conceitos, ao criar personagens cuja subjetividade depende
exatamente dessa fratura ou descontinuidade. Todas elas, juiz, cozinheiro,
Biju, Sai e Gyan, de alguma forma se constituem em termos de apagamento,
obliteração ou adiamento de sentido na interpretação do seu ter-sido, ou
melhor, todos os “teriam-sidos”. Este quadro tornar-se-á mais eloquente a
partir da elucidação dos tipos de esquecimento e sua pertinência com os
exemplos propostos. A começar pelo recurso do apagamento de rastros,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 197
o qual indica, segundo Ricoeur, a intenção de se removerem objetivamente
quaisquer traços da lembrança de outrem. Este seria, por exemplo, o caso
da morte de Nimi, a esposa de Jemubhai. Nunca envolvido diretamente
com este casamento, união realizada por seu interesse de ascensão social,
este toma ódio à mulher, a qual após vários abusos da parte dele cai em
depressão até que desaparece em circunstâncias misteriosas:
Uma mulher tinha pegado fogo no fogão […] Ah! Este país, as pessoas
exclamaram, contentes de cair nas frases de sempre, onde a vida humana
não vale nada, onde os padrões são baixos, onde os fogões são mal feitos
e sáris baratos pegam fogo com tanta facilidade [...] as rupias passaram de
mão em mão em azeitado movimento... – Ah, obrigado, sir – disse um
policial. – Não tem nada que agradecer – disse o cunhado. E num piscar de
olhos podia-se ter perdido a coisa toda. O juiz escolheu acreditar que tinha
sido um acidente [...] Uma coisa Jemubhai aprendeu de verdade: um homem
pode se transformar em qualquer coisa. Era possível esquecer e, às vezes era
essencial esquecer. (DESAI, 2010, p. 390, 391)
A questão aparentemente simplista no nível do apagamento material
deve ser entendida como mais ampla, ou seja, “a noção de rastro não se
reduz ao rastro documentário, nem ao rastro cortical; ambos consistem em
marcas “exteriores”, embora em sentidos diferentes: o da instituição: o da
instituição social para o arquivo, o da organização biológica para o cérebro”
(RICOEUR, 2010, p. 436). Além de eliminar todos os vestígios do processo
em si, apaga-se também, neste caso, o que se constituiria enquanto uma
mancha social para a família de ambos, a dele e de Nimi.
Outra instância a se relacionar com esse aspecto de apagamento
de memória é a caracterização do cozinheiro da casa, nunca denominado
ao longo de toda a narrativa, a não ser pelo seu posto. Uma única vez o
texto se depara com a necessidade de se discutir o nome do mesmo; isto
quando do seu processo de admissão e recomendação através de cartas
falsas trazidas ao juiz. O pai dele tenta convencer Jemubhai que as três
diferentes pessoas colocadas em cada folha seriam, de fato, uma única; ou
seja, ele sempre abriria mão de ter uma identidade própria para se moldar
a qualquer apelido que ora lhe imputassem. Inverossímil que seja, sua própria
aceitação tácita é, em si ainda mais aviltante. Lê-se:
O juiz passou os olhos pelas referências: – Mas o nome dele não é Solomon
Pappiaah. Não é Sampson. Não é Thomas. – Gostaram tanto dele, sabe –
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 198
disse o pai do cozinheiro –, que deram para ele um nome da sua gente. Por
amor chamaram meu filho de Thomas. (DESAI, 2007, p. 86)
Em outras palavras, ao estômago interessa o prato, não quem o
prepara. Como lembra Chris Weedon (1987),
[...] todo senso comum depende de uma visão ingênua da linguagem como
transparente e verdadeira, não distorcida por elementos, tais como
“ideologia”, um termo o qual é reservado para explicações representando
interesses sectários que se opõem3. (p. 77; tradução minha)
Somos constituídos na linguagem. Caso contrário, não o somos;
ao cozinheiro jamais se dará uma identidade, que não a que provém de suas
mãos, de seu trabalho. Nunca terá um rosto, com um nome; somente um
lugar no fundo de uma cozinha escura e fumacenta.
Na sequência da apreciação deste romance, mostrando ainda a
força da narrativa que se apoia no esquecimento, deve-se mostrar uma
outra faceta do personagem do juiz, antes lido em termos do apagamento
de rastros, agora ligado ao caso de reserva. A teorização da reserva é-nos
apresentada por Ricoeur, quando fala de “impressões primeiras enquanto
passividades: um acontecimento nos marcou, tocou, afetou e a marca afetiva
permanece em nosso espírito” (RICOEUR, 2010, p. 436).
No exemplo que envolve Jemubhai, o narrador o capta em meio
ao seu primeiro grande contato com o mundo exterior, como quando
embarca no navio para sua formação ocidental. Lá, ele viverá também o
seu primeiro grande constrangimento, quando no ar rescende o odor de
uma banana excessivamente madura, vinda de sua bagagem e notada pelo
companheiro da cabine. A mãe a colocara ali, pressupondo uma série de
embaraços que esta, ironicamente, queria evitar-lhe:
Nenhuma fruta morre de morte tão vil e ofensiva quanto a banana, mas
tinha sido embalada para alguma eventualidade. [...] ou se demorasse um
pouco para as refeições serem devidamente preparadas, ou se lhe faltasse
coragem de ir para o salão de jantar do navio, uma vez que não sabia comer
com garfo e faca... Ficou furioso de a mãe não ter considerado a possibilidade
de sua humilhação e, portanto, pensou, precipitá-la. Em sua tentativa de
anular uma humilhação, ela conseguira apenas acrescentar outra. (DESAI,
2007, p. 54)
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 199
Igualmente relevante, torna-se a caracterização de Biju, em muito
similar à trajetória de Jhemmubai em termos do estranhamento do mundo
ocidental. No campo da reserva, muitas serão as sensações idas e vindas.
Horrorizado ao ver que seus compatriotas não se constrangiam em comer
carne, ele reconsidera seus valores. Para ele, transgredir significava a própria
sobrevivência posto que só conseguia empregos no campo da terceirização
em restaurantes do tipo fast-food. Ele reclama para si, via discurso indireto
livre do narrador:
Vaca sagrada vaca não-sagrada
Emprego não-emprego
Não se podia renunciar a própria religião, aos princípios dos próprios pais
e dos pais deles antes deles. Não, apesar de tudo. Era preciso viver de acordo
com alguma coisa. (DESAI, 2007, p. 180)
Muito além de uma hesitação no plano ético, a passagem ilustra a
questão da força do inesquecível, que paira na consciência do indivíduo,
querendo ganhar corpo na mesma medida que se esvai, que se lhe foge.
Este episódio torna-se ainda mais sutil, que o anterior, pois não se trata de
uma lembrança recorrente, mas da tentativa de captar uma ideia, à qual ele
nem mesmo consegue dar uma face, mas que se sente compelido a buscar.
Sedimentadas no discurso, as regras de comportamento o antecedem, torna-
se, assim, constitutivo vigiar-se e punir.
Finalmente, apontando para a forma como o esquecimento torna-
se fator preponderante na constituição da trama narrativa de Desai, pode-
se estabelecer uma correspondência entre os dois amantes, Gyan e Sai.
Como a grande metáfora da reafirmação e negação de si mesmos, a
pergunta o que há em um nome, ganha em extensão. A ligação dos dois se
pauta em um ritmo paródico da celebração do amor e ódio entre dois
jovens e as retomadas textuais são inúmeras, ao mesmo nível dos
distanciamentos. O conflito se estabelece a partir do ponto que cada um
deve espelhar o outro a despeito das próprias convicções. Ela, uma indiana,
raça considerada inferior à europeia, confronta um nepalês, raça considerada
inferior a sua, que a desafia. A pergunta latente se torna: o que há em uma
nação? Neste impasse imbricam-se rastros e reserva, ela deveria, segundo
Gyan, extirpar de si qualquer rastro de ocidentalização:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 200
Na verdade, é uma boa coisa terem chutado o Padre Booty – disse ele –,
quem precisa de suíços aqui? Há quantos milhares de anos nós produzimos
nosso próprio leite?
– Por que não produzem então? Por que não fazem queijo?
– Nós vivemos na Índia, muito obrigado. Não queremos queijo e a última
coisa de que precisamos é de charutos de chocolate. (DESAI, 2007, p. 330)
O juiz a houvera mandado para um colégio que lhe ensinasse a ler
com uma pronúncia correta (leia-se “britânica”) e a nunca “tirar meleca do
nariz” (cf. “pick her nose”). Ele deprecava o sotaque falso dele, e ambos a
maneiras um do outro. Leia-se:
– A civilização é importante – disse ela.
– Isso não é civilização, idiota. Escolas e hospitais. Isso é que é. Idiota, como
ele tinha a ousadia!
– Mas é preciso estabelecer um padrão. Se não tudo acaba reduzido ao
mesmo baixo nível de você e sua família. (DESAI, 2007, p. 331)
Contudo ele hesitava:
Mas como ter algum tipo de auto-respeito sabendo que você não acredita
exatamente em nada? Como abraçar aquilo que é seu, sem deixar alguma
coisa no lugar? Como se criava uma saída para uma vida cheia de significado
e orgulho? (DESAI, 2007, p. 334)
Gyan, assim como Biju anteriormente, tem uma consciência das
vozes que o precedem e sente-se compelido a enfrentá-las, mas não vê
como, uma vez que estão incrustradas no discurso. São fantasmáticas, partes
do ao mesmo tempo inapreensível e inescapável. Biju, por sua vez, única
personagem que aparentemente consegue um nível mais profundo de
autoconsciência, ele que fora considerado “o jovem mais feliz do mundo”
ao ter conseguido seu visto para os Estados Unidos, ao voltar para casa,
em meio à invasão de sua região pelos nepaleses, vê-se despojado de tudo
que trouxera na sua bagagem: a TV, as etiquetas, os dólares. Até mesmo da
roupa do corpo. Literalmente nu, ele está assim pronto para trocar de pele,
isto é, consigo mesmo. A narrativa fragmentada não se fecha, mas retorna
a si mesma ao depreender os guerrilheiros com as armas que roubaram no
início do romance, e o discurso da opressão, como o dos policiais que
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 201
investigaram seu delito, do qual se apossaram. Igualmente eles saqueiam,
fazem a própria lei.
Cenas esparsas sugerem a retomada de personagens nas sombras;
numa delas Gyan pensa em encontrar a cachorra levada por vingança, uma
vez que os policiais que haviam investigado o roubo do casarão, para
encontrar um culpado que ousaram atentar contra uma “pessoa do
judiciário”, de tanto torturar um inocente, haviam-no cegado. Em outra
cena Sai se pergunta: “E Gyan? Onde está Gyan? Sai não sabia que ele
sentia sua falta” (DESAI, 2006, p. 410).
Desta feita, adiam-se conclusões. Noutra cena, Mutt é mostrada,
inexplicavelmente de volta, recebendo do juiz o carinho que nunca dera à
esposa. Sai, ao perceber o sol na superfície da montanha, ao fazer pano de
fundo para o reencontro do cozinheiro e seu filho, tem sua chance, com a
verdade. Diz o texto: “a verdade está ali”. Tudo que tinha que fazer era
estender o braço e pegá-la com a mão (DESAI, 2007, p. 413).
Tão perto, e tão longe, a receita desmistifica esta outra grande
narrativa. Volátil, há que somente buscá-la. Como no poema de Borges
que abre a narrativa e que diz “meu nome é ninguém”, o texto de Desai
tenta nos alertar sobre como ao se tentar obliterar, reinscrevem-se, de uma
forma ou de outra, memória e subjetividade.
Notas
1
Takes the form of self-conscious, self-contradictory, self-undermining statement
(HUTCHEON, 1990, p. 1).
2
Regarding postmodern fiction it may be said there is not any particular relationship
between all the messages, except that the author has chosen them carefully so that
when seen all at once, they produce an image of life that is beautiful and surprising
and deep. There is no beginning, no middle, no end, no suspense, no moral, no
causes, no effects (PATIL, 2009, p. 22).
REFERÊNCIAS
BONICCI, Thomas. Teoria e crítica literária feminista – Conceitos e tendências.
Maringá: Eduem, 2007.
DESAI, Kiran. O legado da perda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. São Paulo: Martins
Fontes, 2006.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 202
HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro:
Rocco, 1992.
__________. Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura.
Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
HUTCHEON, Linda. “Introduction”. In:________. The Canadian
Postmodern: A Study of Contemporary English-Canadian Fiction. Toronto:
Oxford University Press, 1992.
________. The Politics of Postmodernism. New York: Routledge: 1990.
PATIL, Mallikarjun. Kiran Desai’s The Inheritance of Loss as a Post-Modern
Novel. In: DESAI, Kiran. The Novelist An Anthology of the Critical Essays.
Newfoundland, Canada: Creative Books, 2009.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP,
2010.
________. Memory, History, Forgetting. Chicago: University of Chicago Press,
2004.
SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Trad.
Rosaura EIchenberg. Companhia das Letras, 1990.
WEEDON, Chris. Feminist Practice and Poststructuralist Theory. New York:
Basil Blackwell, 1987.
Gracia Regina GONÇALVES
Doutora em Letras – Estudos Literários pela Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG). Professora Associada da Universidade Federal de Vi-
çosa (UFV).
Artigo recebido em 31 de agosto de 2012.
Aceito em 09 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 203
A RELEITURA DO POEMA “ONE ART” EM
UM PORTO PARA ELIZABETH BISHOP
Sílvia Maria Guerra Anastácio
smganastacio10@gmail.com
Raquel Borges Dias
raquelrachael@yahoo.com.br
Resumo: A proposta deste trabalho Abstract: The purpose of this paper
é apresentar uma releitura do poema is to present a new reading of the
“One Art” (1976) da escritora norte- poem “One Art” (1976) by the
americana Elizabeth Bishop. Serão American writer Elizabeth Bishop.
utilizados, para tanto, amostras de Samples of two creative dossiers
dois dossiês criativos: (1) o de will be analyzed: (1) Elizabeth
Elizabeth Bishop, acerca da criação Bishop’s manuscripts of the poem
do poema “One Art” e (2) o da “One Art”, and (2) Marta Góes’s
autora Marta Góes, que guarda dossier that shows part of the
parte do processo de criação da peça creative process of the play A Haven
Um porto para Elizabeth Bishop (2001). for Elizabeth Bishop (2001). Thus, it will
Assim, será possível estabelecer um be possible to establish a dialogue
diálogo entre esses manuscritos, between both sets of manuscripts
analisando a transposição do poema and to analyze the transposition of
“One Art” para o texto dramático the poem “One Art” to a different
levado ao palco em 2011. Portanto, dramatic text that was staged in 2011.
a proposta deste trabalho é So, the purpose of this work is
inter midiática por lidar com a intermedial, since it deals with media
convergência de mídias sobre o convergence on the poem “One
poema “One Art”, tendo como Art”. The analysis is supported by
suporte a metodologia da Crítica the methodology of Genetic
Genética, bem como teorias sobre Criticism and also current theories
adaptação, inter midialidade e on adaptation, intermediality and
intertextualidade. intertextuality.
Palavras-chave: Intermidialidade. “One Art”. Processo de criação. Bishop.
Góes.
Keywords: Intermediality. “One Art”. Creation Process. Bishop. Góes.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 204
A proposta deste artigo é trabalhar com uma convergência midiática,
que tem como foco o poema “One Art”, publicado em 1976, pela escritora
norte-americana Elizabeth Bishop (1911-1979). O ponto de partida é um
conjunto de manuscritos deixados por Bishop por ocasião da escritura de
seu poema e cujo texto publicado tem sido alvo de representações em
diferentes suportes. A releitura em questão foi feita pela dramaturga Marta
Góes, ao escrever sua peça Um porto para Elizabeth Bishop, publicada e
encenada primeiramente em 2001. Manuscritos de Góes também serão
utilizados para demonstrar parte do processo de releitura do poema, “One
Art”, pela escritora. Desse modo, este trabalho traz reflexões acerca de um
processo de transposição midiática ou de uma tradução, que pode ser
analisada do ponto de vista de teóricos que tratam de recriação.
As perdas na vida de Elizabeth Bishop começaram quando ainda
era muito jovem. Tendo nascido em 8 de fevereiro de 1911, em Worcester,
Massachusetts, seu pai morreu quando tinha apenas seis meses de idade e,
algum tempo depois, a mãe foi enviada a uma clínica para pessoas com
problemas mentais, sendo que Bishop nunca mais a viu. Viveu então com
os avós maternos, em Nova Escócia, Great Village, no Canadá, até 1917,
quando, aos seis anos, foi levada para a casa dos ricos avós paternos, que
moravam em Worcester. Mas como não se sentia à vontade com eles e,
dentre outros problemas, começou a ter sérias crises de asma, acabou sendo
levada para a casa de uma tia, onde ficou até ir para a universidade.
Bishop tinha dezesseis anos quando fez seu pedido de admissão
na Vassar College, em Poughkeepsie, Nova Iorque, 1927, onde se formou
quatro anos depois, na mesma época que a mãe morreu. Apesar de ter
morado em Nova Iorque durante muito tempo, foi em Key West, na Flórida,
que comprou sua primeira casa. A escritora chegou ao Brasil,
posteriormente, em 1951, onde viveu por cerca de quinze anos.
Elizabeth Bishop tinha quarenta anos quando chegou ao Brasil e
conheceu uma jovem de família rica do Rio de Janeiro, Carlota Macedo
Soares, cujo apelido era Lota. Ela tomou conta de Bishop quando esteve
hospitalizada, no Rio de Janeiro, devido a uma forte crise alérgica de que
foi acometida. Começaram então um relacionamento amoroso e Lota a
convenceu a ficar no Brasil para viver com ela no Sítio Samambaia, em
Petrópolis. Lá, viveram juntas por uma década, até Lota decidir que deveriam
se mudar para seu apartamento no Leme, Rio de Janeiro, a fim de trabalhar
com o governador Carlos Lacerda, que era seu amigo. Lota desempenhou
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 205
uma função relevante na construção do Aterro do Flamengo e passou a
estar tão ocupada, que mal tinha tempo para Bishop. Cada vez mais
deprimida e solitária, ela começou a beber novamente, pois era um vício
que a atormentou ao longo de toda a vida.
Quando estava em depressão, viajar lhe trazia alívio e foi assim que
Bishop começou a visitar muitos estados do Brasil, principalmente na década
de sessenta. Encantou-se com Ouro Preto, onde comprou uma casa velha,
que reformou com a intenção de viver ali. Chamou-a de “Casa Mariana”,
não só porque se localiza em um lugar com esse nome, mas também para
prestar homenagem à poeta americana Marianne Moore, sua mentora
intelectual e amiga. Com o dinheiro que recebeu do Prêmio Pulitzer de
Literatura, 1956, Bishop começou a pagar a casa, mas ao perceber que não
seria o suficiente para pagar aquela restauração, aceitou o convite para dar
palestras na Universidade de Seattle, em Washington, a fim de arrecadar
mais fundos para essa empreitada. Por isso, viajou para os Estados Unidos
em dezembro de 1964, só retornando em dezembro de 1965.
Após esse período, Bishop separou-se de Lota e mudou-se para
os Estados Unidos. Ainda nessa década, Lota decidiu visitar Bishop, mas, a
essa altura, estava com sérios problemas de saúde e não deveria ter viajado.
Desobedecendo a seu médico, Lota foi para Nova Iorque. Entretanto, não
foi bem recebida por Bishop como esperava e sentindo-se frustrada,
deprimida, tomou uma overdose de tranquilizantes, morrendo cinco dias
depois no Hospital St. Vincent, em 25 de setembro de 1967.
Com medo da reação da família e dos amigos de Lota, apenas no
final de novembro de 1967, Bishop reuniu forças para voltar ao Brasil,
logo retornando para os Estados Unidos em meados de dezembro do
mesmo ano. Nos anos seguintes, ainda continuou vindo ao Brasil a fim de
resolver assuntos particulares, mas a escritora definitivamente mudou-se
para os Estados Unidos em 1970, aceitando um convite para trabalhar
como professora em Harvard.
Bishop passou os últimos anos com sua companheira Alice
Methfessel em Boston e morreu de aneurisma cerebral em 06 de outubro
de 1979. Methfessel foi secretária de Bishop em Harvard e se tornou sua
herdeira nos Estados Unidos. Entre os documentos mais importantes
deixados pela autora estão seus rascunhos poéticos e sua vasta
correspondência. A maioria desses documentos está em Vassar College e
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 206
parte da correspondência que mantinha com o amigo, o poeta americano
Robert Lowell, encontra-se na Biblioteca de Harvard.
Toda essa trajetória tumultuada da vida de Bishop, que viveu em
vários lugares e registrou suas experiências pessoais, de modo ficcionalizado,
na obra que deixou, despertariam a atenção de outra escritora, a jornalista e
dramaturga Marta Góes. Autora da peça Um porto para Elizabeth Bishop,
Góes vive desde a infância no Brasil, apesar de ter nascido em Michigan,
nos Estados Unidos, em 1953. Ela passou a infância em Petrópolis e morou
perto do Sítio Samambaia, onde Elizabeth Bishop passou os primeiros
anos no Brasil. Como costumava ouvir falar da vizinha Elizabeth Bishop,
acabou se interessando, anos mais tarde, em ler sobre a autora, pesquisar
sobre sua vida e obra, finalmente, decidindo escrever uma peça sobre ela.
Pode-se observar que Marta Góes fez uma pesquisa cuidadosa da
criação poética de Bishop e também da correspondência, atentando para o
modo como as imagens brasileiras ocuparam um espaço relevante nesses
textos. O texto dramático que escreveu é um monólogo, encenado por
Regina Braga, renomada atriz brasileira. Nessa peça, foram retratadas
especialmente as décadas de 50 e 60, período em que Bishop esteve no
Brasil; na encenação, o público teve então o privilégio de ouvir interpretações
de poemas de Bishop, inclusive de “One Art”, foco deste artigo.
O poema foi primeiramente publicado em 28 de dezembro de
1976, tendo sido reeditado em diversos outros livros e coletâneas. Segue
abaixo o poema “One Art”, de Elizabeth Bishop (1994, p. 178):
The art of losing isn’t hard to master;
so many things seem filled with the intent
to be lost that their loss is no disaster.
Lose something every day. Accept the fluster
of lost door keys, the hour badly spent.
The art of losing isn’t hard to master.
Then practice losing farther, losing faster:
places, and names, and where it was you meant
to travel. None of these will bring disaster.
I lost my mother’s watch. And look! my last, or
next-to-last, of three loved houses went.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 207
The art of losing isn’t hard to master.
I lost two cities, lovely ones. And, vaster,
some realms I owned, two rivers, a continent.
I miss them, but it wasn’t a disaster.
— Even losing you (the joking voice, a gesture
I love) I shan’t have lied. It’s evident
the art of losing’s not too hard to master
though it may look like (Write it!) like disaster.1
O processo de escrita do poema abrange, ao todo, dezessete versões
(BISHOP, 1976; 1978), a maioria delas datiloscritos com correções em
caneta, nas margens das páginas, como se pode observar na imagem abaixo:
Figura 1: Manuscrito 16 de Elizabeth Bishop
Fonte: BISHOP, 1978. Caixa 60.2
Considerando as intervenções manuscritas nos rascunhos da autora,
pode-se observar que Bishop era muito preocupada com a datação da
maioria dos seus documentos. Por exemplo, pode-se notar, no lado superior
direito da figura acima, registrada a data de 26 de abril de 1976, o que
auxilia o processo de organização do dossiê genético. Sabe-se que organizar
um acervo de documentos genéticos requer datação, categorização e
transcrição desses documentos selecionados para serem posteriormente
analisados (BIASI, 2000).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 208
Além disso, Bishop também costumava registrar, no canto superior
direito do seu documento de trabalho, a palavra Rascunho (Draft), seguida
do número de ordem correspondente ao documento. No manuscrito acima,
pode-se notar, portanto, o registro de “Draft 16”, o que, além de ser uma
informação preciosa para a datação, auxilia na organização dos documentos
de processo, uma vez que, segundo Biasi (2000), para analisar o dossiê de
gênese de uma obra, é preciso, primeiramente, especificar as peças desse
dossiê, que inicia com a coleta do conjunto de manuscritos da obra estudada.
Essa etapa deve ser feita com o controle de autenticidade dos manuscritos,
identificando-se todos os fólios, no verso e anverso.
O dossiê do poema “One Art” foi assim organizado para
“dialogar” com os rascunhos da peça Um porto para Elizabeth Bishop, também
ordenados, datados, classificados e transcritos, quando necessário,
classificando-se a categoria de cada uma das peças. Esse cotejo para confronto
entre os dois dossiês foi realizado por pesquisadores do grupo de pesquisa
Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras da Universidade Federal
da Bahia, em 2012.
Registrou-se, também, a vasta rede semiótica construída em torno
dos rascunhos de “One Art”, bem como do texto publicado, tendo-se
encontrado adaptações em diferentes formatos e mídias. Considerando o
valor estético do poema e o seu tema universal, o do sofrimento e das
perdas da vida, muitas pessoas devem ter se identificado com ele, o que
tem inspirado numerosos suplementos.
Adaptações de um texto de partida para outras culturas e outros
momentos históricos confirmam a visão de tradução de Walter Benjamin em
The Task of the Translator (A tarefa do tradutor) (2000). Ele sugere que é tarefa do
tradutor trazer para sua própria língua um trabalho de recriação do trabalho
anterior, uma vez que a recriação garante sobrevivência ao texto de partida.
Assim, os manuscritos de “One Art” são trazidos para este artigo
como suporte ou âncora para uma dessas releituras ou adaptações, a
proposta por Marta Góes em sua peça de teatro Um porto para Elizabeth
Bishop (2001). Essa peça teatral “se constrói como um mosaico de citações
[...]; é a absorção e a transformação de outro texto [...]” (KRISTEVA,
1980, p. 60). O que acontece, de fato, é uma renovação, pois
[...] o texto só ganha vida em contato com outro texto. Somente neste
ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 209
posterior como o anterior [...]. Enfatizamos que esse contato é um contato
dialógico entre textos. [...] Por trás desse contato está um contato de
personalidades [...]. (BAKHTIN, 1986, p. 162)
Segundo Bakhtin (1986), todo texto se renova através de outros
que o antecederam, todo texto é um intertexto, por incorporar, aludir,
eliminar e refutar outros textos. Assim, a adaptação alcançou diferentes
mídias, tais como programas de televisão, musicais, peças teatrais, romances,
dentre outras, pois como afirma a estudiosa Linda Hutcheon (2006, p. 06),
If you think adaptation can be understood by using novels and films
alone, you’re wrong. The Victorians had a habit of adapting just about
everything – and in just about every possible direction; the stories of poems,
novels, plays, operas, paintings, songs, dances, and tableaux vivants were
constantly being adapted from one medium to another and then back
again. We postmoderns have clearly inherited this same habit, but we have
even more new materials at our disposal – not only film, television, radio,
and the various electronic media, of course, but also theme parks, historical
enactments, and virtual reality experiments. The result? Adaptation has run
amok. That’s why we can’t understand its appeal and even its nature if we
only consider novels and films.2
Ainda sobre adaptação, Gerard Genette (2006) a classifica como
uma forma de transtextualidade, processo através do qual um texto pode
estabelecer um relacionamento, óbvio ou oculto, com outro(s) texto(s). É
nessa rede semiótica de releituras, diálogos, adaptações, renovações, que
surge a adaptação que aqui está em consideração: a peça Um porto para
Elizabeth Bishop, de Marta Góes.
A peça foi encenada, pela primeira vez, em 2001, em São Paulo e
em outras capitais do Brasil. Anos depois, voltou à cena em 2004, no Festival
de Inverno de Parati, e, finalmente, em 2011, em São Paulo, para marcar o
centenário do nascimento de Bishop. A peça também foi encenada em
Nova Iorque, em 2006, como A safe harbor for Elizabeth Bishop.
A apresentação da peça em 2011 traz uma interpretação de dois
minutos do poema “One Art” por Regina Braga, a partir do texto traduzido
para o português por Paulo Henriques Britto. Palavras, gestos, canções,
vozes e recursos sonoros diversos, bem como efeitos de iluminação, de
maquiagem, figurino, enfim, todos esses signos foram orquestrados no
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 210
momento da interpretação do poema “One Art” no palco. O palco está na
penumbra, e o som de uma música triste, ao fundo, começa a ser tocada. A
atriz Regina Braga utiliza palavras carregadas de emoção, acompanhadas
de uma expressão facial tensa, um estilo de cabelo desarranjado, maquiagem
e roupas pesadas. Seus gestos vão se tornando quase frenéticos, cheios de
tensão, no clímax da interpretação de “One Art”, quando a protagonista se
levanta para expressar a perda de uma pessoa especial. A plateia deixa-se
envolver por uma onda de comoção.
Figura 2: Apresentação da peça por Regina Braga em 2011.
Fonte: Texto: GÓES, 2001. Apresentação teatral.
Figura 3: Apresentação da peça por Regina Braga em 2011
Fonte: Texto: GÓES, 2001. Apresentação teatral.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 211
Na peça, o poema é interpretado logo após se escutar o som de
uma ambulância, que teria levado Lota para o Hospital Saint Vincent. Dessa
forma, a pontuação da peça teria, possivelmente, levado o público a
relacionar a perda da pessoa especial no poema com a morte de Lota.
Entretanto, nos rascunhos de “One Art”, poema publicado em 1976,
portanto, nove anos após a morte de Lota, essa pessoa especial a que
Elizabeth Bishop alude não coincide com a descrição física de Lota. Os
manuscritos fazem referência a uma pessoa de olhos azuis, enquanto sabe-
se que Lota tinha olhos escuros. Leia-se no manuscrito abaixo:
Figura 4: Manuscrito 10 de Elizabeth Bishop
Fonte: BISHOP, 1978. Caixa 60.2
A partir da biografia de Elizabeth Bishop, pode-se inferir que a
pessoa com olhos azuis não era Lota, mas Alice Methfessel, com quem
Bishop viveu ao retornar para os Estados Unidos. Assim, o modo como o
poema foi levado ao palco teria apontado, mais provavelmente, para a
morte de Lota, apesar de que, de acordo com os dados biográficos da
autora e com os manuscritos de “One Art”, este não seria o caso. Mas,
segundo o manuscrito autógrafo3 de Marta Góes, em trecho do seu caderno
de anotações que aparece transcrito abaixo, percebe-se que a autora indicara
a sequência ou a pontuação dramática da peça, relacionando a morte de
Lota à leitura do poema:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 212
Figura 5: Manuscrito 46 do caderno de Marta Góes
Fonte 5: GÓES, 2000. (Acervo da autora)
Portanto, como se pode notar, não houve um compromisso em
relatar, com exatidão, fatos relacionados à vida de Bishop. O que prevaleceu
foi o efeito dramático que o poema produziria naquele momento em que
foi trazido para o palco, de forma que tal sequência de eventos, conforme
fora pontuada, deveria assim permanecer por ser dramaticamente eficaz.
Afinal, não cabe julgar essa decisão da autora como certa ou errada, mesmo
porque toda releitura é um trabalho livre de recriação. Um trabalho de arte
vale muito mais como um monumento do que como um documento e,
sendo assim, em todo trabalho de recriação, tudo se torna possível.
Como afirma Patrice Pavis (2008, p. 24-25), “A encenação não
tem que ser fiel ao texto dramático. Essa noção obsessiva do discurso
crítico quanto à fidelidade é inútil [...] o texto dramático é fiel à sua
encenação”. De modo que “[...] a encenação coloca o texto sob tensão
dramática [...] a fim de experimentar o que é que a enunciação cênica provoca
no texto; ela instaura um novo círculo hermenêutico [...] ‘abrindo’ o texto
para muitas interpretações possíveis”. (PAVIS, 2008, p. 27). Esse modo de
ver a encenação dialoga com o conceito atual de adaptação, que pode ser
vista em termos de intertextualidade e transtextualidade, em que os textos
dialogam entre si, transitando pelos mais diversos meios ou modos semióticos.
Assim, partindo-se de uma breve análise do conjunto impresso de
manuscritos do poema “One Art”, de Elizabeth Bishop, percebeu-se no
recorte analisado índices desse processo criativo e trechos ficcionalizados
da vida da autora. Ficcionalizados nos rascunhos da escritora Elizabeth
Bishop, mas também no caderno de notas de Marta Góes. Buscou-se ainda
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 213
demonstrar como uma adaptação daquele poema foi construída pela autora
Marta Góes, que ressignificou “One Art” em sua obra Um porto para Elizabeth
Bishop, peça que propôs novas pontuações e releituras, ao cruzar fronteiras
culturais e também midiáticas.
Notas
1
A arte de perder não é nenhum mistério;/ tantas coisas contêm em si o acidente/ de
perdê-las, que perder não é nada sério.
Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero,/ a chave perdida, a hora gasta
bestamente./ A arte de perder não é nenhum mistério.
Depois perca mais rápido, com mais critério:/ lugares, nomes, a escala subseqüente/
da viagem não feita. Nada disso é sério.
Perdi o relógio de mamãe. Ah! E nem quero/ lembrar a perda de três casas excelentes./
A arte de perder não é nenhum mistério.
Perdi duas cidades lindas. E um império/ que era meu, dois rios, e mais um
continente./ tenho saudade deles. Mas não é nada sério.
— Mesmo perder você (a voz, o riso etéreo/ que eu amo) não muda nada. Pois é
evidente/ que a arte de perder não chega a ser mistério/ por muito que pareça (Escreve!)
muito sério. (BISHOP, 2001, p. 309, tradução de Paulo Heriques Britto).
2
Se você acha que a adaptação pode ser entendida apenas pelo uso de romances e
filmes, você está errado. Os vitorianos tinham o hábito de adaptar quase tudo - e em
quase todas as direções possíveis; as histórias de poemas, romances, peças de teatro,
óperas, pinturas, músicas, danças, e tableaux vivants eram constantemente adaptados
de um meio para outro e depois de volta. Nós, pós-modernos, claramente herdamos
esse mesmo hábito, mas temos materiais ainda mais novos à nossa disposição - não
apenas filme, televisão, rádio, e as diversas mídias eletrônicas, é claro, mas também
parques temáticos, encenações históricas, e as experiências em realidade virtual. O
resultado? A adaptação correu solta. É por isso que não podemos compreender seu
apelo e até mesmo a sua natureza, se considerarmos apenas romances e filmes.
(tradução nossa)
3
Escrito de próprio punho.
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do
método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986.
BENJAMIN, W. The task of the translator. In: VENUTI, Lawrence (Ed.).
The Translation Studies Reader. Trad. Harry Zohn. Londres: Routledge, 2000.
BIASI, P. de. La génétique des textes. Paris: Nathan, 2000.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 214
BISHOP, E. Geography III. Nova Iorque: Farrar, Straus, Giroux, 1976.
BISHOP, E. Uma Arte (Tradução Paulo Henriques Britto). In: BISHOP,
Elizabeth. O iceberg imaginário e outros poemas. São Paulo: Companhia das Letras,
2001. p. 309.
________. Published Poetry. Elizabeth Bishop Collection. Vassar College.
Poughkeepsie. Nova Iorque: 1978. Caixa 60.4.
________. The Complete Poems. Nova Iorque: Farrar, 1994.
GENETTE, G. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Trad. Luciene
Guimarães e Maria Antonia Ramos Coutinho. Cadernos do Departamento
de Letras Vernáculas. Belo Horizonte: Faculdade de Letras/UFMG, 2006.
GÓES, M. Um porto para Elizabeth Bishop. São Paulo: Editora Terceiro Nome,
2001.
________. Um porto para Elizabeth Bishop. 2000. Acervo da autora.
HUTCHEON, L. A Theory of Adaptation. Nova Iorque/ Grã-Bretanha:
Routledge, 2006.
KRISTEVA, J. Desire in language: a semiotic approach to literature and art.
Trad. Thomas Gora, Alice Jardine e Leon S. Roudiez. Nova Iorque:
Columbia University Press, 1980.
PAVIS, P. O teatro no cruzamento de culturas. São Paulo: Perspectiva, 2008.
Sílvia Maria Guerra ANASTÁCIO
Mestrado em Literaturas de Língua Inglesa pela UFRJ; Doutorado em
Comunicação e Semiótica pela PUCRJ; Pós-doutorado em Literatura
Comparada pela UFMG. Professora Titular do Instituto de Letras, UFBA.
Raquel Borges DIAS
Mestranda em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia.
Artigo recebido em 30 de setembro de 2012.
Aceito em 11 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 215
PROCESSO DE CRIAÇÃO DO VÍDEO-POEMA
“BISHOP IN ART”
Sílvia Maria Guerra Anastácio
smganastacio10@gmail.com
Sandra Corrêa
sandracorre@gmail.com
Sirlene Ribeiro Góes
lenegoes@gmail.com
Resumo: Da união da multimo- Abstract: When multimodality and
dalidade e da crítica genética surgem genetic criticism work together they
reflexões sobre criações midiáticas lead to studies on media works.
de obras diversas. A partir deste fato Based on this statement, the present
decidiu-se analisar o processo de article focuses on the process of
criação do vídeo-poema “Bishop creation of the videopoem ”Bishop
in Art”, o qual, produzido em in Art”, which was produced in
agosto de 2012, foi inspirado no August 2012, inspired by the poem
poema “One Art” (1976) de “One Art” (1976) by Elizabeth
Elizabeth Bishop (1911-1978), nos Bishop (1911-1978), by its
manuscritos dessa obra e na manuscripts and by the biography
biografia da autora. Com base na of the author. Based on the genetic
análise genética desse vídeo-poema analysis of the videopoem it was
foi possível identificar uma possible to identify a variety of
variedade de mídias que, fundidas, media which, after merging,
gerou esse novo suplemento do generated this new supplement of
poema “One Art”. the poem “One Art.”
Palavras-chave: “One Art”. Vídeo-poema. Multimodalidade.
Keywords: “One Art”. Vídeopoem. Multimodality.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 216
Para um crítico genético, não há nada mais instigante do que se
deparar com um conjunto de manuscritos que deram origem a uma obra
do seu interesse. Tal paixão justifica-se pelo fato de o pesquisador necessitar
desses documentos, portadores dos traços de uma dinâmica da criação,
para realizar o seu trabalho que é estudar, à luz da crítica genética, a história
do nascimento de uma obra; e então levantar, comprovar e refutar hipóteses
sobre a gênese em análise.
Lidar com manuscritos impressos, no entanto, não é o caso desta
proposta. As pesquisadoras optaram por analisar o processo de criação do
vídeo-poema “Bishop in Art”, criado entre 15 e 17 de agosto de 2012 e
publicado no youtube e no site www.criticagenetica.com.br no último dia de
sua criação. Essa produção se apresenta com 00:01:45 (um minuto e quarenta
e cinco segundos) de duração, deixando, como manuscritos e registros de
processo, arquivos em formato digital.
O vídeo-poema em questão é organizado em um conjunto de
imagens móveis que retratam a transposição de uma forma literária impressa
para um vídeo. Este vídeo pode, assim, ser considerado como um
suplemento do poema “One Art”1, um produto que surgiu para ampliar
ou suplementar o texto que lhe deu origem. Conforme Derrida (1973):
O suplemento vem no lugar de um desfalecimento, de um não-significado
ou de um não-representado, de uma não-presença. Não há nenhum presente
antes dele, por isso, só é precedido por si mesmo, isto é, por um outro
suplemento. O suplemento é sempre o suplemento de um suplemento.
Deseja-se remontar do suplemento à fonte: deve-se reconhecer que há
suplemento na fonte. (p. 371)
Dessa forma, tal suplemento propõe signos que expandem o texto
de partida, adicionando outros modos de interpretação do mesmo, uma
vez que o enriquece com outras mídias, como fotos, manuscritos e vídeos.
Além disso, outros contextos históricos e culturais, distintos da obra de
partida, são articulados ao poema escrito por Bishop, “One Art”, fazendo
com que a obra sobreviva e chegue a outros pólos de recepção, na
contemporaneidade.
Derrida chama a atenção dos leitores, em “Des Tours de Babel”
(2008), para a importância da “sobrevivência” através da tradução. Ao se
referir a Walter Benjamin, ele diz:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 217
[…] He {Benjamin} names the subject of translation, as an indebted
subject, obligated by a duty, already in the position of heir, entered as
survivor in a genealogy, as survivor or agent of survival […] The work
does not simply live longer, it lives more and better. (DERRIDA, 2008, p.
179)2
É essa sobrevivência que pode ser observada na teia de recriações
do poema “One Art”, cujo vídeo-poema que se pretende analisar é apenas
mais uma semente que germinou de um texto para o outro. Esse novo
texto não só promove a renovação da obra de partida, mas a remodela,
com o auxílio dos recursos midiáticos da atualidade.
No que tange a recriação, Bolter e Grusin (RAJEWSKY, 2005)
trazem o conceito de remediação como a possibilidade de remodelar ou
re-criar formas mais antigas de arte por outras mais novas. Os meios digitais
têm se apropriado de formas de representação já existentes para redefini-
las. Fotos digitais, por exemplo, substituíram as fotos antigas, em formato
analógico; programas de computador substituem a pintura manual e
possibilitam a restauração de fotos antigas, bem como facilitam a feitura
de desenhos e tantas outras criações.
Considerando ainda que o vídeo-poema é mais uma forma ou
um modo de representar um signo que o antecedeu, cabe conceituar o
termo multimodalidade, a partir do conceito de Modo. De acordo com Kress
(2010):
Mode is a socially shaped and culturally given semiotic resource for making
meaning. Image, writing, layout, music, gesture, speech, moving image,
soundtrack and 3D objects are examples of modes used in representation
and communication. (p. 79)3
Sendo assim, qualquer representação pode se utilizar de diferentes
formatos midiáticos para transmitir toda uma gama de significados. Quando
se tem uma conjunção de signos, em formatos ou modos distintos, dispostos
em uma configuração que seja capaz de compor um todo coerente, é
possível chamá-lo de texto multimodal (KRESS, 2010a). Entende-se, pois,
que a representação do poema na forma do vídeo-poema “Bishop in Art”
é, portanto, um texto multimodal.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 218
O vídeo-poema foi criado com o auxílio do programa Movie
Maker , como parte de um estudo intitulado A Creative Dossier and the
4
aesthetics of mobility: “One Art” by Elizabeth Bishop, para apresentação
no 6th International Conference on Multimodality, em Londres, University
of London, em julho de 2012. A escolha dessa mídia para ser apresentada
no referido congresso foi justamente pelo fato de o mesmo ser um texto
multimodal ou um trabalho intermidiático.
Como afirma Higgins, intermidiático se refere a trabalhos que
“[…] fall between media […]”5 (HIGGINS, 1966, p. 18), ou seja, aqueles
que combinam mídias diversas para alcançar o seu fim. No caso do vídeo-
poema “Bishop in Art”, há uma integração ou combinação de mídias em
sua construção, já que se decidiu por combinar e até fundir imagens pictóricas,
áudio e texto escrito, que aparecem sincronizados na representação.
As subcategorias de intermedialidade (RAJEWKSY, 2005)
relevantes para esta análise são, sobretudo, a transposição midiática e a
combinação de mídias diferentes. A transposição midiática está relacionada
com a forma como um produto midiático é construído, tal como a
passagem ou a recriação de um poema para um vídeo. A combinação de
mídias se refere ao uso de pelo menos duas formas mediáticas distintas.
Sendo assim, “Bishop in Art” é um texto multimodal porque pode
ser percebido através de vários modos ou formas, como imagem plástica,
texto escrito e áudio, incluindo trilha sonora. Também pode ser visto como
um texto intermidiático, pois há combinação de mídias em sua construção,
uma vez que o espectador pode perceber uma sucessão de manuscritos e
fotos que aparece na tela como uma sequência de objetos em flashes rápidos,
utilizando-se para tal efeito os recursos cinematográficas de fade in e fade out.
Finalmente, o vídeo-poema pode ser classificado como uma transposição
midiática, logo, passagem de um sistema semiótico para outro. (RAJEWKSY,
2005).
Analisando o percurso genético do poema “One Art”, constata-se
que uma série de imagens de perdas permeia os dezessete manuscritos que
compõem o seu dossiê de criação, como se pode constatar no rascunho
transcrito abaixo:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 219
Figura 1 – Receita de perdas: manuscrito 17 e transcrição6 .
Fonte: BISHOP, 1976: s.p., Box 60.2.
Embora fosse uma época da vida de Bishop em que a sua produção
poética era limitada, a luta contra as perdas da vida, que já eram muitas,
tinha que ser registrada. Brett Millier, biógrafa oficial da autora
afirma a partir da correspondência de Bishop que a autora no outono de
1975 já praticamente não escrevia mais nada, mas que em uma única peça ela
escreveu: a história da sua luta de forma mais clara e menos evasiva do que
nenhuma antes escrita. (MILLIER 1993, p. 506)
Tantas perdas nortearam a criação do vídeo-poema em questão.
A voz lírica propõe um “balanço”, uma síntese de perdas da vida de Bishop,
ficcionalizadas no poema. Uma verdadeira geografia dessas perdas é exibida
e aproveitada no vídeo a partir de fotos de objetos, casas, rios e cidades
que foram deixados para trás. Todos esses itens vão tomando conta da tela,
em flashes, compondo uma ciranda de perdas. Assim, escrito na década de
setenta, ainda hoje o poema é atualizado, virtualizado e eternizado, em outros
sistemas semióticos, no espaço líquido da internet, seja através do vídeo-
poema comentado ou de tantos suplementos que vão sendo acrescentados
ao poema.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 220
Figura 2 – Frames do vídeo-poema “Bishop in Art”.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=quR4UEt0vJg.
É possível observar que a melodia e a musicalidade de “One Art”
combinadas com as linhas do poema exibidas na tela fazem com que o
espectador ouça e veja, concomitantemente, palavras que vão se repetindo
ao final das estrofes, seguindo o ritmo de um villanelle e obedecendo a um
determinado padrão. Definido por Anastácio (1999, p. 206), villanelle é um
“poema curto de forma fixa, escrito em terceto, e terminando com uma
estrofe de quatro versos”.
No vídeo, o padrão rítmico imposto pelo villanelle também marca
toda a sequência de imagens exibida na tela e a sua musicalidade é ouvida,
à medida que as linhas do poema são recitadas. Também a escolha da cor
do plano de fundo do vídeo não foi aleatória, mas optou-se pela utilização
do negro pelo fato de a escuridão remeter ao vazio, à ausência de algo. Na
cultura ocidental, o luto se faz representar por essa cor que remete ao tom
nostálgico do poema.
A escolha das imagens, por sua vez, foi baseada em um cruzamento
de informações, provenientes da biografia de Bishop e da sua obra poética
tomada como um todo. Como exemplo, podemos citar a escolha das
imagens dos rios que são apresentadas no vídeo-poema. O primeiro rio a
ser destacado é o Rio Amazonas, que fascinou a autora e reaparece no
poema “Santarém” (1978). O acidente geográfico é assim representado no
vídeo pelo braço do rio que passa pela cidade de Belém e traz à lembrança
memórias das viagens feitas por Bishop pelo norte do Brasil, às quais o eu
lírico vai aludir. Porém, são as viagens ao passado, de sua infância, que
podem fazer emergir outro rio, o Rio Great Village, que passa pela cidade
do mesmo nome onde morou com seus avós maternos no Canadá e que
também aparece no vídeo.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 221
Figura 3 – Imagens dos rios Great Village e Amazonas.
Fonte: CORRÊA, S.; GÓES, S. Vídeo-poema “Bishop in Art”, 2012.
Na quarta estrofe do poema “One Art”, a voz lírica indica three
loved houses7 e essas três casas tão amadas aparecem em destaque na
biografia escrita por Millier. A casa em Key West, na Flórida, foi sua primeira
casa, onde viveu num clima tropical, semelhante ao que encontraria no
Brasil mais tarde, na década de setenta.
Figura 4 – Casa em Key West.
Fonte: http://media-cache-lt0.pinterest.com/upload/2058286
45439740718_XqzxETj0_b.jpg.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 222
Na segunda casa, Bishop viveu com a companheira Lota Macedo
por aproximadamente 15 anos; era a casa de Petrópolis, que pertencia a
Lota, mas onde Bishop sentiu como se tivesse ganho um lar. O Sítio
Samambaia ficava no topo da montanha, onde as nuvens baixas pareciam
querer entrar pelos quartos. Naquela casa, construída pelo arquiteto Sérgio
Bernardes, Bishop teve o seu primeiro estúdio, que ficava no meio da mata,
perto da casa principal, onde gostava de trabalhar.
Figura 5 – Casa no sítio Samambaia.
Fonte: http://escamandro.files.wordpress.com/2012/04/casa-de-lota-e-
bishop.jpg.
A atração por montanhas também levou Bishop a Minas Gerais,
onde se encantou, especialmente, com as construções coloniais e com as
estátuas barrocas que viu na cidade histórica de Ouro Preto. Enfim, tudo
isso a seduziu de tal maneira, que resolveu comprar uma casa velha,
praticamente em ruínas, em Mariana. Sua terceira casa amada ficou então
conhecida como Casa Mariana.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 223
Figura 6 – Casa Mariana.
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_tuFsRUsDyQ8/TQ5QLnjK5UI/
AAAAAAAADSg/hy4AmTUF77I/ s1600/elizabeth%2Bbishop.jpg
É na quinta estrofe do poema que mais uma perda é apontada e
onde a voz lírica destaca que tem saudade de certo continente. Como não
se tem notícias de que a autora tivesse viajado para a Oceania, África ou
Ásia, restam os continentes americano e europeu, que poderiam estar
associados com lembranças do passado de Bishop. Seguindo a trajetória
de vida da autora, acredita-se que Bishop não lamentaria, através da voz
poética de “One Art”, a perda do continente americano pelo fato de que,
mesmo mudando-se do Brasil para os Estados Unidos, continuaria ainda
residindo naquele continente. Mas consta ainda de seus dados biográficos
que Bishop teve, na juventude, a oportunidade não só de viajar, mas também
de morar por dois anos na Europa; pode-se concluir, quem sabe, que seria
aquele o continente perdido.
Ainda entre as imagens escolhidas para compor o vídeo-poema,
sobressaem flores de cor arroxeada. São flores de alfazema, capazes de
reportar o conhecedor da obra de Bishop aos campos canadenses, descritos
no seu poema “The Moose” (1972). É interessante observar que enquanto
na cultura brasileira, o perfume Alfazema é que passou a ser muito
conhecido, na poesia de Bishop é a exuberância dessa cor arroxeada que
passa a ser celebrada. Seguem, linhas de “The Moose”:
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 224
where, silted red,
sometimes the sun sets
facing a red sea,
and others, veins the flats’
lavender, rich mud
in burning rivulets;8
(BISHOP, 1983)
Toda uma gama de imagens e sons os mais diversos foram portanto
suscitados a partir da obra poética de Bishop e tecidos para compor o
vídeo-poema “Bishop in Art”. Nessa trama, diversos modos de percepção
e de mídias foram combinados, através de uma abordagem genética que
privilegiou o processo de criação dos textos analisadas, ou seja, do poema
“One Art” e do vídeo-poema em discussão, que o suplementou. Pode-se
concluir que combinar estudos genéticos com análises de textos multimodais
e intermidiáticos é um rico campo de pesquisa que possibilita inúmeras
vertentes de análise, devido à variedade de mídias existentes e às
especificidades de seus respectivos processos de criação. Percebe-se também
que, em maior ou menor grau, todas as mídias são multimodais e que o
espaço líquido da internet pode ser visto como o habitat ideal para esses
trabalhos transitarem e para lhes dar mais acessibilidade. É o caso do vídeo
“Bishop in Art” que, além de estar disponibilizado no youtube, também
pode ser assistido, na íntegra, no site criado para a divulgação dos trabalhos
do Grupo de Pesquisa em Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras
da UFBA9.
Notas
1
Poema publicado pela escritora norte-americana Elizabeth Bishop em 1976.
2
Ele [Benjamin] cita o tema da tradução, como um sujeito endividado, obrigado por
um dever, já na posição de herdeiro, entrou como sobrevivente em uma
genealogia, como sobrevivente ou agente de sobrevivência [...] O trabalho não se
limita a viver mais tempo, vive mais e melhor (DERRIDA, 2008, p. 179; tradução
nossa).
3
Modo é um recurso semiótico moldado pela sociedade e culturalmen-
te determinado para dar sentido. Imagem, escrita, layout, música, gesto, fala, imagem
em movimento, trilha sonora e objetos em 3D são exemplos de modos usados
na representação e comunicação (KRESS, 2010, p. 79; tradução nossa).
4
Software da Microsoft para captura, edição e execução de áudio e vídeo para criar
filmes. Acrônimo: WMM. (Glossário do Windows XP).
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 225
5
Ficam entre mídias (tradução nossa).
6
A arte de perder
A arte de perder não é nenhum mistério;
Tantas coisas contêm em si o acidente
De perdê-las, que perder não é nada sério.
Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero,
A chave perdida, a hora gasta bestamente.
A arte de perder não é nenhum mistério. (Tradução de Paulo Henriques Britto, 2008)
7
Três casas amadas (tradução nossa).
8
Site do grupo de pesquisa em Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras da
UFBA: <www.criticagenetica.com.br>.
REFERÊNCIAS
ANASTÁCIO, S. O jogo das imagens no universo de criação de Elizabeth Bishop.
São Paulo: Annablume, 1999. 260p.
ANASTACIO. S, CORRÊA. S, GÓES. S. “ONE ART” POR ELIZABETH
BISHOP: PROPOSTA DE UMA EDIÇÃO GENÉTICO-DIGITAL
CONVERGENTE. Disponível em <www.criticagenetica.com.br>. Acesso
em: 04 out. 2012.
BISHOP, E. The Moose. In: The Complete Poems 1927-1979. Nova York:
Farrar, Straus & Giroux, 1983. Disponível em: <http://www.poets.org/
viewmedia.php/prmMID/15213> Acesso em: 02 out. 2012.
_________. “One Art”. In: Published poetry. Elizabeth Bishop Collection,Vassar
College, Poughkeepsie, N.York,1976, Box 60.2.
BISHOP in Art. Produção de Sandra Correa e Sirlene Góes. Coordenação
de Sílvia Anastácio. Salvador: PRO.SOM Studio, 2012. Vídeo. Disponível
em: <http://www.youtube.com/watch?v=quR4UEt0vJg> e <http://
criticagenetica.com.br/?page_id=135>
BOLTER, J. D.; GRUSIN, R. Remediation. Understanding New Media.
Cambridge, MA; London: MIT Press, 2000.
DERRIDA, J. Des Tours de Babel. In: GRAHAM, J. (Ed). Difference in
Translation. London: Cornell University Press, 1985. p. 165 - 174.
________. Gramatologia. Trad. Miriam Schnaiderman e Renato Janini
Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 1973.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 226
GIROUX, R. (Org.). Elizabeth Bishop’s Letter. ”One Art”. New York:
Giroux, 1994. p. 602.
GLOSSÁRIO DO WINDOWS XP. Windows Movie Maker. Disponível
em: <http://www.microsoft.com/brasil/windowsxp/experiences/
glossary.mspx#m> Acesso em: 05 out. 2012.
HIGGINS, D. Horizons: The Poetics and Theory of the Intermedia.
Edvardsville: Southern Illinois University Press, 1984.KRESS, G. Literacy in
the New Media Age. New York: Routledge, 2010.
________. Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary
Communication. New York: Routledge, 2010a.
MILLIER, B. Elizabeth Bishop. Life and the memory of it. Berkeley: University
of California, 1993.
RAJEWSKY, I. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary
Perspective on Intermediality. DESPOIX, P.; SPIELMANN, Y. (Orgs.).
In : Intermédialités/Intermedialities. Remédier. Québec: Centre de recherché sur
l’intermedialité, 2005, p. 43-64.
Sílvia Maria Guerra ANASTÁCIO
Mestrado em Literaturas de Língua Inglesa pela UFRJ; Doutorado em
Comunicação e Semiótica pela PUCRJ; Pós-doutorado em Literatura
Comparada pela UFMG. Professora Titular do Instituto de Letras, UFBA.
Sandra CORRÊA
Mestre em Literatura e Cultura pela UFBA.
Sirlene GÓES
Mestranda em Literatura e Cultura pela UFBA.
Artigo recebido em 30 de setembro de 2012.
Aceito em 11 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 227
“ONE ART” DE ELIZABETH BISHOP GANHA
VERSÃO EM QUADRINHOS
Sílvia Maria Guerra Anastácio
smganastacio10@gmail.com
Chantal Herskovic
chantalh.geo@gmail.com
Resumo: A proposta de refletir Abstract: The idea to reflect on how
sobre a maneira como mídias different media can express the same
diferentes podem dar conta de um theme has been a frequent concern
mesmo tema tem sido uma of studies on multimodality. In order
preocupação frequente nos estudos to enrich such studies, the idea of
de multimodalidade. Visando enri- this article is to analyze the process
quecê-los, decidiu-se analisar o of creation of the comics “The Art
processo de criação da história em of Losing isn´t Hard to Master”,
quadrinhos The Art of Losing isn´t clearly inspired by the poem “One
Hard to Master, “A arte de perder não Art” by Elizabeth Bishop, and
é difícil de administrar”, claramente whose refrain gives the title to the
inspirado no poema de Elizabeth referred comics by Chantal
Bishop “One Art” e cujo refrão Herskovic.
serve de título a uma história em
quadrinhos de Chantal Herskovic.
Palavras-chave: Bishop. “One Art”. Quadrinhos.
Key-words: Bishop. “One Art”. Comics.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 228
E assim começa uma nova releitura de “One Art”…
A história em quadrinhos The Art of Losing Isn’t Hard to Master [“A
arte de perder não é difícil de administrar”] remete imediatamente ao poema
de Bishop, “One Art” (1976), publicado quando a autora norte-americana
já voltara a morar em Boston, após passar cerca de quinze anos no Brasil.
Essa história em quadrinhos é uma recriação do poema produzido em
julho de 2012 pela escritora e ilustradora de suas histórias, Chantal Herskovic.
Com especialização em Comunicação, Herskovic tem se dedicado
ao estudo das novas tecnologias e sua relação com a hipermídia. É mestre
em Artes Visuais, tendo publicado livros e revistas para o público infanto-
juvenil, além de publicar uma série de tiras em quadrinhos no jornal Estado de
Minas.
A história em quadrinhos a ser comentada, produzida por
Herskovic, é a transposição de um poema para outro modo de
representação, portanto, uma subcategoria da intermidialidade ou dos estudos
intermidiáticos sugerida por Rajewsky (RAJEWSKY, 2005). “One Art”,
na verdade, tem servido de hipotexto ou texto fonte a uma considerável
gama de hipertextos, (GENETTE, 1990) nas mais diversas mídias. Dentre
elas, deseja-se analisar, neste artigo, os quadrinhos mencionados.
A nova representação do poema para a cultura de massa pode ser
considerada mais indexical do que icônica (SANTAELLA, 1995), pois trata-
se de uma releitura de “One Art” em que se encontram vários índices do
texto fonte; mas, como releitura, o novo signo toma certa distância daquele
que lhe deu origem, o poema “One Art”. Logo, essa releitura é menos
icônica ou menos parecida com o texto que lhe deu origem, na medida em
que novos personagens, novos conflitos, novos contextos, novos enredos
são propostos e inseridos nesse novo hipertexto do século XXI, distanciando-
se, em muitos aspectos, da criação de Bishop.
Nessa recriação mais livre, a autora dos quadrinhos aborda o tema
das perdas sob uma perspectiva diferente. Ao invés de o eu lírico do poema
buscar administrar essas perdas, a história em quadrinhos, narrada em
primeira pessoa, traz percepções singulares, filtradas pelos olhos de um
jovem que reflete sobre a autora Elizabeth Bishop e sua receita de perdas.
Logo de início, o protagonista questiona o refrão de “One Art” (The art of
losing isn´t hard to master…)1, mas acrescenta uma curta oração adversativa,
que entra quase em tom de lamento e contradiz o texto fonte: “[…] mas é
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 229
tão difícil…” (but that´s so hard…). Afinal, ele admite que administrar perdas
é difícil, sim.
Na abertura da história em quadrinhos, sabe-se que o protagonista
é brasileiro, avós estrangeiros e, ao que parece, um verdadeiro nômade,
sempre mudando de um lugar a outro e muda tanto que já não sabe mais
de onde é ([…] sometimes, I´m not sure where I am from)2. Interessado por
estudar Bishop, sua vida, seus poemas, põe-se a refletir também sobre a
arte da perda, mas à sua própria maneira.
No primeiro painel, o leitor depara-se com um envelope de carta
em close up e nele há um datiloscrito: Miss E. Bishop. Esse envelope pode
ser visto como símbolo de deslocamentos que, por sua vez, sugere a questão
do nomadismo da própria vida da autora Elizabeth Bishop; é esse
nomadismo que dá o tom ao poema “One Art”, com forte influência
autobiográfica, e também marca os quadrinhos. Leia-se:
Figura 1: Painel 1 dos quadrinhos The Art of Losing Isn’t Hard to Master.3
Fonte: HERSKOVIC, 2012. Quadrinhos The Art of Losing Isn´t Hard to
Master, 2012.
Assim, ao reconhecer a dificuldade de administrar perdas, o jovem
da história em quadrinhos dá uma receita diferente daquela que se lê em
“One Art” de Bishop. Esse protagonista acredita que o que deve fazer é
desapegar-se das coisas e das pessoas; tal prática deve ser exercitada, ao
longo da vida. Logo, a ideia do jovem não é aprender a administrar perdas,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 230
mas preveni-las. As palavras apego e desapego (attachment […] detachment)
perpassam os paineis da história e a receita é aceitar as mudanças da vida, é
não se apegar a nada, nem a ninguém para não sofrer. Afinal, tudo é efêmero.
Portanto, a temática que sustenta o fio argumentativo dessa releitura
é a a transitoriedade dos elementos. Tudo está em movimento: o mar, a
areia sendo levada pela água do mar e, ironicamente, até as raízes das árvores
desenhadas na areia são desenhadas e modificadas, constantemente, pelas ondas.
A disposição da história em quadrinhos, separada em requadros, também passa
essa ideia, essa sensação de movimento, que é tão característica do cinema:
A aproximação entre cinema e os quadrinhos é inevitável pois os dois
surgiram da preocupação de representar e dar a sensação de movimento. Os
quadrinhos, como o próprio nome indica, são um conjunto e uma sequência.
O que faz do bloco de imagens uma série é o fato de que quadro ganha
sentido depois de visto o anterior; a ação contínua estabelece a ligação dentre
as diferentes figuras. Existem cortes de tempo e espaço, mas estão ligadas a
uma rede de ações […]. (MOYA, 1977, p. 110)
Na disposição do painel abaixo, com três enquadramentos (ECO,
2001) ou requadros, há cortes espaço-temporais que dão movimento ao
texto. Assim, a temática do movimento se harmoniza com a forma como
a história é narrada, conforme se pode perceber no painel abaixo:
Figura 2: Painel 2 dos quadrinhos The Art of Losing Isn’t Hard to Master44
Fonte: HERSKOVIC, 2012. Quadrinhos The Art of Losing Isn´t Hard to
Master, 2012.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 231
Imagens do protagonista da história andando na areia da praia
aparecem, então, lado a lado, a uma foto do poeta norte-americano Robert
Lowell caminhando com Elizabeth Bishop em Copacabana. O leitor depara-
se com um exemplo claro de intermidialidade em que fotografia e desenho
combinam; o efeito é quase surrealista quando se tem a impressão de que
raízes de árvores misturam-se às pernas de Lowell e às de Bishop, que
aparecem na fotografia.
Mais uma vez, enfatiza-se a ideia de movimento, de transição e
impermanência de tudo e de todos. Do lado esquerdo do painel, há um
close nos pés do rapaz e o efeito é de montagem: datiloscritos do poema
de Bishop estão localizados aos pés do protagonista e trazem outro exemplo
de intermidialidade, em que as fronteiras de linguagens ou sistema semióticos
diversos se articulam.
Segundo Moya, há recursos das histórias em quadrinhos, que
aproximam essa mídia do cinema:
O travelling, […] os cortes, os close ups, a ligação das sequências quase
em fusão ou sobreposição, cortes sonoros e efeitos […], tudo era motivo
de rendimento cinematográfico […].
Esses efeitos de aproximação, com uma tira duma página de comic book,
fazendo travelling até […] close up foi usado […]. (MOYA, 1977, p. 68)
Portanto, o leitor acompanha uma câmera em travelling, que dá
uma panorâmica da caminhada do protagonista andando pela praia ou
pelos diversos lugares em que vai passando. Além das imagens panorâmicas,
há também closes, revelando detalhes e itensificando sentimentos abordados
pelo protagonista como os detalhes de seu rosto em momentos de angústia.
Essa forma de abordar a temática e desenvolver a história visualmente e
textualmente em textos mistos e intermídias é própria da arte sequencial
dos quadrinhos e também das narrativas visuais.
O painel acima é o segundo de uma série de sete. Junto com
desenhos mostrando o protagonista sozinho, às vezes à beira mar. Há
também colagens de fotos de Bishop perto de sua imensa casa em Ouro
Preto; ou sentada em uma cadeira de balanço, com o gato, na casa de
Petrópolis; ou andando em Copacabana. Além das colagens, foram
retirados frames de um documentário que mostra fotos e passaportes antigos
de Bishop, esses foram recortados, tratados e montados em uma sequencia,
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 232
como um recurso visual e narrativo para enfatizar o fato de que viajou e
visitou muitos lugares em diferentes momentos de sua vida.
A impressão que se tem é a de imagens plásticas diversas, numa
colagem em que diferentes modalidades de representação se sucedem, quase
que como em um caleidoscópio, trazendo cenas relacionadas com a vida de
Bishop:
Figura 3: Painel 5 dos quadrinhos The Art of Losing Isn’t Hard to Master55.
HERSKOVIC, 2012. Quadrinhos The Art of Losing Isn´t Hard to Master,
2012.
Fuig 4: Painel 5 dos quadrinhos The Art of Losing Isn’t Hard to Master6.
Fonte: HERSKOVIC, 2012. Quadrinhos The Art of Losing Isn´t Hard to Master,
2012.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 233
Como se pode perceber, as estruturas narrativas desse gênero da
cultura de massa transmitem escolhas ideológicas, que traduzem a visão de
mundo da autora dos quadrinhos, as quais vão se revelando, ao longo da
construção textual. Pode-se elucidar quase que “uma declaração ideológica
concernente ao universo dos valores” (ECO, 2001, p. 149) de Herskovic,
ao optar pelos requadros que vai montando nos seus painéis. Neles, a
passagem do tempo vai sendo enfatizada, bem como a necessidade de
aceitá-la, embora não se possa negar que há todo um conflito de identidade
do sujeito protagonista, o qual luta contra a inexorabilidade da
impermanência de tudo o que existe. Elementos tipográficos do texto,
especialmente como o que se pode observar a seguir, são capazes de traduzir
esse conflito:
Figura 5: Painel 7 dos quadrinhos The Art of Losing isn’t Hard to Master7.
Fonte: HERSKOVIC, 2012. Quadrinhos The Art of Losing Isn´t Hard to
Master, 2012.
O uso de letras em caixa alta, como se pode notar acima, certamente
é intencional: To be mySELF …And lose MYself…(“Ser eu MESMO… E
ME perder…”).
Essa mudança tipográfica tende a atiçar a percepção do leitor e
aponta para a enfatização da perda do ego do protagonista, confuso para
entender o que se passa dentro dele. Como se pode observar, o estilo de
letra utilizado nessa história em quadrinhos é caligráfico, provavelmente
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 234
aludindo aos manuscritos de Bishop. Nesse painel, há uma disjunção de
tempos e lugares, pois, enquanto à esquerda, é Bishop que aparece em
posição frontal, confortavelmente sentada em sua cadeira, à direita, o
protagonista, de costas para o leitor, olha para a imensidão do mar em
movimento. Como ele próprio, que não tem raízes, sempre mudando de
um lugar a outro, tal como ocorrera com Bishop.
Não apenas os signos plásticos foram cuidadosamente trabalhados
neste painel, mas ainda a tipografia sugere signos sonoros, que expressam
onomatopeia: aos pés de Bishop, no mesmo painel, lê-se VSHHHHHHH,
mimetizando o som das ondas do mar. De algum modo, é como se o
jovem e a poetisa Elizabeth Bishop estivessem conectados por aquele
mesmo som, e, cada um em seu tempo e a seu modo, tentando enfrentar
os conflitos pessoais que os afligiam.
Como se pode constatar, a modalidade sensorial táctil domina a
construção dos paineis, observando-se os efeitos de transparência dos paineis
e as diferentes texturas dos requadros, sobretudo os desenhos, quase em
relevo, das raízes na areia; ou na justaposição de elementos diversos para
dar um efeito de colagem de inúmeras fotos, fragmentos de manuscritos,
desenhos justapostos em diferentes camadas; ou mesmo na transparência
dos balões que revelam os fluxos de consciência do protagonista em suas
constantes reflexões sobre a vida de Bishop e sobre a própria vida.
Pode-se perceber que a linguagem desses quadrinhos é livre e
inovadora também pelos contornos dos balões tradicionais, substituídos
por transparências, que dão um efeito de leveza aos desenhos. Essa estética
é, portanto, uma proposta alternativa e mais contemporânea para os
quadrinhos tradicionais da época de Walt Disney, dos anos quarenta.
Produzida em um tablet Wacom (mesa digitalizadora), essa história
foi idealizada com a ajuda de programas gráficos de pintura, utilizados
para a edição de figuras e construção da história de forma digital. Assim,
na feitura dos painéis, por exemplo, recorreu-se à “remediação” quando,
na Figura 3, uma fotografia da casa de Elizabeth Bishop em Mariana foi
redesenhada, com a ajuda de um programa de criação e edição de imagens.
O termo, cunhado por Bolter e Grusin (2000), designa um tipo de relações
intermidiáticas que recorre a processos de remodelação. Não só a
remediação se presta para homenagear as mídias que as precederam, como
as mídias antigas são revitalizadas; no caso da foto da Casa Mariana, em
que foi feita uma pintura sobre a fotografia tradicional.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 235
O que se pode perceber é que, na atualidade, as mídias digitais e a
cibercultura estão cada vez mais presentes, principalmente no caso das
chamadas culturas de convergência, e as fronteiras entre as artes estão sempre
se deslocando ou se reajustando. O hibridismo passa, então, a revelar essa
convergência midiática na questão da produção de conteúdo, para abordar
um mesmo tema em formato mixed-media e intermídia, em uma proposta
multimodal, em que diversos modos de representação são orquestrados
em um mesmo suporte.
A análise de questões multimodais e intermidiáticas, a partir de um
mesmo tema, o poema “One Art” de Elizabeth Bishop, provou ser um
estudo instigante e complexo, em que as novas tecnologias digitais ocupam
um lugar de destaque. No caso da transposição midiática de um poema
para uma história em quadrinhos, percebeu-se como a linguagem dessa
forma de comunicação da cultura de massa é capaz de dar acessibilidade a
um texto literário relevante, socializando-o e, assim, ampliando sua recepção,
mesmo em uma releitura, que faz uma ligação com o texto fonte.
Elementos essenciais à semântica dos quadrinhos, como balões
utilizados para expressar os pensamentos do protagonista, como signos
gráficos usados com função sonora para sugerir recursos onomatopaicos,
ou ainda signos cinemáticos, como corte, colagem, montagem, close up,
travelling, dentre outros, foram ativados na construção dos quadrinhos
estudados. Assim, ao se fazer essa análise, ficou cada vez mais clara a tendência
para esse cruzamento de recursos da mídia em um mesmo texto.
Notas
1
A arte de perder não é difícil de dominar. (Tradução nossa)
2
Algumas vezes, não tenho certeza de onde sou... (Tradução nossa)
3
Tradução: Balão 01 – Oi, meu nome é Jake, na verdade é Jacob... Meus pais são do
Brasil, mas meus avós da Suíça e meus outros avós da França... Algumas vezes, não
tenho certeza de onde sou.
Balão 02 – Tenho estudado Bishop e seus poemas.. sua vida, nos últimos dois
meses... e lido sobre transformações, sobre mudanças, ir de um lugar a o outro... e
sobre perdas.... (Tradução nossa)
4
Tradução: Balão 01 – Odeio que as coisas não sejam como deveriam ser. Pelo
menos, para mim não são. Odeio mudanças e muito triste porque agora estou aqui e
em breve já não estarei mais.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 236
Balão 02 – Perderei meus amigos, meu quarto, minhas coisas, meu idioma.
Balão 03 – Por que preciso aprender a enfrentar as perdas da vida? Não podemos ser
apegados às coisas, ideias, aos lugares e aos sentimentos. Tudo é impermanente. Essa
é a verdade e por isso sofremos. Eu entendo disso! Mas o meu coração não entende!
Balão 04 – Quero ser escritor. Uma vez, escrevi um livro. Mas não mostrei a ninguém.
Era sobre um garotinho, que veio do Paraíso. Vinte páginas em Word e o guardei com
uma senha no meu notebook. Também se perdeu, foi deletado. Lixeira - tem certeza
que deseja deletar esse arquivo?
Balão 05 – Tudo pode desaparecer num minuto.
Balão 06 – Como as árvores desenhadas na areia, levadas pela água… (Tradução
nossa)
5
Tradução: Balão 01 – Bishop escreveu “ Perca um pouquinho a cada dia. Aceite,
austero...” (Tradução Paulo Henriques Britto)
Balão 02 – Estamos indo para Petrópolis...
Balão 03 – Se eu pudesse ser como o mar e a areia... Sempre mudando e sem apego a
coisa alguma.
Balão 04 – Eu saberia dominar a arte de perder se pudesse ser assim... como o mar, a
areia...
Balão 05 – Talvez ela nunca tivesse que se preocupar mesmo com as perdas porque já
devia saber como lidar com elas, desde o início. Uma viajante. Sempre mudando...
Balão 06 – Bishop nasceu nos EUA, perdeu os pais quando era ainda muito jovem,
foi morar com os avós na Nova Escócia e depois em Boston. Formou-se em Vassar
e saiu pelo mundo, por onde andou durante quase toda a sua vida. Sempre visitando
lugares diferentes, perdendo-os, mudando-se por aí e perdendo casas, continentes,
rios; experimentou o amor, mas perdeu o amor, algumas vezes.
6
Tradução da legenda: Ela visitou tantos lugares por todo o mundo... (Tradução
nossa)
REFERÊNCIAS
BISHOP, E. Uma arte. Trad.Paulo Henriques Britto. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995. (“One Art”).
_________. The Complete Poems. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1994.
BOLTER, J. D.; GRUSIN, R. Remediation. Understanding New Media.
Cambridge, MA. London: MIT Press, 2000.
ECO, H. Apocalípticos e integrados. Trad. Pérola de Carvalho; rev. Geraldo
Gerson de Souza. São Paulo: Perspectiva, 2001.
GENETTE, G. Palimpsestos. Madrid: Taurus, 1999.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 237
HERSKOVIC, C. BETH on the Road. Belo Horizonte: 2012. Comics.
Disponível em: <http://criticagenetica.com.br/?page_id=615> Acesso em:
28 set. 2012.
MOYA, A. Shazam! São Paulo: Perspectiva, 1977.
RAJEWSKY, I. “A fronteira em discussão: o status problemático das
fronteiras midiáticas no debate contemporâneo sobre intermidialidade”.
In DINIZ, T.; VIEIRA, A. Intermidialidade e estudos interartes: Desafios da
arte contemporânea. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2012,
v. 2.
SANTAELLA, L. A teoria geral dos signos. Semiose e augeração. São Paulo:
Ática, 1995.
Sílvia Maria Guerra ANASTÁCIO
Mestrado em Literaturas de Língua Inglesa pela UFRJ; Doutorado em
Comunicação e Semiótica pela PUCRJ; Pós-doutorado em Literatura
Comparada pela UFMG. Professora Titular do Instituto de Letras,
UFBA.
Chantal HERSKOVIC
Mestre em Artes Visuais pela UFMG. Professora do Instituto de
Comunicação e Design - Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-
BH.
Artigo recebido em 30 de setembro de 2012.
Aceito em 11 de outubro de 2012.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 238
DOSSIÊS TEMÁTICOS DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES
2013, v. 11, n. 1: Representações do sujeito pós-moderno
2013, v. 11, n. 2: Representações de alteridades
2014, v. 12, n. 1: Textualidades memorialísticas
2014, v. 12, n. 2: Releituras contemporâneas do gótico
2015, v. 13, n. 1: Poesia e teatro brasileiros
2015, v. 13, n. 2: Poesia e teatro de expressão inglesa
2016, v. 14, n. 1: Intermidialidade: literatura e cinema
2016, v. 14, n. 2: Intermidialidade: Shakespeare e cinema
Datas de submissão de trabalhos
número 1: 30 de maio
número 2: 30 de setembro
Endereços eletrônicos para envio de trabalhos
brunilda9977@gmail.com
ascamati@gmail.com
Endereço para correspondência
Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE
Cidade Universitária
Mestrado em Teoria Literária
Scripta Uniandrade
Rua João Scuissiato, n. 1, Santa Quitéria
80310-310 Curitiba, PR
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 239
NORMAS DA REVISTA
1 Os trabalhos entregues para apreciação e possível publicação na revista Scripta
Uniandrade do Centro Universitário Campos de Andrade – Uniandrade – deverão
seguir os seguintes parâmetros:
· Ser preferencialmente inéditos, de autores ou co-autores mestres, doutores e
pós-doutores vinculados à uma IES.
· Ser redigidos em português, espanhol, francês ou inglês.
· Ter no mínimo 10 páginas (cerca de 4000 palavras) e no máximo 20 páginas (cerca
de 8000 palavras).
· Incluir dois resumos (de 100 a 120 palavras cada um), antes do início do texto,
um em português e outro em língua estrangeira.
· Incluir, após os resumos, palavras-chave (de três a seis) em português e na língua
estrangeira.
· Ser digitados em folha A4, com espaçamento 1,5, fonte Arial, 11.
· Incluir no corpo do trabalho, entre aspas, citações de até três linhas. Citações com
mais linhas devem ser destacadas do texto, alinhadas pela margem de parágrafo,
digitadas com espaçamento simples, fonte Arial, 10, e não conter aspas.
· Incluir referências às citações no próprio texto, entre parênteses. Exemplo:
(MILLER, 2003, p. 45-47).
· Evitar notas de rodapé e de final de texto. Notas explicativas devem ser incluídas
no final do texto.
· Seguir as normas da ABNT quanto à digitação das referências a serem incluídas
depois da conclusão do texto.
· Para livros, a entrada deverá ter o seguinte formato: GOMES, C. Metodologia
científica. 2. ed. São Paulo: Atlântica, 2002.
· Para artigos publicados em revistas e periódicos, a entrada deverá ter o seguinte
formato: ALMEIDA, R. Notas sobre redação. A palavra, 2. série, Rio de Janeiro,
v. 1, n. 4, p. 101-124, abr. 2003.
· Para citação eletrônica, a entrada deverá ter o seguinte formato: LIMA, G.
Referências de fonte eletrônica. Disponível em: http://www.format.com.br. Acesso
em: 21 set. 2006.
· Ser enviados aos editores, como anexo, via e-mail, sem identificação. A
identificação deve ser enviada em outro anexo e conter o título do trabalho, o
nome do autor e, em forma corrida, a titulação, a instituição da titulação, a
instituição à qual está vinculado, o cargo que ocupa, o e-mail e o número do
telefone.
2 Os autores deverão encaminhar parecer do Comitê de Ética de sua Instituição ou
submeter seu trabalho ao Comitê de Ética da Uniandrade, se o Conselho Editorial
achar necessário.
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 240
3 O Conselho Editorial poderá recusar trabalhos que não atendam às normas
incluídas acima.
4 Depois de aceitos pelo Conselho Editorial, os trabalhos de pesquisa serão
submetidos ao Conselho Consultivo para leitura, análise e parecer.
5 Por via eletrônica, o Conselho Editorial comunicará ao autor a avaliação feita por
membros do Conselho Consultivo.
6 Os artigos aprovados com restrições serão encaminhados para a correção dos
autores. Nestes casos, a Comissão Editorial se reserva o direito de recusar o
artigo, caso as alterações neles introduzidas não atendam às solicitações dos
consultores.
7 O direito de cópia referente aos artigos publicados pertence a Uniandrade.
8 O envio do artigo para publicação implica a aceitação das condições acima citadas.
Voltar para o Sumário
Scripta Uniandrade, v. 10, n. 2, jul.- dez. 2012 241
View publication stats
Você também pode gostar
- Roteiro - O Rei Leão (Completo)Documento83 páginasRoteiro - O Rei Leão (Completo)Henrique Giovanini67% (27)
- Atividades de Ciência1 Rei LeaoDocumento2 páginasAtividades de Ciência1 Rei LeaoÂngela Martins100% (3)
- Análise Acadêmica - Filme Rei LeãoDocumento4 páginasAnálise Acadêmica - Filme Rei LeãoGabriel Dias MoraesAinda não há avaliações
- A Disneyzação Da Cultura InfantilDocumento25 páginasA Disneyzação Da Cultura Infantilsander sales100% (3)
- Musical O Rei Leão TeatroDocumento11 páginasMusical O Rei Leão TeatroLennon Raphael100% (4)
- Peças de Teatro InfantilDocumento4 páginasPeças de Teatro Infantilalmauric6957% (7)
- LIVRO 60 Historias para DormirDocumento63 páginasLIVRO 60 Historias para DormirPati AlduinaAinda não há avaliações
- Combo Na Mesa Completo - C - FicharDocumento1.816 páginasCombo Na Mesa Completo - C - Ficharq52mdn4ydzAinda não há avaliações
- Rei LeoDocumento2 páginasRei LeoRafael GomesAinda não há avaliações
- Jornal de Teatro Edição Nr. 13Documento24 páginasJornal de Teatro Edição Nr. 13Claudia100% (1)
- 150+ Desenhos Do Rei Leão para Imprimir e ColorirPintarDocumento1 página150+ Desenhos Do Rei Leão para Imprimir e ColorirPintarPedro AlmeidaAinda não há avaliações
- Pronomes Pessoais - Avaliação 6 AnoDocumento4 páginasPronomes Pessoais - Avaliação 6 Anoluciana.dsguimaraesAinda não há avaliações
- A História de Hamlet Se Passa em Meados de 1600 e 1601 e Trata Se de Um Jovem Príncipe Da Dinamarca Que Está em Um Momento de Tristeza Pela Perda Recente de Seu PaiDocumento2 páginasA História de Hamlet Se Passa em Meados de 1600 e 1601 e Trata Se de Um Jovem Príncipe Da Dinamarca Que Está em Um Momento de Tristeza Pela Perda Recente de Seu PaiATHENASAinda não há avaliações
- O Poder Da Trilha Sonora de Lion - Teoria Da Ling. Cinematográfica.1Documento10 páginasO Poder Da Trilha Sonora de Lion - Teoria Da Ling. Cinematográfica.1Tais SilvaAinda não há avaliações
- Adaptação Portugues Derivacao YudiDocumento7 páginasAdaptação Portugues Derivacao YudiMauro MendoncaAinda não há avaliações
- Férias No São Luiz - Cineteatro São Luiz 2023Documento11 páginasFérias No São Luiz - Cineteatro São Luiz 2023Thanara AlexandreAinda não há avaliações
- E. D. Questionário Unidade IiDocumento6 páginasE. D. Questionário Unidade IiMiriam SpiesAinda não há avaliações
- 3 Perguntas Do Rei PDFDocumento10 páginas3 Perguntas Do Rei PDFAlana Ferreira PontesAinda não há avaliações
- Livro Festa Na Floresta Autor Izau ChristoferDocumento24 páginasLivro Festa Na Floresta Autor Izau ChristoferClau GomesAinda não há avaliações
- Ebook INGLÊS PARA PROFICIÊNCIA E ARTIGOS PDFDocumento183 páginasEbook INGLÊS PARA PROFICIÊNCIA E ARTIGOS PDFKaIque StefannoAinda não há avaliações
- Classes 01 and 02Documento17 páginasClasses 01 and 02DOUGLAS LOURINALDOAinda não há avaliações
- Estratégias de Leitura - Skimmig e Scanning - Camila HoflingDocumento5 páginasEstratégias de Leitura - Skimmig e Scanning - Camila HoflingGean Pierre de FreitasAinda não há avaliações
- Tahan, Malba - O Gato Do Cheique e Outras Lendas (Livro)Documento62 páginasTahan, Malba - O Gato Do Cheique e Outras Lendas (Livro)Cassio Cardoso0% (1)
- GABARITOCADERNO05Documento12 páginasGABARITOCADERNO05Judidico APAEAinda não há avaliações
- MAPA EM 3ano V3 Ciencias Da Natureza PFDocumento52 páginasMAPA EM 3ano V3 Ciencias Da Natureza PFMírian de Jesus SouzaAinda não há avaliações
- Três Perguntas Do Rei PDFDocumento24 páginasTrês Perguntas Do Rei PDFVitória MaiaAinda não há avaliações
- O Rei LeãoDocumento9 páginasO Rei Leãoguilherme gomesAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto O Rei Leao 8º Ano Com RespostasDocumento2 páginasInterpretacao de Texto O Rei Leao 8º Ano Com RespostasAlexandre JúniorAinda não há avaliações
- 2020 Ifsc ProvaDocumento24 páginas2020 Ifsc ProvaEpik EpikAinda não há avaliações
- Português Criativo Volume 3Documento76 páginasPortuguês Criativo Volume 3Jéssica SantanaAinda não há avaliações