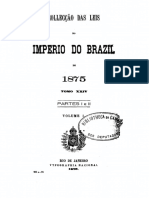Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Demografia Do Tráfico Atlantico de Escravos para o Brasil Herbert Klein
A Demografia Do Tráfico Atlantico de Escravos para o Brasil Herbert Klein
Enviado por
Ronaldo SantosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Demografia Do Tráfico Atlantico de Escravos para o Brasil Herbert Klein
A Demografia Do Tráfico Atlantico de Escravos para o Brasil Herbert Klein
Enviado por
Ronaldo SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Demografia do Tráfico Atlântico
de Escravos para o Brasil
HERBERT S. KLEIN
Resumo
Levantam-sequestõesrelativas ao tráfico de escravos,responsávelpela entrada de mais de quatromilhões
de africanosno Brasil, em trezentosanos. Apresenta-sea bibliografiaexistentesobre o tema desde o século XIX,
com ênfase nos trabalhos desenvolvidosapós 1960. A demografiado tráfico é estudadaem relação a diversos
pontos: a estimativado rnlmero total de africanostransportadospara o Brasil, a mortalidade ocorrida durante
as viagens e o volume e importânciado tráfico interno. Indicam-se novostemas de estudo,como a mortalidade
dos escravosrecém-chegadosao Brasil e os aspectoscomerciaisdo tráfico.
Abstract
This work raises questions about the slave trade, which introducedmore than four million Africans into the
Brazilian population over 300 years. The bibliography on the subject is presented,startingfrom the nineteenth
centuryand emphasizingthe works writtenafter 1960. Severa!aspectsof the demographyof the trade are studied:
the estimateof the total number of Africansshipped to Brazil, the mortalityin the Middle Passage,the magnitude
and importanceof the internai slave trade. New topics of study are suggested,such as the mortalityamong the
slaves newly arrived in Brazil and the commercialaspectsof the slave trade.
O tráfico atlântico de escravos teve um profundo impacto sobre o crescimento da
população brasileira. No espaço de trezentos anos, navios negreiros trouxeram mais
de quatro milhões de africanos para os portos brasileiros e, por ocasião do primeiro
censo nacional em 1872, africanos e seus descendentes, livres e escravos, perfa-
ziam 58% do total da população do pafs(1). Entretanto, apesar da importância do trá-
O autor é professorda ColumbiaUniversity. Traduçãode Laura T. Motta,do original: "The Demographyof the
AtlanticSlaveTrade to Brazil".
(1) MERRICK& GRAHAM{1979, p. 29). A estimativade 4 milhõesé extraídadas tabelas 1 e 2. Sobre as vá-
rias estimativasque têm sido apresentadaspara o tráfico de escravosbrasileiro, ver CONRAD (1985, p.
35-43).
ESTUDOS ECONÔMICOS 17(2): 129-149 MAIO/AGO. 1987
--- -·---·------ ---
-. --------------------------
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
fico de escravospara a evoluçãodemográficada populaçãobrasileira,até bem pou-
co tempo o conhecimentosobreo assuntoera relativamentepequeno.
O estudo sistemáticodo tráfico atlânticode escravosteve infcio no final do século
dezenove,com os trabalhosdos abolicionistasingleses.Na tentativa de impugnara
viabilidadeeconômicae a desumanidadedaquelecomércio,eles procuraramdetermi-
nar as dimensões básicas da migraçãotransatlânticaforçada de africanos,os pa-
drões de mortalidadede escravose tripulaçõese o impactoeconômicorelativo so-
bre as economiasafricana e americana.Tambémo Parlamentoinglês foi chamado
para legislar sobre o tráfico nas décadasde 1780 e 1790, daf resultandoo princípio
da coleta sistemática de material estatístico sobre o tráfico pelos órgãos governa-
mentais britânicos,a qual perdurariaaté meadosdo século dezenove.Enquantono
século dezoito a preocupaçãodos parlamentaresinglesesera o estudo de suas pró-
prias práticas no tráfico, após 1814 passarama concentrar-sefundamentalmenteno
comérciode escravospara o Brasil(2).
Apesar desse interesseinicial na mecânicado comérciode escravosafricanos,o
estudo significativodo tráfico atlântico só teve infcio no século vinte, com trabalhos
de estudiosos franceses e norte-americanos.Gaston-Martine Padre Rinchon,na
França, e Elizabeth Donnan,nos Estados Unidos,reuniramnas décadasde 1920 e
1930 um conjunto substancialdo material arquivfsticodisponívelsobre o tráfico nos
arquivos franceses e ingleses(RINCHON,1929; DONNAN,1930 e GASTON-MAR-
TIN, 1934). Esse conjunto,aliado ao notáveltrabalhoinicial de Gaston-Martin,lança-
ram os alicercesdo estudo modernodo tráfico de escravosno períodopós-Segunda
Guerra Mundial (GASTON-MARTIN,1931). No caso do Brasil,a coleta de documen-
tos teve início um pouco mais tarde, na década de 1940, quandocomeçouum ex-
pressivotrabalhoarquivístico(LOPES,1944 e GOULART,1949).
Foram, porém,o desenvolvimentoda nova área de HistóriaAfricanae o despertar
do interessena história afro-americana,nas décadasde 1950 e 1960, que finalmen-
te impul~ionaramsubstancialmenteesse campo de estudos. Embora muitos estu-
diosos estivessemcomeçandoa examinarváriosaspectosdo tráfico sob as perspec-
tivas africana, européia e americana,foi o trabalho de Philip Curtin que aceleroue
suscitou um renovado interesse,através de sua tentativa de estimar o volume do
tráfico. Em 1969 esse autor publicousuas conclusõesem The Atlantic Slave Trade:
A Census,uma sofisticadaanálisemetodológicadas fontes já publicadas,utilizando
o que havia de mais recente em teoria demográfica.Curtin refutou, com sucesso,
todas as estimativasanterioressobre o volume total do tráfico africanopara a Euro-
pa, as Ilhas Atlânticas e a América no períodocompreendidoentre as décadasde
1840 a 1860.Apresentou,então, suas própriasestimativas,fundamentadasem uma
(2) Grande parte desse material quantitativo só foi publicada recentemente. O llnico conjunto de dados dis-
ponível até a década de 1960 consistia nas relações que o Foreign Office britânico publicou para o tráfico
de 1817 a 1843, que se encontram emParliamentaryPapers, XL/X(73):593-633, 1845. Esse conjunto de
dados foi utilizado originalmente por Curtin, em seu trabalho de 1969, citado adiante, e posteriormente
atualizado por Klein com base nas relações de desembarques no porto do Rio de Janeiro, publicadas nos
jornais daquela província para o período até 1.830. Ver KLEIN (1973). Posteriormente as relações foram
refinadas por David Eltis e completadas com mais informações provenientes de arquivos ptlblicos oficiais.
130 Estudos EconômicosrSão Paulo. 1~(2): 129-149_ mainhmn 1aa7
Herbert S.. Klein
série de hipótesese argumentosclaramenteexplicitados,que por sua vez tornaram-
se a base de grande parte das críticas sobreseus própriosnúmeros..Apesarde con-
centrar-seno problemado númerode africanosembarcados,Curtin abordouligeira-
mente muitos temas que se tomariamtópicos fundamentaisde estudossubseqüen-
tes. A evolução demográficadas populaçõesescravas americanas,bem como a
mortalidadedurante a travessiaatlântica foram preocupaçõesbásicasdo autor,pois
constituíam-senos fatores primordiaispara as estimativassobreo númerode africri-
nos transportados,para os quais, na época, não havia dados disponfveis.Curtin
chegoutambém a mencionar,embora não desenvolvendopor completo,alguns dos
assuntosque seriam posteriormenteobjeto de muito interesse,em tennos de cres-
cimentoda populaçãoafricanae interesseseuropeusno tráfico.
A estimativa de Curtin de 8 a 11 milhões de africanostransportadosfoi o que
provocouresposta mais imediata entre os estudiosose gerou intensas buscas de
novos dados e fontes para refutar seus números.Foi essa pesquisa internacional
dos arquivoseuropeus,americanose africanosà procurados dadosexistentessobre
as viagensde navios negreirosque conduziua uma nova era de pesquisae análise
acerca do tráfico atlântico de escravos(3).Uma vez disponívelesse novo maferial,
muitos debatesanteriorespuderamser diretamenteabordadospela primeiravez de
forma sistemáticae foi possívellevantarquestõesnovas,mais complexase sofisti-
cadas acerca da história econômica,social e mesmo política dessa migraçãooceâ-
nica em massa de seres humanos(4).Essa efusão inte~nacionalde novos estudos
realizadospor historiadorese economistasna Europa,África e Américaconduziuà
aiação de uma nova área fundamentalde pesquisa.O estudo do tráfico de escra-
vos, que combina as disciplinasdemografia,economiae históriae serve-sede ins-
trumentostão diferentesquantoa tradiçãooral e a análisequantitativacomputadori-
zada, deu origem a um grande númerode publicações,as quais fizeramdessa área
uma das mais ativas e produtivasda investigaçãohistóricamoderna(5).·
As questões abordadasagrupam-seem torno de uma série de temas. Embora
nem sempre estritamente autônomasem seus campos de interesse,essas princi-
pais áreas de pesquisae debate podem ser aproximadamentedivididasem: ques-
tões relativas à1economiado tráfico e custos e benefíciosdos participantes;causas
e conseqüênciasda abolição do tráfico no final dos séculosdezoito e dezenove;e,
finalmente, a história demográficados africanostransportadose seu impacto sobre
a mudança nas populaçõesda região de origem e no Novo Mundo. É nesta última
(3) Publicações recentes de novo material arquivístico incluíram o monumental estudo do tráfico francês por
METTAS (1978-1984); e relações mais completas para a Virgínia por MINCHINTON et ai (1984).
(4) O mais ambicioso desses estudos é a tese recente de ALENCASTRO (1985).
(5) Além das várias obras citadas em outras notas deste artigo, há também os volumes editados por EN-
GERMAN& GENOVESE( 1975);ANSTEY& HAIA ( 1976); HistoricalSocietyof Lancashireand Chesire.
Occasional Papers, vol. 2; ELTIS & WALVIN (1981); INIKORI {1982) e o número especlal da Revue Fran-
çaise d'Histoire d'Outre-Mer(1975). Vários artigos foram também publicados nos últimos cinco anos em
EconomicHistory Review;Journal of EconomicHistorye Journal of African History.
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 131
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO A TLÂNT/CO
área que se concentra este artigo, especialmente no que diz respeito à história de-
mográfica do Brasil.
As questões demográficas sobre o tráfico dividem-se em uma série de tópicos,
dos quais somente alguns têm sido abordados pela literatura recente. A primeira
questão, de fundamental interesse para Curtin e seus críticos, foi estimar o número
total de africanos transportados. No caso do Brasil,·tem havido poucas mudanças
significativas nas estimativas para o período anterior a 1789 fornecidas por Curtin
(ver tabela 1). Até o presente não se fez um estudo expressivo do tráfico brasileiro
apoiado nas fontes dos séculos dezesseis e dezessete, e as estimativas para o sé-
culo dezoito são baseadas nas bem fundamentadas descobertas arquivísticas de
Maurício Goulart (ver tabelas 1 e 3). Entretanto, ocorreram revisões importantes nos
dados do autor para o período pós-1780, especialmente os que se referem aos rela-
tórios do cônsul inglês para o período posterior a 1817. Esses dados foram aprim~
rados por Herbert S. Klein, através de estudos comparativos das publicações em jor-
nais de desembarques de navios no século dezenove, e por ncwas pesquisas de ar-
TABELA 1
ESTIMATIVAS DOS AFRICANOS DESEMBARCADOS NO BRASIL, 1531-1780
n9 de Média % do total de desembarques
Período
Africanos Anual nas Américas, por século (*)
1531-1575 10.000 222
1576-1600 40.000 1.600 22
1601-1625 100 000 4.000
1626-1650 100 000 4.000
1651-1670 185 000 7 400
1676-1700 175.000 7 000 43
1701-1710 157.300 15 730
1711-1720 139.000 13 900
1721-1730 146.300 14.630
1731-1740 166.100 16.610
1741-1750 185.100 18.510
1751-1760 169.400 16.940
1761-1770 164.600 16.460
1771-1780 161.300 16.130 30
Total 1.895 soo 33
Nota: ( ) Excluídos os africanos embarcados para a Europa ou Ilhas Atlânticas, cujo número é significativo ape-
nas no século dezesseis.
Fonte: C URTIN ( 1969, tab. 33 - p. 116; tab. 34 - p. 119 e tab. 65 - p. 216).
132 Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987
,r,"i!i.,.
Herbert S. Klein
TABELA2
ESTIMATIVAS DOS AFRICANOS DESEMBARCADOS NO BRASIL, 1781-1855
Sul da Norte da Total Média Anual
Quinqttênio Bahia Bahia Bahia por década
1781-1785 34.800 n.a. 28.300 (63.100)
1786-1790 44.800 20.300 32 700 97.800 (16.900)
1791-1795 47 600 34.300 43.100 125 000
1796-1800 45.100 36.200 27 400 108.700 23.370
1801-1805 50.100 36.300 31.500 1.17 900
1806-1810 58.300 39.100 26.100 123 soo 24.140
1811-1815 78 700 36.400 24.300 139.400
1816-1820 95 700 34.300 58.300 188.300 32 770
1821-1825 120.100 23.700 37.400 181.200
1826-1830 176 100 47-900 26.200 250.200 43.140
1831-1835 57.800 16 700 19.200 . 93 7 00
1836-1840 202.800 15.800 22 000 240.600 33.430
1841-1845 90.800 21.100 9.000 120-900
1846-1850 208 900 45.000 3.600 257 soo "37.840
1851-18 5 3 <*) 3 300 1.900 900 6 100
Total 1.314.-900 409.000 390.000 2.113.900
Notas: ( * ) Não houve desembarques entre 1853-1855; um navio com 300 escravos aparentemente aportou no
Rio de Janeiro em 1856.
Fonte: ELTIS (1987b).
quivo realizadas por David Eitis no British Public Record Office (ELTIS, 1987b). Este
autor, por sua vez, utilizou as pesquisas nos arquivos portugueses e angolanos fei-
tas por Klein e Miller sobre o tráfico de Luanda (MILLER, 1975), incorpor~ndo-as às
suas descobertas. Os resultados dessas estimativas são apresentados nas tabelas 1
e 2.
Os números das tabelas 1 e 2 tornam evidente, principalmente, o crescimento de
longo prazo do tráfico entre os séculos dezesseis e dezenove. Sem dúvida foi o Bra-
sil a principal região de desembarque de escravos africanos nas Américas, com um
terço do total desembarcado antes de 1780 e provavelmente dois terços após essa
data. Portugal, além disso, foi o mais antigo traficante de escravos e os navios ne-
greiros destinados ao Brasil estiveram entre os primeiros a singrar águas americanas
e ou últimos a abandonar a prática do tráfico. Enquanto Curtin fez suas estimativas
do crescimento no período pré-1700 relacionarem-se às mudanças na economia bra~
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 133
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO A TLÂNT/CO
sileira, as estimativaspós-1700são mais diretamentebaseadasem fontes arquivísti-
cas e, portanto,podem revelar algumasrelaçõesentre mudançaeconômicae o flu-
xo de escravosafricanospara a América.
O índice de movimentode escravosparece,ao mesmotempo,confirmaralgumas
das hipóteses tradicionais e refutar outras. Assim, o fluxo de escravosao final do
século dezoito e infcio do dezenoveaparentaser realmenteindiferenteà chamada
"crise" do antigo sistema colonial, muito discutida por historiadoresbrasileiros(NO-
VAIS, 1979).Entretanto,parece haver,de fato, um aumentosignificativonas impor-
tações de escravosrelacionadoao revivescimentoda tradicionaleconomiaaçucarei-
ra no Brasil quando,após 1790,São Domingosdeixa de ser um dos maiorescompe-
tidores na produçãode açúcar.Esse fato, aliado ao contínuocrescimentoda econo-
mia diversificadade Minas Gerais,foram provavelmenteos fatoresfundamentaispa-
ra o acentuadocrescimentodos desembarquesde escravosno início do séculode-
zenove. Intervalosou declfnios mais agudos ao longo desse século,contudo,pare-
cem ter sido provocadospor tentativas do governode controlaro tráfico. Assim,o
boom no final da década de 1820 relaciona-seàs ameaçasde abolição do tráfico
em 1830, da mesma forma que nos primeiros cinco anos da nova década houve
uma queda abruptadevidaà preocupaçãodos importadorescom seusdireitoslegais.
Na década de 1840 ocorrerambruscasflutuaçõesdo tráfico, o qual apresentouum
último grandeaumentopoucoantes de sua extinçãodefinitivaem 1850.
Tudo isso parece sugerir que os mercadosregionaisde escravosno Brasil eram
tão variadosque o declínioda demandaem um deles era compensadopelo aumen-
to da compra de africanos em outros. Assim, o tráfico permaneceumarcadamente
estável no século dezoito, cresceu no século dezenovecom a recuperaçãoda ecer
nomia açucareirabrasileira,após o declíniodo Haiti e o inícioda economiacafeeira.
Finalmente,os dados regionais sobre portos de entrada (ver tabela 2) mostrama
crescente importânciado Rio de Janeiro como importadorde escravos.Essa foi a
maior região de desembarquede africanosno final do séculodezoitoe, por volta da
década de 1810, absorvia mais da metade dos africanosdesembarcadosno Brasil.
Isso reflete o contínuo crescimentodos mercados internos de Minas Gerais, bem
como o lento mas firme desenvolvimentoda agriculturabaseadano trabalhoescravo·
no interiordas provínciasdo Rio de Janeiroe São Paulo.
As estimativasanuais relativamenteprecisaspara o númerode escravosdesem-
barcadosno Brasil são tambémencontradasparaos escravosque deixarama África
no mesmo perfodo(6).Infelizmente,porém,a verdadeiracomparaçãoentre as zonas
de origem e as receptorasnão está tão desenvolvidaquanto aquelas estimativas.
Existem, naturalmente,alguns estudos muito bem elaboradossobre a relaçãoentre
certos portos brasileirose regiõesda África(?),mas só se encontramdadosexpressi-
(6) O melhor entre os estudos gerais recentes sobre as regiões exportadoras encontra-se em LOVEJOY
(1982e 1983).
(7) O mais completo desses estudos é VERGER (1968); ver também CUNHA (1985). Para o Rio de Janeiro,
ver REBELO ( 1970).
134 EstudosEconômicos,São Paulo, 17(2): 129-149. maio/aao_tQA7
Herbert S. Klein
TABELA3
ESTIMATIVAS DAS ORIGENS REGIONAIS DOS ESCRAVOS
AFRICANOS DESEMBARCADOS NO BRASIL, 1701-1810
Década Costa da Mina Angola Total
1701-1710 87 700 70.000 153 700
1711-1720 83.700 55.300 139.000
1721-1730 79.200 67 100 146.300
1731-1740 56.800 109.300 166.100
1741-1750 55 000 130.100 185.100
1751-1760 45.900 123 soo 169.400
1761-1770 38 700 125.900 164.600
1771-1780 29.800 131 soo 161.300
1781-1790 24.200 153.900 178.100
1791-1800 1 53.600 168.000 221 600
1801-1810 54 900 151.300 206 200
Total 605 soo 1.285.900 1.891.400
Fonte: Estimativasde CURTIN (1969, tab. 62 - p. 207), baseadasem dados arquivísticospublicados por GOU-
LART (1ª ed. 1949; 3ª ed. 1975, p. 203-209) e que foram modificadospor BIRMINGHAM(1966, p. 137,
141 e 154).
vos para o períodopós-1700.Parecer-nos-ia,entretanto,que os padrõesdesenvolvi-
dos para esse período,com exceçãodo caso da África Oriental,não são tão diferen-
tes dos anterioresa 17QQ(B).
Contrariamenteao que ocorreu na maioria das outras regiões que praticavamo
tráfico, os navios negreirosbrasileirosdirigiam-seprincipalmentea zonas de controle
portuguêsna África ou, como no caso particular da Costa da Mina, a regiões pre-
viamente influenqiadaspelos portugueses.Ademais,devido a condiçqesde navega-
ção, desenvolveram-seestreitas conexõesentre dois importantesportos do tráfico,
Bahia e Rio de Janeiro, e algumas áreas especiais da África. Assim, a região do
Golfo de Benin foi a principal fornecedorade escravospara a Bahia e a região do
Congo-Angola(e posteriormenteMoçambique)supriu de escravosespecialmenteo
(8) Os dados da Bahia somente mostramnavios partindo para a África e transportandofumo de produção lo-
cal para exportação. Entre 1678 e 1815, zarparam 1.731 desses navios com destino à Costa da Mina, em
contraste com apenas 39 rumo a Angola-Congo. (VERGER, 1968, p. 653-654). Outros dados corrobo-
ram a relação _especialentre Costa da Mina e Bahia. Dos escravos africanos residentes em 9 engenhos
baianos em 1739, 82% eram p~ovenientesde Costa da Mina e apenas 18% de Angola (SCHWARTZ,
1986, p. 348).
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 135
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO A TLÂNT/CO
TABELA4
DESTINAÇÃO DOS ESCRAVOS AFRICANOS
EMBARCADOS NO PORTO DE LUANDA, 1723-1771
Porto Brasileiro Número de Adultos
Rio de Janeiro 104.170
Bahia 55.696
Pernambuco 37.092
Maranhão 2.570
Pará 2.161
Colônia de Sacramento 1.569
Santos 474
desconhecido 172
Total 203 904
Fonte: KLEIN (1987, p. 32).
Rio de Janeiroe as regiõesinterioranascentraisdo Brasil. Isso não significaque não
houve desembarquesde escravosda Costa da Mina no Rio de Janeiro,ou que es-
cravos provenientes
, de Luanda nunca se destinaram a Salvador,pois todas as re-
giões da Africa forneceramescravosa todos os portos importadoresdo Brasil.Con-
tudo, ao contrário de quase todas as outras regiões importadorasda América,o
Brasil desenvolveurelaçõescentenáriascom regiõesafricanasfixas, o que fez ore-
lacionamentoafro-brasileiromuito mais estreito e coerentedo que em qualquerou-
tra conexãoafro-americana.
Infelizmente,mesmo para após 1700, os dados disponíveissão ainda bastante
fragmentários.Os melhores númerosglobais para o século dezoito foram reunidos
por MaurícioGoulart e posteriormentemodificadospor Curtin com base nas pesqui-
sas dos arquivos portuguesese africanosrealizadaspor Birmingham(ver tabela 3).
Essa tabela evidencia a naturezaaltamenteestáveldo fornecimentode escravosda
Costa da Minà e o espantosocrescimentodo movimentode escravosangolanosno
século dezoito, o qual foi, em grande medida, um reflexo do desenvolvimentocres-
cente dos mercadosde escravosno centroe no sul do Brasil.
Segmentosmenoresdo tráfico do ·séculodezoito e início do século dezenovefo-
ram examinadospor outros estudiosos,mostrandonovamenteuma tendênciapara o
envio de escravoscongo-angolanospara o Rio de Janeiro e os da Costa da Mina
para a Bahia e os portos do norte. Essa tendênciaevidencia-seaté mesmo entre os
136 Estudos Econômicosr São Paulor 17(2): 129-149r m,io/ago. 198?
Herbert S. Klein
TABELA 5
ESCRAVOS AFRICANOS TRANSPORTADOS AO BRASIL
PELAS COMPANHIAS POMBALINAS, POR PORTOS DE EMIGRAÇÃO
AFRICANOS E PORTOS DE ENTRADA BRASILEIROS, 1756-1788
Portos Brasileiros
Portos Africanos
Pernambuco Pará Maranhão R.de Janeiro
Cacheu 4.698 4 545
Bissau 4.481 5.841
Cabo Verde 40 36 5
Serra Leoa 76 107
Costa da Mina 6.050
Angola 41.557 5.318 808 329
Benguela 1 074 470 1.881
Total 47 609 15.687 11.807 2.215
Fonte: CARREIRA (1969, p. 100 e 263). Embora alguns desses números tenham sido revisados em uma se-
gunda edição (Lisboa, 1983), a primeira edição fornece tabelas mais discriminadas e menos erros de
adição, razão pela qual utilizei-me da apresentação original.
escravos embarcados em Luanda no período de 1723 a 1771 (ver tabela 4) e nos
transportados pelas duas companhias pombalinas no mesmo período (ver tabela 5).
Também os dados do século dezenove, baseados em listas de arquivos e jornais pa-
ra o porto do Rio de Janeiro, tornam clara a tendência acima mencionada (ver tabela
6). Estes dados mostram, inclusive, os primeiros desembarques provenientes de
Moçambique, que só começou a enviar sistematicamente escravos para o tráfico
atlântico na última década do século dezoito.
As .informações disponíveis sobre idade e sexo dos escravos desembarcados são
menos completas para o tráfico com qestino ao Brasil, em comparação com a maio-
ria das outras rotas principais. Nesse aspecto, os dados relativos às crianças são
muito melhores que os concernentes às mulheres. Infelizmente, as distinções de
idade entre as crianças não estão claramente definidas, especialmente entre "crias
de pé", que às vezes eram relacionadas em separado como um só grupo, às vezes
divididas em dois grupos, aquelas pelas quais se pagava ."meyo direito" e as que
eram, "livres" de imposto ou, finalmente, agrupadas juntamente com as)''crias de pei-
to"(9). Primeiramente, englobando-se todas as crianças independentemente das ca-
(9) Até 1738, os funcionários responsáveis pelos impostos régios em Luanda, por exemplo, agrupavam todas
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 137
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO A TLÃNT/CO
TABELA&
ORIGEM DOS ESCRAVOS AFRICANOS DESEMBARCADOS
NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, 1795-1811; 1825-1830
Região/Porto Africano 1795 - 1811 1825 - 1830
Ãfrica Ocidental 2.761
São Torne 1.198
Costa da Mina 934
Calabar 629
Sudoeste Africano 155.385 132.472
Malernbo 452 5.479
Cabinda 5.020 39.452
Rio Zaire (Congo) 549 6.007
Arnbriz 20.934
Luanda 73.689 38 940
Benguela 75.675 21.660
Sudeste Africano 4.079 48.648
Lourenço Marques 4.031
Inhambane 3.408
Quelimaine 15.608
Moçambique 4 079 25.601
Total 162.225 181.120
Fonte: KLEIN(1978, p. 56· 77).
as crianças em uma só categoria (crias). Naquele ano, distinguiramentre 11de pé" e "de peito". Arquivo
HistóricoUltramarino,Lisboa, Angola, caixa 21, mapa datado de 19/11/1739. Na década de 1760come-
11
çaram a separar as crias "de pé" entre as denominadas meio direito" (ou de meio imposto)e as isentas
de imposto.AHU, Angola,Caixa 29, mapadatadode 14/1/1763.
138 Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987
Herbert S. Klein
tegorias,para Luandae Benguelaem algunsanos do séculodezoito em que elas fo-
ram relacionadasseparadamente,fica evidenteque as criançaseram um componen-
te muito pequenoda migraçãototal. No periodode 1726 a 1769 (com alguns anos
não considerados),o total de criançasera de 9.871 e o de adultos 176.775,o que
significa que as criançasde todas as categoriasrepresentavamapenas 5% dos es-
aavos trazidosao Brasil.Para Benguela,de 1738a 1753e 1762a 1800,quandoum
total de 254.012africanospartiramdesse porto no sul da África rumo ao Brasil, ha-
via somente 2.171 crianças registradasa bordo, -ou seja, menos de 1% (KLEIN,
1978, p. 28, 255-256).
Divisõesmais detalhadasparaalgunsanos escolhidosmostramalgumavariação,
mas o padrãoglobal não é acentuadamentediferente.Em dois dos períodoscom di-
visõesdetalhadasdas criançaspara os portosde Luandae Benguelaem meadosdo
século dezoito, elas representaram,respectivamente,entre 1% e 7% dos escravos
embarcadospara o Brasil (ver tabela 7). Em outros anos, incluindo-setodos os ado-
lescentes(comonos dadosda tabela 8), a taxa pode atingir até 20%,mas não muito
além disso. Nesseaspecto,portanto,o tráfico de escravospara o Brasil poucodife-
riu daquelepara outros países(KLEIN,1983,p. 29-38).
TABELA 7
FAIXAS ETÁRIAS DOS ESCRAVOS EMBARCADOS NOS PORTOS
DE LUANDA (1750-1757) E BENGUELA (1762-1767)
Portos Adultos Crias de Pé Crias de Peito Totais
Luanda 74.353 4.438 906 79.697
Benguela 29.116 78 276 29.470
Total 103.469 4.516 l 182 109.167
Fonte: KLEIN (1978, tab. A.2 e A.3).
As informaçõessobremulheressão mais limitadasque sobreas crianças.A única
divisão detalhadapor sexo, atualmentedisponívelna literatura,é a relaçãorevisada
dos escravoscompradospela Companhiado Grão-Parápara venda no Brasil em
meados do século dezoito,efetuadapor Antonio Carreira(ver tabela 8). A razãode
masculinidadeparaesse grupocomo um todo (excluindoas criasde peito)era de 166
homens para 100 mulheres,com maior predomíniodo sexo masculinona faixa dos
adultos (179 homenspara 100 mulheres)do que na das crianças(124 meninospara
100 meninas).Esse percentualde cerca de 38% de mulheresno total dos escravos
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 139
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
compradosaproximava-sedo padrãoda maioria das migraçõesde africanospara a
América devidas ao tráfico(10). É interessanteobservarque essa razão de masculi-
nidade é também bastantepróxima à dos africanosresidentesno Brasil segundoo
censo de 1872, o qual computou138.560 escravosafricanos,com a razãode 160 do
sexo masculino para 100 do sexo feminino. Considerando-seo total de residentes
africanos livres (44.580) e escravos,a razão era de 170 do sexo masculinopara 100
do sexo feminino(11). Portanto,uma geraçãoapós a extinçãodo tráfico,o desequilí-
brio dos sexos entre os imigrantesafricanosera ainda semelhanteao padrãodo trá-
fico em meadosdo século dezoito.
TABELAS
SEXO E IDADE DOS ESCRAVOS AFRICANOS COMPRADOS PELA
COMPANHIA DE GRÃO-PARÁ E MARANHÃO PARA ENVIO AO BRASIL, 1756-1788
Faixas Etárias Sexo Masculino Sexo Feminino Total
Adultos 14 795 8 253 23.048
Adolescentes 3 045 2 ..465 5.510
Crias (de peito) 99
Total 17.840 10 718 28.657
Fonte: CARREIRA(1983b, p. 90). Essaé umasegundaedição,rebatizada,do estudode 1979sobreo tráfico
de
escravos,com maisdadossobreossexosparaestacompanhia,em comparaç~o coma primeiraedição.
Tais distorçõesem termos de idade e sexo implicamque o grupo típico de africa-
nos desembarcadosno Brasil era, em geral, incapazde reproduzir-se,de modo que
a populaçãoescravatotal só podia ser mantidapor meio de importaçõesconstantes.
Em estimativa recente da populaçãobrasileira em 1798 e 1872, os economistas
Merrick e Douglas afirmam que a populaçãoescrava declinou de 1.582.000 para
1.510.810 nesse períodode 75 anos (MERRICK& GRAHAM,1979, p. 29)(12). E$a
(1O) Jean Mettas constatou que em média cerca de 40% dos escravos embarcados da África Ocidental para o
Brasil no final do século dezoito eram mulheres, o que, em sua opinião, estava ligeiramente acima dopa-
drão da maior parte das outras rotas do tráfico (METTAS, 1975, p. 352).
(11) Brasil, Diretoria Geral de Estadistica. Recenseamento geral da população do Brasil... 1872, mapas do
"Império do Brasil".
(12) Esse declínio representa uma taxa anual de crescimentonegativa de -0,06%.
140 EstudosEconômicos,São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987
HerbertS. Klein
queda ocorreu apesar da importaçãode mais de 23.000 escravospor ano nos pri-
meiros cinqüentaanos do período.Ou seja, em média, o tráfico aumentavaa popu-
lação escravaem -cercade 1,5% ao ano até a décadade 1850.Contudo,no finar do
período,a populaçãototal haviadiminuídoem mais de 4%.
A explicaçãodesse declínio tem pouca relação com as condiçõesde vida e tra-
balho no Brasil.Emboraseja verdadeque as taxas de mortalidadeentre os escravos
foram sempreas mais elevadasdentre todos os grupos,foram principalmentea es-
trutura demográficada populaçãointroduzidano país atravésdo tráfico atlânticoe a
relativamentealta taxa de mudançade condiçãoescravapara livre entre mulherese
criançasque determinarama incapacidadede reproduzir-severificadana população
escravabrasileira.Uma vez que um númerorelativamentemenorde mulherescru-
zavam o Atlântico, a maioria das quais já se encontravaem idade fértil e normal--
mente chegavasem filhos, elas possufamum potencialde reproduçãoreduzido.Es-
sas mulherespodiam manter seu númeroatravésda reprodução,mas não o número
total de pessoascom quem eram trazidas.Adicionalmente,os africanosapresenta-
vam taxa bruta de mortalidademais alta em comparação-à populaçãoescráva
crioula,devido ao desequilíbrioetário. Comoos homense mulherestrazidosda !Áfri-
ca já eram adultos,a média de idadeda populaçãoafricanano Brasilera muito mais
alta que a da populaçãonativa e, conseqüentemente,a taxa de mortalidadepor
1000era muito mais elevadapara africanosque paracrioulos(13).
As distorçõesde idade e sexo dos escravostrazidosda África, portanto,determi-
naram que enquantoo tráfico introduzissena populaçãoum grande númerode imi-
grantes essa populaçãocomo um todo não poderiareproduzir-~e.Houve,provavel-
mente, uma taxa de reproduçãopositiva (mais nascimentosque mortes) entre os
crioulos.Contudo,enquantoos africanosconstituíramum segmentomuito significa-
tivo da populaçãoescrava,a taxa de crescimentoglobal dessapopulaçãofoi negati-
va Assim,o estoquede 1,5 milhõesde escravosexistenteno final do séculodezoito
só poderiaser mantido a esse nível em 1872 atravésda importaçãode cercade 1,8
milhõesde africanosduranteesse perfodo(14).
A esse problemada reproduçãoda populaçãoescravabrasileiraacrescentou-seo
fato de que o Brasil apresentouuma das mais altas taxas de manumissãoda Amé-
rica(15).Essa saída dos libertosda composiçãoda populaçãot::suava,tanto quahto
a entradados africanosdesembarcados, tambémprovocoudistorçõesem termosde
idade e sexo. Entre os escravosrecém-alforriadosa tendênciaera de haver mais
mulheresdo que homens,e as aianças eram em grande número(16).Isso·implica
(13) Exemplo típico da estrutura etária desequilibrada dos africanos no Brasil foi encontrado entre os 1. 131
africanos residentes em Vila Rica em 1804. Apenas 9% dos africanos tinham 19 anos ou menos, compa-
rando com 45% da população crioula encontrada nessa faixa etária (COSTA, 1981, p. 103 e 249).
(14) Para uma discussão da literatura sobre o tema da reprodução escrava na América, ver os dois artigos de
KLEIN & ENGEMAN (1984, p. 208-227 e 1978).
(15) Ver KLEIN (1978, p. 3-27) e apêndices em COHEN & GAEENE (1972).
(16) O processo de manumissão no Brasil é o melhor estudado entre os da América Ver MATTOSO (1976 e
1979); SCHWAATZ (1974) e KIEANAN (1976).
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 141
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
que o potencial de reproduçãoda população escrava residente reduzia-seainda
mais com a eliminaçãode mulheresadultase meninasda força de trabalhoescrava.
Essa distorção na idade e sexo dos alforriadoscontribui,por sua vez, para explicar
porque a populaçãode cor livre no Brasil cresceua taxas elevadfssimas,aumentan-
do no mesmo períodode 1798 a 1872 cerca de dez vezes (extraordinários3,1% ao
ano),ou seja, de 406.000para 4.245.428pessoas.
Embora menos diretamenterelevantepara a questãomais ampla do crescimento
e declínio populacional,também tem havido muitas discussõesna literaturasobre
a mortalidade no tráfico de escravospara o Brasil. Possuindoum conjunto incomu-
mente completo de registrosda mortalidadeexperimentadano tráfico,especialmen-
te no tocante aos navioscom destino ao Rio de Janeiro,o tráfico brasileirotornou-se
área fundamental de estudo e debates no que respeita às questões das taxas e
causasda mortalidadeentre os africanos.
Ao tratar desse assunto complexoe muito discutido,certas constataçõesgerais
devem ser consideradas.A primeira e mais importanteé que a mortalidadevariou
amplamente entre os navios, inclusive em termos de um mesmo navio repetindo
uma rota em igual períodode tempo. Tal era a naturezaaleatória da mortalidade
que mesmo capitãesde navios,que em médiaconviviamcom baixastaxasde morta-
lidade, podiam deparar-seem uma viagem com uma epidemiae enfrentartaxasas-
tronomicamenteelevadas de mortes. Portanto,as taxas médias de mortalidadefor-
necidas para o conjunto do tráfico apresentam,em geral,desvios-padrãomuito altos
em relação a esses númerosmédios.A partir desse fato, fica tambémevidenteque
as taxas médias refletem mudançasde longo prazo nos padrõesda mortalidade.À
medida que as taxas médias declinam, também diminuem os desvios-padrão(ou
seja, a distribuiçãoda mortalidadena maioria dos navios também se toma menore
aproxima-seda taxa média).
Em segundo lugar, as taxas médias encontradaspara a maioria dos tráficos no
século dezoito mostram uma uniformidadesurpreendenteentre si. A essa constata-
ção seguiu-sefacilmente a descobertada causa. Sabe-seque por volta do século
dezoito os traficantes de escravosde todos os países usavamos mesmostipos de
navios negreirose equipavam-separa o tráfico virtualmentedo mesmo modo.Todos
os traficantes utilizavam navios rápidosde tonelagemmédia (200 a 300 toneladas),
carregavamprovisõesde água três vezes maior que a necessidadede uma viagem
normal e inclufam grandes quantidadesde comidasafricanasnas refeiçõesde bor-
do. Assim, todos eles compravame usavam inhame, óleo de palma e arroz para
alimentar seus escravos.Finalmente,quase todos, por volta do fim do século dezoi-
to, vacinavamos escravoscontra a varíola.Por essas razões,a mortalidademédia
nas rotas de tráfico da África Ocidentalpara a América,para todos os traficanteseu-
ropeus,variou de 5% a 100/ona maior parte da segundametadedo séculodezoito.
Não só havia uma uniformidadena mortalidadeentre os tráficosdevida à maneira
semelhantede transportaros escravos,mas também não se tem notícia de casos
em que o capitão do navio deliberadamenteprovocassetaxas de mortalidademais
elevadasdevido ao modo de transportaros escravos.Na literaturaqualitativa tradi-
142 Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987
Herbert S. Klein
cional supôs-seque os escravoseram compradosa preçostão baixos na África que
era lucrativotransportarum número maior do que o navio podia levar com seguran-
ça, aceitando-sequalquernfvel de mortalidade,já que com somentealgunssobrevi-
ventes podiam-seauferir bons lucros. Essa teoria da superlotaçãofoi muito aceita
na literatura histórica tradicional.Contudo,o caso foi exatamenteo oposto. Em pri-
meiro lugar,os escravosnão eram mercadoriabaratana costaafricana.Os europeus,
na maioria das vezes, pagavampelos escravoscom tecidos importadosda Ásia, ar-
mas e lingotes de ferro. O pagamentoem bebidas e outras mercadoriasdiversas,
supostamente"baratas",era secundário.Todos os estudossobre custos das merca-
dorias do tráfico europeu indicam que os lucros foram diretamenteafetados pelas
taxas de mortalidade,e que taxas elevadasprovocavamo prejuízototal, devido ao
alto custo do pagamentopelos escravos.
Entretanto,uma prova ainda mais direta é dada pelos própriosdados sobreo trá-
fico, os quais não mostramcorrelaçãoalguma entre escravospor tonelagem,ou es-
cravos por espaço interno a bordo, e as verdadeirastaxas de mortalidade;em ne-
nhum caso encontrou-sequalquer indicaçãode uma relação positiva entre esses
elementos(1 7). Existe,obviamente,uma relaçãoentre a duraçãoda viagem e a mor-
talidade, sendo o material relativo a Moçambiqueo mais exploradopara testar tal
hipótese.Na verdade,porém,se o tempo da viagem for consideradode forma com-
parativa,as taxas diárias de mortalidadenos tráficos de Angola e de Moçambique
não são significativamentediferentes.
A mortalidadena maioriadas rotas do tráfico brasileiroé apresentadana tabela 9.
Parececlaro que há algumasvariaçõeslocais na mortalidadeentre portos e ao lon-
go do tempo, sendo particularmentecuriosoo caso de Benguelae Luanda.Afirmou-
se que essa variação local nas taxas relacionava-seàs condições africanas lo-
cais. Uma vez que os navios negreirosprecisavamde vários meses para conseguir
uma carga completa de escrav<?s, as condiçõesportuáriaslocais podiam afetar se-
riamentea saúdea bordo,mesmoapós a partidado navio.
Resta ainda a questãoquantoà importânciade uma taxa de mortalidadede 5% a
10% para urna populaçãoadulta jovem e originalmentesaudável.No séculodezoito,
soldadose criminososenviadosa terrasdistanteseram vitimadosaproximadamente
na mesma proporçãono referenteao índicede mortalidade,assim como os imigran-
tes europeusna América.Entretanto,se a mesmataxa de mortalidadetivesseocor-
rido em uma populaçãocamponesada EuropaOcidentalno séculodezoito,durante
períodosemelhantede um a três meses,isso equivaleriaa uma mortalidadeepidê-
mica. Portanto,se 5% a 10% é uma taxa baixa comparadacom a apresentadapela
literaturamais antiga (que freqüentementemencionavataxas médiasde mortalidade
de 50%), é ainda extraordinariamenteelevada para os padrõescontemporâneosdo
séculodezoito.
Uma nova área ainda em exploraçãoé a propagaçãode doenças africanaspor
meio do tráfico de escravos.A malária,obviamente,é a mais notóriaentre as muitas
(17) Essa literatura é citada e analisada em GARLAND & KLEIN (1985).
Estudos Econômicos, São Paulo, 1_7(2): 129-149, maio/ago. 1987 143
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
TABELA9
MORTALIDADE DOS ESCRAVOS NO TRÁFICO ATLÂNTICO,
DE PORTOS AFRICANOS ESCOLHIDOS PARA O RIO DE JANEIRO
NOS SÉCULOS DEZOITO E DEZENOVE
Porto/Região Mortalidade Média Desvio-Padrão N9 de Navios
(por 1000) (por 1000)
I 1795-1811 94 80 35J*)
África Ocidental 63 28 7
Luanda 103 77 162
Benguela 74 63 165
Moçambique 234 135 13
II 1825-1830 66 69 388
Portos do Congo 33 4-2 117
Ambriz 62 47 47
Luanda 71 46 84
Benguela 73 44 55
Moçambique 121 99 85
Nota: ( • ) Os totais incluem alguns navios de portosmenos importantes,não relacionadosseparadamente.
Fonte: KLEIN(1978, p. 56 e 85).
doenças introduzidasna Américapelo tráfico. Deve ser lembrado,também,que mui-
tos africanos,após deixaremo navio negreiro,ainda eram portadoresde doençasou
estavam enfraquecidospela experiênciada viagem,e as taxas de mortalidadeentre
esses escravosrecém-chegadosera bastante alta nos primeiros meses de vida no
Novo Mundo. Portanto,o tráfico trouxe novos imigrantespara a América,mas tam-
bém introduziunovas doençase foi, ele próprio,muitas vezes a causa da mais alta
mortalidadeexperimentadapelos escravosrecém-chegados.
Um último aspecto do tráfico, que recentementetem recebidomuita atenção no
Brasil, é a questãodo volume e importânciado tráfico interno,principalmenteapós a
extinção formal do tráfico atlântico em 1850. No Brasil,o tráfico nuncafoi um movi-
mento exclusivamenteda África para esse pafs. Houve um prósperotráfico de reex-
portaçãode escravosdestinadosao Brasil para as colôniasespanholasnas regiões
do Rio da Prata(18).Existiu, também, um constantemovimentode escravosafrica-
(1a) O clássicoestudosobre esse tópico está em: STUDEA(1958);ver tambémGO~BAN (1971).
144 EstudosEconômicos,São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987
HerbertS. Klein
~~5 e crioulos entre portos brasileiros,inclusive no apogeu do tráfico atlântico. Esse
tráfico interno atuou no sentido de transferiro excessode escravosde um mercado
a outro ao longo da costa(19). Mas a movimentaçãoem massaocorreuapós a extin-
ção do tráfico atlântico em 1850.
Certas caracterfsticas do tráfico internoapós 1850tornaram-semais claras recen-
temente. Em primeirolugar,seu volume não foi tão grandequanto o do tráfico atlân-
tico e, portanto,não provocoutantas mudançasna redistribuiçãoda populaçãoquan-
to este último. Em segundo,pode-sedividir o tráfico internoessencialmenteem dois
tráficos distintos. Um deles é o tráfico inter-regional,que transportouprincipalmente
escravosadultos especializados,das zonas açucareirasnordestinase de criaçãode
gado sulinas para as regiõesdas grandeslavourascafeeirasno Rio de Janeiro,Minas
.Gerais e São Paulo. Esse foi um tráfico hidroviárioe deslocouem maior porcenta-
gem trabalhadoresadultos,especializadJse urbanos;seu impactoglobal não foi tão
importantequantob tráfico intra-regional.
Este segundo tipo envolveu,em geral, mais escravosjovens e não especializa-
dos, em comparaçãocom o tráfico marftimo,e foi muito mais diretamenteligado à
agriculturade exportação.Consistiu na transferênciade escravosde regiõescafeei-
ras em declfnio, como Vassouras,por exemplo,para novoscentroscafeeirosem São
Paulo, ou ainda de regiões decadentespara outras mais desenvolvidasdentro da
mesma provfncia.Isso foi, sem dúvida,o que ocorreuno Rio de Janeiroe em Minas
Gerais. Segundoe ~enso de 1872, apenasSão Paulo apresentavauma proporção
significativa de seus escravoscrioulos nascidosfora da provfncia(cercade 16% do
total, em contraste com apenas 3% no Rio e menos de 2°/o em Minas Gerais.
(KLEIN, 1978, p. 113). Nesse tráfico por via terrestresomente São Paulo procurou
escravosalém de sua própria região. Segundotrabalhode Robert Slenes,o tráfico
terrestrepaulistaocupou-seprincipalmentede escravospara trabalharna agricultura,
provenientesdas regiões de criação de gado no sul. Esse tipo de tráfico prosperou
na década de 1870, ao declinaro tráfico de navegaçãocosteiradevido aos repressi-
vos impostosde exportaçãocobradospelas respectivasprovínciasexportadoras(ID).
Minas Gerais foi o caso mais incomum entre as provínciasimportadorasde es-
cravos. Embora não possufsseuma populaçãoescrava significativaempregadana
agriculturade plantation, Minas foi grande importadorade africanosaté 1850e, pro-
vavelmente,importou mais do que exportouescravosresidentesa partir desse ano
até a extinção do tráfico interno na décadade 1880,segundotrabalho recente dos
irmãos Martins (MARTINSFILHO & MARTINS,1983, p. 549)(21).Sua análisedemo-
gráfica sobre a populaçãoescravade Minas Gerais no século dezenovepareceser
(19) Na primeira metadeda década de 1730(1731-1735)cercade 1.289escravospor ano chegaramde Per-
nambuco.ArquivoNacionalTorre do Tombo, Manuscritosda Livraria,Brasil, Livro 2, f. 240.
(20) RobertSlenesfornecea análisedemográficamais detálhadadessetráficopós-1873. Ver seu apêndiceA,
em (1976). Para uma análiseminuciosado tráfico hidroviáriodo períodoinicial, ver KLEIN(1971).
(21) A estimativadessesautoresé de 400.000escravosimportadospor Minasno período1800-1870.
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 145
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
confirmada por trabalhos recentes de outros autores(22).Entretanto, sua análise
econômicada utilização que se deu a essa grande populaçãoescravada província
originou um movimentadodebate, que promete inaugurarum campo de pesquisas
inteiramentenovo no estudoda escravidãobrasileira(23).
Emboraas dimensõesabsolutasdo tráfico internode escravosnão tenhamainda
sido completamentedescritas,pode-se afirmar que houve realmentea tendênciaa
transferir escravos das regiões em declínio para os setores economicamentemais
avançados,não sendo essa a única razão da alta concentraçãode escravosna la-
vouracafeeirana décadade 1880.Essa concentraçãofoi também influenciadapelos
altos e crescentesrndices de manumissõesna região dos engenhosde açúcarnor-
destinos, onde se verificou, antes das outras regiões, a conversãopara o uso da
combinaçãode mão-de-obralivre e escrava(24).Contudo,a avaliaçãodo impactoto-
tal dos dois aspectosdo tráfico internoainda necessitade estudosadicionais.
Apesar de atualmente já serem conhecidasas linhas gerais do tráfico de escra-
vos, ainda há muito a ser estudado.As áreas que precisamser exploradaspodem
ser agrupadasem categoriasmais amplas. Em termos do númerode escravosem-
barcados,o períodoanterior a 1700 foi pouco estudadocom relação ao Brasil de-
mandando,por conseguinte,pesquisasem arquivosportuguesese africanos,apesar
da existênciade trabalhossobre o tráfico portuguêsde São Tomé no séculodezes-
seis (VOGT, 1973) e da participaçãoportuguesano tráfico para a América Espa-
nhola no século dezessete(VILAR, 1977). Outras questões demográficasrelativas
ao tráfico incluem aspectos como as causas e conseqüênciasdas diferençasde
mortalidadeentre portos africanos;a mortalidadedos escravosrecém-chegados ao
Brasil; e a relação entre o tráfico e as doençase padrõesde mortalidadelocaisnes-
se pafs. Os efeitos de longo prazo sobre as regiões exportadorasafricanas,espe-
cialmente Congo e Angola,somenteagora estão sendo estudadospor historiadores
africanos. Finalmente, para melhor avaliar o impacto do tráfico africano sobre o
crescimento da população brasileira, são necessáriaspesquisas detalhadas,que
meçam as taxas de fecundidadedas escravascrioulase africanas.
Da mesma forma que o estudo demográficodos tráficos francês e britânicocon-
duziu a importantesquestõessobresua organizaçãoeconômicana Europa,América
e África, o mesmo aconteceucom o estudo do tráfico brasileiro.Vários problemas
relativos à demografiado tráfico ainda não foram explorados;entretanto,os aspec-
tos comerciaisdo tráfico para o Brasil foram ainda menos analisados.Foram reali-
zados alguns trabalhos iniciais sobre a organizaçãocomercial angolana (MILLER,
1979) e sobre alguns dos primeirostraficantes(SALVADOR,1981 e MILLER,1984).
(22) Ver, por exemplo, PAIVA (1986).
(23) Ver, por exemplo, LUNA & CANO (1983) e SLENES (1985) para as discussões mais recentes.
(24) Um estudo sobre Pernambuco estimou que essa província perdeu 22.000 escravos com o tráfico interpro-
vincial, no período 1850 a 1881. Igual mlmero perdeu-se através de manumissões privadas e 49.000
através de fundos públicos de emancipação. Portanto, apenas 24% dos escravos foram perdidos devido
ao tráfico interno (EISENBERG, 1970).
146 EstudosEconômicos,São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987
Herbert S. Klein
Existem também amplos estudos das compras de escravose preços pagos pelas
companhiaspombalinasna obra de Antonio Carreira,o qual inclusivejá começoua
desenvolvernovo material sobre o tráfico de Moçambiqueno século dezenove(25).
Contudo, são necessáriasanálisesmuito mais detalhadassobre os custos de apro-
visionamentodos navios no Brasil, a verdadeiracombinaçãode cargasde mercado-
rias usadas na comprados escravose a importânciarelativa das mercadoriaseuro-
péias e asiáticas;essesaspectosjá são conhecidoscom relaçãoao tráfico francêse
inglês(26),mas sabe-semuito pouco sobre o brasileiro.Quem construfae comprava
os navios negreiros;quem financiavaas viagens;qual a importânciarelativado capi-
tal brasileiroou português-angolano;quem forneciacrédito aos proprietáriosbrasilei-
ros de escravospara comprá-los,e sob quais condições;finalmente,quantoscomer-
ciantes controlavamo tráfico e qual o impactodisso sobreos preçosdos escravose
a verdadeiraprodução?Enquantomuitas dessasquestõessão compreendidasape-
nas de modo imperfeito no referenteàs colônias britânicasou espanholas,para o
contextobrasileironada ainda se conhece.
Embora os novos estudossobreo tráfico africanode escravospara o Brasil, nas
últimas quatro décadas,tenham aberto um campo de investigaçãointeiramenteno-
vo, também levantaramnovas questões.Porém,a alta qualidadedos trabalhosrea-
lizados até o presentee a rapidezcom que questõesnovase cada vez mais com-
plexas têm emergidoprometemtransformaressa área de estudo em uma das mais
interessantespara futuras pesquisasna históriademográfica,econômicae social do
Brasil.
ReferênciasBibliográficas
ALENCASTRO,Luiz Felipe de. Le Commercedes Vivants:Traite d' Esclaveset 'PaxLusitana'dans l'Atlantique
Sud. These de Doctorat.ParisX, Paris, 1985, 3 vols.
ANDERSON,B. L & RICHARDSON,David. MarketStructureand Profitsof the BritishAfricanSlaveTrade in the
Late 18thCentury.Joumal of EconomicHistoryXLIII, 1983 e XLV, 1985.
ANSTEY,RogerT. TheAtlanticS/ave Tradeand BriNshAbolition, 1760-181o.Cambridge,1975.
___ & HAIA, P.E.H. (eds.).Liverpool, TheAfricanS/ave Tradeand Abolition. Liverpool, 1976.
BIRMINGHAM,David. Tradeand Conflictin Angola... 1483-1790.OxfordUniversityPress, 1966.
CARREIRA,Antonio.Notassobre o TráficoPortuguésde Escravos.2ª ed. Lisboa, 1983a.
---· Tráfico Portuguésde Escravosna Costa OrientalAfricana nos Começosdo Stlculo XIX (Estudode
Um Caso). Lisboa, 1979 (Estudosde AntropologiaCultural, 12).
___ . As CompanhiasPombalinasde Navegação,Comdrcioe Tráficode Escravosentrea CostaAfricanae
o NordesteBrasileiro. 1ª ed. Porto, 1969; 2ª ed. Lisboa, 1983b.
COHEN, David W. & GREENE,J.P. Neither Slave Nor Free: The Freedmen of African Descentin the... New
World. Baltimore,1972.
CONRAD,Robert.E. Tumbeiros.O Tráficode Escravospara o Brasil. São Paulo, 1985.
COSTA1 lraci dei Nero da. Popu/aç6esMineiras. São Paulo, 1981.
CUNHA, Manuela Caneiro da. Negros, Estrangeiros.Os EscravosLibertose sua Voltaà Africa. São Paulo, Bra-
siliense, 1985.
(25) Além dos demais trabalhos de Antonio Carreira, ver tambám suas obras datadasde 1979 e 1984 nas re-
ferênciasbibliográficas.
(26) Os dois melhores estudossão ANSTEY(1975) e MEYER(1969). Ver também STEIN (1979) e o recente
conjunto de artigos de INIKORI,THOMAS& BEAN, entre outros, que foi resumidoem dois recentesarti-
gos de ANDERSON& RICHARDSON(1985).
EstudosEconômicos,São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago.1987 147
DEMOGRAFIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
CURTIN, Philip D. The AtlanticSlave Trade:A Census. Wisconsin, University of Wisconsin Press, 1969.
DONNAN, Elizabeth. Documents lllustrative of the History of the Slave Trade to Arnerica. Washington, D.C.,
1930, 4 vols.
EISENBERG, Peter L From Slave to Free Labor on Sugar P/antations:the Processin Pernambuco.American
Historical Association, 1970.
ELTIS, David. EconomicGrowthand the Ending ofthe TransatlanticSlave Trade. New York, 1987a.
--- • l'he Nineteenth Century Transatlantic Trade. HispanicAmericanHistoricalReview, jan. 1987b.
--- & WALVIN, James (eds.) TheAbolition of the Atlantic Slave Trade. Madison, Wisconsin, 1981.
ENGERMAN, Stanley & GENOVESE, Eugene. Race and Slavery in the WesternHemisphere: QuantitativeStu-
dies. Princeton, 1975.
GARLAND, Charles & KLEIN, Herbert S. the Allotment of Space for African Slaves Aboard Eighteenth Century Bri•
tish Slave Ships. Williamand Mary Quarterly,XL/I (2), April 1985.
GASTON-MARTIN. Négrierset Bois d'~bêne. Grenoble, 1934.
--- . Nantesau XV/118 Siêcle. L'ere des Négriers(1714•1774).Paris, 1931.
GORBAN, Samuel. EI Tráfico Negrero en el Rio de La Plata. EstudosHistóricos,X, Marnia.1971.
GOULART, Mauricío. EscravidãoAfricana no Brasil (das Origens ~ ExtinçAodo Trafico). 1~ ed. São Paulo, 1949.
INIKORI, J.E. (ed.). Forced Migration: the lmpact of the Export S/ave Trade on African Societies. London, Hut-
chinson, 1982.
KIERNAN, James P. The Manumissionof Slaves in Colonial Brazil, Paraty, 1789-1822.Ph.D. diss., New York
University, 1976.
KLEIN, Herbert S. African Women in the Atlantic Slave Trade. ln: ROBINSON, Claire & KLEIN, Martin A. (eds.)
Womenand Slaveryin Africa. Madison, University of Wisconsin Press, 1983.
--- . Os Homens Livres de- Cor na Sociedade Escravista Brasileira. Dados. Rio de Janeiro, (17): 3·27,
1978.
---· The Middle Passage. ComparativeStudíesin the Atlantic Slave Trade. Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 1978.
---· O Tráfico de Escravos Africanos para o Porto do Rio de Janeiro, 1825-1830. Anais de História, V,
Assis, 1973.
___ . The Internai Slave Trade in Nineteenth Century Brazil: A Study of Slave lmportations into Rio de Ja-
neiro in 1852. HispanicAmericanHistoricalReview, LI(4), Nov. 1971.
___ & ENGERMAN, Stanley. A Demografia dos Escravos Americanos. ln: MARCÍLIO, Maria Luiza (ed.)
Populaçãoe Sociedade.Evoluçãodas SociedadesPré-Industriais.Petrópolis, Vozes, 1984, p. 208-227.
----. Fertility Differentials between Slaves in the United States and the British West lndies: a Note on Lac-
tation Practices and their lmplications. Williamand Mary Quarterly,XXXV (2), April 1978.
LOPES, Edmundo Correia. A Escravatura(Subsidiaspara sua História). Lisboa, 1944.
LOVEJOY, Paul E. Transformationsin Slavery.A Historyof Slaveryin Africa. Cambridge, 1983.
----• The Volume ofthe Atlantic Slave Tr;:\de: a Synthesis. Journal of African History22 (4), 1982.
LUNA, Francisco Vidal & CANO, Wilson. Economia Escravista em Minas Gerais. CadernosIFCH/UNICAMP(10),
1983.
MARTINS FILHO, Amilcar & MARTINS, Roberto B. Slavery in a Nonexport Economy: Nineteenth Century Minas
Gerais Revisited. HispanicAmericanHistoricalReview, 63 (3): 549, 1983.
MATTOSO, Katia M. de Queirós. Testamentosde EscravosLibertosna Bahia no século XIX. Bahia, 1979.
___ . A Carta de Alforria como Fonte Complementar para o Estudo da Mão-de-Obra Escrava Urbana
(1819·1886). ln: PELAEZ, Carlos & BUESCU, M. (eds.). A ModernaHistóriaEconómica.Rio de Janeiro,
1976.
MERRICK, Thomas & GRAHAM, Douglas. Populationand EconomicDevelopmentin Brazil, 1800to the Present.
Baltimore, 1979.
METTAS, Jean. Répertoiredes ExpéditionsNégriéresFrançaisesau XV/118 Siécle. Paris, 1978-1984, 2 vols.
___ . La Traite Portugaise en Haute Guinée 1758-1798. Journal of African History,XVI (3): 352, 1975.
MEYER, Jean. L 'armamentNantaisdans /e DeuxiémeMoitié du XV/119 Sikle. Paris, 1969.
MILLER, Joseph. Capitalism and Slaving. The Financial and Commercial Organization of the Angolan SIave Tra-
de According to the Accounts of Antonio Coelho Guerreiro (1684-1692). lnternationalJournal of African
History, (17), 1984.
___ . Some Aspects of the Commercial Organization of Slaving at Luanda, Angola, 1760-1830. ln: GE•
MERY, H.A. & HOGENDORN, J.S. (eds.). The UncommonMarket Essaysin theEconomicHistoryofthe
Atlantic Slave Trade. New York, 1979.
---· Legal Portuguesa Slaving from Angola... 1760-1830. Revíew Française d'Histoire d'Outre-Mer,
42 (226-227), 1975.
MINCHINTON, Wattereta/. VirginiaS/ave TradeStatistics,1698-1775.Richmond, 1984.
NOVAIS, Fernando. Portugale Brasil na Crise do Antigo SistemaColonial, 1777-1808.São Paulo, 1979.
PAIVA, Clotilde A. Minas Gerais no Século XIX. Aspectos Demográficos de Alguns Núcleos Populacionais. ln:
148 Estudos Econômicos, São·Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987
Herbert S. Klein
CôSTA, lraci dei Neroda (org.).Brasil: HistóriaEoonómicae DemogrAfica.São Paulo, 1986.
~EBELO, Manueldos Anjosda Silva.RelaçõesentreAngola e o Brasil, 1808-1830.Lisboa, 1970.
REVUEFrançaised'Histoired'Outre-Mer,LVII,(226-227), 1975.(númeroespelcial).
RINCHON,Dieudonné.Lá Traiteet l'esclavagedes congolaisepar /es Européens.Bruxelles,1929.
SALVAOOR,José Gonçalves.Os Magnatasdo TrélfiooNegreiro. São Paulo, 1981.
SCHWARTZ,Stuart B. Sugar Plantationsin the Formationof Brazilian Society,Bahia, 1550-1835.Cambridge,
1986.
---· The Manumissionof Slaves in Colonial Brazil: Bahia, 1684-1745.HispanicAmericanHistoricalRe-
view54 (4), 1974.
SLENES, Robert W. Os Múltiplosde Porcose Diamantes:A EconomiaEscravistaem Minas Gerais no Sáculo
XIX.CadernosIFCHIUNICAMP(17), 1985.
---· The Demographyand Economicsof Brazilian S/avery: 1850-1888.Ph.D.diss.,StanfordUniversity,
1976.
STEIN, Robert F. The French Slave Trade in the EighteenthCentury,An Old RegimeBusiness. Madison,Wis-
consin, 1979.
STUDER,Elena F.S. de. La Tratade Negrosen e/ Rio de La Plataduranteel SiglaXVIII. BuenosAires. 1958.
VERGER,Pierre. F/ux et Reflux de la Traite des NtJgresentre /e Goffe de Bánin et Bahia... 1fP au 1g8 Sitlcle.
Paris, 1968.
VILAR,EnriquetaVila Hispano-Americay e/ Comerciode Esclavos.Los AsientosPortugueses.Sevilla, 1977.
VOGT, John L. The Early SãoToméPríncipeSlaveTrade with Mina, 1500-1540.lntemationa/JoumalofAfrican
HistoricalStudies, VI (3), 1973.
Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987 149
Você também pode gostar
- Inventários e Sequestros - Fontes para A História SocialDocumento16 páginasInventários e Sequestros - Fontes para A História SocialRonaldo SantosAinda não há avaliações
- O Município No Brasil ColôniaDocumento21 páginasO Município No Brasil ColôniaRonaldo SantosAinda não há avaliações
- A Cultura Brasileira Fernando de AzevedoDocumento839 páginasA Cultura Brasileira Fernando de AzevedoRonaldo SantosAinda não há avaliações
- O Que É Família Danda PradoDocumento53 páginasO Que É Família Danda PradoRonaldo SantosAinda não há avaliações
- Dissertação de Mestrado - Fabio SantosDocumento118 páginasDissertação de Mestrado - Fabio SantosRonaldo SantosAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO ANTONIO VITÓRIA (Versão Corrigida Com Sumário)Documento155 páginasDISSERTAÇÃO ANTONIO VITÓRIA (Versão Corrigida Com Sumário)Ronaldo SantosAinda não há avaliações
- Colleccao Leis 1875 Parte3Documento600 páginasColleccao Leis 1875 Parte3Ronaldo SantosAinda não há avaliações
- Colleccao Leis 1875 Parte2Documento1.067 páginasColleccao Leis 1875 Parte2Ronaldo SantosAinda não há avaliações
- Medo Vergonha Necessidade e Protagonismo Os Meninos de Rua em SalvadorBA BRASIL e em DacarSenegal Alain Pascal KalyDocumento420 páginasMedo Vergonha Necessidade e Protagonismo Os Meninos de Rua em SalvadorBA BRASIL e em DacarSenegal Alain Pascal KalyRonaldo SantosAinda não há avaliações
- Colleccao Leis 1875 Parte1Documento205 páginasColleccao Leis 1875 Parte1Ronaldo SantosAinda não há avaliações
- Livro Macaé IbgeDocumento20 páginasLivro Macaé IbgeRonaldo SantosAinda não há avaliações
- A Formação Familiar Dos Escravos Na Freguesia de Nossa Senhora Das Neves Do Sertâo de Macaé, 1809 A 1822Documento11 páginasA Formação Familiar Dos Escravos Na Freguesia de Nossa Senhora Das Neves Do Sertâo de Macaé, 1809 A 1822Ronaldo SantosAinda não há avaliações
- Compadrio e Escravidão - Uma Análise Do Apadrinhamento de Cativos em São João Del Rei, 1730-1850Documento21 páginasCompadrio e Escravidão - Uma Análise Do Apadrinhamento de Cativos em São João Del Rei, 1730-1850Ronaldo SantosAinda não há avaliações