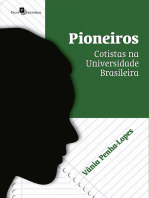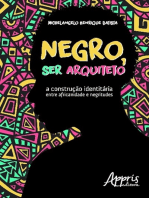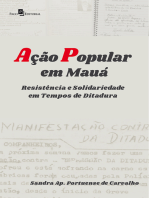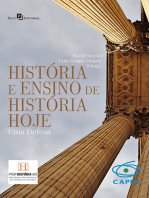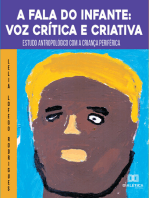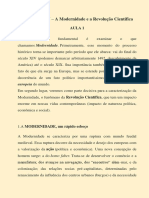Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Pensamento Africano No Século XX 1
O Pensamento Africano No Século XX 1
Enviado por
Antonio Alves0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
46 visualizações5 páginasTítulo original
O pensamento africano no século XX 1
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
46 visualizações5 páginasO Pensamento Africano No Século XX 1
O Pensamento Africano No Século XX 1
Enviado por
Antonio AlvesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
O pensamento africano no século XX
Livro reúne ideias dos principais
pensadores africanos do século 20
Paulo Henrique Pompermaier
3 de fevereiro de 2017
Para o organizador da obra, José Rivar Macedo, todo o conhecimento produzido pelo
Ocidente sobre a África corresponde a ‘formas de predação’
Com o “modesto” objetivo de apresentar as principais linhas de pensamento de autores
africanos, o livro O pensamento africano no século XX reúne textos de dezesseis especialistas
brasileiros que apresentam um panorama geral da intelectualidade africana no século passado.
“Conforme apontaram estudiosos eminentes, o conhecimento produzido pelo Ocidente sobre a
África correspondeu a formas de predação em diversos níveis, e a restituição da autonomia
plena implica na devolução aos africanos de sua capacidade de resolver seus próprios
problemas, de gerir suas riquezas, de conhecer o seu passado, discutir o seu presente e esboçar
as linhas de seu futuro”, afirma o organizador da obra, o professor da UFRGS José Rivair
Macedo.
O anti-colonialismo, a descolonização e o pós-colonialismo da África são alguns dos temas
essenciais tratados por esses pensadores africanos, que, participando dos movimentos de
libertação do continente, foram chefes de Estado, filósofos, escritores, historiadores e
cientistas sociais. Entre eles, estão nomes como Léopold Sédar Senghor, Joseph Ki-Zerbo,
Frantz Fanon, Achille Mbembe e Paulin Hountondji.
Em entrevista à CULT, o professor falou sobre as raízes e a importância do movimento.
CULT – A África é um continente com mais de 50 países. Dentro dessa diversidade
cultural, religiosa, política e social, como você definiria um pensamento africano?
José Rivair Macedo – É muito difícil formular uma definição precisa do que seria o
“pensamento africano”. As conceituações são forçosamente limitadas e quase sempre
restringem as possibilidades de apreensão da complexidade do real. Em última instância, não
existe um “pensamento africano”, como também não existem um “pensamento europeu”, um
“pensamento ocidental” ou um “pensamento brasileiro”. Entretanto, se a diversidade é o que
prevalece na base das experiências locais e na originalidade das vivências compartilhadas
pelas dezenas de organizações estatais e pelos inumeráveis grupos etnolinguísticos espalhados
pelo continente, nos últimos séculos o processo de unificação planetária promovido pelo
capitalismo ocidental classificou, hierarquizou e criou formas de domínio de caráter
econômico, político e cultural e forçou a aproximação entre pessoas, grupos e instituições
originalmente distintas, gerando pautas de reivindicação comuns. Então, embora a ideia de um
“pensamento africano” guarde em si uma parcela de artificialidade, ela passou a existir
gradualmente a partir do momento em que pessoas nascidas em diferentes partes da África – e
mesmo fora dela, na Diáspora negra – passaram a reivindicar para si uma identidade ancestral
comum.
Quando isso começou?
É muito provável que isso tenha acontecido pela primeira vez no princípio do século 16,
quando o erudito afro-muçulmano de origem marroquina chamado Hassan al-Wazzan (c.
1486- c. 1535) foi levado prisioneiro para as cortes da atual Itália, onde se tornou secretário
do papa Leão X e, com o nome católico de “João Leão o Africano” escreveu a primeira obra
de caráter enciclopédico sobre o continente, a Description de l’Afrique (1530), que até o
século 18 seria uma referência obrigatória de leitura sobre o Magreb e a África subsaariana
pelos letrados europeus. Séculos depois, na primeira metade do século 18, no mesmo contexto
em que adeptos do ideário iluminista viam os nativos do continente africano como seres
desprovidos de plena humanidade, relegando-os a estágios inferiores na escala evolutiva ou
negando-lhes a capacidade de gerir de modo autônomo sua existência, um homem nascido na
antiga região da Costa do Ouro (atual república de Ghana), chamado Anton Whilelm Amo
(1703-1753), formou-se em Filosofia e lecionou em universidades germânicas de Halle,
Wittemberg e Iena, adotando para si o nome de Amo Guinea Afer, isto é, “Amo guineense, o
africano”. Vê-se então que, nesses casos, o genitivo objetivo “africano” resulta de
pertencimentos construídos, reivindicados. Tendo isso em mente, e em conformidade com os
argumentos do filósofo marfinense Paulin Hountondji, um dos intelectuais enfocados em
nosso livro, defino como “pensamento africano” um conjunto de textos escritos por
intelectuais que se afirmam como africanos, elaborados com a finalidade de expressar ou
interpretar a posição de seus congêneres em relação ao mundo. Este se distingue dos saberes
inerentes aos sistemas religiosos tradicionais, calcados na oralidade e na ancestralidade; do
pensamento negro diaspórico, com que parcialmente se identifica; e do pensamento de tipo
eurocêntrico, difundido no continente no período de dominação colonial, ao qual, aliás,
muitas vezes se opõe ao oferecer alternativas endógenas de explicação dos fenômenos sociais,
políticos, econômicos e culturais.
Há um elemento, além da geografia, que une os pensadores trabalhados no livro, uma
temática que você percebe como o centro das preocupações desses intelectuais?
Ao contrário do que ocorreu nos séculos anteriores da longuíssima história da África, quando
os africanos eram plenamente senhores de seu destino, no século 20 seus povos viveram
durante décadas sob dominação colonial, lutaram pela autodeterminação e foram forçados a
reconstituir sua existência no contexto da descolonização e da reorganização político-social
do período pós-colonial. A fratura colonial e seu duplo, o racismo, produziram aproximações
potencialmente inovadoras entre africanos e afro-americanos, e movimentos de valorização
cultural e de afirmação político-social lastreados na ideia de uma solidariedade
transcontinental entre os povos negros – em primeiro lugar o Pan-africanismo, e os conceitos
de “personalidade africana” e “negritude”. Alguns intelectuais estudados no livro participaram
ativamente da história política, liderando movimentos de libertação e ajudando a criar nações
(Frantz Fanon, Amilcar Cabral), certos deles alcançaram a posição de chefes de Estado
(Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah). Outros são filósofos (Marcien Towa, Paulin
Hountondji, V. Y.Mudimbe, Severino Ngoenha), historiadores (Joseph Ki-Zerbo), escritores
(Wole Soyinka) ou cientistas sociais (Cheikh Anta Diop, Achille Mbembe) que ganharam
notoriedade ao propor explicações sobre a condição dos africanos no cenário internacional,
sobre as alternativas encontradas por eles para criar instituições políticas e sociais modernas,
rompendo ou não com as formas tradicionais de organização vigentes em todo o continente.
Não há o perigo de homogeneizar essa diversidade ao se falar em ‘pensamento
africano’?
Em face do dilema diante da escolha entre a unidade e a diversidade, seguimos a posição do
eminente cientista social Elikia Mbokolo, da École dês Hautes Études en Sciences Sociales,
para quem, na África como em todo lugar, a história é marcada por processos dinâmicos, com
continuidades, adaptações e rupturas. Alguns desses processos aproximam povos e
sociedades, outros produzem identidades locais, intercâmbios e intensa circulação de estilos
de vida, crenças e ideias, modelos de organização sócio-política. Unidade e diversidade são
elementos intercambiáveis para a explicação do real africano, e a escala que melhor convém
escolher para interpretá-lo – única, da África, ou múltipla, das Áfricas -, depende dos
objetivos pretendidos. Quanto mais o foco se deslocar do exterior para o interior do
continente, mais prevalecerá a diversidade, a singularidade e a especificidade
étnicolinguística, religiosa, cultural, regional. Mas convém não esquecer que, no período
contemporâneo, essas dinâmicas locais são, a todo o instante, afetadas em virtude de
processos de unificação econômica e políticas exteriores a que estão ligados fenômenos de
extroversão desenvolvidos pelas elites africanas associadas ao capital internacional. De modo
que, seja qual for a escala de análise, as formas de expressão do ser africano são
eminentemente periféricas, subalternas, enquadradas segundo critérios de distinção étnico-
racial impostos de fora para dentro. Entendo que o perigo da homogeneização ronda as
interpretações generalizantes, globalizantes, pouco propensas a considerar a complexidade e o
papel dos contextos regionais e locais, mas o acento na diversidade guarda também seus
riscos, e num ensaio famoso Kwame Nkrumah denunciou o perigo da balcanização do
continente como o mais perverso efeito do neocolonialismo. Gosto particularmente da posição
defendida pelo escritor Chinua Achebe, citada em epígrafe num dos capítulos do livro de
Anthony Kwame Appiah intitulado Na casa de meu pai (1997), quando o romancista diz:
“Sou um escritor ibo, porque essa é minha cultura básica; nigeriano, africano e escritor…
Não, primeiro negro, depois escritor. Cada uma dessas identidades efetivamente invoca certo
tipo de compromisso de minha parte. Devo enxergar o que é ser negro – e isso significa ser
suficientemente inteligente para saber como gira o mundo e como se saem os negros no
mundo. É isso que significa ser negro. Ou africano – dá no mesmo: que significa a África para
o mundo? Quando se vê um africano, que significa isso para o homem branco?”
O livro ajuda a colocar os povos africanos como protagonistas da história?
Espero que sim. Já se tornou lugar comum considerar a África como o “berço da
humanidade”. Poucos hoje se dão conta que há sessenta anos tal assertiva seria tomada como
um disparate, um absurdo. As publicações de Cheikh Anta Diop, a começar por Nações
negras e cultura (1954) inovaram ao introduzir o debate sobre a anterioridade africana na
História da Humanidade e ao reivindicar o vínculo matricial entre o Egito e a África negra.
Envoltas em polêmica e seguidas de intenso debate, as ideias diopianas exerceram forte
influência na tendência interpretativa conhecida como afrocentrismo, que, por sua vez, foi e
continua a ser fundamental como base de sustentação teórico-conceitual dos movimentos
negros americanos. Independente do quanto tenham, ou não, lastro em dados empíricos, do
quanto comportem mais de ideologia do que de conhecimento cientificamente comprovado –
e aqui a definição de “ciência” esbarra em pressupostos que não são consensuais -, a recepção
e difusão do ideário afrocentrista reveste-se de grande eficácia simbólica, cultural, social.
Porem, se a defesa da anterioridade, especificidade ou autenticidade africana correm o perigo
de recair em essencialismos e em contra-discursos, o reconhecimento das dinâmicas africanas
de longa duração defendidas nos anos 1960-1970 por Joseph Ki-Zerbo abriram outras
possibilidades ao reconhecimento do protagonismo dos povos africanos na história. Os ritmos,
temporalidades, circularidade e entrecruzamentos que dão sentido às diversas experiências
históricas do continente provam a autonomia de suas instituições originárias e sua enorme
capacidade de adaptação e resistência. Uma das marcas distintivas dos africanos no mundo
tem sido sua propensão para lidar com diferentes signos, conferindo-lhes sentidos
reconfigurados, recompondo-os de acordo com o contexto e com a situação em que se veem
inseridos, dentro e fora do continente.
Normalmente a Grécia Antiga é colocada como o berço da filosofia. Produções
intelectuais, contemporâneas aos filósofos antigos, de outras partes da África, como do
Egito, muitas vezes são ignorados quando se fala do surgimento da filosofia porque não
carregam o racionalismo ocidental. Você acha que ainda há esse processo de
desvalorização da produção intelectual não eurocêntrica?
Seria preciso problematizar nossa ideia de “normalidade” e admitir o quanto nosso
desconhecimento de outras culturas e formas de pensamento decorre de limitações inerentes a
nossa condição subalterna. Desde o título de uma de suas obras, o filósofo Paulin Hountondji
formula a questão que em minha opinião deveria ser central: La rationalité, une ou plurielle?
(A racionalidade, una ou plural?) (2007). O que tem sido colocado em discussão é a eleição
da filosofia e do logos helênico ressignificado em ambiente judaico-cristão como paradigma
universal de conhecimento. Para o filósofo e filólogo V. Y. Mudimbe, da Universidade de
Duke, a gnose africana resulta de sucessivas interações entre tradições, formas de
conhecimento nutridos pela tradição oral, e o saber formal de tipo ocidental. Também
Hountondji tem desenvolvido diversos seminários e orientado projetos de investigação sobre
o que ele denomina de “conhecimentos endógenos”, em que o saber formal e o saber-fazer, o
escrito e o oral, a tradição ancestral e a ciência não são colocados em confronto, e sim em
interação. O importante é ter em mente que os processos de aquisição, acumulação e
transmissão de conhecimento não são isolados, mas se encontram em constante circulação,
sendo apropriados e utilizados de acordo com diferentes interesses e finalidades.
Qual é a importância deste livro?
A elaboração de uma obra como a que aqui se discute assume de imediato uma posição em
face do etnocentrismo e reveste-se de caráter anti-racista. Não quer dizer que apenas pessoas
originárias da África devam ter exclusividade nas interpretações formuladas sobre sua
realidade, mas que é importante garantir a elas espaço de enunciação, de modo a conhecermos
diretamente sua palavra, seus pontos de vista. Conforme apontaram estudiosos eminentes,
entre os quais o historiador nigeriano Toyn Falola, o conhecimento produzido pelo Ocidente
sobre a África corresponde a formas de predação em diversos níveis, e a restituição da
autonomia plena implica na devolução aos africanos de sua capacidade de resolver seus
próprios problemas, de gerir suas riquezas, de conhecer o seu passado, discutir o seu presente
e esboçar as linhas de seu futuro, enfim, implica em lhes conferir “poder de definição”. Nosso
livro não pretende atingir o público acadêmico, menos ainda os especialistas em Estudos
Africanos, para quem a maior parte dos assuntos tratados é familiar. Alguns intelectuais aqui
estudados (Léopold Senghor, Joseph Ki-Zerbo,Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Severino
Ngoenha) tem sido mais ou menos estudados em dissertações e teses, enquanto outros
(Kwame Nkrumah, Marcien Towa, Cheikh Anta Diop, Paulin Hountondji, V. Y. Mudimbe,
Achille Mbembe) carecem de estudos especializados em nosso país. O livro tem o objetivo
modesto de apresentar as principais linhas de rumo da obra desses autores, cujos textos são
essenciais para a compreensão do colonialismo, anti-colonialismo e pós-colonialismo na
África.
Você também pode gostar
- Saúde integral: Uma interação entre ciência e espiritualidadeNo EverandSaúde integral: Uma interação entre ciência e espiritualidadeAinda não há avaliações
- ORTIZ, Renato. Imagens Do BrasilDocumento25 páginasORTIZ, Renato. Imagens Do BrasilSherida ColassoAinda não há avaliações
- Juventudes: violência, biocultura, biorresistênciaNo EverandJuventudes: violência, biocultura, biorresistênciaSilvia Helena Simões BorelliAinda não há avaliações
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoNo EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoAinda não há avaliações
- História Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2No EverandHistória Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2Ainda não há avaliações
- 100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasNo Everand100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasAinda não há avaliações
- Os Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaNo EverandOs Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaAinda não há avaliações
- Negro, ser arquiteto: a construção identitária entre africanidade e negritudesNo EverandNegro, ser arquiteto: a construção identitária entre africanidade e negritudesAinda não há avaliações
- O pensamento negro em educação no Brasil: expressões do movimento negroNo EverandO pensamento negro em educação no Brasil: expressões do movimento negroAinda não há avaliações
- Preconceito De Marca X Preconceito De Origem Na AtualidadeNo EverandPreconceito De Marca X Preconceito De Origem Na AtualidadeAinda não há avaliações
- Quando Arte e Cultura falam em Desenvolvimento:: Atores Sociais e Experiências do Mundo Rural no Noroeste MineiroNo EverandQuando Arte e Cultura falam em Desenvolvimento:: Atores Sociais e Experiências do Mundo Rural no Noroeste MineiroAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Por abismos… casas… mundos…: Ensaio de geosofia fenomenológicaNo EverandPor abismos… casas… mundos…: Ensaio de geosofia fenomenológicaAinda não há avaliações
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsAinda não há avaliações
- Imigração atual: dilemas, inserção social e escolarização Brasil, Argentina e EUANo EverandImigração atual: dilemas, inserção social e escolarização Brasil, Argentina e EUAAinda não há avaliações
- Sociedade movediça: Economia, cultura e relações sociais em São Paulo: 1808-1850No EverandSociedade movediça: Economia, cultura e relações sociais em São Paulo: 1808-1850Ainda não há avaliações
- História da Educação no Rio Grande do Norte: Instituições Escolares, Infância e Modernidade no Início do Século XXNo EverandHistória da Educação no Rio Grande do Norte: Instituições Escolares, Infância e Modernidade no Início do Século XXAinda não há avaliações
- Ação Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraNo EverandAção Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- "Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização": pedagogia social, educação popular em saúde e perspectiva decolonialNo Everand"Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização": pedagogia social, educação popular em saúde e perspectiva decolonialAinda não há avaliações
- Reflexões sobre o Ministério Público Estadual Brasileiro: um estudo sobre o papel do promotor de justiça na defesa do direito à educação de qualidadeNo EverandReflexões sobre o Ministério Público Estadual Brasileiro: um estudo sobre o papel do promotor de justiça na defesa do direito à educação de qualidadeAinda não há avaliações
- Novos diálogos sobre a história da educação dos sentidos e das sensibilidadesNo EverandNovos diálogos sobre a história da educação dos sentidos e das sensibilidadesAinda não há avaliações
- Outras histórias: Ensaios sobre a composição de mundos na América e na ÁfricaNo EverandOutras histórias: Ensaios sobre a composição de mundos na América e na ÁfricaAinda não há avaliações
- Raízes da Diversidade Cultural: Aproximações e Distanciamentos da Diversidade Cultural na Escola em Contraste com o Mito da Torre de BabelNo EverandRaízes da Diversidade Cultural: Aproximações e Distanciamentos da Diversidade Cultural na Escola em Contraste com o Mito da Torre de BabelAinda não há avaliações
- Movimentos sociais latino-americanos: A chama dos movimentos campesino-indígenas bolivianosNo EverandMovimentos sociais latino-americanos: A chama dos movimentos campesino-indígenas bolivianosAinda não há avaliações
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- Diálogos sem fronteira: História, etnografia e educação em culturas ibero-americanasNo EverandDiálogos sem fronteira: História, etnografia e educação em culturas ibero-americanasAinda não há avaliações
- A criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoNo EverandA criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoAinda não há avaliações
- Cartas da África: Registro de correspondência, 1891-1893No EverandCartas da África: Registro de correspondência, 1891-1893Ainda não há avaliações
- Os movimentos e povos indígenas e a politização da etnicidade na Bolívia e no Peru: das etnogêneses às esquerdas no poderNo EverandOs movimentos e povos indígenas e a politização da etnicidade na Bolívia e no Peru: das etnogêneses às esquerdas no poderAinda não há avaliações
- Flavio Koutzii: Biografia de um militante revolucionário de 1943 a 1984No EverandFlavio Koutzii: Biografia de um militante revolucionário de 1943 a 1984Ainda não há avaliações
- As terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonNo EverandAs terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonAinda não há avaliações
- Transcartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralNo EverandTranscartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralAinda não há avaliações
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- Feminismos favelados: Uma experiência no Complexo da MaréNo EverandFeminismos favelados: Uma experiência no Complexo da MaréAinda não há avaliações
- Estudos interdisciplinares e as políticas de ações afirmativas: Pesquisas em raça e gênero no BrasilNo EverandEstudos interdisciplinares e as políticas de ações afirmativas: Pesquisas em raça e gênero no BrasilAinda não há avaliações
- Nos Rastros de Sujeitos Diaspóricos: Narrativas sobre a Diáspora Africana no Ensino de HistóriaNo EverandNos Rastros de Sujeitos Diaspóricos: Narrativas sobre a Diáspora Africana no Ensino de HistóriaAinda não há avaliações
- Os Povos Indígenas e os Sertões das Minas do Ouro no Século XVIIINo EverandOs Povos Indígenas e os Sertões das Minas do Ouro no Século XVIIIAinda não há avaliações
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresNo EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAinda não há avaliações
- Luta pela Terra: Pedagogia de Emancipação Humana? experiências de luta da CPT e do MSTNo EverandLuta pela Terra: Pedagogia de Emancipação Humana? experiências de luta da CPT e do MSTAinda não há avaliações
- Da roda ao auditório: Uma transformação do samba pela Rádio NacionalNo EverandDa roda ao auditório: Uma transformação do samba pela Rádio NacionalAinda não há avaliações
- A Fala do Infante: voz crítica e criativa: estudo antropológico com a criança periféricaNo EverandA Fala do Infante: voz crítica e criativa: estudo antropológico com a criança periféricaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Chancellor Williams - O Renascimento Da Civilização AfricanaDocumento343 páginasChancellor Williams - O Renascimento Da Civilização AfricanaTainan ConradoAinda não há avaliações
- Gilberto Freyre-Em 4 TemposDocumento5 páginasGilberto Freyre-Em 4 TemposJu MoraisAinda não há avaliações
- Difusionismo - Correntes Antropológicas Do Século XIX - Ensaios e NotasDocumento11 páginasDifusionismo - Correntes Antropológicas Do Século XIX - Ensaios e NotasCláudio MaffeiAinda não há avaliações
- Resumo O Negocio Do MicheDocumento6 páginasResumo O Negocio Do MicheGláucia Santos100% (2)
- As Formas Africanas de Auto-InscriçãoDocumento6 páginasAs Formas Africanas de Auto-InscriçãojeffAinda não há avaliações
- TrímanoDocumento12 páginasTrímanoAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Artigo 19 Gravura Monotipias e As Possibilidades GR Ficas 2 15591535866605 7177Documento12 páginasArtigo 19 Gravura Monotipias e As Possibilidades GR Ficas 2 15591535866605 7177Antonio AlvesAinda não há avaliações
- Dicionario Critico Das Ciencias Sociais Dos Paises de Fala Oficial PortuguesaDocumento498 páginasDicionario Critico Das Ciencias Sociais Dos Paises de Fala Oficial PortuguesaKhaled Júnior100% (1)
- A Arte e o AtoDocumento7 páginasA Arte e o AtoAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Cosmopolítica e XenocídioDocumento22 páginasCosmopolítica e XenocídioAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Antropoceno e EcologiaDocumento16 páginasAntropoceno e EcologiaAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Revista AfrodiásporaDocumento139 páginasRevista AfrodiásporaAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Responsabilidade e Julgamento - Hannah ArendtDocumento5 páginasResponsabilidade e Julgamento - Hannah ArendtAntonio Alves100% (1)
- Fernando Nogueira Da Costa Economia em 10 Liccca7occ83es 2a. Ediccca7acc83o 2020 1 PDFDocumento622 páginasFernando Nogueira Da Costa Economia em 10 Liccca7occ83es 2a. Ediccca7acc83o 2020 1 PDFAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Document PDFDocumento149 páginasDocument PDFAntonio AlvesAinda não há avaliações
- A MetamorfoseDocumento2 páginasA MetamorfoseAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Ida Vitale - PoemasDocumento5 páginasIda Vitale - PoemasAntonio AlvesAinda não há avaliações
- A Branquitude Acrítica Revisitada e A BranquidadeDocumento19 páginasA Branquitude Acrítica Revisitada e A BranquidadeBruna Portella100% (1)
- Ciencias Sociais 2014-05-28 LourenÇo Da ConceiÇÃo CardosoDocumento290 páginasCiencias Sociais 2014-05-28 LourenÇo Da ConceiÇÃo Cardosoisadora6machado-1Ainda não há avaliações
- A EXPERIÊNCIA VIVIDA DO NEGRO - CAPÍTULO 5 DE PELE NEGRA MÁSCARAS BRANCAS, DE F. fANONDocumento12 páginasA EXPERIÊNCIA VIVIDA DO NEGRO - CAPÍTULO 5 DE PELE NEGRA MÁSCARAS BRANCAS, DE F. fANONAntonio AlvesAinda não há avaliações
- Modernidade e Revolução CientíficaDocumento23 páginasModernidade e Revolução CientíficaAntonio AlvesAinda não há avaliações