0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
105 visualizações39 páginasCap 12 Luria Desenv. Psicomotor - Fonseca
Enviado por
Camila CostaDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia on-line no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
105 visualizações39 páginasCap 12 Luria Desenv. Psicomotor - Fonseca
Enviado por
Camila CostaDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia on-line no Scribd
A ORGANIZAGAO NEUROFUNCIONAL
DA PSICOMOTRICIDADE:
introdugao @ obra de Luria
Aleksandr Romanovich Luria, juntamente
com Vygotsky, Leontiev ¢ Rubinstein, é um dos
psicélogos russos mais considerados interna
cionalmente, sendo uma figura pioncira da
neuropsicologia mundial. Seus trabalhos,
marcadamente de cunho dinico-experimental,
esido muito ligados ao estudo dos mecanismos
do cércbro ¢ das suas relacoes com as manifes-
ages expressivas e concretas do psiquismo hui
mano (Whittrock et al., 1972).
Para lancar o desafio da aceitagao universal
deuma tcoria psicomotora do ser humano, men-
sagem essencial deste livro, sem ddvida Luria for-
nece intimeras pistas de inyestigacao, principal-
mente as que dizem respeito a relagdo cértex-
motricidade. Para Luria (1966b, 1975a, 1980), 0
cérebro humano € 0 produto filogenético ¢ onto-
genético de sistemas funcionais adquiridos em
varios milhées de anos, ao longo do processo s6-
cio-histérico (sociogenético) da espécie humana.
Lawia (Luria, 1966b, 1975a, 1980; Luria etal,
1977) define sistemas funcionais como a coor-
denacdo de reas ein interacao no cérebro, ten-
do em vista a produggo de um dado comporta-
mento ou conduta, consubstanciando qualquer
processo de adaptacao ou de aprendizagem cujo
produto final stubentende um processo cognitive
complexo, O desenvolvimento ¢ a aprendizagem,
no modelo luriano, resultam, portanto, da criagao
de conexdes entre muitos grupos de células que
se encontram posicionadas em disiantes areas
docérebro, Conseqilentemente, a aprendizagem
da praxia, da leitura, da escrita ou do célculo, &
luz deste modelo, implica que no eérebro da cri-
anga se opere um proceso ativo conjuntural ¢
reorganizador de sistemas funcionais miiltiplos
¢ de integracao progressiva. E nessa ética que a
crianga normal, também segundo Piaget (1967),
evolui de uma inteligéncia sensorial a uma inte-
ligéncia formal, pasando pelas inteligéncias pré-
operacional ¢ operacional conereta.
Pata Luria (1969, 1970, 1973), a maturacio
cerebral efetua-se, igualmente, através da emer-
géncia de sistemas funcionais, pondo em jogo ¢
em interacao sistémica varios conjumtos de cé-
lulas neuronais bem especificos. £, portanto, a
instalagao de conexées ncuronais provocadas
pelaaprendizagem que, sucessivamente, vai per-
mitir a integracdo complexa da informacao
multissensorial, que ilustra a passagem da lin-
guagem corporal 3 linguagem falada, e desta &
linguagem escrita (Fonseca, 1999, 2002).
Segundo o pensamento luriano, as aprendi-
zagens resultam da seqiiéncia hem definida de
estddins ¢ da integracao complexa de circuitos
neuronais disponiveis, ilustrando uma reorga-
nizacdo cognitiva progiessiva, onde cada area
pode operar unieamente em conjugacdo com
oultas areas a fim de produzir comporiamen:
tos, como, por exemplo, andar, jogar, manipu-
lar, falar, ler, escrever ou resolver problemas.
Nenhuma drea do cérebro pode ser conside-
ada a tinica respansével por qualquer compor=
tamento humano vohmntario ou superior, exata~
406 Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem,
GRAFOMOTRIG DADE
‘4 mil angs 8.6.
‘OROMOTRICIDADE
‘Lmingo de anos
LIGUAGEM ESCRITA
(linguagem logogratica
e visuopratiog)
LINGUAGED FALADA
(linguagem auditivo-verbal)
LINGUAGEM CORPORAL
(inguagem mimice-gestuel
fe tatl-cinestesica]
mente porque o desempenho ou a realizagao de
fungdes se fundamenta em uma interagao di-
namica ¢ sistémica de muitas areas do oérebro,
isto €, uma espécie de equivalente funcional a0
que sugerem os “equipotencialistas”, mas, como
0s “localizacionistas”, Luria conlere, igualmen-
te, funcbes especificas a cada area do cérebro.
Para andar de bicicleta, nadar, let, escrever
ou calcular, por exemplo, o cérebro poe em agdo,
para cada um dos processos, um complexo siste-
‘ma funcional total, composto de varios subsiste
mas visuais, auditivos, tdull-cinestésicos, vesti-
bulares, proprioceptivos © motores, que intera-
tuam seqiiencialmente e harmonicamente. Desta
forma, Luria coloca-se em uma posigao em claro
desacordo com ambas as teorias. Porassumir que
algumas Areas, ¢ nao todas, se combinam ¢ se
articulam para gerar comportamentos, este pio-
neiro russo esta em contradicao com os localiza-
cionistas. Paralelamente, como o tecido cerebral
6 psicoldgica e fisiologicamente especializado,
Luria est em contradicéo também com os
equipotencialistas,
Em s{ntese, as aprendizagens ndo-verbais €
verbais resultam do funcionamento de sistemas
que integram varias areas do cérebro, mais do
que de dreas espectficas bem determinadas. De
acordo com este axioma, uma dada aprendiza-
gem pode ser afetada quando qualquer parte do
sistema funcional por ela responsével estiver,
igualmente, perturbada. Com base nesta per
pectiva, um individuo pode apresentar, por exem-
plo, sinais de dispraxia ou de dislexia, ou mes-
‘mo de apraxia ou de alexia, sem apresentar le-
ses no cértex motor (denominado centro motor
pelos localizacionistas) ou no giro angular (de-
nominado centro de leitura pelos localizacio-
nistas), dado que podem verificar-se disfiungdes
em: alguns componentes do sistema funcional
da mouicidade ou da leitura
Consegiientemente, 0 conceito de sistemas
funcionais é, para Luria, diferente dos concei-
tus inerentes as teorias da localizacao ou da
cquipotencialidade. A teoria da localizacéo, pre-
conizada por frenologistas, como Gall, citado
por Luria (1980b), sugere que todos os compor-
tamentos resultam de areas ou centros especi-
feos do cérebro (p. ex. centro da marcha, cen-
to da fala, centro da leitura, centro da escrita,
centro do célculo, etc.) e, conseqiientemente,
indica que todos os transtornos ou lesGes po-
dem ser adstiitos a dreas cerebrais circunsc
tas. A teoria da equipotencialidade, defendida
por outros autores, principalmente Flourens,
também citado por Luria, ¢, essencialmente,
Lashley (1929), em contrapartida, sugere que
todos os comportamentos envolvem a pattici-
pacdo equitativa de todas as areas, ou seja, de-
fende que nenhuma drea pode conclusiva-
mente especificar uma aprendizagem particu
Jar Halstead (1947), nas suas pesquisas com
intimeros portadores de lesbes cerebrais, nao
conseguiui encontrar evidéncias factuais que
sustenlassem os pressupostos desta doutrina
de “agao em massa’.
A visio de Luria é inequivocamente diferente
de ambas. Para ele, nenhuma 4rea do cérebro se
pode considerar responsavel por qualquer apren-
dizagem, ou por algum comportamento particu-
lar, Por analogia, nem todas as Areas so consi-
deradas igualmente contribuintes para a praxia
global ou fina, a leitura, a escrita ou o célculo, A
teoria luriana dos sistemas funcionais concebe
que 0 cérebro opera apenas com um mimero li-
mitado de éreas quando esta envolvido na pro-
dugo de uma aprendizagem espectfica, cada
uma delas desempenhando um papel peculiar
dentro do sistema funcional, denominado cons-
telagao de trabalho.
Anogio de sistema funcional tende a equacio-
har uma concatenagio ou uma cadeia de trans-
missao, onde cada ligacio, elo ou zona de media
do representa uma drea particular, Cada clo é
hecessario para que a cadeia seja uma toralidade
funcional, cada um participando com uma fun-
ao especifica no sen conjunto estratural. Dai re-
sulta a nogao de que, se alguma parte do sistema
funcional esté disfuncional ou desagregada, em
termps sistémicos, a aprendizagem representa-
da pela cadvia funcional pode obviamente ser
aletada, como eviclenciam intimeros casos elini-
cos de incapacidade de aprendizagem (Luria,
1977a, 1977), por exemplo, de agnosia (distur
Gio de input), de afasia (disfungao de integracao
€ de claboragio) ou de apraxia (disfuncao de
output). No caso das dificuldades de aprendiza-
‘gem, como, por exemplo, de dispraxia, disfasia,
dislexia, disortogralia ou discalculia (denomina-
da dismatematica por alguns autores), também
se podem identificar formas mais sutis ¢ leves
(denominadas sofi na bibliografia anglo-sox0-
nica) de imaturidade, disfungao ou desagrega-
Go da cadeia funcional que ilustra as aprendi-
zagens escolares correspondents,
Para esclarecer essa questo, Luria propde a
nogio de pluripotencialidade, reforgando aidéia
de que qualquer dtea especilica do cérebro pode
Vitor da Fonseca 407
participar de intimeros sistemas funcionais a0
mesmo tempo, reforgando a extraordindria plas-
ticidade do drgio da aprendizagem. Em conse-
qiiéneia dessa propriedade neuroluncional, além
de muitas outras (Fonseca, 2001), se uma area
do cérebro se encontra lesada, disfuncional ou
imatura, varias aprendizagens podem estar com-
prometidas, e nao apenas um determinado tipo,
dependendo do numero de sistemas funcionais
nos quais tal drea participa.
Em sintese, as varias areas do cérebro nao
tabalham isoladas, uma vez que uma dada
aprendizagem s6 pode cmergir quando resulta
da conperagio sistémica, harmonica e sinergética
das mesinas. Assim € também no surgimento
das subcompeténcias ndo-simbélicas ¢ compe-
téncias simbélicas da leitura, da escrita e do cal-
culo. Deatro do mesmo contexto, Luria refere
Se a0 conceito de sistemas funcionais alternati-
vos, sugerindo que uma dada aprendizagem ou
processamento de informacao pode ser produ:
‘ido por mais de um sistema funcional, evocan-
do que 0 céiebro, como érgao de incomensuré-
vel flexibilidade, nao sc estrutura ou se reorga-
niza com base em sistemas funcionais fixes, ri-
gidos ou imutaveis
Por este conccito, explica-se por que muitos
individuos com lesdes, disfungaes ou traumatis-
mos cerebrais no apresentam os déficits espe-
rados ¢ muitos deles recuperam espontaneamen-
te algumas funcdes, independentemente da sua
lesao subsistir. Por analogia, quando identifica-
mos varios sinais de dispraxia global ou fina, de
dislexia (dislonética, diseidética ou mista) ou de
disortograiia, também nao podemos toma-los
como indicadores fixos ou perpétuos do poten-
ial de aprendizagem, razao pela qual, em muitos
desses casos clinicos, uma prescri¢éo psicocdu-
cacional bem desenhada a partir de um diagnds-
tico psicoeducacional dindmico pode superar ¢
compensar a vulnerabilidade dos componentes
‘esubcomponentes que parti
clonal da leitura, da escrita ou do caleulo.
Neste dominio, Luria (Luria, 1979, 1975b,
19754, 1968, 1969; Luria e Tsetkova, 1987) adian-
ta que a recuperacio de fungdes apds lesGes tal-
vez se verifique porque:
408 Desenvalvimento psicomotor e aprendizagem
~ as competéncias decorrentes de niveis su-
periores de integragdo cerebral, em al-
guns casos, podem compensar competén-
Glas adstritas a niveis inferiores;
= a recuperacio de fungbes psfquicas su-
periores pode ser alcangada por reforco,
automatizacan ou enriquecimento de
fungées psiquicas basicas:
= 0 papel de uma dada area lesada pode
ser assumido por outra area do cérebro.
Océrebro, em condigdes ambientais normais,
€ um orgao plastico e flexivel, c nessas condi
ges que o proceso de aprendizagem decorre.
Se surge um problema on uma dificuldade, por
lesdo, imaturidade ou por outra razao, nao quer
dizer que o sistema funcional esteja prospectiva~
mente bloqueado ou desagregado. Pelo cont
rio, 0 que esta concepgao sugere ¢ algo muito
diferente. Se existe alguma dificuldade, pode-
mos mudar a natureza da tarefa (condigdes ex-
ternas) ou a composigao do sistema ou cadeia
funcional, mudando a localizagio neurofuncional
do processamento da informacio (condigées in-
ternas), alterando, conseatientemente, a moda-
lidade de input ou de output, adequando nevas
formas de processamento simultaneo ou
seqiiencial da informagio, modificando 0 con-
tetido verbal para nao-verbal, ajustando a estru-
tura mental de um componente para subcom-
ponentes mais elementares ou, entdo, promover
¢ automatizar as fungdes cognitivas de processa-
mento de dados (input, elaboragio ¢ eutput) ete,
adaptando a tarefa ao estilo ¢ ao perfil cognitivo
de aprendizagem do individu.
Apesar de saber-se ainda muito pouco como
ser humano aprende e como seu cérebro fun-
ciona, ¢ de a andlise cérebro-aprendizagem ser
ainda muito rudimentar, a teorid neuropsicol6-
gica de Luria apresenta uma arquitetura per-
ceptivel para compreender como a aprendiza-
gem se estrutura, pois apéia-se em um grande
niimero de investigagées neuropsicolégicas
realizadas sobre o problema (Golden, 1981).
A organizagao funcional do cérebro proposta
por Luria permite entender como os sistemas
funcionais trabalham, seja nas praxias ou na
linguagem.
‘As aprendizagens escolares da leitura, da es-
crita e do calculo, compostas de componentes
receptivos (input), integrativos, claborativos ¢
expressivos (ouput), emergem da cooperacao de
varias reas ou zonas corticais e subcorticais, ¢
nao, como se pensava na teoria neuirolégica clés-
sica, de uma s6 area especifica. Tal cooperagao
complexa joga com a participagao particular de
cada uma das éreas cercbrais, relacionadas com
um dado sistema funcional, de modo que a sua
disfuncao, imaturidade on destrnicao, como no
causa a perda total da perjorntance (afungio),
induz, necessariamente, a desarticulacéo ou
desconjuntura de algumas subfungoes, enquan-
to outras se podem manter intactas, 0 que ¢ de-
veras promissar em termos de modificabilidade
hhabilitativa para muitos casos clinicos.
(© PAPEL DOS ANALISADORES PROPRIOCEPTIVOS.
E EXTEROCEPTIVOS
Como j4 mencionei nos capftulos sobre
Wallon e Ajuriaguerra, o ser humano dispoe de:
uma sensibilidade interoceptiva: do in-
terior do corpo, de raiz visceral;
— uma sensibilidade proprioceptiva: do matis-
culo, do tendao e da articulacao, da acao
da gravidade e da motricidade sobre o cor-
poe, igualmente, da pele;
uma scnsibilidade exteroceptiva: do
mundo exterior, espacial, temporal, am-
biental, objetal e sociocultural.
Luria (1966b, 1966c, 1975a, 1975c) como que
reforca esta sensibilidade emanada do organis-
mo complexo do ser humano ao dar também,
grande importancia ao papel dos analisador
proprioceptivos ¢ exteroceptivos na integragio,
naelaboragao ena execucio da motricidade com-
plexa ¢ voluntatia. Segundo este autor, a mo-
tricidade resulia da informagéo dada por tais
analisadores, que € posteriormente trabalbada e
refletida no cérebro, por meio de uma atividade
mental analitico-sintética
Vitor da Fonseca 409
MOTRICIDADE <——— mUsculo, ¢——
MUNDO EXTERIOR = 4»
Nass
EXTEROCEPTIVOS ¢——> pROPRIOC=PTvOS
CORTEX
‘ANALISADORES |———>
ATIVIDADE
ANALITICO-SINTETICA,
INTEROGEPTIVOS.
Ousseja: pensamos o mundo exterior de uma
forma material econcreta através da motricidade.
De fato, a motricidade, desde o primeiro dia de
vida, assegura a maturacao ea organizacao inte-
grada do sistema nervoso, sendo, simultanea-
mente, a materialidade sobre a qual assenta a
construgo da histéria de cada um. Necessaria-
mente, neste aspecto evolutivo, por sua vez, cs
implicita uma relagio de unidade entre 9s cen-
tros de meméria ¢ 0s centros de integracdo per-
ceptiva. Sao estes tiltimos, para Luria, os ana-
lisadores peritéricos distais (visio ¢ audigao) e
proximais (proprioceptividade, pele, sentido do
{ato, sentido cinestésico e sentido vestibular]
Portanto, a motricidade, como comporta-
mento intencional, nao é 0 resultado de contia-
ées musculares puras, mas, sim, uma resposta
auma causa exterior (‘pwt) integrada e conser
vada por uma atividade superior de anidlise e sin-
tese e que se materializa sob a forma de uma
acdo ou gesto humanizado (output). 6 interes-
sante recordar, em paralelo, que a antropologia
fundamenta a adaptacao biolGgica do ser hu-
mano também em termos de motricidade
Assim, segundo esta perspectiva antropol6gi-
a, foi a motricidade que gerou uma auténtica
sevolugao morfologica e anatémica no homini-
co, ao provocar profundas alteragoes ¢ liberia-
‘GOes 6sseas nos membros, devido as transforma-
ges pravocadas pela postura bfpede na locomo-
40, na denticio, na mandibula, no aparelho di.
gestivo, no sistema visual, na expansio e ativagio
cerebral, ua migracao e comunicagao dos neurd-
nios, etc. (Fonseca, 1989a, 1999b, 2001, 2003).
REGO i
INPUT —> esis seesice_|oewrros| ons
a prcisho| _ | MascuLos|
es fe COMPORTAMENTO-
: Smee) NO eae
SISTEMA DE FEEDRACK
A410 Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem
‘© CONTROLE PSIQUICO DA MOTRICIDADE
© macaco, por exemplo, como tem de adap-
tar-se a drvore como ecossistema complexo, de-
senvolve naturalmente, por un lado, membros
de preensao, por isso é quadrimano, €, por ou-
110, 0 sentido da visao estereoscépica, uma vez
que para ele trepar ¢ saliar de galho em galho
nao é possfvel, com o sentido doolfato como ana-
lisador sensorial preferencial, como na maioria
dos mamifferos, cuja adaptagio é essencialmen-
te terrestre
Pela mesma razao, o ser humano, jé bimano,
pela especializacao postural dos seus pés, precisa
desenvolver 0 controle interior (proprioceptive,
tatil-cinestésico, vestibular) do seu corpo em
movimento transformador criador, isto é, pra-
sxico, para garantir uma pestura bipede que lhe
Iiberte as maos da gravidade c da locomogao para
a funcao criadora do trabalho e da fabricacio de
instramentos ¢ de ferramentas. Esse controle
interior representa, pois, a organizacéo cortical
da motricidade humana na stia unidade dialética
de relagao entre 0 corpo ¢ 0 cérebro, € entre 0
movimento e © comportamento, entendido
como relagio inteligivel e internalizada entre a
situacao e a acdo.
O corpo surge, portanto, mais uma vez,
como @ componente material do ser humano
que, por isso mesmo, contém o sentido con-
creto de todo 0 comportamento sécio-histérico
da humanidade, 0 corpo nao é, assim, 0 caixo-
te da alma, mas o enderego da inteligéncia. 0
ser humano habita o unundo exterior pelo seu
corpo, que surge como um componente espa-
Gal e existencial, corticalmente oxganizado, no
qual ¢ a partir do qual o ser humano concentra
e€ dirige todas as suas experiéncias ¢ vivencias,
Estou, pois, de acordo com Luria (1961, 1964,
1966a, 1966b, 1979), quando este destaca a im-
portincia da motricidade no desenvolvimento
global (bioldgico, psicoligico e social) da espé-
Ge humana e, obviamente, da crianga. Note-se
como, desde os primeiros segundos de vida, € a
motticidade que cria os dados necessatios para
uma organizacao sensorial ¢ neuronal interna-
mente estruturada c, em conseqiiéncia, também
qa a necessidade de um suporte ou de um ali-
cerce autocentrado em que possa assentar todo
6 desenvolvimento das estruturas perceptivas,
cognitivas e motoras {por isso adaptativas), que,
por sua vez, permitirao ao ser humano ser um
‘animal cultural e social”, capaz de realizar ages
para alguma coisa, ou seja, materializar proje
tosintencionais de uma adaptagao interiorizada
¢ transcendent
Note-se também como, sem essa via em cor
ticalizagao progressiva c hierarquizada, nao vi-
xia a ser possivel, a partir da motricidade (ma-
cau e micro), chegar mais tarde no desenvol
mento normal & linguagem (oro € grafomo-
tora). Sem dtivida, pois, Luria (1969a, 1969b,
1973) surge na mesma linha de psiquismo dos
varios autores europeus ¢ americanos jé abor-
dados, tornando-se mais consensual a aceita-
cao universal da concepgao psicomotora do ser
humano.
ORGANIZAGAD
SENSORIAL
cosricauzecio
EsTRUTURAGIO + Moticidade
PERCEPIIVA intencional
> >| + Unevoem
Em suma, pode-se dizer que a motricidade é
organizada pelos analisadores exteroceptivos,
proprioceptivos e interoceptivos, em trabalho de
intima relacéo e interagao com 0 cértex cerebral
O CORTEX E A COMPLEXIDADE DA PSICOMOTRICIDADE
A organizacéo do o6riex € funcao da comple-
xidade da motricidade que, organizada, por sua
vez, et comportamentos, resulta da generaliza-
Ao ¢ da associagéo dos dados (inputs) sensoriais
vindos da periferia (olhos, ouvidos, pele, miscu-
los, tenddes, ligamentos ¢ articulagées). Entre 0
mundo exterior (0 ambiente ou os ecossistemas
naturais € sociais) ¢ o eértex, diz-nos Luria, exis-
te um processo sensorial ¢ neuronal que trans-
forma 0 estimulo vindo do exterior (input) em
um estimulo significativo integrado mentalmen-
te. Dos érgaos sensoriais &.medula ou ao télamo
para 0s centros carticais, a sensacio é transfor-
mada sucessivamente cm percepcio, imagem,
simbolizacao, conceptualizacio.
O cértex surge, assim, como um 6rgao es
pecializado em analisar os estinmulos exteriores,
organizando-os, categorizando-0s, classificando-
08 ¢ transformando-os em experiéncias a reter ¢
a conservar pela meméria como background e re-
pertério de informacao a recuperar e arechamar,
para elaborar ¢ executar respostas motoras
adaptativas para o futuro. Assim, € possivel com-
preender poque 0 cértex reflote o mundo exterior
¢, portanto, toda a experiéncia passada, na qual,
alias, a mouricidade tem um lugar muito signifi-
cativo ¢ primacial. Ora, essa funcao exige que 0
cortex, considerado por Pavlov o sistema mais
clevado da auto-regulacio, receba informayaodo
mundo exterior, a partirda gual a erianga integra
Vitor da Fonseca 411
uma imagem subjetiva (o seu eu intencional) ¢
elabora, planifica eexecuta uma resposta motora
adaptada as circunstincias desse mesmo meio.
$6 nesta relagao de unidade dialética entre a
imagem subjetiva c 0 mundo objetivo é possivel
4 crianga apreciar os resultados dos seus atos,
auto-regulé-los ¢ simultaneamente programar
wma conduta futura, relacionando teleonomica-
mente um objetivo e um fim a atingir, desenca-
deando entre os dois momentos da agdo um con-
junto de procedimentos que envolve uma casc
ta funcional descendente, entre os sistemas fron
tais e medulares, pasando pelos subsistemas mo-
tores piramidais, cxtrapiramidais, reticulados €
cerebelares.
Apenas pela meméria a crianca fica apta a
associar a experiéncia passada com a experién-
cia presente, em uma sobreposicao da memaria
interior {passado) com o estimulo exterior (pre-
semte 0 aqui € agora da situacao). 6 claro que
Luria (1966b, 1966c, 1969b, 1973, 197da ¢
1974b), ao apresentar esta perspectiva, aprox
ma-se de Ajuriaguerra na sua nogo de somato-
gtama (conhecimento integrado do corpo), de
engrama (integragao cognitiva ¢ afetiva da ex-
perigncia anterior) e de opticograma (integracgao
do estimulo visual exterior imediato e respective
processo perceptivo).
Convém recordar como, na visao de Ajuria-
gucrra, oopticograma (ou tatilograma ou audio
grama) é vokintério, enquanto 0 somatograma
© 0 engrama sao automaticos, isto ¢, aparecem
sem interferéncia da consciéncia, ou seja, a cons-
cigncia, ao decidir executar uma aco, recorre co
“armazém das experiéncias sensoriais memori-
zadas ¢ integradas” como referéncia para pro-
RECEPTOR
EsTiMULO
EXTERIOR
MuNnpo
EXTERIOR
PROOESSO) SENSORIAL
ore)
412 Desenvolvimento psicomotor € aprencizagem
duzir uma nova relacao conduta-fim, uma nova
conexio idia-acao ou ideomotricidade, Também
se pode dizer que, enquanto 0 opticograma tem.
por funcao distinguir os sinais exteriores (ex-
trassomaticos), que se encontram em mudanca
permanente, 0 engrama memoriza a experién-
cia anterior ¢ os somatogramas espectficas apren-
didos (intrassomaticos), ajustando e calibrando,
em termos intcriores, a motricidade ¢ 05 gestos
8 situacto exterior.
Eo que ocorre, por exemplo, quando a crian-
¢a escreve, O opticograma permite-The notar
Gesde as condigdes de espago do caderno ou do
papel, da carteira edo ambiente. © engrama per-
mite-lhe 0 uso de automatismos vistoespaciais,
adquitidos anteriormente (evolugao iconogrética
das letras, das palavras ou das frases), O soma-
tograma peumite-lhe o uso de motricidades finas,
tais como a preensao do Lapis, ¢ as praxias grafo-
motoras harménicas que executam os grafemas,
as quais exigern complexos fatores de integracio
visuomotora, visuoespacial, (onico-postural ¢té-
til-cinestésica
Qualquer motricidade, seja ela na escola, no
trabalho, no jogo ou na rua, exige um comple-
xo programa de organizaco cortical, reunin-
do, como mencionei, os és subconjuntos (ou
sistemas) segundo a interdepenciéncia que aca-
bo de considerar. Quase se poderia dizer que @
relacdo em interdependéncia destes aspectos
sintetiza a prépria evolucdo do ser humano.
‘A organizacio do cérebro resultou, seg
Lauria, (1975a, 1975b, 1975¢, 1977), da ativida-
de motora do ser humano, precisamente na me-
dida em que também a maturagao do sistema
nervoso da crianca se forma pela atividade desta
em uma crescente maturidade de interacdo com
o seu ambiente (fisico, abjetal ¢ sécio-
Recorde-se, entretanto, como, em termos aniro-
poldgicos, a complexa organizacao do cérebro $6
foi possivel devido a extrema e variada moblli-
dade das extremidades dos membros do corpo €
vice-versa. Tal motricidade ¢ versatilidade, pre-
ferencialmente das extremidades peritéricas (pés,
maos e boca) ampliou-se dos primatas, pela ne-
cessidade da sua adaptagio as arvores, aos seres
humanos, pela necessidade da sua adaptacio a
um sistema ccolégico mais amplo, como as es!
pes (Fonseca, 1999b, 2001), em que a relagio
membros-visao se tornouessencial, como se pode
constatar no estilo de vida que a atividade de
caca sugere em termos evolutivos.
Tal necessidade, no entanto, ultrapassou, no
ser humano, a adaptacao ecolégica 4 drvare para
chegar A necessidade de fabricar ¢ de manipular
objetos, ferramentas ¢ utensilios culturais, dat
ser necessdrio o cérebro poder e ter que analisar
e sintetizar a relagdo entre estimulos exteriores,
a propria imagem interior (somatognosia) ¢ as
respostas motoras adaptativas, igualmente gera-
doras ativas de efeitos ¢ de conseqiiéncias expe
rimentades por retroalimentacio eficaz (feed-
back), que acabam por renovar e por restruturar
sisternicamente a sua organizacao ¢ integragao
neuroluncional.
Essas consideragées so importantes no
do das dificuldades le aprendizagem. Enquanto
actianca ndo ouve e vé, no sentido da integragso
sensorial e neuronal, cla nao pode aprender a
Jer, a escrever ou contar, ou seja, nao podeascen-
era fungées psiquicas superiores que s6 podem
‘ocorrer em wm. contexto sécio-histérico. Note-se
gue os sistemas sensoriais processam a informa-
Glo (visual, auditiva, rétil-cinestésica, ete.) em
quatro etapas, segundo Luria:
estu-
1, discriminacao (D)
2. seqtiéncializacao (Se)
3. anilise (A)
4. sintese (Si)
Vitor da Fonseca 413
[> CEREBRO.
ESTIMULO nthe RESPOSTA,
Avomivo — --» owiof [B}-+[S}-+[a}-»[s]}—+[ Boca, + ‘novona
fous (FALAR)
DJ oiscriwunacio ROMOTRICIDADE
'$ ]SEQUENCIA
A] ANALISE
si] sinrese ie
ESTIMULO = RESPOSTA.
wsuat er) ‘> Wiss} [b}-»[s}-+[a}-»[s]}—>[ao_—) > ‘wotora
(ESCREVER)
GRAFOMOTRICIOADE
O cértex, como conseqiiéncia da adaptacao
evolutiva j4 mencionada, torna-se a central de
regulagio ¢ de controle de estimulos ¢ de respos-
tas, sejam estes 0 som, @ luz ou outa fonte de
informacio exterior qualquer, ou, ainda, as ages
multifacctas ales adstritas em texmos de com=
portamento e de relacdo inteligivel. O cortex exis
te, portanto, para e pela aptidio em analisar ¢
sintctizar os cstimulos exteriores, organizando-
5 ¢ categorizando-os, isto é arrumando-os
ordenando-os em fungao de qualquer coisa, 0 que
inclui 2 sua intrinseca significacdo. Dai que o
cortex esteja, por razties de evolucdo, estrururado
em Areas primarias, secundarias ¢ tercidrias ow
de associagio e de projecio. A area occipital cap-
tae integra os estimulos da visio; a area tempo-
ral capta e integra os estimulos auditivos; a area
parietal capta ¢ integra os estfrmulos propriocep-
livos, vestibulares ¢ tétil-cinestésicos
Ocértex, como nos diz Luria (1966b, 1966c,
1975a, 1975¢c), integra os estimulos relevantes
{desintegrando os estimulos irrelevantes, algo
que no se observa em muito casos com per=
turbagdes de desenvolvimento) que lhe che
gam, através dos miltiplos analisadores sen-
sotiais espectficos ¢ periféricos. Essa integracao,
alias, ndo é mais do que um poder de coorde-
nacio, de co-fungio e de associagao dos varios
ou de todos os estimulos vindos de dentro e de
fora da totalidade do nosso corpo.
0 nosso e6rtex funciona, pois, como a central
telefOnica de uma grande cidade, que recebe as
mais variadas chamadas inter-regionais, pondo-
as em perfeita eharmoniosa comunicagio—quan-
do a poe, pois 05 seus lapses fiuncionais podem
cquivaler a pequenas ou grandes avarias entre as
Varias redes do sistema, Nas palavras do proprio
Luria (1975d, 1977c), 0 cértex surge como uma
constelacao de traballio, Para nés, porém, [Link]-
telacdo de redes neuronais vai mais longe, che-
gando mesmo a ser uma galaxia, Ou seja, 0 cére-
bro é como uma galaxia de milhoes e milhoes de
estrelas (neurénios), que, reunidas em um con-
junto operacional complexo, confere ao ser hu-
muanoa possibilidade, c, por isso, a responsabilida-
deea intencionalidade de programar e de crientar
todas as condutas do seu ser, da sua auto-organ
zagio transcendente ¢ existencial.
E claro que as constelagées de trabalho de
Luria correspondem aos padrées de comporta-
mento (behaviour patterns) dos autores ociden-
lais e norte-americanos de orientagao cibernéti
ca (Halstead, 1974; Heilman ¢ Valenstein, 1979;
Lashley, 1921, 1951). Tais constelagées sdo res-
ponsaveis pela organizagao de todas as condu-
tas intencionais. Note-se que falar em condutas
414 Desenvolvimento psicomotor ¢ aprendizagem
Loputo trontal
Fiosura sential
Fissura cerebral tateral
Léoul0 temporal
Protuberancia
Mesuia
Lebulo temporal
Lébule aeciptal
Cerebalo
intencionais 6 mesmo que falar em motricidade
intencional, pois, como eu, 0 prépria Luria en-
tende nao ser possivel separar os padroes de
motticidade dos padres cognitivas, que The dao
suporte regulador e diregao estratégica.
Surge, portanto, uma nova semelhanca de
Luria com Wallon, que, como ele, relaciona 0 a5-
pecto motor com o aspecto psiqitico correspon-
dente, bem como com Ajuriaguerra, quando este
relaciona a préxis com a gnosia. Ou seja, a uma
terminologia diferente entre Luria, Wallon ¢
Ajuriaguerra, corresponde um mesmo conteiido
ha interpretacao do comportamento humano.
‘Efetivamente, em qualquer conduta humana
existe sempre a ligacdo entre o aspecto motor ¢ 0
aspecto cognitivo, £ nessa ligacdo sistémica que
esté a unidade do ser em acio, e é exatamente
por isso que a psicomotricidade se proclama como
ciéncia de sintese, multifacetada, trandisciplinar
€ epistemologicamente coibida (Fonseca, 1980,
1982, 1985, 1992, 1994, 1998a, 2001a; Fonseca e
Martins, 2001). A mais simples e clementar
motricidade intencional envolve sempre uma ati-
vidade de andlise ¢ de sintese do cértex, na m«
dida em que qualquer movimento intencional
esté em relagio com uma atividade perceptiva e
cognitiva.
OS SISTEMAS CORTICAIS DE ORGANIZAGAO
DA PSICOMOTRICIDADE
Para Luria, a motricidade humana é um com-
portamento, isto é, uma relagao inteligivel en-
tre 0 sujelio (acto) e o mundo que o envolve
(situacao). O comporiamento, porsua vez, éuma
unidade na qual os sistemas perceptivos ¢ re-
ceptores (recepgao — input) estao em empatia e
coibigio funcional com os sistemas motores ©
efetores (execugdo — output),
Ha neste modelo uma constelacéo de traba-
lho onde o cérebro a unidade de integragao e
de interaggo entre 0s nossos varios sistemas cor
porais, por um lado, sensoriais e neuronais e, por
outro, motores. A intima inter-relagio entre os
varios sistemas € essencial para a realizagéo de
uum comportamento ajustado e adequado. Assim,
mais umia vez, o dualismo corpo-espirito tor-
na-se, nesta perspectiva, ingénuo ¢ inaceitavel,
Luria reforca, ainda, toda esta perspectiva a
partir da propria estrutura do sistema piramidal.
‘visto como a reuniao das fibras cértico-espinhais.
Desta forma, as vias motoras descendentes par-
tem do cfrtex piramidal (motoneurOnios supe-
riores) ¢ dos subedrtex, passam pelo tronco cere-
bral ¢ terminam nos motoncurénios inferiores
da medula, Bstes, por sua vez, estao em relaca
Vitor da Fonseca 415
——> ercercio ——___>
+
RETROALIVENTACAO
INTEGRAGAO
DECISAG
[Ce sciatic
———> sECUGlo, ———+
a
com as fibras musculares cuja contragio produz
finalmente a motricidade, Este sistema, exclusi
vo dos mamiferos superiotes e dos primatas (en-
tre os quais se encontra o Home sapiens), parece,
pols, ser uma aquisigio filogenética recente (Fon-
seca, 1989, 1999, 2001a, 2001b).
Para Luria (1966b, 1975a, 1979), 0 sistema
piramidal esté em relagio dialética com os sis
temas extrapiramidal e cerebelar, as quais, por
sua vez, sc constituern como sistema essencial e
‘0 dos animais vertebrados. Como
vyertebrado superior ¢ dominante, o ser huma-
no, além destes sistemas, agrega ao sistema pi-
ramidal 0 sistema frontal pré-motor, ou seja, a
unidade que planifica ¢ sustenta a decisdo, que
posteriormente desencadeia a execucao fugal da
motricidade. E, pois, interessante verificar como
9 sistema extrapiramidal, que “nasce”” mais no
tronco cerebral do que no cértex, vai atingir os
motoneurbnios inferiores da coluna por vias in-
diretas ¢ por neurdnios de associacao.
F, assim, natural que o sistema piramidal este-
jamais em contato com os miisculos distais e de
superficie, também chamadas, como ja mencio-
nei, miisculos da vida de relagao, na sua responsa-
bilidade direta pelas motricidades voluntérias
inteligentes (finas). Também é natural que o sis-
tema extrapiramidal esteja mais em contato com
08 miiscules proximais ¢ de profundidade na sua
responsabilidade direta pela regulagio da postura
da preparacaoc do suporte da motricidade, con-
forme jé foi bem expresso em Ajuriaguerra.
Para Luria, 0 sistema piramidal conirola ¢
seleciona a formula da motricidade desejada, isto
& confere a motricidade a forma, a direcdo ¢ a
coordenagao adequadas 8 situagiv-problema. A.
motricidade pode, assim, atingir e satisfazer um,
fim determinado pensado pelo cértex, ela 6, por
este fato, vicdria da cognicéo. E neste sentido
que Luria admite a motricidade humana como
um comportamento que expressa a materiali-
zago de uma intengao.
Recordando ¢ resumindo, note-se que, para
realizar-se um movimento intencional, torna-
se necessario um autocontrole e uma comple-
xa selegio de aferéncias, nao sé visuais ¢ audi-
tivas (meio exterior) como tatil-cinestésicas,
vestibulares, proprioceptivas, ténicas ¢ cmocio-
ais (corpo ¢ meio interior). Como jé vimos em
Ajuriaguerra, o mtsculo, por intermédio do seu
fuso neuromuscular, nao é uma estutura e
clusivamente motora, mas igualmente uma es-
trutura sensorial. Aqui também fica bem de-
monstrado como a tradicionalmente denomi-
nada drea motora do cértex nao € apenas uma
dreaeletora, mas ¢ também uma estrutura neu-
rol6gica aferente complexa.
O cortex recebe, portanto, informacées que
vem, por um Jado, pelos neurinios centripetos
do proprio sistema motor (fuso neuromuscular,
corptisculos de Golgi © Facini, etc.) e, por outro,
pelos neurdnios aferentes primérios que recebemn
informagao do mundo exterior. Logo, somente
por uma complexa operacio de andlise e de sin-
tese aferencial, o cértex pode regular simultd-
nea ¢ eferentemente todos os impulsos interocep-
Livos, proprioceptivos eexteroceptivos de um aqui
© agora assente subjetivamente em um passado
vivido ¢ historicamente experimentado e gno-
sicamente integrado, Segundo Luria, esta regu:
lacao de sintese motora inerente ao cértex pro-
cessa-se de duas maneiras interdependentes:
uma para a coordenagao e a preciso, ¢ outra,
subseqiientemente, para a execugéo. Assim, a
execugao € assegurada pelo misculo, responsdvel
pela realizagdo (materializagéo) da motricidade
416 Desenvolvimento psicomotor ¢ aprendizagem
IMPULSO PARA A
—>
PROGRAMAGAD DA Te enn |
gone MOTRICIDADE
SINTESE
| Saat al IMuisos rages
EXECLGRO DA REAL > FeNracio |
‘MOTRICIDAD=
de dentro para fora, a0 mesmo tempo em que os
fusos neuromusculares enviam impulsos ao cére_
brocm misao de retrnagio para integraro plano
da coordenagaoe da precisao de fora para dentro.
(Qu seja: a motricidade é controlada nao sé
poruma sinalizagio aferente, como também por
uma sinalizacao eferente, a0 contrérin do que
muitas teorias ainda sugerem, Sao, pois, 0 fuso
neuromuscular e os varios corptisculos tendi-
nosos periféricos, através do cerebelo, que in-
formam constantemente 0 cérebro sobre a mo-
tricidade em questo, O cdrtex encarrega-se de
uma sintese aferente, que scleciona os impul-
sos mais ajustados para a atiyidade dos moto-
neurdnios, organizando simultaneamente os
impulsos necessarios para a construgao do pro-
grama au plano de movimento.
Como retine maior ntimero de aferéncias do
que qualquer outro sistema humano, 0 cortex
pode elaborara sintese de um programa de res-
posta e de uma aco (resposta adaptativa), exa-
tamente porque recebe as aferéncias que lhe
fornecem os fusos neuromusculares ¢ os cor-
piisculos tendinosos e articulatérios. Estes
constituem um verdadeiro fluxo de informa-
gies quanto a posicao global do corpo € parti-
cular dos membros; quanto ao grau tnico dos
muisculos; uma sintese proprioceptiva incons-
Giente ligada neurofuncionalmente ao sistema
postural e motor, nao s6 em termos de automa-
tismos, como também de pré-requisitos neces-
sarios para a producio ¢ a execugao da condu-
ta motora.
Nao € demais recordar e, portanto, insistir,
que 0 scr humano possui um maior mamero de
estruturas aferentes do que, por exemplo, 0s
pongidae (gorila, chimpanzé, orangotango ¢
gib3o), conforme expresso no diagrama simpli-
ficado do controle cortical do misculo esquelé-
tico no scr humano:
MoscuLo MEDULA MOTO-NEURONIOS ceneeRo
SS LL
FIERAS MUSCULARES ‘CORTEX
pete > =
SUBSTANGA
FSO NFOMUSGULAR
ONE ee [enna] ge | RE TCUAO
DIFERENCIAGAO MOTORA E
DIFERENCIAGAO SENSORIAL
Para inelhor explicara importanda dos me-
canismos corticais na regulacao e na progra-
magao da motricidade, Luria (1966c, 1975) de-
monstra-nos, recorrendo a experiéncias cle-
troencefalograficas e eletromiograficas, que as
Areas motoras estao em interacao com as Areas
sensoriais, cuja complexidade e maturidade so
funcao da experiéncta sécto-histérica do indi-
viduo e, simultaneamente, da sua aprendiza-
gem individual. Ambas as areas sao responsa-
yeis pelos complexes movimentos voluntérios,
necessdirios a qualquer aprendizagem, seja ela
verbal ou ndo-verbal, escolar ou artistica,
No meu entender, 0 aspecio sensorial e 0
aspecto motor da motricidade humana sao duas
faces da mesma moeda. Ambes nao podem ser
concehidos como isolados um do outro, pois
funcionalmente, sao interdependentes. Luria
ajuda-nos, portanto, a compreender melhor &
a assegurar que a interacao permanente e di
namica entre um e outro representa uma evo-
lugao que flui dos animais infer
res até 0 Ser
humano. Nesta evolugao, nao é de desprezar 0
significado palpavel que desempenha a quan-
iam
tidade de estruturas aferentes que caractet
o sistema nervoso do ser humano, verdad
mente tinico no reino animal. Penso, pois, que
Vitor da Fonseca 417
hoje é legitimo admitir como hipétese que 0
maior ntimero de sistemas afcrentes sera re-
sultante mais de uma aquisicao ¢ integracao, ¢
menos de ume disposigéo orgdnica inata,
© que Luria nos permite compreender, atra-
vis da crescente organizacéo cortical da mouicl-
dade, € que talvez nao seja possivel separd-la do
psiquismo. Este emerge, assim, como uma
conseqtiéncia daquele. Ou seja, 0 psiquismo s
ria uma motricidade de idéias (ideacional) sem
aco motora propriamente dita, enquanto a
motricidade comportamentalmente observada
no seria mais do que um psiquismo em acio,
como podemos apreciar na performance de um
artista, de um miisico ou de um atleta olimpico.
‘Vygotsky (1962, 1993), entretanto, acrescenta
algo a esta perspectiva, ao demonstrar yueasatos
voluntatios, a memoria légica, as atitudes origi-
nais, etc,, n&o s4o, possivelmente, propriedades
inatas, mas, sim, propriedades acumuladas ¢
adiquiridas, por meio da experiéncia social e his-
torico-cultural. A sociedade surge, portanto, em
sintese, como 0 verdadeiro pretexto e contexto
para a aprendizagemn individual ¢ wanscenden-
temente subjetiva, consubstanciando, ao lado do
tempo filogenético eontogenético, um outro tem-
po, isto 6, 0 sociogenético.
A aprendizagem humana e, conseqiiente-
mente, a sta motricidade, emanam de um pro-
AREAS.
SENSORIAIS
a
INTERAGAO
CORTICAL
‘AREAS
>———>_wororas
1 (cinapees internas)
VIAS APERENTES
I
INPUT ourPur
MUNDO EXTERIOR (Giapses exeras) MOVIMENTO
smTUAGAO ¢ wee = AgKO
(Retroalimentageo)
VIAS EFERENTES
|
418 Desenvolvimento asicomoter ¢ aprendizagem
cesso interativo ¢ intencional entre duas geta-
Ses de individuos, uns experientes outros
inexperientes. E a partir deste sentido afetivo
erelacional, cultural, histérico e instrumental,
que provavelmente se tem de conceber toda a
evolugéo da espécie humana ¢ se tem de equa-
cionar o desenvolvimento psicomotor da crian-
ga. Desde 0 nascimento, as criangas estéo em.
constante interagéo com os adultos, que inten-
cionalmente se esforcam por incorpord-las na
sua cultura ¢ na sua experiéneia histérica acu-
mulada de significagaoes e de maneiras de fa-
zer as coisas. Dos processos naturais decorren-
tes da heranga biolégica, as criangas, por meio
da intervengae mediatizada dos adultos, pas-
sam a poder lidar com processos psicolégicos
mais complexos, decorrentes da heranga cul-
tural.
De modalidades interpsiquicas de funciona
mento, as criangas passam a lidar com modali
dades intrapsiquicas, isto 6, formadas dentro
delas préprias, do seu proprio organismo. Os
adultos sao, portanto, agentes externos, que
mediatizam as cxperitncias das criancas com
© mundo exterior, permitindo que, depois de
tal interacao, se processe a interiorizacao das
formas ¢ dos modos de operar culturalmente 0
que jd foi determinado historicamente, A natu-
reza social das interagdes entre adultos ¢ crian-
cas da lugar a natureza psicolégica do desen-
volvimento global destas. Isso é valido tanto
para as competéncias motoras como para as
competéncias afetivas ¢ cognitivas
0 ESTUDO DAS LESOES CEREBRAIS E
DAS FUNQOES CORTICAIS SUPERIORES
Outra perspectiva conereta que Luria (1966b,
1966¢, 1975a, 1975b, 1975¢, 1975d, 1977a,
1977, 1977¢, 1979, 1980) apresenta e que ver
confirmar muitas das hipéteses anteriormente
evantadas no plano da pratica clinica ¢ educa-
cional € o estudo das lesdes cerebrais. Note-se
que este estudo, @ semelhanca do estudo dos
Geficientes motores ou dos casos dispraxicos
(que mais de uma vez ja propus e sugeri coma
uma boa metodologia de investigagao para es-
tudaro “normal”, no caso presente, oestudo da
praxia), pode fornecer muitos dados objetivos
acerca da importncia da organizacao cortical da
motricidade, Vejamos alguns dacios conseguidos
por esse mesmo autor na sua experimentagdo
no campo das lesGes cerebrais, que se resume
no seguinte quadro:
piREITO
HEMISFERIO
;QUERDO
-SORDENS ESPACIAIS
AGNOSIA ESPACIAL
ALUSENCIA DE CONSCIENCIA
/OVIMENTO
PERTURDAGAO NA COMUNICAGAO NAOVERBAL
APASIAS
DESORDENS SENSORIAIS
DESORDENS ViStIOMOTORAS
ASSOMATOGNOSIA
PERTURBAQOES NA COMUNICAGKO VERBAL
interessante notar que este quadro apre-
senta muitas semelhangas com os fundamen-
tos neurolégicos que apresentei no capitulo re-
ferente a Ajuriaguerra. Repare-se, entretanto,
como a uma lesao do cérebro logo corresponde
uma perturbagao do comportamento e, especi-
ficamente, da motricidade humana. 0 que sig-
nifica isso? Na neurologia dassica, as pertur-
bagées das fungées corticais superiores (FCS)
foram sempre apresentadas como decorrentes
de lesGes cerebrais localizadas, que se subdivi-
diram em trés grupos independentes: agnosias,
apraxias ¢ alasias. O enfoque foi, ento, situado
nas perturhacdes perceptivas, motoras ¢ da fala
Mais tarde, outras perturbagoes foram adicio-
nadas, como as alexias, as agrafias, as acalcu-
lias, as amusias, etc,, de transcendente impor-
tancia para estudar as incapacidades ¢ as difi-
culdades de aprendizagem. Nos nossos dias,
porém, lais desordens ou perturbagdes j4 nao
sfo tao claramente demarcadas, dada a sua
interdependéncia neurofuncional, pois | no
podem ser considerades como sintomas com-
plexos independentes.
Nos tenmos cléssicos, a agnosia envolveria
uma perturbacao elementar da percepcao da na-
tureza da sensagio, com alieragdes na habilida-
de em experiencié-la e integré-la, 0 que ¢ algo
diferemte, pois envolve mais do que a sua simples
€ pura recepgio. A apraxia, em contrapartida,
foi considerada uma desordem da realizacao de
agGes e de habilidades motoras, mesmo quando
‘as fungéics motoras se encontravam intactas.
Agnosia, apraxia e alasia, depois de Luria,
so reconhecidas como desordens da atividade
simbélica superior, isto é nao poder ser con-
fundidas com atividades sens6rio-motoras sim-
ples. Seu componente simbélico distingue-as
de déficits sensoriais ou motores elementares.
Nesta ética Turiana, as agnosias, as apraxias &
as afasias nao poderao ser concebidas como in-
dependentes ou como distiirbios isolados. Mui-
tas observacoes clinicas, ¢ intmeros dos casos
que acompanho, mostram que as perturbacoes
da orientagao espacial visual (disgnosia espa-
Vitor da Fonseca 419
cial) so sempre acompanhadas de perturba-
gdes motoras bem definidas, uma vez que 0
conttole aferente espacial estd alterado, dat re-
sultando 0 cardter apraxico do movimento,
como se constata em varias situacSes de cépia
ou de desenho de figuras geoméiricas.
Quase sempre, nestes casos, as aesterognosias
so acompanhadas por perturbag6es finas e pre-
cisas dos movimentos organizados dos dedas, da
mao ¢ do pulso (inicromotricidade). Por outro
lado, as desordens éptico-gndsicas sao frequen-
temente acompanhadas também por perturba-
Ges dos movimentos dos olhos, nas quais certa~
mente a desintegragao vestibular e postural de-
sempenha um papel determinante. Em qualquer
dos casos é dificil determinar se as alteragoes na
performance micromotora so devidas a um pro-
blema gnésico (de input) ou a um problema pré-
xico (de output). O que demonstra esta dificul-
dade em determinar qual é 0 componente res-
ponsavel pela perturhacao é a impossibilidade de
distinguir as agnosias das apraxias, daf 0 pro-
prio Ajuriaguerta ter sugerido a nogao de apratog-
nosia, como mencionei anteriormente,
© termo apratognosia, que € um paradigma
cssencial da tcoria psicomotora, reflete, no fun-
do, a unidade funcional sensério-motora que ca-
racteriza a espécie humana, parque s4o ambos
componentes de um ato mental que € impos!
vel separar em termos de conduta. Para Luria,
processo sensorial, seja visual, auditivo ou tétil-
cinestésico, resulta do trabalho de analisadores
corticais superiores, portanto nao pode ser dis-
sociado dos processos inolores. Nos processos
corticais superiores, nao podemos isolar as fun-
Ges sensoriais das motoras. Elas esto mutua-
mente implicadas neurologicamente. Nao pode-
mos, conseqtientemente, separar os componen-
tes sensoriais ou perceptivos dos componentes
motores ou [Link] as sensagées ¢
as percepgdes constituem a reflexdo seletiva do
mundo exterior, possuindo, portanto, componen-
tes alerentes (sensoriais) ¢ eferentes (motores),
as agoes ¢ as ideagdes que as planejam eas exe-
ccutam s6 podem se exprimir quando a natureza




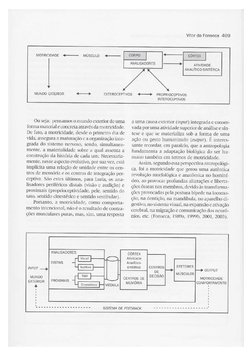

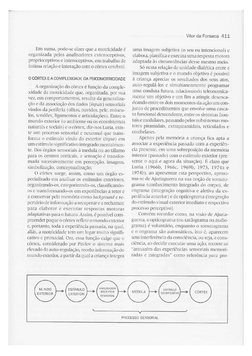
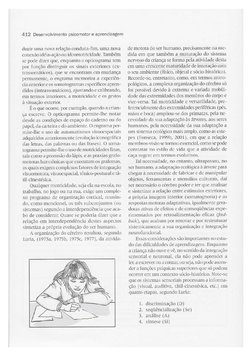
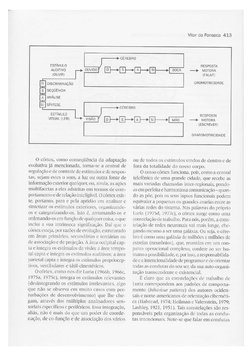

Você também pode gostar
- Desenvolvimento Psicomotor - Vitor Da Fonseca - Cap 1 WallonAinda não há avaliaçõesDesenvolvimento Psicomotor - Vitor Da Fonseca - Cap 1 Wallon60 páginas
- Psicomotricidade Infantil: Fundamentos e PráticasAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade Infantil: Fundamentos e Práticas48 páginas
- Coordenação Motora Fina na InfânciaAinda não há avaliaçõesCoordenação Motora Fina na Infância23 páginas
- Psicomotricidade na Educação InfantilAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade na Educação Infantil4 páginas
- Avaliação Lúdica em Crianças com ParalisiaAinda não há avaliaçõesAvaliação Lúdica em Crianças com Paralisia136 páginas
- Desembaraçando Ocupação e AtividadeAinda não há avaliaçõesDesembaraçando Ocupação e Atividade14 páginas
- Capítulo 5 - Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem100% (1)Capítulo 5 - Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem5 páginas
- A Clinica Psicomotora Steban LevinAinda não há avaliaçõesA Clinica Psicomotora Steban Levin51 páginas
- História e Importância da PsicomotricidadeAinda não há avaliaçõesHistória e Importância da Psicomotricidade27 páginas
- Livro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 1 . Parte.Ainda não há avaliaçõesLivro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 1 . Parte.21 páginas
- Clínica Psicomotora - o Corpo Na Linguagem, A - Esteban Levin - 5 - Ed, Petrópolis, 2003 - Vozes - 9788532615442 - Anna's ArchiveAinda não há avaliaçõesClínica Psicomotora - o Corpo Na Linguagem, A - Esteban Levin - 5 - Ed, Petrópolis, 2003 - Vozes - 9788532615442 - Anna's Archive348 páginas
- Avaliação de Reforçadores e Respostas EducacionaisAinda não há avaliaçõesAvaliação de Reforçadores e Respostas Educacionais96 páginas
- A Importância do Brincar na InfânciaAinda não há avaliaçõesA Importância do Brincar na Infância7 páginas
- Psicomotricidade na Primeira InfânciaAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade na Primeira Infância66 páginas
- Diferença Linguística e Preconceito SocialAinda não há avaliaçõesDiferença Linguística e Preconceito Social2 páginas
- Evolução e Conceitos de PsicomotricidadeAinda não há avaliaçõesEvolução e Conceitos de Psicomotricidade47 páginas
- TEXTO 2 - Psicomotricidade Na AlfabetizaçãoAinda não há avaliaçõesTEXTO 2 - Psicomotricidade Na Alfabetização22 páginas
- Ensino de Matemática na Educação InfantilAinda não há avaliaçõesEnsino de Matemática na Educação Infantil51 páginas
- Curso sobre Sensibilidade Sensorial no Autismo100% (1)Curso sobre Sensibilidade Sensorial no Autismo17 páginas
- Psicomotricidade Relacional na EducaçãoAinda não há avaliaçõesPsicomotricidade Relacional na Educação18 páginas
- Neurociência e Aprendizagem InfantilAinda não há avaliaçõesNeurociência e Aprendizagem Infantil59 páginas
- Pratica Psicomotora Bateria de TestesAinda não há avaliaçõesPratica Psicomotora Bateria de Testes39 páginas
- Atividades Inclusivas para Educação EspecialAinda não há avaliaçõesAtividades Inclusivas para Educação Especial4 páginas
- Grelha - de - Avaliação - Escrita - Ed.1 - Preensão No Lápis100% (1)Grelha - de - Avaliação - Escrita - Ed.1 - Preensão No Lápis7 páginas
- 01 Behaviorismo Metodologico Behaviorismo Radical-With-Cover-Page-V2Ainda não há avaliações01 Behaviorismo Metodologico Behaviorismo Radical-With-Cover-Page-V28 páginas
- O Desenvolvimento Da Cognição NuméricaAinda não há avaliaçõesO Desenvolvimento Da Cognição Numérica14 páginas
- PENNSA - M5A1 - Diferenciando Dificuldade de TranstornoAinda não há avaliaçõesPENNSA - M5A1 - Diferenciando Dificuldade de Transtorno19 páginas
- AdeleDiamond - Funcoes Executivas Traduzido LuizOssoAinda não há avaliaçõesAdeleDiamond - Funcoes Executivas Traduzido LuizOsso25 páginas
- Integração Sensorial de Jean AyresAinda não há avaliaçõesIntegração Sensorial de Jean Ayres7 páginas
- Formação de Professores em AEE Deficiência FísicaAinda não há avaliaçõesFormação de Professores em AEE Deficiência Física131 páginas
- Modelo de Currículo Denver para Desenvolvimento InfantilAinda não há avaliaçõesModelo de Currículo Denver para Desenvolvimento Infantil10 páginas
- Brincar e Desenvolvimento PsicocomotorAinda não há avaliaçõesBrincar e Desenvolvimento Psicocomotor96 páginas
- Importância da Estimulação Precoce InfantilAinda não há avaliaçõesImportância da Estimulação Precoce Infantil40 páginas
- A Relação Psicomotora Na Formação Do PsicomotricistaAinda não há avaliaçõesA Relação Psicomotora Na Formação Do Psicomotricista17 páginas
- Competências Iniciais na Alfabetização InfantilAinda não há avaliaçõesCompetências Iniciais na Alfabetização Infantil7 páginas
- Avaliação Diagnóstica - disLEXIA Instituto ABCDAinda não há avaliaçõesAvaliação Diagnóstica - disLEXIA Instituto ABCD3 páginas
- Mapa Desenvolvimento Psicomotor Na InfânciaAinda não há avaliaçõesMapa Desenvolvimento Psicomotor Na Infância232 páginas
- MilestonesChecklist Portuguese 8.5x11 2022Ainda não há avaliaçõesMilestonesChecklist Portuguese 8.5x11 202212 páginas
- Educação Psicomotora Como Instrumento de InclusãoAinda não há avaliaçõesEducação Psicomotora Como Instrumento de Inclusão101 páginas
- GRUPOS Aula 2 Processos Cognitivos Envolvidos Na Aprendizagem Da Matematica Promais 2025 1Ainda não há avaliaçõesGRUPOS Aula 2 Processos Cognitivos Envolvidos Na Aprendizagem Da Matematica Promais 2025 155 páginas
- Atividades Vida Diária - Versão Gratuita - To Évelin.f.fAinda não há avaliaçõesAtividades Vida Diária - Versão Gratuita - To Évelin.f.f29 páginas
- Teoria Gerativa e Aquisição Da LinguagemAinda não há avaliaçõesTeoria Gerativa e Aquisição Da Linguagem7 páginas
- Integração Corpo/Mente na EducaçãoAinda não há avaliaçõesIntegração Corpo/Mente na Educação13 páginas
- Teoria - Do - Sistema - Funcional P8Ainda não há avaliaçõesTeoria - Do - Sistema - Funcional P812 páginas
- Avaliação e Intervenção NeuropsicopedagógicasAinda não há avaliaçõesAvaliação e Intervenção Neuropsicopedagógicas56 páginas
- Teoria Do Sistema Funcional Texto LEANDRO PDFAinda não há avaliaçõesTeoria Do Sistema Funcional Texto LEANDRO PDF7 páginas
- Fundamentos Da Psicopedagogia - AcamporaAinda não há avaliaçõesFundamentos Da Psicopedagogia - Acampora66 páginas
- 04 - Neuropsicopedagogia e AprendizagemAinda não há avaliações04 - Neuropsicopedagogia e Aprendizagem21 páginas
- Entrevista com George Yúdice: Cultura como RecursoAinda não há avaliaçõesEntrevista com George Yúdice: Cultura como Recurso7 páginas
- Proposta Curricular EJA FundamentalAinda não há avaliaçõesProposta Curricular EJA Fundamental234 páginas






































































