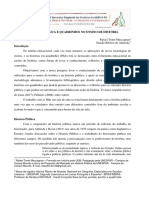Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sara Albieri
Sara Albieri
Enviado por
Igor0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações9 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações9 páginasSara Albieri
Sara Albieri
Enviado por
IgorDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
HISTORIA PUBLICA E
CONSCIENCIA HISTORICA
Sara Albieri
A expressio “histéria publica” pode ser entendida de varias maneiras. De ime-
diato, ela evoca a ideia de acesso irrestrito, isto é, de um conhecimento histérico
franqueado a todos. Especialmente em nossos dias, entende-se que clausuras se-
rao abertas e que informagées, antes censuradas ou veladas, doravante ocuparao
espacos de dominio publico. Um exemplo é a expectativa em torno da abertu-
ra para consulta de documentos pertencentes a arquivos de acesso restrito, tais
como processos judiciais e militares, prontudrios e dossiés produzidos por 6rgaos
de inteligéncia. A historiografia do Brasil contemporaneo viveu um periodo de
grande efervescéncia com a abertura dos arquivos militares e policiais relaciona-
dos a opositores do regime e presos politicos.
Vale notar que, nesses casos, a publicacao nao é de interesse apenas para 0
trabalho historiografico, mas, com frequéncia, é reivindicada em meio a discus-
sao de direitos politicos ou civis. O interesse histérico mistura-se 4 agenda de
movimentos sociais, e a manifestacao desse interesse vem por vezes impregnada
das paixdes que mobilizam os grupos que reivindicam a publicacao.
Algumas vezes, a clausura é de outra ordem: aquela dos arquivos pessoais.
Trata-se da documentacao relacionada a alguém, transformado pelas circuns-
tancias em agente historico, que passa a ser relevante para a pesquisa historica.
Nesses casos, as reticéncias provém em geral do segredo de familia, quando os
Préprios atores sociais, seus parentes ou amigos, relutam em liberar 0 acesso de
Pesquisadores a correspondéncias, didrios, anotacdes e papéis pessoais (ou mes-
Introducdo a Historia Publica
mo de interesse publico) que estejam sob sua guarda. Reivindicar a publicacdo
desse tipo de informacao excede o tratamento exclusivamente historiografico,
passando a envolver também questées éticas.
Quando a memaria pessoal se entrelaca com aquela da vida piiblica, poe-se
a questo do direito de alguém selecionar o que poderd ou nao vir a publico, por
exemplo, para preservar a integridade de uma reputacao, ou de uma versao his-
toriografica ja publicada, ou mesmo para evitar o comprometimento de outras
pessoas, vivas ou mortas, relacionadas ao caso sob escrutinio. Até que ponto é
HA outras formas de compreender a histéria publica. E frequente que ela
seja pensada como um processo continuo de publicagao, que pode ser posto em
movimento, ampliado, acelerado, nos muitos modos que poderiam ser reunidos
sob a designacao “educagao histérica” - para comegar, o ensino convencional de
histéria enquanto disciplina do curriculo escolar.
Podemos constatar a preocupacao dos educadores nao apenas com os mo-
dos de despertar o interesse dos jovens por historia, mas também com o tipo de
historia que deve ser apresentado na vida escolar. Uma parte dessa preocupacao
é transferida para a producao do livro didatico. Essa é uma forma de publicacao
histérica extremamente importante e influente, j4 que 0 estabelecimento de um
contetdo curricular e sua expressao no texto didatico acabam por balizar a edu-
cacao histérica basica, aquela que sera decisiva na constituicao da concepcao de
histéria mais disseminada numa cultura.
Enquanto apresenta¢ao e narracao de um passado comum, as aulas de his-
toria publicizam concepcdes em vigor na Academia. Ha algumas décadas, os
livros didaticos costumavam enaltecer os grandes homens e os grandes feitos,
e encorajar a memorizac4o de nomes e datas, como um tipo de conhecimento
imprescindivel para a construcao do sentimento nacional de pertencimento, o
qual deveria ser exigido de todos. Com a reformulagao da concep¢ao académica
de historiografia, apresenta-se aos estudantes narra¢ées do passado que incluem
descricées das instituicdes sociais, dos costumes e da cultura, ampliando assim a
compreensio da vida politica - a qual, de todo modo, ainda aparece como 0 eixo
Historia publica e consciéncia historica | 21
aglutinador desses outros componentes historiograficos. Os livros didaticos re-
presentam entdo uma das formas mais poderosas de publicacao da Histéria. Eles
sao responsaveis pela ideia de Histdria que impregna o senso comum de uma cul-
tura e de um povo. E embora a producao didatica esteja estreitamente associada
as discussées historiograficas académicas, também reflete suas idiossincrasias,
transmitidas dogmaticamente nos bancos escolares.
Outra forma instituida de publicacdo da Histéria esta ligada aos “lugares da
meméria”:’ museus, monumentos e sitios histdricos sio objeto de politicas de
conserva¢ao, restauracao, exposicao e visitacao. Com frequéncia, se engendram
esforcos para que esse patriménio cultural seja aberto a algum tipo de divulgacao
maior. Buscam-se modos de aproveitar esse acervo de maneiras mais abrangen-
tes, que atinjam um maior numero de pessoas; formas de tornar acessivel a um
publico comum, nao académico, um tipo de patriménio e de informa¢ao que,
de inicio, seria uma espécie de propriedade intelectual dos especialistas - como
encarregados de identificar 0 patriménio histérico e recomendar os melhores
modos de sua preservacao. Em vez disso, pretende-se ampliar o acesso a estas
informagées, ou a uma parte delas, a um ptiblico que, de outro modo, seria priva-
do desses bens culturais. Exposicées didaticas e visitas guiadas visam colocar 0
publico em contato com um passado que, em geral, é apresentado como heranca
comum a todos.
Outro aspecto da educacao histérica esta associado a divulgagao cientifica
da historia por meio de documentarios, filmes de carater histérico, livros roman-
ceados com pano de fundo histérico, histérias em quadrinhos ambientadas his-
toricamente. Sao outras tantas as formas de publicacao da histéria presentes na
cultura comum, que por vezes merecem reflexao quanto aos contetidos historicos
que veiculam.
O cenario de publicacao da histéria é amplo e diversificado. Isto 6, é como se
a historiografia académica — aquela que é produzida como ciéncia pelos especia-
listas - vazasse por muitos poros, e formasse uma intrincada rede de vasos co-
municantes que sustenta e alimenta a visao comum do que é a histéria. O peque-
1. A expressio foi consagrada por Pierre Nora, historiador francés contemporaneo, que dirigiu a obra
Les lieux de mémoire, trés volumes destinados a fornecer um inventario dos lugares e objetos nos quais
se encarna a meméria nacional francesa.
Introdugao a Histéria Publica
no inventario até aqui realizado visou esbocar os contornos e os principais veios
desse cenario. A partir dele, podemos propor alguns problemas para reflexao.
O primeiro pée em questdo a concep¢ao de que, antes de tornar-se publico,
o conhecimento historico se acumula ocultamente, assumindo uma forma pre-
cisa. Trata-se de uma concep¢ao do conhecimento histérico como algo objetivo,
cumulativo, que possa ser controlado e possuido por alguém. Nesta concepsao,
esta embutida a crenca de que aquilo que esta guardado contém algum tipo de
verdade objetiva e inequivoca. E como se 0 acesso a certos documentos fosse
tudo o que falta para que a revelac4o iluminadora da verdade histérica finalmen-
te ocorra. Ora, essa ja é uma visdo da histéria que contém certo cacoete acadé-
mico tedrico-metodolégico, que nao é facilmente identificado nem pelo publi-
co comum nem pelos responséveis pela divulgacao da histéria. Tal pressuposto
tedrico passa em geral despercebido por aqueles que clamam pela abertura de
acervos e arquivos, que questionam contetidos de livros didaticos, ou discutem a
acuracia da narracao histérica em filmes e novelas - por exemplo, o recente deba-
te critico em torno de Dan Brown e do filme baseado em seu best-seller.
Todas essas criticas, clamores e reivindicagées parecem tomar por suposto
que, nao fosse pelo enclausuramento, bem como pelos desvios ou apropriacdes
indevidas, o conhecimento histérico estaria puro, cristalino, intacto, correto,
embora escondido em algum lugar por algum agente malévolo. A publicacdo é
considerada um ato simples, como se consistisse apenas em mostrar ou trazer a
luz aquilo que estava antes escondido. Neste ponto, caberia ao historiador pro-
fissional efetuar a correcao de curso nos caminhos da histéria publica, porque
ele, mais do que ninguém, estaria ciente do papel fundamental do intérprete
no tratamento das “fontes” - documentos, objetos, depoimentos e tantas outras
formas em que pode se apresentar a evidéncia histérica
Quando se vé a histéria publicada, nao se pode esquecer que a omissao ou
adaptagao de informagées faz parte do processo de publicaco; isto é, cabe ao
intérprete decidir previamente o que vai ou nao fazer parte do corpo histérico
divulgado. Além disso, 0 processo de corregéo daquilo que foi publicado 6, ja,
uma interpretacao histérica, dado que quem corrige tem também uma opiniao.
A corre¢do carrega as marcas da interpretacao.
2. Ver O cédigo da Vinci (2003), adaptado em filme em 2006 sob o mesmo titulo.
Historia publica e consciéncia histérica | 23
Por “marcas da interpretacao”, porém, nao se quer dizer que interpretar é
um ato de absoluta liberdade da imaginacao. Alguém que cuida da interpretacao
historica esta, na verdade, trabalhando segundo uma heranga disciplinar de mé-
todos, definicao de objetos, concep¢ées tedricas de como situar essa atividade.
Quando se corrige e se critica, quando ha acesso, finalmente, as tais fontes
escondidas, quando se avalia um filme de divulgacao ou um livro didatico, todas
essas interven¢ées sao ~ e devem ser - balizadas por uma concepco, quer com-
plementar ou concorrente daquela outra, implicita na obra criticada. Nesse caso,
as redes académicas de produao historiografica se constituiriam como uma es-
pécie de forum de controle epistémico do que chega ao publico como divulgacao
histérica.
Si
Creio ser mais que tempo de estabelecermos as pontes de comunica¢ao entre
0 saber académico e o trabalho dos divulgadores. O termo divulgagdo, creio, tem
uma conotac4o muito mais pejorativa nas Ciéncias Humanas do que nas Ciéncias
Naturais ou Exatas, que j4 convivem com a divulgacao cientifica ha muito tempo.
Inclusive, com frequéncia o divulgador 6, a0 mesmo tempo, um cientista respei-
tado. E 0 caso do fisico Carl Sagan e do bidlogo Stephen Jay Gould, autores de
indmeros best-sellers. No Brasil, o fisico Marcelo Gleiser e 0 médico Drauzio Va-
rella ocuparam com sucesso 0 espaco da divulgacao cientifica na TV, nos jornais
e nos livros. Nem sempre o divulgador é um escritor de tiltima hora, que apanha
as rebarbas da produsao cientifica e as traz para o grande publico de modo irres-
ponsével. Existe uma producio de bom nivel, legivel e acessivel para um publico
nao especializado, perfeitamente adequada ao territério intermedidrio entre a
cultura comum e aquela especializada, produzida na Academia.
Talvez a passagem do conhecimento académico para a divulgacao seja mais
facilmente aceita no caso das Ciéncias Naturais, por tratar-se, via de regra, de um
conhecimento altamente matematizado e expresso num jatgao bastante hermé-
Introducdo a Historia Publica
tico. A divulga¢ao parece necessaria para garantir a compreensao, até mesmo, de
académicos de Areas diversas, completamente leigos fora de suas areas de espe-
cializagao. Talvez por isso a divulgacao cientifica seja uma atividade respeitada,
merecendo prémios de reconhecimento de qualidade. Nao por acaso, o jornalista
que trabalha com ciéncia recebe classificagao propria, j4 que tem que desenvolver
conhecimentos especificos para produzir comentarios adequados.
No caso das ciéncias do homem, talvez devido a quase auséncia de recursos
matemiticos e ao vocabulario semelhante a linguagem comum, tende-se a con-
siderar que 0 acesso a esse tipo de conhecimento ndo precisa de mediacao. Essa
concep¢ao pode ser ilustrada por um comportamento bastante comum dentro
da Academia. Por exemplo, alguém que estuda Hist6ria cré poder recorrer sem
dificuldades a uma literatura de Antropologia, ou aprender Filosofia como leitura
de cabeceira: uma vez dentro das humanidades, cremos poder nos reinventar
enquanto cientistas sociais, fildsofos ou tedricos da literatura sem enfrentar as
dificuldades das formagées especificas, como se, nesse campo, os saberes fos-
sem facilmente intercambidveis. Na vivéncia cotidiana, os préprios académicos
com frequéncia nao respeitam a complexidade dos esforcos de cada drea para
constituir seu cabedal tedrico, a massa interpretativa de seus temas e problemas
- como se fosse possivel embarcar de ultima hora numa complexa atividade in-
vestigativa, sem maiores apresentacées.
Esses desvios de compreensao propiciam novos equivocos quando se trata
do trabalho de divulgacao ou de publicacao. Nao ha clareza quanto a fronteiras ou
vias para o tratamento epistémico dessa producao. Aquele que desejar apoio aca-
démico para a divulga¢ao do conhecimento tera, muitas vezes, que improvisar os
meios para garimpar suas informacées. Inversamente, se um membro da Acade-
mia se prestar a esse auxilio ou resolver dedicar-se pessoalmente a atividades de
publicacao, teré que enfrentar os comentarios depreciativos dos colegas. Trata-se
de uma manifestacao de poder disciplinar mal dirigida, justamente pela auséncia
de clareza quanto a natureza e contornos dos saberes académicos.
O exemplo dos pesquisadores da natureza pode ser um bom guia nessas
questées. Afinal, eles administram bastante bem o seu convivio com divulga¢ao e
ficcao, e ha bastante tempo. A fic¢do cientifica é um género literdrio muito apre-
ciado; contudo, requer muito trabalho elaborar uma construc4o da imaginagéo
que, ao mesmo tempo, seja bem fundada no solo de conhecimentos compartilha-
Historia publica e consciéncia historica 25
do pelos cientistas. Assim, embora se trate de uma projecdo da imaginacao para
o futuro ou para outros mundos, tal produgao ficcional é dita cientifica porque
nao contraria o que a ciéncia admite como possivel, ainda que em algum nivel
de especulac4o. Ora, por que nao caracterizar de modo andlogo a literatura de
inspiragao hist6rica? Por que nao poderia ser bem aceita nessa condicao: de fic-
¢do cientifica de tipo histérico? Ainda, com mais razao, deveriam ser acolhidas as.
producées mais sérias, assumidamente de nao ficcao, elaboradas em linguagem
acessivel para um piblico mais amplo.
E tempo de argumentar a favor da respeitabilidade dos géneros “divulgacao
historica’”, “ficcao histérica”, “historia didatica”, de todas as formas de publicacao
historica. A unica divulgacao da pesquisa que a Academia aceita e encoraja é a pu-
blicagdo em periédicos e livros destinados a comunidade cientifica stricto sensu:
os leitores sao interlocutores especializados, ligados 4 vida académica. E, contu-
do, produzir ficc4o ou divulgagao cientifica, assim como elaborar livros didaticos,
exige muito empenho, porque nao é facil dizer de modo simples o essencial; o
processo de publicacao envolve decisdes cruciais de selecao e reescrita na massa
de informacio e de interpretagdo académica disponivel. Quando bem feito, nao
se trata de um trabalho de “recorte-e-cole” visando a producao em massa, mas de
uma tarefa que exige engenho e arte. E mister que a Academia reconheca esses
caminhos de publicagao, nao sé como espacos nos quais seus préprios profis-
sionais possam atuar sem qualquer reprovacao ou embaraco, mas como o lugar
privilegiado de didlogo entre a Academia e a recepco social de seu trabalho.
Penso que deveriamos nos empenhar pelo reconhecimento das formas de
publicagdo histérica como formas que podem perfeitamente emanar da Acade-
mia ou andar de maos dadas com a historiografia académica. Nao é preciso que
esta seja uma relacdo hostil e conflitante. Para ajudar a pensar essa conciliacdo
e essa passagem, poderiamos invocar um conceito filoséfico - 0 de consciéncia
histérica.
A expressao designa o modo como os seres humanos interpretam a experi-
éncia da evolucao temporal de si mesmos e do mundo em que vivem. A preocu-
Pagao de fazer referéncia a uma experiéncia tipicamente humana do mundo esta
Presente no pensamento alemao, pelo menos, desde o Romantismo, e aparece na
reflexao de Hegel, Dilthey, Husserl e Benjamin. Pode-se especular que, de certa
forma, essa preocupa¢ao continuada era compativel com o processo de forma¢io
Introdugao a Histéria Publica
da nagao alema, concluido nas ultimas décadas do século XIX. Com efeito, a cons-
trucao da identidade nacional ale de inicio nao vem das fronteiras desenhadas
enem de um poder politico tinico. Ela ¢ reivindicada, sobretudo por intelectuais,
a partir da unidade da lingua e da cultura, e é conduzida por uma historicidade
peculiar - do “espirito do povo” - aquela dos usos e costumes, dos modos de
habitar 0 espaco, de pensar o mundo, que caracterizam muito mais uma historia
da sociedade e da cultura do que os métodos da historiografia politica, na época
em ascensao nas academias. E preciso entao desenvolver as artes do intérprete
para ler, nas marcas da ac4o humana sobre o mundo fisico, os sinais simbélicos
das intengées do espirito, dos projetos que recriam a cada vez a ordem das coisas,
reinventando o passado e visando sempre o futuro. A proposta académica para a
unificagao alema é fundada sobre uma hermenéutica da cultura.
E certo que o processo de formagao dos estados nacionais foi, em geral,
acompanhado do empenho em reunir um cabedal de memoria coletiva, justa-
mente para legar a cada na¢ao seu patriménio histérico. A construgdo de um
passado, nos estados nacionais, é uma atividade constante de funda¢ao mitica,
de justificagao de fronteiras e de legitimagao de governos. E quem recebe essa
heranga historica junto com a nacionalidade é instado a reconhecé-la sob a forma
material de nomes, datas, lugares, episddios, cores. Relatos expressos em signos
que podem ser percebidos pelos sentidos, reconhecidos visualmente, podem ser
tocados: a historia dos herdis, dos pais fundadores, das grandes guerras, dos epi-
sédios de independéncia e de libertacao, das proclamagées, das bandeiras e dos
hinos, é oferecida como um leque de icones palpaveis.
Mas a manifestacao da consciéncia historica se da culturalmente; ela é pré-
via e mais fundamental que os simbolos sensérios que se impdem a imaginacao
coletiva para a constituigao de memérias hist6ricas determinadas. Ela evoca uma
condi¢ao primeva da humanidade, aquela de organizar historicamente a experi-
éncia do mundo. Segundo esse pressuposto, a prética historica seria muito mais
Nos anos recentes, Reinhart Koselleck e Jérn Riisen trataram da experiéncia
do tempo e de sua tessitura de intengées e expectativas, constitutivas das agées
Historia publica e consciéncia histérica 7
humanas. Ela esta inscrita no modo de o homem se colocar diante das coisas, de
agir social ou culturalmente. Os pensadores alemaes contemporaneos, que her-
daram essa categoria da consciéncia histérica pensada e desenvolvida em muita
literatura académica, comentam, por exemplo, a questao dos ditos “povos sem
historia”. Trata-se de uma ideia posta em voga pela historiografia do século XIX,
aquela que se tornou uma 4rea disciplinar na Academia e que formou os pressu-
postos das escolas historicas até os dias de hoje. Tudo se teria passado como se s6
a Europa tivesse buscado sua historia; assim, se a Europa colonizou outros con-
tinentes, esses povos teriam sua histéria contada conforme a tradicao cultural
europeia. Ademais, essa tradi¢ao seria também aquela que dita o modelo do
toriar, dai a suposta auséncia de qualquer histéria em outras culturas e tradicées.
O interessante é que, mesmo com a revisao desse modelo historiografico, j4 em
curso hd algumas décadas, e com a consequente valoriza¢ao das culturas que fi-
caram A margem desse historiar, continua a parecer adequado falar desses povos
com qualquer outro vocabulario, menos aquele da histéria. Ou seja, trocam-se os
valores - de positivo para negativo - mas permanece a concep¢4o de que, frente
a essas culturas, estamos diante de algo externo ao historiar, que, contudo, deve
ser levado a sério, embora com outros métodos.
Ora, a ideia de consciéncia histérica permite empreender a interpretacao
das diferentes culturas segundo um principio universal dado na condigao hu-
entre'as’maltiplas formas de dar sentido as coisas no tempo, Tais manifestacées
também fazem parte do cotidiano: os Albuns de familia, as memérias de infancia
as narrativas dos antepassados constituem outros tantos modos de historiar,
plenos de mitos e ritos. Quando se faz ciéncia, o historiar metodiza e corrige 0
dado na cancciéncia histdrica_
O recurso a nogao de consciéncia historica permite fundamentar filosofica-
mente a passagem da histéria académica para a historia publica. Trata-se de uma
visdo tedrica, que reconhece na condicao humana o pressuposto historico: pen-
samos e falamos historicamente, e esse é o modo pelo qual nos posicionamos na
cultura. Assim identificamos 0 mundo ao nosso redor, assim construimos nossa
Você também pode gostar
- Prova 9A E B MATUTINODocumento4 páginasProva 9A E B MATUTINOIgorAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa de Imagem - 8ºDocumento6 páginasAtividade Avaliativa de Imagem - 8ºIgorAinda não há avaliações
- As Novas Tecnologias para Educação Estão em Constante Mudanças e Tais Inovações Auxiliam o Professor de História No Processo de EnsinoDocumento3 páginasAs Novas Tecnologias para Educação Estão em Constante Mudanças e Tais Inovações Auxiliam o Professor de História No Processo de EnsinoIgorAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento9 páginasArquivoIgorAinda não há avaliações
- Oficina 1Documento73 páginasOficina 1IgorAinda não há avaliações
- Vcuv1nov rx4Documento2 páginasVcuv1nov rx4IgorAinda não há avaliações
- Sumário Expandido - PROFHISTÓRIADocumento3 páginasSumário Expandido - PROFHISTÓRIAIgorAinda não há avaliações
- 100 Livros Que Mudaram A HistóriaDocumento5 páginas100 Livros Que Mudaram A HistóriaIgorAinda não há avaliações
- Dieta Igor Outubro 2023Documento8 páginasDieta Igor Outubro 2023IgorAinda não há avaliações
- Texto Anais 2023 ANPUHDocumento14 páginasTexto Anais 2023 ANPUHIgorAinda não há avaliações
- Prova de Ciências - III UNIDADEDocumento4 páginasProva de Ciências - III UNIDADEIgorAinda não há avaliações