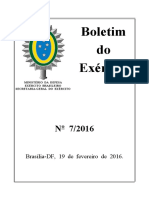Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Unidade 1 Atencao Domiciliar e A Familia
Unidade 1 Atencao Domiciliar e A Familia
Enviado por
alinevieirapsiquiatriaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Unidade 1 Atencao Domiciliar e A Familia
Unidade 1 Atencao Domiciliar e A Familia
Enviado por
alinevieirapsiquiatriaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ATENÇÃO DOMICILIAR E A FAMÍLIA
Lêda Chaves Dias
A experiência de sentir-se vulnerável, frágil, ameaçado é compartilhada por
quase todas as pessoas que estão doentes ou enfrentam adversidades. A
superação é uma tarefa complexa que pode exigir a habilidade de produzir
mudanças para minimizar ou eliminar danos. Não existe uma receita única para
alcançar o bem-estar, a felicidade, mas a família pode ser um antídoto contra
ameaças (DIAS, 2012, p. 221).
A experiência clínica sustenta que as famílias influenciam e são influenciadas
pela saúde de seus membros, e que a assistência orientada para a família na
Atenção Primária à Saúde pode levar à melhora da saúde, tanto para o indivíduo
para a família como um todo. A Organização Mundial da Saúde tem caracterizado
a família como o principal agente social de promoção da saúde e bem-estar. Um
estilo de vida saudável é normalmente desenvolvido, mantido, ou alterado dentro
do ambiente familiar (MCDANIEL, CAMPBELL, HEPWORTH, LORENZ, 2005, p.
16-17).
Não existe estratégia única de como lidar com um doente crônico e sua
família, assim como não existe um único caminho a seguir entre tantas abordagens
práticas do cuidado da clínica, mas é esperado que o profissional que realiza o
cuidado em Atenção Primária à Saúde possa ajudar as famílias a identificarem
suas preocupações, realizarem o entendimento real da situação, identificarem
necessidades, avaliarem a demanda de cuidados, expressarem as situações de
possíveis riscos, tecerem possibilidades de rede de apoio, realizarem um
planejamento do cuidado de forma a atingir a melhor condição de conforto para a
pessoa doente e seus familiares. Muitas vezes a doença crônica impossibilita a
pessoa ou a família de receberem o cuidado na unidade de saúde, e é na visita
domiciliar e nos cuidados fornecidos no domicílio que são realizadas algumas
estratégias. Os profissionais podem ajudar a pessoa e os familiares a fazerem
escolhas sobre o cuidado de saúde e também mediarem alguns conflitos ou a
comunicação entre eles.
Segundo McDaniel, Hepworth e Doherty (1992), o diagnóstico de uma doença
crônica é uma crise significante no ciclo de vida familiar. A pessoa doente e a
família geralmente estão despreparados para as mudanças físicas, períodos de
instabilidade emocional e incertezas do funcionamento de vida no futuro. A doença
crônica demanda novas formas de lidar com a vida em família e períodos longos de
adaptação. A pessoa que está doente realiza múltiplas perdas além da mudança
em seu funcionamento físico. Ocorrem perdas de papéis e responsabilidades no
contexto da família, as vezes, também, perdas de sonhos, e, outras vezes, medo
pela possibilidade da morte.
A mobilização familiar frente a situação de adoecimento de um de seus
intregrantes, que necessite de cuidados no domicilio, gera movimentos que se
modificam de acordo com a gravidade e duração da situação. Em geral, no inico do
quadro de uma doença a família se mobiliza e se organiza com a maioria das
pessoas auxiliando no cuidado. Com o passar do tempo, esta organização se
modifica, e o cuidado mais direto passa a ser de responsabilidade de poucos, com
os demais retornando as suas atividades e compromissos da vida diária.
Essas e outras questões descritas fazem parte de um grande elenco de
situações que requerem um complexo trabalho com as famílias.
Em um primeiro momento é essencial que o profissional esteja atento ao
estágio do ciclo de vida em que a família se apresenta. Ao receber o pedido para
realização de visita domiciliar a uma pessoa que está impossibilitada de se
mobilizar até a unidade de saúde, os profissionais devem primeiramente
correlacionar o estágio do ciclo de vida familiar ao problema da pessoa e da
família. Desta forma, é essencial considerar o impacto do diagnóstico em todos os
âmbitos.
A mobilização familiar frente a situação de adoecimento de um de seus
intregrantes, que necessite de cuidados no domicilio, gera movimentos que se
modificam de acordo com a gravidade e duração da situação. Em geral, no inico do
quadro de uma doença a família se mobiliza e se organiza com a maioria das
pessoas auxiliando no cuidado, com a doença exercendo uma força de mobilização
centripeta. Se a situação se prolonga, com o passar do tempo, esta força de
mobilização se modifica, tornando-se centrífuga, e o cuidado mais direto passa a
ser de responsabilidade de poucos, com os demais retornando as suas atividades
e compromissos da vida diária.
Alguns estudiosos em famílias referem que algumas doenças crônicas ou os
doentes crônicos passam a reger as necessidades das famílias. Em outras famílias
a constante lida com sentimentos de frustração, ressentimento e pobre
comunicação podem fornecer os ingredientes fundamentais para a ocorrência de
negligências e outros maus tratos. É essencial, desta forma, reconhecer o ciclo de
vida para prever situações de crise da própria fase, reconhecer o entendimento
sobre a doença e as perspectivas da situação, mas também diagnosticar o tipo de
família que se apresenta mediante o problema, assim como a dinâmica de
funcionamento.
Dependendo do recurso das famílias, cultura, acesso a informação ou
possibilidades de acesso, pode-se prover conhecimentos sobre a doença e realizar
levantamento de cuidados.
Outro aspecto importante é termos presente, ao abordar familias no domicilio,
das fases de enfrentamento a doença estabelecidas por Elizabeth Ross,
explicitadas na figura abaixo (Tratado de Medicina de Família, Vol I, p. 819), pois
ao tratar com a pessoa doente e sua familia, temos nos dar conta de que cada um
dos integrantes pode estar em uma fase distinta. E identificar as fases de cada um
através da entrevista familiar, principalmente daquele que será o interlocutor pela
família, ajudará a diminuir as dificuldades de abordagem.
Fonte: Tratado Medicina de Família, Cuidados paliativos na Atenção
Primária à Saúde pag. 810, Cledy Eliana dos Santos, Fátima Magno
Teixeira e Luiz Felipe Mattos
O encontro com a família e a entrevista familiar segundo McDaniel, Hepworth
e Doherty (1992), deve conter estratégias que: 1) Respeitem as defesas, removam
culpas e aceitem os sentimentos inaceitáveis; 2) Mantenham uma boa
comunicação; 3) Reforcem a identidade familiar; 4) Explicitem a história da doença
e do significado dela na família; 5) Provenham suporte psicoeducacional; 6)
Aumentem o sentimento de união familiar; 7) Mantenham uma presença empática
com a família.
No encontro com a família também é essencial detectar situações de risco,
que podem se apresentar de diversas formas e de acordo com as peculiaridades
da família. Mas algumas situações são consideradas como sinal de grande atenção
ao serem detectadas, como: 1) Famílias onde há significante diferencial de poder;
2) A história de violência ou abuso através das gerações; 3) Família com abuso de
substâncias; 4) Fronteiras entre as gerações confusas ou inexistentes; 5) Famílias
que mantém isolamento social; 6) Pobre rede de apoio.
O encontro domiciliar com a familia é uma oportunidade única de
aproximação a realidade que muitas vezes não pode ser compreendida no
atendimento ambulatorial. É, também, uma grande ocasião para se trabalhar a
interdependencia dos membros da família e o suporte emocional nos
relacionamentos.
Várias ferramentas podem ser utilizadas durante o encontro com as famílias.
A realização do genograma familiar ajuda a organizar a história e a identificar os
diversos membros dentro do contexto e dinâmica de funcionamennto familiar.
Pode, também, ser uma ferramenta que facilita a expressão dos afetos quando é
contada a história, e , o fato de ser criado um desenho em conjunto com a familia,
pode facilitar o relacionamento com a equipe de saúde.
Enfim, Stephenson (1998), refere que o tratamento de pessoas no domicílio
prove um fascinante e privilegiado entendimento sobre suas vidas e ajuda a
revelar importantes elementos de seus problemas médicos.
BIBLIOGRAFIA:
DIAS, LC. Abordagem Familiar. In: Tratado de medicina de família e
comunidade: princípios, formação e prática / Organizadores, Gustavo
Gusso, José Mauro Ceratti Lopes. – Porto Alegre : Artmed, 2012. Vol I, p.
221.
MCDANIEL, CAMPBELL, HEPWORTH, LORENZ. Family-Oriented Primary
Care. New York : Springer. 2005.
MCDANIEL, HEPWORTH, DOHERTY. Medical Family Therapy : A
Biopsychosocial Approach to Families with Health Problems. New York :
BasicBooks, 1992.
SANTOS, CE; Teixeira, FM; MATTOS, LF; Tratado Medicina de Família,
Cuidados paliativos na Atenção Primária à Saúde pag. 810,
STEPHENSON, A. A textbook of General Practice. London : Arnold, 1998, p.
145.
Você também pode gostar
- Competências SociaisDocumento135 páginasCompetências SociaisSCFL0% (1)
- Fundamentos Da Gestão de CustosDocumento60 páginasFundamentos Da Gestão de Custoscatafesta178% (9)
- Texto 2 Diversidade e InclusãoDocumento11 páginasTexto 2 Diversidade e Inclusãoisa300Ainda não há avaliações
- Suely Rolnik - A Vida Na BerlindaDocumento12 páginasSuely Rolnik - A Vida Na BerlindaLara Pugin100% (1)
- Bagno Rangel 2005 Educacao LinguisticaDocumento19 páginasBagno Rangel 2005 Educacao LinguisticaVitor ChinenAinda não há avaliações
- Ambientalização Dos Bancos e Financeirização Da NaturezaDocumento204 páginasAmbientalização Dos Bancos e Financeirização Da NaturezaTatiana Emilia Dias Gomes0% (1)
- Arranjos ProdutivosDocumento312 páginasArranjos Produtivoserick-macielAinda não há avaliações
- Xadrez Nas Escolas Esporte, Ciência Ou Arte PDFDocumento7 páginasXadrez Nas Escolas Esporte, Ciência Ou Arte PDFgame_over_proAinda não há avaliações
- Caderno Praticas Corporais Atividade-Fisica LazerDocumento34 páginasCaderno Praticas Corporais Atividade-Fisica Lazerdehborahs7511Ainda não há avaliações
- PGIRS - CuiabáDocumento348 páginasPGIRS - CuiabáCarlos Alberto Rissato100% (1)
- Gilberto Coelho - 5 Regras Não NegociáveisDocumento15 páginasGilberto Coelho - 5 Regras Não NegociáveistiagoarsAinda não há avaliações
- Planejamento Da Acao DidaticaDocumento13 páginasPlanejamento Da Acao DidaticaAline LeãoAinda não há avaliações
- PLA124 Planilha Casa Da Qualidade QFD DemoDocumento27 páginasPLA124 Planilha Casa Da Qualidade QFD DemoGedeon Ana FláviaAinda não há avaliações
- O Tribunal de Contas Da União (TCU) e A Gestão Ambiental Brasileira - LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMADocumento15 páginasO Tribunal de Contas Da União (TCU) e A Gestão Ambiental Brasileira - LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMAJohn WinstonAinda não há avaliações
- A Importância Da Embalagem e Rotulagem para Produtos e EmpresasDocumento13 páginasA Importância Da Embalagem e Rotulagem para Produtos e EmpresasEdson PalmaAinda não há avaliações
- Be7 16Documento72 páginasBe7 16Leonardo FiúzaAinda não há avaliações
- Giddens, Dualidade Da EstruturaDocumento2 páginasGiddens, Dualidade Da EstruturaRui SousaAinda não há avaliações
- Comunicacao Visualidades e Diversidades Na AmazoniaDocumento327 páginasComunicacao Visualidades e Diversidades Na AmazoniaalcionelanaAinda não há avaliações
- Diretriz OrganizacionalDocumento22 páginasDiretriz OrganizacionalNeodo Junior100% (1)
- Recuperação de Imoveis Privados Centros HistoricosDocumento306 páginasRecuperação de Imoveis Privados Centros HistoricosAnastaciaAinda não há avaliações
- A Prática de Ensino Como Rito de Passagem e o Ensino de Sociologia Nas Escolas de Nível MédioDocumento12 páginasA Prática de Ensino Como Rito de Passagem e o Ensino de Sociologia Nas Escolas de Nível MédioBruna Gabriele de PaulaAinda não há avaliações
- Saboya 125 02 A Urgência Do PlanejamentoDocumento17 páginasSaboya 125 02 A Urgência Do PlanejamentoFrancieli Aksenen DembeskiAinda não há avaliações
- Apostila ADM165Documento25 páginasApostila ADM165Jaffer VelascoAinda não há avaliações
- Gestão PúblicaDocumento108 páginasGestão PúblicaMarcelaAinda não há avaliações
- Plano ElianeDocumento42 páginasPlano ElianelsbtAinda não há avaliações
- Texto de Apoio Ao Estudante Planeamento de Gestão Estratégica-2024Documento31 páginasTexto de Apoio Ao Estudante Planeamento de Gestão Estratégica-2024juliafulane1Ainda não há avaliações
- O Plano de Marketing Territorial Da Cidade de AbrantesDocumento135 páginasO Plano de Marketing Territorial Da Cidade de AbrantescynobaAinda não há avaliações
- Lei de Bases Do Des AgrárioDocumento14 páginasLei de Bases Do Des AgrárioMarcelina Gonçalves GonçalvesAinda não há avaliações
- AnildeDocumento35 páginasAnildeHerminio JuvenalsAinda não há avaliações