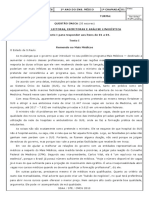Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Demo Educacao e Trabalho
Demo Educacao e Trabalho
Enviado por
Catarina PeixotoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Demo Educacao e Trabalho
Demo Educacao e Trabalho
Enviado por
Catarina PeixotoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
EDUCAO E TRABALHO - Tentativa de ver o trabalho com bons olhos -
Pedro Demo Braslia, UnB, novembro de 20001.
Texto revisto e muito ampliado, publicado originariamente em: Poema Pedaggico 6, publicado por Servio de Educao e Organizao Popular SEOP, Petrpolis, p. 7-46, 1997.
(BIOGRAFIA) 1. PhD em Sociologia pela Alemanha (1971); tese com nota mxima, premiada e publicada (Herrschaft und Geschichte. Editora Anton Hain, 1973). 2. Professor Titular da UnB. Ps-Doutor pela UCLA (Los Angeles), agosto de 1999 a abril de 2000. 3. Mais de 40 livros publicados sobre Poltica Social e Metodologia Cientfica. Publicados em 2000: a) Poltica Social do Conhecimento, Vozes; b) Educao e Conhecimento, Vozes; c) Educao pelo Avesso, Cortez; d) Saber Pensar, Cortez; e) Metodologia do Conhecimento Cientfico, Atlas; f) Ironias da Educao, DP&A; g) Certeza da Incerteza, Editora Plano, Braslia. 4. Tcnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, aposentado desde 1994. 5. Ocupou vrios cargos na alta Administrao Federal (Ministrio da Educao, da Justia, Ministrio Extraordinrio para a Desburocratizao, Secretaria de Assuntos Estratgicos). Atualmente apenas professor.
Anda muito mal afamado o trabalho2. Na teoria e na prtica. Desde que se forjou a pesquisa europia em torno da significao do trabalho na vida das pessoas, com destaque para Offe, o trabalho estaria ameaado de se tornar coisa residual, pelo menos pouco importante3. O welfare state contribuiu muito para isso, porque espargiu a expectativa de que, com pouco trabalho, haveria bem estar para todos, alm de o estado cuidar disso sempre, de tal sorte que o ideal de uma sociedade de ociosos j poderia ser antevista no horizonte prximo. A par disso, a crtica contra o trabalho espoliativo - algo tradicional e por demais justo na esquerda - sobretudo de crianas e adolescentes, levou a denegrir ainda mais o trabalho como tal, a ponto de no se admitir, na prtica, que pudesse haver trabalho educativo. Ficou a impresso de que todo o mundo, os mais e os menos explorados pelo capital, precisam livrar-se do trabalho, uns por conta da humilhao que representa gastar todas as energias com o desgaste fsico, sem oportunidade alternativa na vida, e outros por conta de uma era de fartura que recomendaria o cio. Assim, h quem trabalhe por sobrevivncia, outros sob protesto, j que, em todos, afloraria a promessa de que possvel viver sem trabalhar, finalmente4. Todavia, para ironia do destino, reclama-se hoje principalmente do terror diante de um futuro destitudo cada vez mais da chance de trabalhar. Para o nmero crescente de desempregados, o que atemoriza a falta de trabalho. Ao mesmo tempo, como a questo da sobrevivncia nunca foi resolvida entre ns, e talvez mesmo no centro capitalista, trabalhar ainda aquilo que mais consome a vida das pessoas, apesar da teoria5. A recente obra de Antunes sobre os sentidos do trabalho indica precisamente esta realidade: na negao de fachada do trabalho retorna sempre sua afirmao, com o agravante capitalista de que o trabalho se precariza cada vez mais6. Buscamos neste texto preliminar esboar uma polmica em torno do trabalho educativo,
ANTUNES, R. 1995. Adeus ao Trabalho? - Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. Cortez, So Paulo. CATTANI, A.D. 1996. Trabalho & Autonomia. Vozes, Petrpolis. 3 OFFE, C.1989 e 1991. Trabalho & Sociedade - Problemas estruturais e perspectivas para o futuro da sociedade do trabalho, 2 vol. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. 4 TEIXEIRA, F.J.S. E OLIVEIRA, M.A. (Orgs.). 1996. Neoliberalismo e Reestruturao produtiva - As novas determinaes do mundo do trabalho. Cortez, So Paulo. 5 LOJIKINE, J. 1995. A revoluo informacional. Cortez, So Paulo.
2
com o objetivo de alimentar uma discusso sadia e renovada no contexto de sua possvel importncia para a emancipao da pessoa e da sociedade. Como toda polmica, mister tom-la com olhos crticos, como simples convite discusso questionadora.
ANTUNES, R. 1999. Os Sentidos do Trabalho Ensaio sobre a afirmao e a negao do trabalho. Boitempo Editorial, So Paulo.
I. PANORAMA TERICO DO TRABALHO
A constatao de que o trabalho se torna, crescentemente, preocupao menos relevante na vida das pessoas, parece, pelo menos primeira vista ou como hiptese geral, plausvel no mundo de hoje. O tempo livre tem aumentado nas pessoas que conseguem modos mais dignos de auto-sustentao, de tal sorte que esta, ultrapassada como simples sobrevivncia, induz a uma situao enriquecida de outras oportunidades. H, porm, a dois passos em falso. O primeiro refere-se ao fato de que o recuo do trabalho tpico, no mximo, em pases desenvolvidos, ou caracterizados
lidimamente como welfare states. A transposio disso para o Terceiro Mundo no mais que imitao barata, como imitao barata a definio de nosso estado como welfare state, segundo consta, por exemplo, em nossa Constituio. Tomando-se em conta a globalizao dos mercados competitivos, h que considerar que os benefcios do centro no esto, por isso, disponveis para a periferia7. Muito pelo contrrio. O fenmeno restringe-se crescente intercomunicao dos mercados em plano mundial, sobretudo por fora da informatizao financeira. No se trata a rigor de globalizao em sentido positivo, como se houvesse a o alargamento da justia social ou uma transposio para a periferia de padres de consumo com o mesmo bem estar. menos forma de participao de todos na economia mundial, do que novo padro de dominao a partir do centro8. Diferentemente disso, caber periferia do sistema produtivo, mesmo em contexto de competitividade, prover o centro de matrias primas com valor decrescente, dentro de processos produtivos que privilegiam o consumo rpido de recursos no renovveis. Por prprio atraso histrico, tais processos no so, em primeiro lugar, intensivos de conhecimento, o que nos conduz ao segundo passo em falso.
7
DEMO, P. 1995. Cidadania Tutelada e Cidadania Assistida. Autores Associados, Campinas.
Com
efeito,
reside
aqui
maior
contradio,
que
conhecimento
desconstrutivo, sobretudo de cariz ps-moderno tem, como uma de suas caractersticas mais centrais, promover a competitividade pela via do aproveitamento da inteligncia do trabalhador, e no mais da mera fora fsica. Trata-se, em teoria, da passagem da mais-valia absoluta para a relativa. Aquela se definia pela apropriao, por parte do capitalista, do valor gerado pelo trabalhador, menos a parte paga em salrio, sempre uma pequena e tendencialmente cada vez menor parte. A medida da mais-valia absoluta sempre foram as horas de trabalho gastas para gerar um determinado produto. O capitalismo produzia recursos e os concentrava cumulativamente atravs da explorao direta e fsica do suor do trabalhador, obrigado a trabalhar vastas horas, at que surgiram as primeiras leis que limitaram o dia de trabalho, hoje usualmente em 8 horas 9. A prpria introduo gradativa de mquinas/ferramenta foi alargando,
paulatinamente, a presena da substituio da fora fsica do trabalhador, medida que certas atividades foram sendo absorvidas por artefatos produtivos, que hoje encontram seu prottipo mais avanado no rob eletrnico, sem falar no computador. Como j se dizia na teoria original, a mais-valia relativa se caracterizava pela introduo cada vez mais visvel de cincia e tecnologia, tendo como uma das conseqncias marcantes a diminuio do dia de trabalho10. interessante notar que Marx previa isto, no pela v ia das conquistas da cidadania e respectivas leis, mas como resultado decorrente da prpria dinmica produtiva capitalista. A busca de lucro cada vez maior, mais seguro e duradouro levaria o capitalista a preferir processos produtivos inteligentes. Previa-se ai, ento, que o trabalho como dispndio de fora fsica recuaria, mesmo no contexto da explorao capitalista11. Assim, nos deparamos hoje com uma contradio dolorosa no processo produtivo,
8 9
porque
energia
central
excludente
do
capitalismo
competitivo
IANNI, O. 1996. Teorias da Globalizao. Civilizao Brasileira, Rio de Janeiro. FREITAS, M.C. (Org.). 1996. A Reinveno do Futuro. Cortez, So Paulo. VACCA. G. 1996. Pensar o Mundo Novo - Rumo Democracia do Sculo XXI. tica, So Paulo. 10 SANDRONI, P. 1985. O que mais-valia. Brasiliense, So Paulo. 11 ENGELS, F. 1971. Do socialismo utpico ao socialismo cientfico. Estampa, Lisboa. MARX, K. 1973. Contribuio para a crtica da economia poltica. Estampa, Lisboa. DEMO, P. 1995. Metodologia Cientfica em Cincias Sociais. Atlas, So Paulo. GIANNOTTI, J.A. 2000. Certa Herana Marxista. Companhia das Letras, So Paulo.
conhecimento
inovador,
uma
das
conquistas
mais
relevantes
da
emancipao
humana12. No apenas o capital financeiro que origina a explorao, sobretudo a apropriao indbita do valor gerado pelo trabalho. Ao adotar o processo inovador impulsionado pelo conhecimento, o mercado ganhou condies de extraordinria competitividade, de tal sorte que se aproximaria da tese marxista de que, um dia, haveria como problema importante da sociedade apenas a administrao das coisas, o que assinalava tambm que o comunismo somente poderia surgir aps o desenvolvimento pleno do capitalismo, em termos produtivos. Pode-se afirmar que a competitividade intensiva de conhecimento resolve qualquer problema de produo, a ponto de ter como angstia maior seu excesso, alm da degradao ambiental. Com efeito, sabido que, se todos os habitantes do planeta tivessem o mesmo nvel de consumo e produo que os pases do centro, seria impraticvel em termos de sustentabilidade13. Mesmo assim, tomando o exemplo da fome, se existe porque interessa ao capital. No h qualquer problema mais complexo de saturar as pessoas de alimentos. O problema seria muito mais a obesidade, do que a carncia. Entretanto, o mesmo conhecimento que consegue produzir tudo, tambm aquele que extermina as oportunidades de emprego e trabalho14. Entramos em outro crculo vicioso: produzir o conhecimento necessrio para superar os males do prprio conhecimento15. Mais do que nada, tememos hoje que um dia nos falte trabalho. Momento importante dessa discusso ainda a superao da teoria marxista do valor, ligado este exclusivamente ao trabalho16. Esta maneira de ver est na base do conceito de mais-valia, j que, sendo o trabalho a nica fonte de valor e sendo realizado pelo trabalhador, o capitalista se torna ostensivamente explorador, porque se
12
SANTOS, B.S. 1989. Introduo a uma Cincia Ps-moderna. Graal, So Paulo. SANTOS, B.S. 1995. Pela Mo de Alice - O social e o poltico na ps-modernidade. Cortez, So Paulo. SANTOS, F.A. 1990. A Emergncia da Modernidade. Vozes, Petrpolis. 13 ALTVATER, E. 1995. O Preo da Riqueza. Editora UNESP, So Paulo. SACHS, W. 2000. Dicionrio do Desenvolvimento Guia para o conhecimento como poder. Vozes, Petrpolis. 14 LYOTARD, J.-F. 1990. O Inumano - Consideraes sobre o tempo. Estampa, Lisboa. LYOTARD, J.-F. 1996. Moralidades ps -modernas. Papirus, Campinas. LYOTARD, J.-F.1989. La Condicin Postmoderna - Informe sobre el saber. Catedra, Madrid. 15 HARDING, S. 1998. Is Science Multicultural? Postcolonialisms, feminisms, and epistemologies. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis. 16 WRIGHT, E.O. et alii. 1993. Reconstruindo o Marxismo - Ensaios sobre a explicao e teoria da histria. Vozes, Petrpolis. TEIXEIRA, F.J.S. E OLIVEIRA, M.A. (Orgs.). 1996. Neoliberalismo e Reestruturao produtiva As novas determinaes do mundo do trabalho. Cortez, So Paulo.
apropria de um valor que nunca gerou. Enriquece com o suor dos outros. Est na berlinda tambm a alegao extremada de que tudo determinado, pelo menos em ltima instncia, pela infra-estrutura econmica e material. A reviso em marcha de tais expectativas levou, tambm, a retocar profundamente a questo do trabalho17. Entretanto, vale a pena ressaltar que Marx conotava o trabalho como fenmeno tipicamente dialtico, ou seja, intrinsecamente contrrio, porque se, de um lado, seria o fundamento crucial da dignidade humana, de outro, era o instrumento de explorao mais indigno no capitalismo. Na prtica, seria pensvel traduzir a teoria de Marx sobretudo como empreitada de recuperao da dignidade do trabalho, porquanto tinha do futuro a idia de uma sociedade de trabalhadores livres. No existira homem novo fora do contexto do trabalho18. Esta viso motivou a compreenso tpica de que a sociedade dividida em duas classes antagnicas: uma que trabalha, outra que expropria o trabalho dos outros. Pretendia-se que, na categoria dos trabalhadores estaria representada a sociedade inteira, menos os capitalistas ou burgueses. No diferente disso a idia de um Partido dos Trabalhadores, que mantm a expectativa de ser representativo da maioria da sociedade, j que a categoria trabalho seria aquela que mais estaria presente em todos, menos nos detentores do capital. Talvez seja marca prpria da civilizao ocidental nrdica, com tendncia protestante, a valorizao extrema do trabalho, praticamente como sentido principal da vida, seja com base religiosa (provar na terra a riqueza que se pode ter no cu), seja com base capitalista (investir, em vez de gastar)19. H outras culturas menos propensas a isso, porque sabem valorizar o dia a dia, sem preocupao obsessiva com o amanh, orientadas pelo sentido ldico. Embora as culturas ldicas tenham facilmente o problema de como pagar as contas, no se pode negar que
HABERMAS, J. 1983. Para a Reconstruo do Materialismo Histrico. Brasiliense, So Paulo. FREITAG, B. & PINHEIRO, M.F. (Orgs.). 1993. Marx Morreu: Viva Marx! Papirus. Campinas. JAMESON, F. 1985. Marxismo e Forma. Huicitec, So Paulo. JAMESON, F. 1996. Ps -Modernismo - A lgica cultural do capitalismo tardio. tica, So Paulo. ANDERSON, P. 1992. O Fim da Histria - De Hegel a Fukyama. Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro. WRIGHT, E.O. et alii. 1993. Reconstruindo o Marxismo Ensaios sobre a explicao e teoria da histria. Vozes, Petrpolis. 18 MARX, K. 1986. A Guerra Civil na Frana. Global Editora, So Paulo. LNINE, V.I. 1975. A Comuna de Paris. Edies Avante, Lisboa. LIDSKY, P. 1971. Los Escritores contra la Comuna. Siglo XXI, Mxico. LISSAGARAY, P.-O. 1991. Histria da Comuna de 1871. Editora Ensaio, So Paulo. 19 Seria esta a tese bsica da obra de Max Weber, ao pretender mostrar, diferentemente do marxismo, que a mola propulsora maior do capitalismo seria um tipo de cultura, resumida na tica protestante.
17
possuem sua racionalidade. Cabe lembrar a obra de Rosso sobre a jornada de trabalho, interpretada como castigo de Prometeu20. Entretanto, como o progresso nrdico, juntamente com o conhecimento psmoderno mais inovador, tem predominado a civilizao do trabalho, a ponto de distinguir entre os desenvolvidos porque trabalham, e os subdesenvolvidos porque no trabalham. Este esteretipo ainda muito forte, inclusive entre ns, por exemplo, na estigmatizao que o sulista freqentemente faz do nordestino. preciso distinguir ainda que o problema no est em apenas trabalhar, mas em trabalhar produtivamente. O nordestino pode trabalhar muito, mas no trabalharia bem, como faria o sulista que cumpre horrios, aplica-se muito, poupa, etc. Assim, fundamental separar as coisas. Sabendo trabalhar, ou seja, tendo capacidade de promover o que se poderia chamar de qualidade do trabalho21, torna-se possvel obter dele vantagens que o mero dispndio quantitativo no garante. Morrer de trabalhar nunca foi projeto vlido, porque esperase do trabalho, mais do que resolver a sobrevivncia, alcanar o desfrute
recompensado financeiramente da vida. J esta distino coloca alternativas que mister considerar. Destarte, uma coisa trabalhar muito para ganhar salrio mnimo. Outra, trabalhar menos, ou mesmo muito, e ganhar bem. No primeiro caso temos um acmulo de desacertos histricos: lutar todo dia pela mera sobrevivncia, fazer a riqueza dos outros sem dela participar, gastar-se precocemente, detestar o que se faz, etc. No segundo, pode ocorrer uma srie de vantagens no desprezveis, como at mesmo gostar do que se faz, alm de poder atingir nveis compensadores de consumo e lazer, sem falar em aposentadorias mais ou menos tranqilas. Com isto o termo trabalhador tornou-se menos compacto, no sentido de representar os explorados, porque parece haver quem trabalhe e no se sinta propriamente explorado. Algum que tenha uma remunerao, digamos de R$ 5 mil por ms, mais estabilidade de emprego, aposentadoria integral, etc., pode dar-se como trabalhador por charme de esquerda, mas, a rigor, faz parte da elite. Por outra, um docente de escola bsica, que ganha por ms dois ou trs salrios mnimos, por mais que tenha nvel superior e outros possveis smbolos de prestgio da profisso, certamente um trabalhador ldimo, no sentido da explorao capitalista.
20
ROSSO, S.D. 1996. A Jornada de Trabalho na Sociedade O castigo de Prometeu. LTr, So Paulo.
10
Foi quase um susto a informao obtida num dos ltimos relatrios do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre concentrao de renda na Amrica Latina (1998), em vrios sentidos para alm do que j se sabia fartamente sobre seus nveis absolutamente alarmantes: a) a diferena entre o nono e o dcimo decil superior, que nos Estados Unidos seria de 60%, na Escandinvia de 30%, na Amrica Latina chegaria a mais de 150%, e no Brasil talvez a 200%; de certa maneira, somente o 10o decil seria realmente rico, porque, estando o nono j a 200% abaixo, seria muito menos rico; estaria confirmada a alegao eterna entre ns dos 10%, no s na propina, quanto na prpria populao; b) o 10o decil seria composto de mais ou menos 15% de empregadores apenas, dando a entender que entre os outros (autnomos e empregados) existe tambm extrema concentrao de renda; haveria muito empregado que sofre mais-valia marcantemente agradvel e desejvel, desfazendo a expectativa corrente de que empregado pobre; h, pois, empregado extremamente rico; entre eles no esto apenas executivos de grandes empresas, mas igualmente apaniguados do setor pblico (empresas pblicas e aposentados privilegiados)22. No outro lado, o relatrio de Bourdieu sobre a misria do mundo mostrou, apesar de toda crtica metodolgica que recebeu, como emprego est degenerando em trabalhos humilhantes e residuais, com salrios cada vez mais baixos23. A prpria discusso francesa sobre excluso social mostra o quanto a Europa est alarmada com o processo de pauperizao de uma populao que um dia se orgulhava do welfare state. No entanto, trata-se apenas de nova nomenclatura para o mesmo problema capitalista: a concentrao do capital se faz s custas do trabalhador. O welfare state durou apenas 30 anos, no conseguindo superar as crises estruturais do sistema produtivo24. Tabela 1: Indicadores de Desigualdade de Renda Brasil, 1992/1998.
RODRIGUES, M.V.C. 1994. Qualidade de Vida no Trabalho. Vozes, Petrpolis. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 1998. America Latina Frente a la Desigualdad Progreso Econmico y Social en America Latina Informe 1998-1999. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. 23 BOURDIEU, P. (Org.). 1998. A Misria do Mundo. Vozes, Petrpolis. FORRESTER, V. 1997. O Horror Econmico. Ed. UNESP, So Paulo.
22 21
11
Indicadores Proporo de renda apropriada pelos: - 20% mais pobres - 20% mais ricos - 40% mais pobres - 40% mais ricos - 10% mais pobres - 10% mais ricos Razo entre rendas dos: - 20% mais ricos e 20% mais pobres - 10% mais ricos e 10% mais pobres
1992
1998
02,3 61,9 08,5 80,7 00,7 45,4
02,3 64,0 08,0 82,0 00,7 47,6
26,5 21,5
28,0 23,8
Fonte: IBGE/PNAD. Renda considerada foi a renda domiciliar per capita. Observando a Tabela 1, nota-se que os dados insinuam processo violento de concentrao da renda: os pobres recebem parcelas proporcionalmente muito
pequenas de renda: considerando-se os 20% mais pobres, recebiam em 1992 apenas 2,3% da renda e em 1998 os mesmos 2,3%, enquanto os 20% mais ricos recebiam 61,9% da renda e em 1998 uma proporo ainda maior: 64,0%; os 10% mais pobres recebiam em 1992 apenas a proporo j quase invisvel de 0,7% e a mesma proporo em 1998, enquanto os 10% mais ricos recebiam em 1992 nada menos que 45,4% e em 1998 aproximavam-se ainda mais da metade da renda apropriada: 47,6%. Com isto a razo entre as faixas mais ricas e pobres atingem patamares incrveis: entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres era de 26,5 vezes em 1992 e de 28,0 vezes em 1998; com respeito aos 10% mais pobres e os 10% mais ricos, a razo era em 1992 de 21,5 vezes e em 1998 de 23,8%. Grave no apenas a distncia j astronmica entre pobres e ricos, mas sobretudo que a distncia parece aumentar sempre.
24
DEMO, P. 1998. Charme da Excluso Social. Autores Associados, Campinas.
12
II. MORAL DA HISTRIA
Procurando no moralizar este tipo de discusso, j que no se trata de julgar posturas e muito menos culturas, o excurso anterior poderia recomendar que fundamental distinguir entre trabalho espoliativo e trabalho como expresso humana intrnseca. Facilmente jogamos tudo no mesmo balaio, quando supomos que qualquer trabalho estaria marcado pela espoliao capitalista. Isto no verdade, nem mesmo dentro do capitalismo. Como aludido antes, existem altos salrios e grandes compensaes financeiras pelo trabalho, como tambm possvel observar capitalistas que do duro na vida. Trabalham muito, embora nem sempre bem. Indo mais alm, h assalariados que participam at mesmo do controle acionrio de empresas e, no setor pblico, h empresas e lugares nos quais os servidores se arrumam muito bem. Basta olhar para os privilgios do Legislativo e Judicirio e de certos nichos do Executivo. Esta considerao permitiria aduzir a expectativa muito comum de que o trabalho seria, de si, potencialmente educativo. Quando menos, podemos buscar esta crena nas famlias, no processo de formao dos filhos. Dificilmente haveria pais que recomendem ao filho o cio como maneira de viver. Ao contrrio, diz o provrbio que o cio o pai de todos os vcios. Ficar sem fazer nada uma das fontes mais certas para ter idias esdrxulas. Presos condenados ao cio podem encontrar no cio forado um castigo maior do que na destituio da liberdade. to forte esta crena que, na prtica, subordina a preocupao com educao: mister ir escola para ter condies de trabalhar bem. E quando o filho ou a filha chegam idade adulta, precisam assumir projeto prprio de vida, sozinho ou no casamento, cuja competncia central constituda pela capacidade de trabalhar. Traduzimos isto como formao profissional. E mesmo quem no tem formao nenhuma, porque no conseguiu permanecer sequer na escola de 1 grau, precisa inventar alguma profisso, que representa seu trabalho.
13
A idia de que o trabalho seria de si potencialmente educativo, ou que o trabalho parte da natureza humana no sentido de ser necessrio a seu
desenvolvimento adequado, pode ter plausibilidade, para alm de contornos ideolgicos e culturais especficos. Usaremos aqui apenas um tipo de argumento, tomado do processo de aprendizagem, segundo a viso de Scrates e que reapareceu com a mesma verve nas teorias construtivistas25. Est implcito na maiutica socrtica tambm a idia de parto, no sentido de que a aprendizagem significa esforo reconstrutivo inevitvel. Embora seja, como regra, tambm grande alegria, est marcado tambm pela dor. Neste sentido, o cio no seria boa didtica. Algumas perspectivas atuais podem induzir a esta banalidade, quando acentuam em excesso a necessidade de encontrar prazer e felicidade na atividade de professor ou na condio de aluno. Facilmente recaem no po e circo, seja no sentido de facilitar a explorao, seja no sentido do bobo alegre. No caso do professor, ele no se recupera em sua competncia didtica, sem esforo geralmente muito doloroso, at pela dura autocrtica que precisa aceitar, alm da reconstruo penosa de um tipo de formao clamorosamente precrio. Assim, a alegria que pode encontrar na aprendizagem viria desse esforo, no de algum milagre que o dispensasse. No h como escamotear o esforo reconstrutivo na aprendizagem qualitativa. A paixo de aprender, como coloca Grossi, implica aplicao sistemtica, embora
Esta idia de que o centro da aprendizagem o trabalho reconstrutivo, sob orientao de um professor, pode ser encontrada numa orquestra ampla de autores interdisciplinares. A ttulo de exemplo, veja: a) com base biolgica, veja: MATURANA, H.R. & VARELA, F. 1984. El rbol del Conocimiento. Editorial Universitaria, Santiago. MATURANA, H. E VARELA, F. 1994. De Mquinas y Seres Vivos - Autopoiesis: La Organizacin de lo Vivo. WINOGRAD, T. & FLORES, F. 1986. Understanding Computers and Cognition - A New Foundation for Design. Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey; b) com base filosfica, sobretudo com respeito aprendizagem moral , veja: HABERMAS, J. 1989. Conscincia Moral e Agir Comunicativo. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. KOHLBERG, L. 1981. Essays on Moral Development. Vol. I., San Francisco. APEL, K.-O. 1994. Estudos de Moral Moderna. Vozes. Petrpolis; c) com base em psicologia cognitiva, veja no Brasil: GROSSI, E.P. & BORDIN, J. (Org.). 1993. Construtivismo Ps-piagetiano - Um Novo Paradigma sobre Aprendizagem. Vozes. Petrpolis. GROSSI, E.P. & BORDIN, J. (Org.). 1993. Paixo de Aprender. Vozes. Petrpolis. GROSSI, E.P. (Org.). 1995. Celebrao do Conhecimento na Aprendizagem. Editora Sulina, Porto Alegre; d) com base psicanaltica, veja: LAJONQUIRE, L. 1993. De Piaget a Freud - A (Psico)Pedagogia entre o Conhecimento e o Saber. Vozes. Petrpolis. BARALDI, C. 1994. Aprender - A Aventura de Suportar o Equvoco. Vozes, Petrpolis. A isto podemos acrescentar, para grande surpresa atual, autores da fsica, que pretendem encontrar na matria, em certas circunstncias, algo parecido com a criatividade humana, dando a entender que dinmica, ou seja, existe algo parecido com processo formativo. Veja: PRIGOGINE, I. 1996. O fim das Certezas - Tempo, caos e as leis da natureza. Ed. UNESP, So Paulo. GLEICK, J. 1996. Caos - A Criao de uma nova Cincia. Editora Campus, Rio de Janeiro. COHN, N. 1996. Cosmos, Caos e o Mundo que Vir. Companhia das Letras, So Paulo. MOLES, A.A. 1996. As Cincias do Impreciso. Civilizao Brasileira, Rio de Janeiro.
25
14
sempre dentro dos estgios evolutivos da criana26. Todo docente competente sabe dinamizar sobretudo a capacidade ldica das crianas, que, com isto, podem aprender com grande prazer. Seria, assim, erro crasso reforar o carter penoso da aprendizagem, como era uso mais antigamente, quando a didtica se definia como interveno autoritria instrucionista. Todavia, por mais que tudo isto tenha mudado, algo nunca mudou: aprender tambm sofrer. Ajuda a aprender parar de vez em quando para apanhar ar e desviar a ateno, ou apelar para atividades alternativas prazerosas (cantar, danar, assistir a um filme, etc.), ou realizar tarefas em grupo e no ambiente de jogo, e assim por diante. Mas, mesmo assim, preciso no esquecer, em nenhum momento, que, se o processo reconstrutivo aplicado no comparece, estamos enganando as crianas. No estamos descartando o prazer de aprender, mas tentando recuperar aquele mais autntico, cujo prazer advm da conquista, superao, aplicao bem sucedida. Este prazer vem das razes humanas, e, perpassando as entranhas, tambm di, o outro superficial, enganoso, farsante27. Esta situao assinala que o trabalho aparece em todos os momentos da vida. Uma coisa, entretanto, dizer que o trabalho faz parte intrnseca da vida e conota sempre algo tambm penoso porque significa no mnimo dispndio de energia, outra dizer que deva sempre ser apenas penoso. Esta ltima idia sobretudo bblica: ganhars o po com o suor de teu rosto. Aliada a isto est tambm a idia do pecado, cuja expiao inclui sempre penitncia. Por isso mesmo, obrigar a trabalhar, sobretudo trabalho forado, sempre esteve no rol dos castigos mais tpicos para prisioneiros. Assim, para a Bblia, o trabalho no seria de si educativo, mas sobretudo expiatrio, o que tem feito parte de muitas culturas: trabalha-se por necessidade, s. A civilizao nrdica europia possivelmente a responsvel maior pela hipostasia do trabalho, j como sentido da vida. A, educao sem trabalho um absurdo, porque seria desde logo deseducativa.
GROSSI, E.P. & BORDIN, J. (Org.). 1993. Construtivismo Ps-piagetiano - Um novo paradigma sobre aprendizagem. Vozes. Petrpolis. GROSSI, E.P. & BORDIN, J. (Org.). 1993. Paixo de Aprender. Vozes. Petrpolis. GROSSI, E.P. (Org.). 1995. Celebrao do Conhecimento na Aprendizagem. Editora Sulina, Porto Alegre. 27 JAMESON, F. et alii. 1988. Formations of Pleasure. Routledge & Kegan Paul, London. MACKKENDRICK, K. 1999. Counterpleasures. State University of New York Press, New York. PARDUCCI, A. 1995. Happines, Pleasure, and Judgement The contextual theory and its applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
26
15
Esta discusso pode ilustrar a dificuldade extrema de encontrar uma definio mnima de trabalho, por conta de expectativas pessoais, histrias sociais e sistemas produtivos muito diversos. Se trabalho fosse qualquer desgaste de energia, confundese com a prpria vida. No teria, ento, especificidade. Neste sentido, mister ir pelo menos um passo alm e considerar trabalho a atividade que compromete desgaste de energia para alm do que natural ou normal. No pode ser apenas passar o tempo, implicando nisto no despender energia, mas uma situao em que se usa o tempo para realizar algum objetivo e que acarreta esforo desgastante. Talvez fosse o caso acentuar este ltimo componente: trabalho a atividade humana que implica desgaste de energia para alm do comum. Todavia, volta a dialtica: lazer pode ser trabalho! Jogar, divertir-se, passear tambm cansa. Esta a moral da histria. Se trabalho no propriamente sentido da vida, tambm no pode ser extirpado. A sobrevivncia no dada ou encontrada, mas produzida. Trabalho , pois, necessidade bsica humana, e a poderia ou deveria acarretar implicao educativa. No haveria trabalho que no desgaste ou canse, mas o problema no est a. Pois podemos ter disso devidas compensaes, inclusive impacto educativo. O problema estaria em outra relao, ou seja: trabalhar para os outros subvencionando os privilgios deles; desgastar-se para alm das possibilidades fsicas ou em situao de humilhao e marginalizao; antecipar ou prolongar o desgaste fsico (trabalho de criana ou de idoso); e assim por diante. Seja como for, trabalha tanto quem faz do trabalho o sentido da vida, quanto quem trabalha sob protesto. Pois d trabalho no trabalhar. Voltando questo da aprendizagem, nossas crianas e adolescentes so submetidos hoje a um tirocnio de estudos que se aproxima da barbrie, bem ao estilo da mais-valia absoluta, pelo menos em termos de horas de trabalho28. Para chegar a uma universidade pblica e gratuita de ponta os estudantes se submetem a esforos desumanos, sobretudo nos cursinhos, sem falar no processo de imbecilizao compactada. Assim, parece ser impossvel no ver neste tipo de educao um trabalho espoliativo, absurdo em termos de desgaste fsico e emocional.
New Jersey. RUSSELL, B. 1924. How To Be Free and Happy. The Rand School of Social Science, New York. RUSSELL, B. 1975. The Conquest of Happiness. UNWIN Paperbacks, London. 28 WERNECK, H. 1995. Prova, Provo - Camisa de fora da educao. Vozes, Petrpolis.
16
Esta considerao denota, por sua vez, o carter apressado de algumas anlises do trabalho, quando facilmente desculpam processos penosos, s porque seriam favorveis s pretenses de quem os suporta. Muito pai pretensamente crtico ou de esquerda estaria disposto a no considerar trabalho o vestibular do filho, porque feito voluntariamente e dentro das melhores expectativas, enquanto no duvidaria em tachar de trabalho excessivo a exigncia que algum professor bsico faa para alunos pobres (muita leitura, exerccios recorrentes, procura de material, etc.). Este tipo de viso denota sub-repticiamente uma expectativa de antemo negativa perante o trabalho, porque j o confunde com espoliao. Por conta disso, no seria vivel trabalho educativo, por mais que no filho do rico estudar penosamente seja coisa nobre. Muito depende tambm da motivao. Diz-se facilmente que os alunos de hoje j no querem estudar. Quando os professores passam deveres de casa torna-se cada vez mais comum que o aluno sequer tome conhecimento disso. Em muitos pases a profisso de professor est em decadncia, no por razes salariais, mas porque no d mais conta do aluno. Este se teria tornado rebelde em excesso, no tem qualquer respeito pelo mestre, e, por cima, detm agora leis que o protegem absolutamente: o professor no pode sequer levantar a voz... Todavia, esta percepo, descontada a parte mais objetiva do desconforto do professor, tem suas lacunas, a comear pela expectativa errnea de ver no aluno a mesma motivao da poca em que o professor tambm era aluno. Se difcil convencer a um aluno a passar meio dia pesquisando algum assunto das aulas para elaborar um texto, no difcil ver o aluno o dia inteiro preso Internet navegando pelo mundo virtual com indizvel motivao e mesmo fanatismo. Diz-se tambm que o aluno no quer ler e em parte pelo menos parece verdade. Mas, quando este mesmo aluno precisa ler um manual extenso para entender e jogar certo jogo eletrnico mais sofisticado, ele o l naturalmente, sem reclamar e acha que isto faz parte do jogo bem jogado. O jovem continua gostando de trabalhar, desde que se trate de trabalho que o motive. As geraes mudam. Hoje com velocidade tanto maior. intil, alm de obsoleto, esperar que a gerao s eguinte repita a anterior.
17
Exatamente porque aprende outras motivaes e horizontes de vida, impe outros parmetros de trabalho e lazer29.
TAPSCOTT, D. 1998. Growing Up Digital The rise of the net generation. McGraw-Hill, New York. GLAXTON, G. 1999. Hare Brain Tortoise Mind Why intelligence increases when you think less. The Ecco Press, Hopewell, N. Jersey. GLEICK, J. 1999. Faster The acceleration of just about everything. Pantheon Books, New York.
29
18
III. O TRABALHO SOB SUSPEITA
Em nosso meio, o trabalho caiu sob suspeita. Assim, em vez de imaginar uma situao na qual o trabalho poderia ser valorizado, a tendncia fantasiar trabalho nenhum. Acontece como na discusso em torno do mercado. Historicamente falando, mercado componente estrutural de todas as sociedades, inclusive em sua tendncia excludente, porque permite facilmente a explorao por poucos das necessidades materiais da maioria30. Um dos instrumentos mais decisivos da dominao a manipulao da produo da sobrevivncia. Esta possivelmente nem a necessidade maior, mas a mais imediata. Quem tem nas mos as condies de sobrevivncia dos outros, domina-os. O mercado capitalista tem de diferente apenas uma forma particularmente discriminatria de organizar a sobrevivncia, sob o domnio do capital. Neste sentido, mister distinguir com calma o que seria mercado como fenmeno histrico-estrutural, e o que seria mercado capitalista. Este pode ser superado, uma vez extinta a mais-valia. Aquele no se supera. Ou seja, tarefa de cada sociedade, dentro da trajetria de sua democracia, administrar a produo da sobrevivncia com o teor menor possvel de marginalizao social31. Quer dizer, esta viso crtica no poderia ir ao ponto de pretender uma sociedade sem mercado. Esta fantasia pretensamente socialista nunca foi a de Marx, at porque no fundo coincidiria com uma sociedade sem infra-estrutura material, um absurdo em si no materialismo histrico. O descaso pela importncia da produtividade do mercado foi certamente uma das causas do fracasso do socialismo real, porque, em vez de redistribuir a riqueza, acabou impondo populao a carestia, sem falar na ditadura32. Seria possvel aventar que o socialismo real no tomou bem a srio o
BRUNHOFF, S. 1991. A Hora do Mercado - Crtica do liberalismo. Ed. UNESP, So Paulo. DEMO, P. 1995. Cidadania Tutelada e Cidadania Assistida. Autores Associados, Campinas. 32 HOBSBAWM, E.J. 1995. Era dos Extremos - O breve sculo XX 1914-1991. Companhia das Letras, So Paulo. ARRIGHI, G. 1996. O Longo Sculo XX. Ed. UNESP, So Paulo. ARRIGHI, G. 1997. A Iluso do Desenvolvimento. Vozes, Petrpolis.
31 30
19
trabalho e esperou, em vo, por uma sociedade que, no fundo, dispensaria o mercado. J ouvimos, mais de uma vez, a repulsa ao trabalho em nome do homem novo. Dentro da teoria marxista, um sofisma gritante pretender uma sociedade sem trabalho. O que o comunismo deveria trazer, isto sim, uma sociedade que trabalha para si mesma, no para o capital33. Em primeiro lugar, mister perceber que a suspeita sobre o trabalho tem razes de sobra, tendo em vista nossa condio histrica de pas capitalista perifrico e caprichadamente perverso34. Onde o trabalho tem a cara de salrio mnimo abaixo do mnimo, difcil distinguir entre trabalho e explorao. Ademais, olhando para formas agudas de subemprego, sobretudo em crianas e adolescentes submetidos a atividades degradantes, por demais compreensvel a repulsa contra o trabalho sob todas as formas: salrios aviltantes, desgaste fsico precoce ou demasiado, desperdcio do tempo em detrimento da educao, trabalhos duvidosos e mesmo ilegais, e assim por diante. Perante tal realidade, torna-se muito compreensvel que o Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA) transpire duas suspeitas mais fortes contra o trabalho: a) reluta em aceitar a idia de trabalho educativo; no fundo, gostaria mesmo de afast-lo do mundo da criana e do adolescente; b) reluta em ver no trabalho produtivo algo educativo, porque no processo produtivo capitalista a explorao j seria intrnseca.
Esta percepo ganha tanto mais legitimidade, por conta do compromisso que o ECA estabelece com educao, que seu eixo programtico. Dificilmente esta posio poderia ser infirmada, at porque rigorosamente constitucional. Em termos de prioridades estratgicas, a qualidade educativa o patrimnio mais decisivo de um ser humano em formao. Nada poderia atrapalhar isto, o que serve, ademais, como fundamentao mais convincente de programas que procuram garantir o devido aproveitamento escolar dos filhos atravs da transferncia de uma renda mnima
33
Veja DEMO, P. 1994. Participao Conquista - Noes de poltica social participativa. Cortez, So Paulo: analisa-se a o modelo da comuna, onde se prope a sociedade de trabalhadores livres. 34 Esta crtica feita tambm pela ONU, em seus relatrios sobre desenvolvimento humano. Veja: ONU. 1990 ... 2000. Human Development Report. ONU, New York.
20
familiar. Com efeito, esta renda mnima no , nem de longe, o componente central do programa, mesmo porque seu impacto efetivo apenas relativo, pelo menos em termos de combate pobreza. O efeito central a oportunidade preservada de educao qualitativa, com o objetivo de construir a necessria competncia histrica poltica para poder participar da sociedade como sujeito e nela intervir como cidado crtico e inovador35. Em segundo lugar, no entanto, cabe indagar se tal suspeita no foi longe demais, ao ponto de deturpar expectativas e tornar o ECA uma proposta area. Nossa inteno aqui no fazer uma avaliao deste texto legal, razo pela qual o tomamos apenas como exemplo circunstanciado, sem qualquer pretenso de esgotar a discusso. Mesmo assim, poderamos aduzir algumas cautelas, sem prejuzo da tica bsica que o ECA com justia defende:
a) no realista a posio - teoricamente sempre possvel - de que no capitalismo, sobretudo perifrico, no seria vivel encontrar qualquer condio no suspeita de trabalho; se isto fosse verdade, a prpria lei perderia o sentido, porque seria feita para uma realidade que no existe; b) como a sobrevivncia ser decidida no mercado capitalista, no cabe fugir da raia; se houver trabalho educativo, ter de ser encontrado tambm l; este precisamente o desafio maior, tal qual a cidadania que a escola deveria gestar: para este mundo concreto, no para uma realidade idealizada, por exemplo, sem mercado; c) neste sentido, o que mais interessa encontrar formas educativas de trabalho produtivo, no trabalho de mentirinha, at porque, com isto, transmitimos a idia muito contraditria de que educao seria coisa pouco sria ou inefetiva; d) tratando-se de crianas e adolescentes que, como regra, j abandonaram a escola e que esta lhes muito pouco significativa, fantasioso imaginar que queiram,
A bolsa-escola parece estar entrando no cenrio nacional definitivamente, embora marcada por dubiedades gritantes. No tempo do Governo Buarque em Braslia (1995-1998), o benefcio pecunirio era de um salrio mnimo. Hoje, no projeto oficial do governo federal acordado com o Legislativo, esta renda pode comear com R$ 15,00, podendo-se pagar apenas metade se forem oferecidos bens. Sabe-se que no Nordeste o patamar mais usado tem sido o de R$ 2 5,00, de todos os modos quantias aviltantes. O programa ainda assim tem o lado bom porque pode motivar famlias a cuidar que seus filhos em idade escolar freqentem a escola, mas parece cristalino o cultivo da pobreza poltica, j que, devido misria extrema de muitas famlias, este beneficio em si
35
21
sob apelos, regressar a ela; afinal, no so to alienados, que no percebam estarem perdendo tempo; podem at manifestar interesse em regressar escola, porque sabem ser o 1 grau uma exigncia comum para qualquer emprego, mas sabem tambm que l se aprende muito pouco; e) como sobrevivncia a necessidade humana possivelmente mais imediata, a primeira que di; neste sentido, a criana no deixa a rua por conta da educao, mas se for possvel resolver o problema da sobrevivncia, em particular de sua famlia; dito de outra maneira, sem trabalho produtivo, no h como sair da rua; no quer dizer que a criana devesse trabalhar, mas os adultos de sua famlia; f) insistir na idia de que educao combina somente com trabalho no produtivo, para ser educativo, uma farsa, porque no fundo coincide com despreparao perante o mundo da perversidade capitalista; em vez de ser garantia dos direitos, eclode em coisa pobre para o pobre; g) mesmo no insistindo na idia realista de que todo estudo trabalho, talvez o caminho mais pedaggico tivesse sido o de combinar, ajuizadamente, educao e trabalho, procurando traduzir na crtica acerba e consciente contra a explorao capitalista tambm o valor educativo do trabalho. Coisa difcil. Sobretudo arriscada. Entretanto, olhando a cena nacional da educao, podemos nos deparar com este problema por toda parte, condensado sobretudo nos cursos noturnos36. Se fssemos puristas, no deveriam existir. As condies concretas de oferecer, noite, a mesma qualidade educativa mnima, para no dizer impraticvel. Os alunos chegam cansados, j que estuda noite tendencialmente quem trabalha, sobretudo quando tm idade mais elevada. O horrio mais apertado e a didtica se reduz ao repasse copiado de conhecimento copiado. Erradamente talvez, mantemos noite a mesma organizao curricular, quando o mais ajuizado seria alongar os cursos noite, com o objetivo de aproxim-los dos parmetros qualitativos mnimos. Um curso universitrio de dia que dura 4 anos,
vergonhoso disputado sofregamente. O problema no est apenas no valor aviltado do benefcio, mas sobretudo em que a populao o aceite e o considere tbua de salvao. 36 CARVALHO, C.P. 1989. Ensino Noturno - Realidade e iluso. Cortez, So Paulo. CAPORALINI, M.B.S.C. 1991. A transmisso do Conhecimento e o Ensino Noturno. Papirus, Campinas.
22
deveria ser feito em 6, noite. Muitos diriam ser isto uma injustia contra o pobre. Por certo, at porque o curso noturno s , principalmente privado. Mas, olhando para os direitos centrais do aluno, a qualidade da educao ainda seria valor maior e discriminaria menos. Temos, pois, de engolir o curso noturno, por realismo histrico. Caso contrrio, a maioria de nossos jovens no poderia estudar. Ademais, mister observar que o ECA caudatrio da Constituio, que foi elaborada sob o signo do welfare state, que aqui nunca aconteceu, a no ser em farrapos legais. A rigor, no temos nenhum programa social realmente universal, nem em quantidade, e muito menos em qualidade. A prpria educao de 1 grau, definida na Constituio como direito e dever de todos na idade de 7 a 14 anos, nunca se realizou de maneira adequada, por mais que o governo alardeie que o problema quantitativo j estaria superado. Encobre que por volta de 40% dos alunos no completam a 8a srie, e que a aprendizagem dos que completam muito baixa, como suas prprias estatsticas confirmam37. A Previdncia ainda um programa de coberta apenas relativa, sem falar nas discriminaes internas odiosas e aberrantes. A carteira assinada jamais foi de alcance universal, nem de longe, at porque hoje os trabalhadores informais superam j os formais. O trabalho precrio vai se tornando a norma38. O problema maior, todavia, que esta noo importada mecanicamente de welfare state acarreta distores graves, entre elas:
a) supor um estado que defenda os pobres como marca histrica natural; ora, nosso estado ainda , no fundo, um servio particular e profundamente apropriado pela elite; est longe de ser de fato servio pblico, sobretudo para os marginalizados; b) supor que existam recursos abundantes para cobrir as carncias materiais, imaginando um estado bem dotado e capaz de redistribuir renda, esquecendo que os
Dados a respeito podem ser vistos em: POLTICAS SOCIAIS 1 Acompanhamento e Anlise. IPEA, Braslia, 2000 (Diretoria de Estudos Sociais). 38 BURSZTYN, M. (Org.). 2000. No Meio da Rua Nmades, excludos e viradores. Garamond, Rio de Janeiro. DE MASI, D. 2000. A Sociedade Ps-Industrial. Editora SENAC, So Paulo. OLIVEIRA, C.A.B./MATTOSO, J.E.L. (Org.). 1996. Crise e Trabalho No Brasil Modernidade ou volta ao passado? Scritta, So Paulo.
37
23
recursos, se existirem, provm do mercado e que este no tem qualquer vocao redistributiva; c) supor cidadania historicamente capaz de garantir a qualidade do estado e a interveno tica no mercado; o prprio fato de que o brasileiro mdio tem apenas 4 anos de estudos, indica cidadania muito precria, ainda incompetente para fazer histria prpria39; d) supor uma pobreza minoritria, como o caso nos pases desenvolvidos, por vezes at residual; como o capitalismo marcantemente faz poltica social na medida das sobras e para controlar e desmobilizar a populao, os programas funcionam no mximo quando os pobres so poucos e, com isto, sobras oramentrias ainda bastam40; e) supor uma poltica social, sobretudo assistencial, autnoma, por conta de um estado que a provesse sem maiores problemas; alm do erro palmar de no perceber a necessidade do enfoque integrado com a economia, vende a idia ftua que assistncia d conta da pobreza41. O ECA , por isso mesmo, uma bela lei, mas em teoria, porque tende a ser apenas uma hiptese terica. Disto decorre uma perversidade que mister denunciar: a direita se aproveita do texto avanado para encobrir, na farsa de uma democracia verbal, a misria atroz que crianas e adolescentes vivem nas ruas das cidades e nas instituies que pretensamente os protegem. Uma lei apenas bonita nunca serviu aos excludos. O truque da direita simples: deixa-se passar uma lei bonita, desde que no tenha recursos. Uma lei bonita serve para justificar ao mundo os louros da democracia brasileira, que nenhuma. Enquanto isso, a esquerda imagina dar conta do problema de crianas e adolescentes sem fundo prprio e com sobras oramentrias. Nosso estado,
39
bem
como
welfare state
enquanto
existiu,
so
estados
capitalistas
DEMO, P. 1992. Cidadania Menor - Algumas indicaes quantitativas de nossa pobreza poltica. Vozes, Petrpolis. 40 Segundo o Relatrio do Desenvolvimento Humano elaborado pelo IPEA/PNUD, de 1996, haveria no Brasil 42 milhes de pobres, ou seja, 30% da populao. Veja: IPEA/PNUD. 1996. Relatrio sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil - 1996. IPEA, Braslia. 41 CEPAL. 1992. Equidad y Transformacin Productiva - Un enfoque integrado. CE PAL, Santiago. CEPAL/OREALC. 1992. Educacin y Conocimiento - Eje de la transformacin productiva con equidad. CEPAL, Santiago.
24
tipicamente. ingnuo e sonso fantasiar que tenham vocao social natural, como se, colocando na lei que criana prioridade absoluta, disto decorresse que o oramento fosse elaborado tendo como vetor central a prioridade absoluta da criana42.
DEMO, P. 1997. Criana, Prioridade Absoluta. In: O Social em Questo, PUC/Rio, Vol. 2, No 2, Ano 1, 2 semestre, p. 55-78.
42
25
IV. DIFICULDADES DO TRABALHO EDUCATIVO
Sob risco intenso, pisando sobre ovos, vamos procurar horizontes de trabalho produtivo educativo. Antes, porm, mister comentar nossa lei ligada ao trabalho (CLT), porque significa avanos e equvocos. certamente um avano proibir o trabalho de crianas (at 12 anos) em qualquer circunstncia e de admitir o aprendiz entre 12 e 14 anos de idade. Por certo, at aos 14 anos, combinando com as leis de educao, a criana deveria apenas estudar. A prpria idia de escola integral, na qual a criana passa a maior parte do dia, vai nesta direo, ocupando o aluno com suas necessidades educativas substancialmente. Por outra, j equvoco no admitir flexibilidade na contratao de maiores de 14 anos at 1 porque isto, em vez de favorecer ao trabalhador, perturba sobretudo o 8, processo educativo, j que a contratao seria, normalmente, de tempo integral. Ao mesmo tempo, esta contratao, implicando todos os custos, leva o empregador a no considerar a possibilidade de o trabalhador jovem trabalhar um tempo e no outro estudar. A alternativa que o trabalhador tem de estudar noite. Assim, aparece uma contradio flagrante entre o ideal de educao - que deveria valer at 18 anos para todos - e obrigatoriedade de contratar risca, implicando normalmente trabalho integral, que atrapalha os estudos. Uma legislao mais flexvel poderia prever como contratao preferencial aquela que inclui o direito de o jovem estudar, tendo como compensao a dispensa de custos, em sua totalidade ou pelo menos em grande parte. No fundo, o que se pretenderia defender um tipo de bolsa-trabalho-escola, atravs da qual o jovem poderia ganhar salrio mnimo por meio tempo de trabalho, sendo obrigado no outro tempo a estudar e a desempenhar-se adequadamente na escola. Esta idia poderia transformar-se em programa especfico para adolescentes em situao de risco, manejado, por exemplo, pelos Conselhos de Direitos, que decidiriam, caso a caso, a
26
contratao e a dispensa. Por falta dessa oportunidade, permanecemos diante de extremos, que, ao fim e ao cabo, apequenam nossas j parcas chances: a) de um lado, temos programas ilegais, por vezes at muito interessantes, quando combinam trabalho com estudo, por exemplo, jornaleiros que ganham
vendendo jornais de manh em propostas controladas por entidades pblicas ou privadas, com a condio de estudarem tarde; b) de outro, temos programas legais, geralmente muito interessantes, mas que apresentam custos altos de contratao, o que reduz drasticamente a oferta, vivendo sob o apelo piedoso de que o capitalista deveria comover-se diante da misria da populao.
Assim, empresas como Banco do Brasil, Caixa Econmica Federal, Bancos Pblicos, etc., poderiam admitir nmero muito maior de jovens, se os custos fossem menores, ou se pudessem manejar a idia de uma bolsa acoplada com a obrigao de estudar. Sobretudo no caso de empresas particulares, a contratao pura e simples praticamente impeditiva, como no exemplo do jornal. Um pedao da argumentao pelo segundo caso est na proteo previdenciria, o que certamente no desprezvel. Mas, perante a imensa pobreza de maiorias, de se perguntar se a incluso maior no seria justia mais defensvel do que rigores excludentes da lei. Diante da tendncia de privilegiar a aposentadoria por idade, no por tempo de trabalho, este argumento tornase menos forte. Outro pedao importante da argumentao pelo segundo caso est na preocupao em evitar a explorao de mo-de-obra jovem barata e facilmente influencivel, o que ainda menos desprezvel. Todavia, seria tambm possvel fazer uma legislao de proteo adequada de uma bolsa, seja para restringir o tempo de trabalho pela metade, ou para proibir certos trabalhos considerados deseducativos, ou para admitir apenas os custos previdencirios, e assim por diante. Pretender que a iniciativa privada acolha o nmero exorbitante de jovens em risco de rua, sob contratao legal, expectativa irrealista, principalmente se tomarmos em conta que o ECA no conseguiu impor nenhum compromisso com a esfera
27
produtiva, a no ser um fundo caracteristicamente apenas voluntrio. Fica, ento, a angstia causada pela necessidade de ultrapassar programas ilegais e remuneraes aviltantes, como coisas em torno de meio salrio mnimo ou ainda menos, retirando uma chance real que os atingidos teriam de estudar, e a outra motivada pela perspectiva mnima de contratar legalmente. No estamos defendendo a desonerao dos empregadores, em hiptese nenhuma. Porquanto, pagar um salrio mnimo para um trabalho de meio tempo, sob rigores de uma lei que tem como finalidade central a educao, no o trabalho, nada tem a ver com desonerao. Se esta lei ainda inclusse a obrigao de empresas de admitir certa proporcionalidade de jovens indicados pelos Conselhos de Direitos, o risco se torna ainda menor. Ademais, se admitirmos que a aposentadoria por tempo de servio dificilmente haveria de preponderar, o comeo precoce da incluso
previdenciria perderia sua fora. Na verdade, mister procurar, sob todas as formas, comprometer a esfera produtiva, o que representa, no fundo, o desafio maior, dentro de um pas cuja estrutura econmica jamais se voltou minimamente para os marginalizados. O ECA no conseguiu isto, apesar de toda mobilizao ocorrida. Isto mostra que a lei bonita, porque no atinge os empresrios. Portanto, este desafio est por se realizar. Por outra, a mentalidade embutida no ECA, excessivamente ligada a assistncias e educao, numa viso ainda setorialista, facilitou as coisas para os empresrios. Seja como for, um absurdo sem nome que os empresrios no tenham que contribuir, ostensivamente, para o tratamento adequado da questo das crianas e adolescentes em situao de risco na rua. Afinal de contas, com bem disse uma vez Betinho, esta elite o pai e a me da misria da populao. A falta de alternativas realistas tem impelido as entidades que se ocupam do problema a iniciativas tendencialmente assistencialistas, embora possam, num primeiro momento, corresponder a direitos evidentes. Assim o caso de abrigos, onde crianas e adolescentes podem receber tratamento humano adequado. Todavia, se esta assistncia for esticada demais ou se tornar rotina, o impacto torna-se tendencialmente contraditrio, no s porque no aparece qualquer soluo estrutural (que implica
28
tambm incluso econmica, nas respectivas famlias), mas igualmente porque se incute o parasitismo social. sombra de tantos empecilhos, ao misturar viceja piedade, a educao de rua, proteo e tpica da excrescncia assistencialista, consolidao
excluso social. Se os marginalizados fossem um pequeno punhado, caberiam todos em programas de assistncia. Poderamos at lev-los para casa. A idealizao da rua como lugar de educao um resultado de viso pedagogista distorcida, tipicamente setorialista e que, no mnimo, desconhece a dureza do mercado capitalista, fazendo de conta que - logo na rua! - possvel construir um espao onde a marginalizao seria, por um momento, suprimida. A educao de rua nunca apresentou, nem pode apresentar, qualquer soluo relevante, porque passa longe da gravidade do problema. Por isso, no fundo, uma forma de o alimentar. Temos nisto possivelmente uma decorrncia dbia da imitao do welfare state, no que concerne expectativa de poder viver de assistncia. Por l os desempregados no precisam (ou no precisavam) recorrer a subempregos, porque recebem remuneraes suficientes para sobreviver adequadamente. Isto era favorecido tambm pelo nmero relativamente pequeno. No se deve esquecer nunca que welfare state seria tendencialmente uma situao de pleno emprego ou prxima disso. Alm de uma conquista da cidadania laboral, foi tambm conseqncia de uma economia prspera, no da carestia. Assim, perder o emprego no seria desgraa fatal, porque seria possvel manter a sobrevivncia em dia43. Entra nesta discusso, ento, um componente cultural importante. O
desempregado assistido pelo estado num pas como, por exemplo, a Alemanha, guarda a percepo de que a situao preferencial aquela do emprego, no da assistncia. Dizendo de outra maneira: emancipao o ideal maior, no ser assistido. Numa cultura como a nossa, funciona pelo avesso: todo o mundo, tambm a elite e sobretudo ela, gostaria de ser assistida pelo estado44. Assim, perversidade capitalista acresce a tendncia cultural a conviver com dependncias, em cujo contexto ambas se fortalecem
PRZEWORSKI, A. 1989. Capitalismo e Social-democracia. UNESP Editora, So Paulo. PRZEWORSKI, A. 1994. Democracia e Mercado no Leste Europeu e na Amrica Latina. Relume-Dumar, Rio de Janeiro. PRZEWORSKI, A. 1995. Estado e Economia no Capitalismo. Relume-Dumar, Rio de Janeiro. PEREIRA, P.A.P. 1996. A Assistncias Social na Perspectivas dos Direitos. Thesaurus, Braslia. 44 DEMO, P. 2000. Educao pelo Avesso Assistncia como direito e como problema. Cortez, So Paulo.
43
29
mutuamente.
Os
congressistas
no
sentem
menor
pejo
em
inventar
uma
aposentadoria privilegiada com apenas dois mandatos, ou os funcionrios pblicos acham muito natural aposentar-se com salrios integrais, sem falar em licenas/prmio, estabilidade, isonomias, etc., coisas que so, desde logo, negadas aos trabalhadores normais. A cidadania assistida impera sobre a cidadania emancipada. Poderamos, nesta penumbra complexa, aventar a hiptese de que a suspeita lanada sobre o trabalho tem menos a noo do direito das pessoas, do que a expectativa de viver s custas de algum, sobretudo do estado. Por isso mesmo, olhase com tamanha esperana para a renda mnima, como se pudesse ser a tbua de salvao. Na prtica, no traz nenhuma soluo importante, desde seu valor mnimo, passando pela recriao elegante do exrcito industrial de reserva, at a acomodao politiqueira. No capitalismo, no tem como ser soluo estrutural, porque apenas benefcio, no direito ao trabalha e renda do trabalho45. A suspeita sobre o trabalho coloca sob suspeita pelo menos dois segmentos sociais: de um lado, a Igreja, que proverbialmente no trabalha, e por isso aceita muito naturalmente a dependncia assistencialista permanente; no seria por acaso que educao de rua foi, no fundo, inventada por ela. De outro, o espao dos que trabalham dentro do estado, onde facilmente se obscurece a noo de trabalho produtivo, em nome de jeitinhos privilegiados. Ora paira a idia de que seria possvel dar emprego pblico para todos; ora se imagina obrigar os empresrios a empregar a todos; ora se busca na assistncia o milagre de superar a excluso social, fazendo-a princpio universal, inclusive para os ricos; e assim por diante. No se poderia deixar de lado, neste mesmo espao, muitas ONGs, que, vivendo sombra de oramentos pblicos ou tornados mais ou menos pblicos por fundaes privadas, rapidamente aprendem a apreciar a dependncia. Nisto se pode incluir tambm grande parte do que se chama Terceiro Setor, porque tende a ser um voluntariado subvencionado pelo estado, como j so muitas ONGs 46.
45
DEMO, P. 1997. Menoridade dos Mnimos Sociais - Encruzilhadas da assistncia social no mundo atual. In: Poltica Comparada - Revista Brasiliense de Polticas Comparadas, Arko Advice, Mai./ago. Ano I, Vol. I, No. 2, p. 188-226. 46 COELHO, S.C.T. 2000. Terceiro Setor Um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. Editora SENAC, So Paulo. GOHN, M.G. 2000. Mdia, Terceiro Setor e MST Impactos sobre o futuro das cidades e do campo. Vozes, Petrpolis.
30
Tal considerao no pode isentar a direita. Esta conhece apenas a cidadania tutelada, que nenhuma. A cidadania assistida da esquerda , entretanto,
tendencialmente parasitria, porque no consegue elaborar a combinao possvel ainda que muito arriscada - de trabalho produtivo e educativo. No ajudam o extremismo da direita que usa o trabalho para espoliar o trabalhador, e o da esquerda que gostaria de viver sem trabalhar. O sentido da vida no pode ser o trabalho, porque perderamos a noo essencial de seu desfrute. Por isso, trabalho necessidade, no razo de viver. Entretanto, sem trabalho no germina a dignidade social, e nisto tem papel educativo indispensvel. A sobrevivncia no pode ser produzida em ambiente de irresponsabilidade, veleidade, amadorismo, sem falar que isto degenera, tanto mais depressa, em flagrantes injustias sociais. Porque viver sem trabalhar s pode ser um privilgio. Neste sentido, quando buscamos evitar o trabalho de crianas e adolescentes, estamos pretendendo concretamente: a) afastar o trabalho espoliativo, porque no presta em qualquer circunstncia e em qualquer idade; toda defesa do trabalho no poderia incluir qualquer abertura por onde possa entrar a espoliao; b) destacar para crianas e adolescentes que seu trabalho produtivo prprio estudar; no estamos defendendo, assim, sua ociosidade ou situao
assistencialista, mas condies tanto mais oportunas de trabalhar assiduamente o desenvolvimento integral e integrado de sua personalidade; c) considerar o processo educativo como trabalho produtivo, de acordo com as modernas teorias em torno do papel da educao e do conhecimento, que garantem sua influncia decisiva no s na formao da cidadania, mas igualmente na competitividade; a educao que interessa, assim, no a de mentirinha, mas aquela que consegue a cidadania adequada a dar conta da competitividade e sobretudo a humaniz-la47;
PAIVA, V. (Org.). 1994. Transformao Produtiva e Equidade - A questo do ensino bsico. Papirus, Campinas. DEMO, P. 1999. Educao e Desenvolvimento Mito e realidade de uma relao possvel e fantasiosa. Papirus, Campinas.
47
31
d) fazer predominar o lado educativo sobre o produtivo, ou, de outra maneira, colocar o lado educativo como razo de ser do produtivo, para caracterizar a condio de estudante como mais essencial que a de trabalhador, naquela idade. No deste mundo, muito menos de um mundo capitalista perifrico e perverso, a viso de uma vida sem trabalho, mesmo na infncia. Valorizar o trabalho ainda a melhor estratgia de o educar. No vamos aqui fazer um elogio ao trabalho, para evitar maiores moralizaes. Entretanto, para progredir na vida mister levantar cedo, dar duro, fazer as coisas direito, estudar com afinco, tornar-se profissional. Uma cultura que despreza horrios, tem do Estado a noo de casa da me Joana, faz de programas sociais um festival de distribuio de resduos sociais, convive com a improdutividade genrica, pode at trabalhar muito, mas no trabalha bem. O trabalho, no seu devido lugar e sempre subordinado educao, nunca atrapalhou a ningum. A rigor, nem as crianas. Seria um atentado a seus direitos humanos, por exemplo, arrumar o quarto, varrer a casa, lavar loua, fazer comida, e sobretudo estudar bem? Assim, a repulsa to forte ao trabalho produtivo e sobretudo a dificuldade extrema de o considerar educativo, representa menos uma reao crtica aos riscos bvios de espoliao, do que traos inequvocos de uma sociedade parasitria e injusta. Aqui, o ideal maior ainda viver s custas dos outros. Desde a colnia. Continuamos perplexos com a freqncia, talvez crescente, dos motins em entidades que cuidam de adolescentes infratores. Em So Paulo, parecem fazer j parte da rotina. Muito concretamente falando, tais adolescentes no resolvem seus problemas e de suas famlias apenas com educao e assistncia. A insero laboral no mercado fundamental, para si mesmos e para suas famlias. O descaso por esta necessidade agua tanto mais a posio dessas entidades como escolas do crime. J esteretipo claro no pas: ir para a FEBEM garantia de aprimoramento no crime. Acresce ainda que muitos adolescentes esto envolvidos com o mundo das drogas, que tem entre outras caractersticas, o de ser um mercado dinmico dotado de
32
trabalhos lucrativos, como bem mostra Castells 48. Sem cair aqui no engodo de elogiar o mundo da droga porque d trabalho e renda para muita gente, e at assistncia em muitas favelas, preciso olhar criticamente para as propostas pblicas endereadas a adolescentes infratores: so bisonhas, pfias, residuais, farsantes. Por vezes, os prprios funcionrios, alm de mal formados, so mal pagos e, para compensar as agruras da vida, envolvem-se tambm com drogas. um imbrglio redondo. Parece-me claro que tais adolescentes precisam usar o tempo de internamento forado sobretudo para buscar oportunidades de trabalho produtivo educativo, para que, ao sarem, no entrem no crculo vicioso de terem de retornar, porque no dispem de oportunidades de trabalho produtivo educativo. bvio que o ECA, sempre sem oramento prprio minimamente adequado, e ainda interpretado de modo assistencialista e pedagogista, no representa alternativa aprecivel. Esta condio s tem favorecido a
posicionamento extremos: a direita quer mudar o ECA, para o deturpar, voltando em parte pelo menos criminalizao das crianas e adolescentes; a esquerda no quer mudar, porque imagina que o Brasil seja um primoroso welfare state, e porque, se ceder a qualquer processo de mudana, a deturpao ser praticamente inevitvel. Neste dilogo de surdos, a prioridade absoluta soa como mentira deslavada.
CASTELLS, M. 1997. The Power of Identity - The information age: Economy, society and culture. Vol. II. Blackwell, Oxford. CASTELLS, M. 1998. End of Millenium The information age: economy, society and culture Vol. III. Blackwell, Malden (MA).
48
33
V. TRABALHO COMO AVILTAMENTO
At certo ponto verdadeira a alegao, segundo a qual, quanto mais um povo subdesenvolvido, mais tende a perceber trabalho como aviltamento. Quer dizer, cultiva a perspectiva de que poderia viver sem trabalhar, e, neste caso, do trabalho dos outros. Porquanto, no trabalhar dos signos mais evidentes de pertencer parte privilegiada da sociedade. Enquanto muitas sociedades valorizam qualquer tipo de trabalho, desde que honesto, h outras que cultivam escalonamentos odiosos: h trabalhos prprios da mulher, sempre de segunda categoria (professora, assistente social, empregada domstica, secretria...); h trabalhos prprios de gente inculta, geralmente pesados, cansativos e com pouca perspectiva de subir na vida (peo de obra de construo, lixeiros e varredores de rua, trabalhadores na roa, serviais em casas e manses...). Na contramo h emprego que no trabalho, o ideal de todos ns. No se trata de acaso que o Brasil foi praticamente o ltimo pas que terminou com a escravido, em nome de ambivalncia tpica: os que no trabalham apreciam ser servidos por escravos; os que trabalham gostaria de ter emprego, no trabalho. O trabalho entendido como aviltamento manifesta-se de vrios modos, mas sempre em torno de privilgios sociais. Existe entre ns a idia arraigada que certos trabalhos so humilhantes, diferentemente de outras culturas que olham o trabalho como naturalmente digno, pois faz parte natural da vida. Assim, limpar o cho, recolher o lixo, carregar peso no significam, de si, coisa de gente de segunda categoria, mas coisa que todo mundo pode fazer. At por conta disso, nos pases mais desenvolvidos tais atividades costumam ser bem remuneradas. So remuneradas, no apenas porque significam desgaste maior fsico ou atividade que a maioria no aprecia fazer, mas tambm porque a redistribuio de renda tal que possvel pag-las. Prevalece, de todos os modos, a viso de que trabalho, representando uma profisso, sempre digno em si, a menos que seja atividade suspeita ou antitica.
34
Esta percepo no pode esconder as desigualdades sociais, em particular nas sociedades capitalistas, mesmo avanadas. claro que se deposita mais prestgio em atividades que exigem formao superior, ou que sobretudo representam ganhos maiores com desgaste fsico menor. Assim, ser faxineiro nos Estados Unidos coisa para migrante, geralmente clandestino. No se pode negar que recebe remunerao mais significativa do que em sua terra natal, mas inegvel que a sociedade rica lhe impinge trabalhos subalternos. A sociedade rica reserva os bons empregos para si mesma, e d os migrantes os trabalhos precrios. E sobre este pano de fundo que se discute hoje com tamanha verve o tema da multiculturalidade: fcil propor que todas as culturas so iguais do ponto de vista de quem olha por cima, mas praticamente impossvel desfrutar desta igualdade do ponto de vista de quem olha de baixo49. Outra dimenso particularmente dolorosa do trabalho como aviltamento
aparece em trabalhos atribudos depreciativamente s mulheres. marcante que alguns espaos lhes so reservados, como empregada domstica e outros servios sociais, e mesmo no nvel superior, no qual se concentram em reas como pedagogia, servio social, letras, etc. Esta realidade no obscurece as conquistas feministas em andamento, que tm trazido grandes avanos profissionais, tambm na universidade. Hoje a rea de medicina est amplamente aberta para as mulheres e o mesmo fenmeno comea a suceder nas engenharias. Entretanto, ainda vale a mxima histrica: trabalho tipicamente atribudo mulher tende a ser de segunda categoria, correspondendo imagem machista sobre a mulher, como sendo um ser de segunda categoria. Trabalho bom quase sempre coisa de homem 50. Torna-se claro, neste contexto, que trabalho sempre representa nas sociedades, ao mesmo tempo, condio de dignidade e de discriminao social, porque est ligado ao desafio da sobrevivncia. Manipular a sobrevivncia dos outros ttica certa de dominao e privilgio. Por outra, medida que as sociedades se democratizam,
49
evoluindo
na
direo
de
uma
administrao
mais
justa
das
TORRES, C.A. 1998. Democracy, Education, and Multiculturalism Dilemmas of citizenship in a global world. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., New York. NARAYAN, U./ HARDING, S. (Ed.). 2000. Decentering the Center Philosophy for a multicultural, postcolonial, and feminist world. Indiana University Press, Indianapolis. 50 BONACCHI, G. & GROPPI, A. (Org.). 1996. O Dilema d Cidadania - Direitos e deveres das mulheres. Ed. a UNESP, So Paulo. PERROT, M. 1988. Os Excludos da Histria - Operrios, mulheres, prisioneiros. Paz e Terra, Rio de Janeiro.
35
desigualdades, o trabalho passa a representar atividade humana natural e digna, reduzindo-se o estigma. Por isso, este estigma mais forte em sociedades menos democrticas. No extremo, possvel encontrar um pobre que prefere passar fome a fazer certos trabalhos que lhe parecem aviltantes 51. A ligao entre trabalho e aviltamento aparece freqentemente no campo dos direitos humanos, por conta da repulsa correta de penas que manejam a idia de trabalho forado. Por certo, h que se rejeitar todo trabalho que signifique
degradao, imposio, sofrimento planejado, mas um equvoco notvel confundir trabalho puro e simples, com trabalho forado. De novo, ficamos empacados em extremos. De um lado, h os que fariam todos os presos trabalharem de modo forado, porque mantm uma viso de priso apenas como castigo e afastamento da sociedade. De outro, h os fanticos dos direitos humanos que pretenderiam fazer da priso um hotel de cinco estrelas, levando ao absurdo de que o crime compensa. De nosso ponto de vista, seria adequado que os presos fizessem trabalhos normais em presdios, como servios de limpeza, manuteno, alimentao, etc., sem falar no engajamento em trabalhos tipicamente produtivos, inclusive como parte do processo de recuperao. A legislao prev, como regra, a reduo da pena por um tanto de trabalho, mas geralmente entende por trabalho apenas o diretamente produtivo, no qual haveria ainda algum ganho financeiro. No est incorreta esta idia, mas estranho achar que um preso, ao lavar o cho por exemplo, esteja se aviltando52.
Veja a propsito a distncia fantstica que o Brasil interpe entre a renda per capita mdia da populao em geral, comparada com a mesma renda per capita dos 20% mais pobres: enquanto seria de mais ou menos 4 vezes nos Estados Unidos, pouco mais de 2 vezes no Japo, 2,5 vezes na Holanda, no Brasil de 10 vezes. Renda per capita dos 20% mais pobres, 1993 (US$). Pas Rendimento mdio per capita Rendimento per capita dos 20% mais pobres Estados Unidos 24.240 5.814 Japo 20.850 9.070 Holanda 17.330 7.105 Reino Unido 17.210 3.958 Coria do Sul 9.630 3.563 Chile 8.400 1.386 Brasil 5.370 564 Guatemala 3.350 352 Indonsia 3.150 1.370 Nigria 1.400 357 Fonte: ONU. 1996. Human Development Report. ONU, New York, p. 13. 52 LIMA, W.S. 1991. Quatrocentos contra Um - Uma histria do Comando Vermelho. Vozes, Petrpolis.
51
36
Resultado de tais extremismos , entre outros, presdios agrcolas em runas, onde ningum trabalha, e toda a alimentao precisa ser trazida de fora, passando o preso a ser exclusivamente sustentado pela sociedade. A ociosidade impera nos presdios, como regra, o que certamente no pedaggico. Parte da imagem, segundo a qual cadeia escola do crime, se deve a este tipo de viso. Por outra, no vale o extremo oposto, j que a priso tem como sentido maior a recuperao do preso. Assim, se no tiver adequada viso educativa, consegue-se exatamente o contrrio. Por isso mesmo, preso deve estudar todos os dias, incluindo-se isso em sua quota de trabalho. Cuidar do lugar em que se vive dificilmente poderia ser aviltamento. A ttulo de direitos humanos, o preso acaba afagando a idia esdrxula de que os funcionrios do presdio so, no fundo, os autnticos presos, porque, alm de fazerem trabalhos arriscados, ganham uma misria, enquanto ele permanece a de graa, cercado de direitos por todos os lados. Os presos ligados ao mundo da droga podem at mesmo continuar seu trabalho a partir de dentro das prises, muitas vezes com a conivncia dos funcionrios e policiais. O mesmo pode acontecer em instituies destinadas a menores infratores, quando estes dizem, sem mais nem menos, s assistentes sociais, que elas esto a para os servir. Toda poltica social que promove o parasitismo, degrada tanto a quem recebe, quanto a quem a mantm. Estamos chocados, entretanto, muito mais com o outro extremo, ou seja, a violncia dos presdios, razo de sobra para colocar o pas no banco dos rus, em matria de direitos humanos. No estamos retocando esta parte. Ao contrrio. Trata-se apenas de dizer que uma viso mais equilibrada de trabalho educativo poderia contribuir tambm para a recuperao dos presos. Como regra geral histrica, avilta ao ser humano muito mais a ociosidade, sobretudo forada, do que o trabalho, desde que no seja forado. triste ver os extremismos em que estamos metidos: de um lado, os defensores dos direitos humanos passam a imagem de que cuidam muito mais dos criminosos do que de suas vtimas a imprensa falada e escrita relata constantemente que estas no so objeto de cuidados a rigor de ningum; precisam virar-se por si mesmas e, como a justia, alm de no andar, manipulada drasticamente, acabam relegadas ao conformismo; de outro, retorna sempre o mpeto autoritrio de tratar os
37
presos apenas como condenados, acabando de vez com a idia de recuperao. Outra vez: dilogo de surdos. interessante esta percepo de que o trabalho, como regra, faz mal. Procurando especular um pouco em torno dessa expectativa e deixando de lado buscas culturais, uma referncia poderia ser vista na concepo tendencialmente parasitria de assistncia social do welfare state e importada em nossa Constituio e leis decorrentes. A idia de princpio universal j traduz algo esdrxulo, por duas razes. De um lado, que sentido haveria em assistir aos ricos? Num pas muito desenvolvido e com muitas sobras oramentrias, seria pensvel inventar um programa de assistncia para todos, que j nisto seria nfimo. Em nossa realidade, manter, por exemplo, um asilo para os idosos ricos um escrnio, como tambm a universidade pblica e gratuita para os ricos. Pobre de verdade no passa do 1 grau. A defesa da universidade pblica e gratuita - que continuamos insistentemente a fazer - dever procurar outras argumentaes, por exemplo, da relevncia estratgica do
conhecimento de ponta, inclusive daquele que no interessa ao mercado, para alm do dever de incluir prioritariamente os pobres. De outro lado, a assistncia , com certeza, pressuposto primeiro dos outros direitos, porque sem sobrevivncia, no existe mais nada. Mas no funda os outros direitos, j que, neste sentido, educao prioritria, precisamente porque est mais prxima do ideal de emancipao. Uma das idias mais sonsas do welfare state, principalmente no mbito do capitalismo, de colocar como expectativa central da populao a assistncia, no a emancipao. Ao lado dessa, outra idia bem sonsa a de que o estado estaria naturalmente a servio da populao, obscurecendo que o welfare state estado tipicamente capitalista. Em teoria, o estado alinha-se mais facilmente com o capital, na prtica aposta-se num welfare state como se fosse alternativa ao capitalismo. Nada disso se sustentou, nem no capitalismo avanado, pela razo mais forte de que no capitalismo no temos qualquer motivo histrico para brincar com essas coisas. Quem no toma a srio a discriminao produzida pelo mercado, tragado por ele. Por grande ironia, a esquerda se identifica fortemente com este parasitismo, seja pela interpretao apressada do marxismo ou pela idealizao de uma experincia falida como foi o socialismo real, seja pela expectativa desmesurada e fantasiosa sobre
38
o estado. No por acaso que a esquerda se localiza sobretudo entre funcionrios pblicos e entidades que fazem de conta no ser importante o mercado. O primeiro lapso histrico imaginar gratuitamente que recursos o estado sempre tem ou deveria ter, esquecendo que a nica fonte o mercado produtivo. O estado, a rigor, no gera, apenas administra e gasta recursos financeiros. Esta ingenuidade prpria tambm do ECA: bastaria colocar na lei que criana prioridade absoluta; da decorreria naturalmente recursos adequados... Esta viso parasitria leva a privilgios ostensivos e contraditrios, a comear pelo compromisso muito pouco evidente com o trabalho produtivo. certamente uma injustia a imagem j popular de que ningum trabalha dentro do estado, porque h gente que trabalha loucamente, instituies produtivas, programas benemritos 53. Entretanto, esta imagem no de todo irreal, porque impossvel desfazer a constatao de que a situao de hoje representa uma escalada contnua em termos de fabricao de privilgios, todos negados populao comum trabalhadora:
estabilidade, isonomia, aposentadoria integral, para falar nos mais ostensivos. Mesmo que se tenha salrio pequeno, j coisa muito significativa estar acobertado por esses trs privilgios. Todos, por isso, se pudessem, gostariam de tornar-se funcionrios pblicos. Favorece esta condio tambm a distncia perante o mercado. A rigor, no se sabe onde estaria. Sem falar na outra face peculiar referida ao gasto de recursos pblicos, da populao. Por exemplo, os congressistas andam insatisfeitos com sua remunerao, sobretudo com limites impostos, entre eles no poder ganhar mais que o Presidente da Repblica. Em sua santa ira, dizem, entre outras coisas, que seria tambm o caso limitar os salrios da empresa privada, ou de jogadores de futebol, artistas e comunicadores de televiso. Ora, a idia de que no deveria existir limite para remuneraes pblicas encardidamente assistencialista e perversa, porque no estabelece a diferena substancial entre ser remunerado pelo povo ou ser remunerado por uma empresa. No pretendemos, em momento algum, defender salrios absurdos que a empresa privada inventa, at porque isto s possvel com taxas malucas de lucro, mas ainda menos defensvel a libertinagem salarial no espao pblico.
53
GOUVA, G.P. 1994. Burocracia e Elites Burocrticas no Brasil. Ed. Paulicia, So Paulo.
39
Se fizermos um clculo do tempo de trabalho efetivamente exercido pelos congressistas - j foi isto feito em pblico, na televiso - podemos levar um susto. Comecemos pelos dias no trabalhados, deixando j de fora fins de semana: 4 meses de frias, mais as segundas e sextas-feiras; seria o caso contar tambm feriados, que, se carem no meio da semana, fazem-na toda desaparecer; e assim por diante. As 52 semanas do ano facilmente se reduzem a 36 por conta das frias; tomando em considerao os dias teis (cinco por semana), temos 180; descontando as segundas e sextas, ficamos com 108; somando a isso algumas semanas matadas, digamos umas trs ao ano (quinze dias teis), sobrariam 93. Para arredondar, no se trabalham mais que 90 dias por ano. Tomando em conta que o trabalhador comum - esse de salrio mnimo na empresa privada - s tem um ms de frias, recebe uma misria, no tem qualquer privilgio, caberia perguntar, que salrio seria justo para algum que trabalha, no ano, 90 dias? Num ano de 365 dias, 90 representam 25% apenas. Clculo semelhante pode ser feito em qualquer repartio pblica, se comearmos a somar, por exemplo, atrasos de horrio, licenas especiais, faltas justificadas e injustificadas, ritmo lento, quase parando, de trabalho, sada antecipada, trnsito intil de papis, e assim por diante. Haveria ainda o caso do mau atendimento, pblico e notrio, por exemplo, nos hospitais. claro que existem situaes aberrantes, como a dos professores bsicos, que no recebem valorizao minimamente condizente. So absurdamente injustiados. Mesmo assim, so privilegiados perante a populao trabalhadora comum, porque tm emprego garantido, isonomia salarial, aposentadoria integral, podem facilmente faltar, desaparecer, atrasar horrios, obter licenas especiais, etc. Por vezes, a prpria degradao profissional usada como justificativa para trabalhar menos e mal. Assim, ganha-se muito mal, trabalha-se em condies absurdas, mas a vida est mais ou menos garantida. Por ironia, quando este mesmo professor pblico atua tambm em escola privada, passa a viver vida dupla tpica: nesta pode at ganhar menos, mas cumpre horrios, no faz greve, d aula disciplinadamente, presta contas, etc. Uma das facetas mais vivas da cidadania popular a percepo forte de que o estado gasta recursos da populao, no tem qualquer autonomia de gasto por isso mesmo, e precisa prestar contas de todo centavo, e sem burocracia. Entre ns, ainda
40
no atingimos este patamar, com exceo de administraes do PT que praticam o oramento transparente e em parte diretamente negociado com os representantes comunitrios. O espao pblico continua marcado com a idia muito popular de que l se tem e mprego, no trabalho. O visvel crescimento do PT nas eleies municipais de 2000 aponta para esta direo clara: tica e trabalho na administrao pblica. Esta mentalidade peculiar tambm da Igreja e de entidades afins, que desconhecem a realidade do mercado. Outros cuidam da sobrevivncia delas,
sobretudo o estado. No caso da Igreja, h razes histricas muito respeitveis, sobretudo no que concerne s ordens mendicantes. No difcil, entretanto, surgir uma tendncia a elogiar a pobreza, que pode at ser virtude em quem faz voto de pobreza porque no pobre, mas pura misria em quem obrigado a viver como marginalizado. Combinando heranas socializantes ultrapassadas com outras eclesiais, o resultado a educao de rua e forte resistncia a qualquer idia que passe perto do trabalho produtivo como educativo. Teologicamente falando, talvez seja possvel qualificar os meninos vitimados na rua como profetas, ou coisa que o valha, mas, ainda assim, mister retir-los, rpido. Para retir-los de l, bom rezar, mas sobretudo olhar com realismo para o mercado. Caso contrrio, educao de rua serve apenas para manter esta populao na misria, mesmo piedosamente. Muitas ONGs tm tambm a boca torta pelo mesmo cachimbo. Acostumadas a recursos pblicos, podem at mesmo vender a alma por eles, perdendo de vista todo e qualquer parmetro de produtividade. Em vez de contratar educadores de rua no seria mais ajuizado repassar esses recursos para as famlias? Neste sentido, a proposta de bolsa familiar para manter os filhos na escola muito superior. Destarte, o coro avolumado de entidades que falam mal do trabalho no aponta, necessariamente, para o bom exemplo. Ao contrrio. No valoriza bem o trabalho, quem est acostumado a viver do trabalho dos outros. Ou acha que trabalho, sobretudo produtivo, recai sempre na espoliao, sem perceber que, para terem o privilgio de trabalhar pouco, isto s pode ser por conta de explorar o trabalho dos outros.
41
VI. BOM TRABALHAR
Dentro de uma definio um pouco ampliada de trabalho, no d para viver sem trabalhar, mesmo que a vida no deva ser confundida com trabalho. A criana tambm trabalha, quando estuda, faz algumas tarefas correspondentes sua idade, brinca, etc. Confundimos facilmente esta atividade normal e sadia do ser humano, com espoliao capitalista. E incutimos, por isso, em muitas leis o parasitismo social. difcil dizem ser impossvel sair da misria sem trabalhar. No se passa de ano, sem dar duro nos estudos. No nos tornamos profissionais, sem investir esforo sistemtico de formao e experincia. Assim, ao mesmo tempo que devemos condenar peremptoriamente o trabalho infantil, entendido como trabalho feito por motivo de sobrevivncia, porque atrapalha o desenvolvimento integral da criana, tambm necessrio defender o trabalho da criana. Porque desenvolver-se bem, um grande trabalho, produz desgaste enorme por vezes, inclui disciplina, ateno. A tmpera atitudinal de uma pessoa nunca provm do cio. grave defeito de carter acalentar a idia de que os outros esto a para servir, trabalhar, desgastar-se. A prpria modernidade mudou o sentido do trabalho, que significa, hoje, muito mais desgaste intelectual, do que fsico. Exceto entre os pobres, entre os quais o desgaste fsico por vezes total. E se houvera tempo livre, a nica opo seria trabalhar ainda mais. Ainda assim, preparar-se intelectualmente tipicamente trabalho, talvez o mais importante para a emancipao das pessoas e da sociedade. Poderamos mudar um pouco de tica: em vez de falar to mal do trabalho, cuidar que a criana trabalhe seu trabalho com toda dignidade. S fala mal do trabalho, quem no precisa dele, ou quem massacrado por ele. Quer dizer, possvel fazer do trabalho uma diverso, nas pessoas que gostam de trabalhar, no trabalham nem demais, nem de menos, mas simplesmente bem. um tormento sair todo dia para um trabalho que se detesta. como ir escola a
42
contragosto. Dificilmente se aprende bem. Mas um alvio sensacional poder gostar do trabalho. Para isso so necessrias boas condies: ganhar bem ou pelo menos razoavelmente, ter vocao, estar e manter-se bem formado, ver-se progredindo sempre, ter a certeza de realizao pessoal, etc. Dentro do capitalismo, o desprezo pelo trabalho pago com vingana fatal. Se em todo trabalho produtivo h explorao, a alternativa no o improdutivo, como parece ser a insinuao de certa esquerda pblica. mister trabalhar para que o trabalho se torne tambm expresso da cidadania. Para tanto, no possvel fechar os olhos para o mercado, como se no existisse, como se fosse vivel ignor-lo ou descart-lo. Ao contrrio, preciso estabelecer a luta l onde acontece e com as mesmas armas. No se combate o neoliberalismo falando mal dele, mas reconstruindo o conhecimento necessrio para contrapor-se aos males que o mesmo conhecimento gera na competitividade. No com incompetitividade que se d conta do desafio. Educao torna-se essencial, porque est na raiz da formao do sujeito histrico capaz. Esta capacidade, entretanto, inclui o trabalho. Um trabalho que seja monitorado sempre pela educao. Pois, o que faz do trabalho algo produtivo, no propriamente o esforo, mas a inteligncia nele investida. Por isso, o trabalho da criana estudar bem. Mas no pode estudar bem, se a sobrevivncia da famlia no andar a contento. O ECA perfeito, quando atrela o trabalho ao mandato educativo. piegas, quando foge do trabalho produtivo. Porquanto, se o trabalho produtivo no puder ser educativo, para onde iramos? Para o abrigo... L tem tudo e nem preciso trabalhar... Entre as maiores graas da vida est gostar do que se faz. Entre as maiores desgraas da vida est trabalhar todo dia o que se detesta. Est entre as grandes conquistas do ser humano no viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. O lazer precisa ser entendido, cada vez mais, como parte central da qualidade de vida. Seu lugar no se restringe, porm, a curar o trabalho, mas eleva-se categoria de condio de vida. Lazer, bem entendido, no derivativo, mas igualmente ideal de vida. Cultivar o esprito, dedicar-se a amigos, divertir-se e entreter-se, matar tempo e sobretudo incentivar alternativas de vida individual e social para alm do trabalho pelo menos
43
to racional quanto trabalhar. Neste sentido, h sociedades exageradamente atreladas ao trabalho, como a norte-americana. Frias so poucos dias, uma ou duas semanas, e tem-se dela uma viso negativa. O ideal seria no ter frias. No se conseguiu at hoje colar no job a idia de que preciso livrar-se dele pelo menos um ms por ano. J outras sociedades talvez exagerem esta expectativa, ainda que a produtividade competitiva admitisse certamente o encurtamento drstico do dia de trabalho. possvel produzir mais e melhor com menos tempo de trabalho. Dificilmente, porm, as coisas andam nesta direo, porque os interesses so antagnicos: os empresrios querem lucros crescentes e por isso no aderem idia de encurtar o tempo de trabalho para que outros possam trabalhar tambm o encurtamento do tempo de trabalho como estratgia para multiplicar oportunidades de trabalho no lhes traz benefcios propriamente; j os trabalhadores querem trabalhar menos e ganhar mais, quase um milagre no capitalismo possvel, em princpio, , porque a competitividade com base no manejo do conhecimento inovador consegue produzir mais e melhor com menos tempo de trabalho. Outro dilogo de surdos! Como o capital acaba se impondo, o trabalho se precariza, paga cada vez menos e o desemprego no tende a cair. Para que o escrnio seja completo, a cura disso passa a ser cesta bsica e renda mnima, que, dentro deste tipo de sistema produtivo, servem apenas para transformar o cidado em mero beneficirio. Ao contrrio do que certa esquerda pensa, a judam alegremente a cultivar a pobreza poltica. Diante disso, dizer que bom trabalhar pode parecer conversa fiada. Em parte sempre , porque em nossa sociedade no difcil encontrar mais trabalho ruim do que bom. Trabalho bom pode restringir-se a apenas duas categorias de gente: bom trabalhar para quem no precisa trabalhar, e para quem ganha bem. J nisto se v que no se trata da maioria da populao. Mesmo assim, vale dizer que bom trabalhar, por sua potencialidade educativa. tanto um erro subordinar a educao ao trabalho, quanto erro desvincular a educao do trabalho. Est errada a
subordinao, porque cidadania sempre vem antes. Est errada desvinculao porque no prepara para a vida, que no pode ser levada a contento sem trabalho. Esta difcil combinao pode ser iluminada pela questo da pobreza poltica.
44
VII. POBREZA POLTICA E TRABALHO
Estamos habituados a observar a pobreza pelos seus traos materiais: carncias de toda ordem de renda, emprego, comida, casa... Os nmeros sobre pobreza referem-se, quase sempre, a tais traos, porque tambm so mais facilmente mensurveis: taxas de desemprego, ndices de concentrao da renda, taxas de mortalidade infantil, ndices de desnutrio... Neste texto j vimos alguns desses nmeros. Entretanto, somos da opinio que a pobreza mais comprometedora no a material, mas a poltica. Entendemos por pobreza poltica a condio de massa de manobra da populao, ou de ignorncia cultivada. No nos referimos aqui ignorncia possuem que lngua sobretudo prpria, pedagogos rejeitam, porque todos os seres humanos cultura prpria, conhecimentos e saberes acumulados.
Ningum , neste sentido, ignorante. Estamos nos referindo ignorncia cultivada, mantida e manipulada por parte da elite, para que seus privilgios no sejam tocados. Pobreza poltica sustentar os privilgios de uma minoria, acreditando que esta minoria privilegiada por mrito, restando para o pobre a funo histrica de fazer a riqueza do outro sem dela participar. Assim, politicamente pobre quem sequer sabe ou coibido de saber que pobre54. V sua pobreza como condio natural, vontade de Deus ou mesmo maus jeito ou castigo. No atina para o fato de que pobreza injusta, historicamente causada. No percebe que o pobre a pea chave da superao da pobreza, no a elite que seu algoz. O cmulo da pobreza poltica esperar a soluo da pobreza do prprio algoz, que considera seu heri. A pobreza poltica destri a noo de sujeito, para manter a pessoa como objeto. No pode, assim, fazer histria prpria. Pendura-se na histria do outro e permanece penduricalho. Contenta-se com as sobras, porque aceita-se como sobra.
54
DEMO, P. 1999. Pobreza Poltica. Autores Associados, Campinas, 6 ed.
45
Pobreza poltica no outra pobreza, mas apenas outra face que acreditamos principal da pobreza. bem mais difcil de mensurar e de tratar pela metodologia cientfica usual, mas nem por isso perde sua drasticidade. O contrrio de pobreza poltica qualidade poltica, que indica a condio de cidadania consciente e organizada, capaz de interferir na histria55. No fundo da pobreza no est apenas a fome, mas um processo insistente de imbecilizao do pobre, para que no se subleve. tratado como beneficirio, no como cidado, para que se acomode nas mos dos poderosos que passam a cuidar do destino do pobre. Assistencialismo a ttica eterna. Por isso tambm a poltica pblica e privada de assistncia dominam hoje a cena da poltica social. Embora assistncia seja direito de cidadania, no constitui a cidadania, porque est voltada para a sobrevivncia das pessoas e nisto um direito radical. Quando mal feita e isto a regra entre ns desanda em armadilhas que tolhem a conscincia crtica do pobre e impedem que se organize para se confrontar com os problemas, evitando-se neste confronto que o pobre emerja como a referncia decisiva. Tomando o exemplo da renda mnima acoplada com educao em si uma idia muito defensvel podemos vislumbrar nela os efeitos da pobreza material e poltica. Quando, no Nordeste, se define como bolsa/escola o valor de R$ 25,00 por ms e a populao aclama tamanha generosidade governamental, estamos diante dos dois fenmenos interligados: a populao, em sua misria lancinante, precisa de R$ 25,00 para sobreviver pobreza material; todavia, deixa de perceber que esta quantia afrontosa a seu direito de sobrevivncia pobreza poltica. Mais
comprometedor que ser obrigado a depender de R$ 25,00, no atinar que o sistema encontrou nisso uma ttica barata para acomodar o pobre: com isto este agradece e vota! O problema no apenas que a quantia uma misria; misria ainda maior que se tornou possvel com esta misria contornar a misria da populao. O efeito imbecilizante da populao o que mais deveria preocupar. Resta sempre a evasiva oficial de que esta quantia apenas uma bolsa de reforo, sendo o cerne do programa garantir a freqncia na escola dos filhos em idade escolar. Mesmo assim, indigno defender patamares to aviltantes de renda e mais indigno ainda tripudiar sobre uma populao to carente que a isto se submete.
55
DEMO, P. 1999. Educao e Qualidade. Papirus, Campinas, 4 ed.
46
A imbecilizao mais ostensiva est na ttica de evitar que o pobre atinja a conscincia crtica que o levaria a no aceitar mais a simples distribuio de renda. Quem tem noo satisfatria dos direitos da cidadania exige a redistribuio de renda. A mera distribuio no atinge o espectro da desigualdade social, porque feita com as sobras oramentrias. O exemplo da reforma agrria tradicional tpico: distribuem-se terras devolutas, distantes, de m qualidade, inspitas. O Movimento dos Sem Terra (MST) virou a mesa e nisto se tornou emblemtico: quer a redistribuio das terras, inclusive o questionamento da propriedade da terra. Redistribuir terra significa, muito concretamente, retirar de quem tem demais ou a obteve por modos ilcitos, e passar para quem precisa. Na verdade, poltica social redistributiva aquela que sabe empobrecer o rico, faz-lo pagar a conta, diminuir seus privilgios. Por isso necessariamente confronto, embora no necessariamente violento. Pobreza poltica o pobre no se saber portador de direitos, entregar seu destino em mos alheias, sobretudo entregar ao prprio algoz, deixar-se manipular como simples objeto de beneficos. Contenta-se por isso com cesta bsica, renda mnima e outras bijuterias sociais. Este modo de ver a pobreza j era tpico da Escola de Frankfurt, quando vituperava a indstria cultural como imbecilizante, foi o cerne da idia da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, continua sendo ponto alto da teoria crtica atual, em particular frente mdia e em suas ramificaes da pesquisa ps-kuhniana, ps-colonial e tecnolgica56, alm da ambiental crtica, e ultimamente foi tambm assumido at por instncias neoliberais como a ONU57. O Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publica a cada ano relatrio sobre o desenvolvimento humano com respectivo ndice de desenvolvimento humano, com base em trs indicadores: educao, longevidade e poder de compra58. Desde o relatrio de 1997, a noo de pobreza poltica tornou-se mais ntida, sob a gide do conceito de oportunidade: desenvolvimento, para que seja humano e sustentvel, precisa de sujeitos capazes de o fazer e preservar. Seu mvel mais estratgico educao de
HARDING, op. cit. FERREIRA, L.D./VIOLA, E. (Org.). 1996. Incertezas de Sustentabilidade na Globalizao. Ed. UNICAP, Campinas. VIOLA, E.J. et alii. 1998. Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cidadania: Desafios para as Cincias Sociais. Cortez, So Paulo. ARRIGHI, G. 1997. A Iluso do Desenvolvimento. Vozes, Petrpolis. 58 PNUD. 1990 ... 2000. Human Development Report. ONU, New York.
57 56
47
qualidade. Indicadores de crescimento econmico cabem sempre, mas no so a referncia bsica. Esta volta-se principalmente para a qualidade poltica da populao. Mais recentemente, o Prmio Nobel de Economia de 1999, Sen, notabilizou-se na tentativa de aproximar desenvolvimento e liberdade ou democracia59. Apesar de sua conotao neoliberal, digno de nota que a preocupao em torno da pobreza poltica comea a se alastrar. Recentes crticas aos Bancos de Desenvolvimento, em particular ao Banco Mundial, apontam igualmente com insistncia para o efeito imbecilizante das ajudas ao desenvolvimento como regra, tiram partido dos financiamentos as elites locais, alm dos prprios funcionrios do Banco60. No fundo, pobreza virou bom negcio. As populaes locais aparecem quase sempre como vtimas dos projetos, no conseguem ser os sujeitos centrais deles, persistindo ou at pervertendo-se sua condio de massa de manobra. Tomar a srio a pobreza poltica significa, antes de mais nada, mudar completamente o enfoque do combate pobreza61. O cerne da questo passa a ser a capacidade do pobre de montar e efetivar o confronto necessrio. Assistncia tambm faz parte, porque muitas vezes a sobrevivncia est em jogo. Mas no vivel combater a pobreza sem o pobre. A idia clssica de que o estado cuida disso, ou os Bancos de Desenvolvimento, ou os planejadores e pesquisadores, ou a elite como salvaguarda dos destinos da nao, emerge finalmente como equvoco clamoroso. No se trata de dispensar o estado. Muito ao contrrio, trata-se faz-lo, de direito e de fato, servio pblico. Para tanto, a instncia decisiva a sociedade civil organizada, ou a cidadania organizada. Na prtica, a sociedade como um todo precisa aderir a este confronto, inclusive intelectuais orgnicos. Mas a energia vital competncia poltica do pobre. Para alm das assistncias de toda ordem, mister exigir pelo menos mais duas instncias: inserir no mercado, para que se tenha acesso estrutural renda; e
SEN, A. 1999. Development as Freedom. Alfred A. Knopf, New York. DEMO, P. 2000. Educao pelo Avesso Assistncia como direito e como problema. Cortez, So Paulo. 60 CAUFIELD, C. 1998. Masters of Illusion The World Bank and the Poverty of Nations. Henry Holt and Company, New York. 61 DEMO, P. 1997. Combate Pobreza Desenvolvimento como oportunidade. Autores Associados, Campinas.
59
48
fomentar a cidadania, para que o processo se estabelea como conquista do pobre. Num diagrama tentativo, podemos desenhar esta estratgia da seguinte forma:
ASSISTNCIA
INSERO NO MERCADO
C I D A D A N I A
O ECA montou, em sua estratgia, a confluncia das polticas sociais, sob a gide da educao, mas na prtica predomina a postura assistencial. No basta apenas concertar a rea social, e menos ainda sob a batuta da assistncia, j que o condutor da orquestra precisa ser a cidadania. fundamental abranger ainda a questo do trabalho e renda, e sobretudo a elaborao da cidadania das crianas e adolescentes. Neste sentido, convm afinar a relao entre trabalho e cidadania, tanto para evitar que cidadania se subordine ao mundo do trabalho, quanto para evitar que cidadania se aliene do trabalho. Assim, o direito de poder evitar e de garantir trabalho ser sempre tema central da poltica social destinada a crianas e adolescentes. Primeiro, mister reconhecer que a questo da sobrevivncia se impe inapelavelmente, o que valoriza a assistncia, mas sempre a desborda porque enquanto busca garantir a sobrevivncia, no constitui as condies estruturais para garantir a sobrevivncia. Dependendo da idade, a assistncia comparece como poltica decisiva, porque faz parte da democracia que as crianas no tenham que lutar pela sobrevivncia. Seu trabalho estudar, para resumir nisso a maneira como despendem energia e esforo. Segundo, a sobrevivncia, a partir de certa idade mormente a partir dos 14 anos no se resume ao direito de sobreviver, mas alastra-se ao direito de trabalhar para conseguir soluo estrutural para a sobrevivncia. Terceiro, este direito ao trabalho precisa ser combinado com o direito educao, sobretudo o direito educao precisa preponderar. Resultado desta viso que o trabalho em adolescentes deveria seguir a regra do tempo parcial, para que a maior parte do tempo seja dedicada educao. Quarto, como a realidade acaba se impondo, muitos adolescentes no podero estudar, porque precisam dedicar todo seu tempo disponvel para angariar renda, para si e para as respectivas famlias. Dar conta da sobrevivncia no mais importante que educar-se bem, mas algo mais imediato e assim assumido. Este reconhecimento vai
49
recomendar no mnimo que toda proposta educativa se coadune adequadamente com o mundo do trabalho, para no cair no vazio. Quinto, o que mais compromete o futuro do adolescente em situao de risco, a impossibilidade de educao adequada, dificuldade de manejo crtico e criativo do conhecimento, inabilidade de lidar com os processos de informatizao, incapacidade de tomar conscincia da necessidade de fazer histria prpria. O trabalho precoce sempre atrapalha esta expectativa na idade infantil, igualmente o trabalho excessivo na adolescncia, e de modo geral a necessidade de apenas trabalhar na vida para meramente sobreviver. Assim, trabalho precisa subordinar-se ao mandato educativo, no o contrrio. Sexto, existem, entretanto, modos de construir propostas de trabalho que no danifiquem a cidadania e disto que se trata aqui. Parece fora de dvida que a recuperao de adolescentes em situao de risco passa pelo trabalho produtivo, como mostram praticamente todas as experincias consideradas exitosas. Algumas acentuam em excesso exerccios
culturais, esporte, diverso, mas tudo frutifica mesmo quando deles se pode extrair alguma profisso. Se o adolescente se tornar professor de capoeira, se conseguir fazer parte de um time de futebol profissional, se alcanar o patamar de msico de um grupo, se atingir a posio de produtor de expresses da arte, e assim por diante, sua recuperao deixa de ser terica apenas. O trabalho pode ser expresso da pobreza poltica, claramente. H trabalhos imbecilizantes, degradantes, e, no fundo, no capitalismo, o fenmeno da mais-valia contm um tipo de ignorncia cultivada: fazer a riqueza do outro sem dela participar. Esta regra, porm, no se pode aplicar linearmente nem no capitalismo, porque h salrios que mais facilmente colocam a pessoa do outro lado, de onde provm o cultivo da ignorncia. Entre as formas mais aviltantes de trabalho est o infantil, sob todas as suas formas, porque, alm de deturpar o sentido ldico da infncia, atrapalha seu desenvolvimento integral e tolhe o processo educativo, inclusive estudos. No que a criana no trabalhe ela submetida a processos de esforo, por vezes cansativos, inclusive quando brinca mas deve preponderar como trabalho o cuidado educativo e seus estudos. O trabalho na adolescncia pode ser imbecilizante, em particular quando atrapalha o processo formativo, mas tambm quando pesado demais, extenso demais, tolhedor demais. Sendo fato que os pases, medida que se desenvolvem
50
melhor universalizam o ensino mdio, torna-se comum que todos os adolescentes estudem at 17 anos pelo menos. Isto seria o ideal. No que no trabalhem. Muito ao contrrio, seu trabalho por vezes durssimo preparar-se para a vida, em primeiro lugar, e, para o mercado, em segundo lugar. No faltam exemplos de estudo avassalador que mais imbeciliza, do que forma os adolescentes, como so os cursinhos para vestibular. Para adolescentes em situao de risco, entretanto, que dificilmente vo disputar lugar na universidade e alm do mais como norma possuem histria pessoal de estudo muito precria, a necessidade de profissionalizao se impe como exigncia fundamental de sua cidadania. Continua a regra: a cidadania deve preponderar sobre a profisso, mas sem profisso, a cidadania murcha. mister, pois, qualificar de pobreza poltica o posicionamento das instituies que pensam em recuperar jovens infratores com programas apenas assistenciais ou meramente
pedaggicos, que na verdade apenas fazem passar o tempo. O que mais determina a volta ao mundo da infrao por parte do adolescente no a falta de assistncia ou de apoio pedaggico, mas de condies adequadas de auto-sustentao, ou seja, de trabalhar produtivamente, obtendo fonte estrutural e digna de renda. Quando se alude s entidades de tratamento de adolescentes infratores como escolas do crime, estamos estigmatizando no s um lugar a ser evitado de todos os modos, tanto pelos adolescentes, quanto pelos que se preocupam com sua recuperao, como tambm o efeito imbecilizante que contm, a comear pelo acirramento das condies de criminalidade. Quanto mais a entidade se afasta do trabalho produtivo e nisto educativo, mais cultiva a ignorncia, fantasia solues amadoras, idealiza mundos etreos marcados pela barbrie. Entretanto, o sentido maior do trabalho ser o combate pobreza poltica. No se trata apenas de inserir no mercado, j que no capitalismo esta insero sempre duvidosa, em particular para os pobres, mas de encaixar a necessidade do trabalho para viabilizar propostas mais auto-sustentadas e autogeridas de vida. Dois so, pois, os valores em jogo:
51
a) lidar com a auto-sustentao de estilo estrutural; a assistncia no faz isso, porque, expressando-se em benefcios, estes no se aninham na dinmica econmica; de modo geral, dependem da boa vontade dos polticos e governantes, por mais que estejam previstos em lei; neste sentido, renda mnima no estratgia de autosustentao, porque esta passa, mais que tudo, pelo trabalho produtivo; enquanto a
primeira depende de sobras oramentrias, a segunda depende da dinmica produtiva do mercado; por isso, a segunda pode ser soluo estrutural, no apenas conjuntural; b) lidar com a autogesto, no sentido de ser capaz de fazer histria prpria individual e coletiva; o trabalho representa uma das bases mais fundamentais da autonomia do sujeito, no certamente a nica como queria uma vez o marxismo ortodoxo, mas claramente uma das mais decisivas; do ponto de vista da autogesto, o trabalho adquire ainda o sentido de direito humano fundamental, seja na direo do amadurecimento das potencialidades da personalidade e da sociedade, seja na viso crtica de que no pode ser o nico sentido da vida; trata-se mais de qualidade, do que de mera quantidade de vida. Como resultado de fantasmagorias do welfare state, acostumamo-nos a
valorizar mais procedimentos assistenciais do que de auto-sustentao e autogesto. Com isto, o lado muito adequado da assistncia como direito logo transformado em assistencialismo, porque parece claro que, sem auto-sustentao e sem autogesto, acabamos por cultivar o problema. Quando se acusam as entidades que lidam com adolescentes infratores que so escolas do crime, estamos exatamente expressando tal reconhecimento: l agravamos os problemas, em vez de com eles nos confrontar. Por certo, no capitalismo no cabem todos para trabalhar, sobretudo para trabalhar bem. v a expectativa de que o mercado poderia ser a tbua de salvao, como quer o neoliberalismo. Mas ainda mais v a crena de que assistncias e pedagogias geralmente residuais e setorialistas resgatem um adolescente da rota do crime. Na verdade, sequer estamos habituados a forar o mercado, porque sempre o tomamos como referncia intocvel. Dificilmente falamos de uma poltica de emprego, porque aceitamos ter apenas os empregos que o mercado se digna oferecer. Esta perspectiva resultado de nossa pobreza poltica, porque nos acomoda na ignorncia de aceitar o
52
mercado como sina. Embora no se possa fazer qualquer interveno no mercado, sociedades dotadas de qualidade poltica mais clara sabem forar o mercado, impedir a destruio de empregos, evitar processos de depredao de postos de trabalho, resistir precarizao do trabalho e do salrio, fomentar empresas que criem mais emprego, impulsionar microempresrios de todos os tipos, e assim por diante. Assim, imaginar que possvel dar conta do problema de adolescentes em situao de risco com simples assistncia e educao setorializadas, alm da falta crnica de recursos financeiros e da falta de comprometimento dos setores produtivos, genuna pobreza poltica.
53
PARA CONCLUIR
Vivemos uma poca de profundas ironias e sarcasmos. Sindicatos, depois de anos de luta herica contra a virulncia do capital, imploram hoje trabalho, sequer emprego. A maioria dos aposentados, aps uma vida dedicada ao trabalho, preferem o trabalho ao cio. difcil, quase impossvel, resgatar idosos sem recorrer a propostas de trabalho. O lazer algo essencial, mas fica melhor como forma de trabalho! Queremos semana menor de trabalho, mas para que outros possam tambm trabalhar. Depois de meses, anos de procura por emprego, os desempregados acabam reconhecendo que aceitariam qualquer trabalho, pois no haveria desgraa maior do que permanecer fora do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a economia do conhecimento nunca foi to produtiva e competitiva, mas, ao reduzir a necessidade de emprego, mais que uma soluo, trouxe um problema agravado: a dificuldade crescente de dar trabalho para todos. Pleno emprego se foi, se que um dia existiu! sombra, tremula a idia tresloucada de que o ideal no uma sociedade sem trabalho, mas outra que permita a todos trabalhar. Quando menos, trabalho possui um germe social fundamental: a melhor maneira de no viver do trabalho dos outros, trabalhar. Este tpico marxista continua de p: ningum se emancipa sem trabalho, embora emancipao seja sempre muito mais que trabalho. O problema intestino do capitalismo que uma pequena minoria se d ao talante de viver do trabalho das maiorias.
54
BIBLIOGRAFIA
ALTVATER, E. 1995. O Preo da Riqueza. Editora UNESP, So Paulo. ANDERSON, P. 1992. O Fim da Histria - De Hegel a Fukyama. Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro. ANTUNES, R. 1995. Adeus ao Trabalho? - Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. Cortez, So Paulo. ANTUNES, R. 1999. Os Sentidos do Trabalho Ensaio sobre a afirmao e a negao do trabalho. Boitempo Editorial, So Paulo. APEL, K.-O. 1994. Estudos de Moral Moderna. Vozes. Petrpolis. ARRIGHI, G. 1996. O Longo Sculo XX. Ed. UNESP, So Paulo. ARRIGHI, G. 1997. A Iluso do Desenvolvimento. Vozes, Petrpolis. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 1998. America Latina Frente a la Desigualdad Progreso Econmico y Social en America Latina Informe 1998-1999. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. BARALDI, C. 1994. Aprender - A Aventura de Suportar o Equvoco. Vozes, Petrpolis. BONACCHI, G. & GROPPI, A. (Org.). 1996. O Dilema da Cidadania - Direitos e deveres das mulheres. Ed. UNESP, So Paulo. BOURDIEU, P. (Org.). 1998. A Misria do Mundo. Vozes, Petrpolis. BRUNHOFF, S. 1991. A Hora do Mercado - Crtica do liberalismo. Ed. UNESP, So Paulo. BURSZTYN, M. (Org.). 2000. No Meio da Rua Nmades, excludos e viradores. Garamond, Rio de Janeiro. CAPORALINI, M.B.S.C. 1991. A transmisso do Conhecimento e o Ensino Noturno. Papirus, Campinas. CARVALHO, C.P. 1989. Ensino Noturno - Realidade e iluso. Cortez, So Paulo. CASTELLS, M. 1997. The Power of Identity - The information age: Economy, society and culture. Vol. II. Blackwell, Oxford. CASTELLS, M. 1998. End of Millenium The information age: economy, society and culture Vol. III. Blackwell, Malden (MA). CATTANI, A.D. 1996. Trabalho & Autonomia. Vozes, Petrpolis. CAUFIELD, C. 1998. Masters of Illusion The World Bank and the Poverty of Nations. Henry Holt and Company, New York. CEPAL. 1992. Equidad y Transformacin Productiva - Un enfoque integrado. CEPAL, Santiago. CEPAL/OREALC. 1992. Educacin y Conocimiento - Eje de la transformacin productiva con equidad. CEPAL, Santiago. COELHO, S.C.T. 2000. Terceiro Setor Um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. Editora SENAC, So Paulo. COHN, N. 1996. Cosmos, Caos e o Mundo que Vir. Companhia das Letras, So Paulo. DE MASI, D. 2000. A Sociedade Ps-Industrial. Editora SENAC, So Paulo. DEMO, P. 1992. Cidadania Menor - Algumas indicaes quantitativas de nossa pobreza poltica. Vozes, Petrpolis. DEMO, P. 1994. Participao Conquista - Noes de poltica social participativa. Cortez, So Paulo. DEMO, P. 1995. Cidadania Tutelada e Cidadania Assistida. Autores Associados, Campinas. DEMO, P. 1995. Metodologia Cientfica em Cincias Sociais. Atlas, So Paulo. DEMO, P. 1997. Combate Pobreza Desenvolvimento como oportunidade. Autores Associados, Campinas. o DEMO, P. 1997. Criana, Prioridade Absoluta. In: O Social em Questo, PUC/Rio, Vol. 2, No 2, Ano 1, 2 semestre, p. 55-78.
55
DEMO, P. 1997. Menoridade dos Mnimos Sociais - Encruzilhadas da assistncia social no mundo atual. In: Poltica Comparada - Revista Brasiliense de Polticas Comparadas, Arko Advice, Mai./ago. Ano I, Vol. I, No. 2, p. 188-226. DEMO, P. 1998. Charme da Excluso Social. Autores Associados, Campinas. DEMO, P. 1999. Educao e Desenvolvimento Mito e realidade de uma relao possvel e fantasiosa. Papirus, Campinas. DEMO, P. 1999. Educao e Qualidade. Papirus, Campinas, 4 ed. a DEMO, P. 1999. Pobreza Poltica. Autores Associados, Campinas, 6 ed. DEMO, P. 2000. Educao pelo Avesso Assistncia como direito e como problema. Cortez, So Paulo. ENGELS, F. 1971. Do socialismo utpico ao socialismo cientfico. Estampa, Lisboa. FERREIRA, L.D./VIOLA, E. (Org.). 1996. Incertezas de Sustentabilidade na Globalizao. Ed. UNICAP, Campinas. FORRESTER, V. 1997. O Horror Econmico. Ed. UNESP, So Paulo. FREITAG, B. & PINHEIRO, M.F. (Orgs.). 1993. Marx Morreu: Viva Marx! Papirus. Campinas. FREITAS, M.C. (Org.). 1996. A Reinveno do Futuro. Cortez, So Paulo. GIANNOTTI, J.A. 2000. Certa Herana Marxista. Companhia das Letras, So Paulo. GLAXTON, G. 1999. Hare Brain Tortoise Mind Why intelligence increases when you think less. The Ecco Press, Hopewell, N. Jersey. GLEICK, J. 1996. Caos - A Criao de uma nova Cincia. Editora Campus, Rio de Janeiro. GLEICK, J. 1999. Faster The acceleration of just about everything. Pantheon Books, New York. GOHN, M.G. 2 000. Mdia, Terceiro Setor e MST Impactos sobre o futuro das cidades e do campo. Vozes, Petrpolis. GOUVA, G.P. 1994. Burocracia e Elites Burocrticas no Brasil. Ed. Paulicia, So Paulo. GROSSI, E.P. & BORDIN, J. (Org.). 1993. Construtivismo Ps-piagetiano - Um novo paradigma sobre aprendizagem. Vozes. Petrpolis. GROSSI, E.P. & BORDIN, J. (Org.). 1993. Paixo de Aprender. Vozes. Petrpolis. GROSSI, E.P. (Org.). 1995. Celebrao do Conhecimento na Aprendizagem. Editora Sulina, Porto Alegre. HABERMAS, J. 1983. Para a Reconstruo do Materialismo Histrico. Brasiliense, So Paulo. HABERMAS, J. 1989. Conscincia Moral e Agir Comunicativo. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. HARDING, S. 1998. Is Science Multicultural? Postcolonialisms, feminisms, and epistemologies. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis. HOBSBAWM, E.J. 1995. Era dos Extremos - O breve sculo XX 1914-1991. Companhia das Letras, So Paulo. IANNI, O. 1996. Teorias da Globalizao. Civilizao Brasileira, Rio de Janeiro. IPEA/PNUD. 1996. Relatrio sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil - 1996. IPEA, Braslia. JAMESON, F. 1985. Marxismo e Forma. Huicitec, So Paulo. JAMESON, F. 1996. Ps-Modernismo - A lgica cultural do capitalismo tardio. tica, So Paulo. JAMESON, F. et alii. 1988. Formations of Pleasure. Routledge & Kegan Paul, London. KOHLBERG, L. 1981. Essays on Moral Development. Vol. I., San Francisco. LAJONQUIRE, L. 1993. De Piaget a Freud - A (Psico)Pedagogia entre o Conhecimento e o Saber. Vozes. Petrpolis. LNINE, V.I. 1975. A Comuna de Paris. Edies Avante, Lisboa. LIDSKY, P. 1971. Los Escritores contra la Comuna. Siglo XXI, Mxico. LIMA, W.S. 1991. Quatrocentos contra Um - Uma histria do Comando Vermelho. Vozes, Petrpolis. LISSAGARAY, P.-O. 1991. Histria da Comuna de 1871. Editora Ensaio, So Paulo. LOJIKINE, J. 1995. A revoluo informacional. Cortez, So Paulo. LYOTARD, J.-F. 1990. O Inumano - Consideraes sobre o tempo. Estampa, Lisboa. LYOTARD, J.-F. 1996. Moralidades ps -modernas. Papirus, Campinas. LYOTARD, J.-F.1989. La Condicin Postmoderna - Informe sobre el saber. Catedra, Madrid. MACKKENDRICK, K. 1999. Counterpleasures. State University of New York Press, New York. MARX, K. 1973. Contribuio para a crtica da economia poltica. Estampa, Lisboa. MARX, K. 1986. A Guerra Civil na Frana. Global Editora, So Paulo. MATURANA, H. E VARELA, F. 1994. De Mquinas y Seres Vivos - Autopoiesis: La Organizacin de lo Vivo. MATURANA, H.R. & VARELA, F. 1984. El rbol del Conocimiento. Editorial Universitaria, Santiago. MOLES, A.A. 1996. As Cincias do Impreciso. Civilizao Brasileira, Rio de Janeiro.
56
NARAYAN, U./ HARDING, S. (Ed.). 2000. Decentering the Center Philosophy for a multicultural, postcolonial, and feminist world. Indiana University Press, Indianapolis. OFFE, C.1989 e 1991. Trabalho & Sociedade - Problemas estruturais e perspectivas para o futuro da sociedade do trabalho, 2 vol. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. OLIVEIRA, C.A.B./MATTOSO, J.E.L. (Org.). 1996. Crise e Trabalho No Brasil Modernidade ou volta ao passado? Scritta, So Paulo. PAIVA, V. (Org.). 1994. Transformao Produtiva e Equidade - A questo do ensino bsico. Papirus, Campinas. PARDUCCI, A. 1995. Happines, Pleasure, and Judgement The contextual theory and its applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey. PEREIRA, P.A.P. 1996. A Assistncias Social na Perspectivas dos Direitos. Thesaurus, Braslia. PERROT, M. 1988. Os Excludos da Histria - Operrios, mulheres, prisioneiros. Paz e Terra, Rio de Janeiro. PNUD/ONU. 1990 ... 2000. Human Development Report. ONU, New York. POLTICAS SOCIAIS 1 Acompanhamento e Anlise. IPEA, Braslia, 2000 (Diretoria de Estudos Sociais). PRIGOGINE, I. 1996. O fim das Certezas - Tempo, caos e as leis da natureza. Ed. UNESP, So Paulo. PRZEWORSKI, A. 1989. Capitalismo e Social-democracia. UNESP Editora, So Paulo. PRZEWORSKI, A. 1994. Democracia e Mercado no Leste Europeu e na Amrica Latina. Relume-Dumar, Rio de Janeiro. PRZEWORSKI, A. 1995. Estado e Economia no Capitalismo. Relume-Dumar, Rio de Janeiro. RODRIGUES, M.V.C. 1994. Qualidade de Vida no Trabalho. Vozes, Petrpolis. ROSSI, E.P. (Org.). 1995. Celebrao do Conhecimento na Aprendizagem. Editora Sulina, Porto Alegre. ROSSO, S.D. 1996. A Jornada de Trabalho na Sociedade O castigo de Prometeu. LTr, So Paulo. RUSSELL, B. 1924. How To Be Free and Happy. The Rand School of Social Science, New York. RUSSELL, B. 1975. The Conquest of Happiness. UNWIN Paperbacks, London. SACHS, W. 2000. Dicionrio do Desenvolvimento Guia para o conhecimento como poder. Vozes, Petrpolis. SANDRONI, P. 1985. O que mais-valia. Brasiliense, So Paulo. SANTOS, B.S. 1989. Introduo a uma Cincia Ps-moderna. Graal, So Paulo. SANTOS, B.S. 1995. Pela Mo de Alice - O social e o poltico na ps-modernidade. Cortez, So Paulo. SANTOS, F.A. 1990. A Emergncia da Modernidade. Vozes, Petrpolis. SEN, A. 1999. Development as Freedom. Alfred A. Knopf, New York. TAPSCOTT, D. 1998. Growing Up Digital The rise of the net generation. McGraw-Hill, New York. TEIXEIRA, F.J.S. E OLIVEIRA, M.A. (Orgs.). 1996. Neoliberalismo e Reestruturao produtiva - As novas determinaes do mundo do trabalho. Cortez, So Paulo. TORRES, C.A. 1998. Democracy, Education, and Multiculturalism Dilemmas of citizenship in a global world. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., New York. VACCA. G. 1996. Pensar o Mundo Novo - Rumo Democracia do Sculo XXI. tica, So Paulo. VIOLA, E.J. et alii. 1998. Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cidadania: Desafios para as Cincias Sociais. Cortez, So Paulo. WERNECK, H. 1995. Prova, Provo - Camisa de fora da educao. Vozes, Petrpolis. WINOGRAD, T. & FLORES, F. 1986. Understanding Computers and Cognition - A New Foundation for Design. Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey. WRIGHT, E.O. et alii. 1993. Reconstruindo o Marxismo Ensaios sobre a explicao e teoria da histria. Vozes, Petrpolis.
Você também pode gostar
- Apostila Concurso ProfessorDocumento128 páginasApostila Concurso ProfessorCIENTISTAOKOKAinda não há avaliações
- PGC - Angola PDFDocumento34 páginasPGC - Angola PDFMiguel80% (35)
- d17 - 9º Ano 50 QuestõesDocumento9 páginasd17 - 9º Ano 50 QuestõesSilvia NishiAinda não há avaliações
- Ebook - O ILUSIONISMO e A MATEMÁTICA 2018 PDFDocumento14 páginasEbook - O ILUSIONISMO e A MATEMÁTICA 2018 PDFWander MeloAinda não há avaliações
- O Cérebro Adolescente - EdgeDocumento10 páginasO Cérebro Adolescente - EdgeEdi RuizAinda não há avaliações
- OEAG ProgramaDocumento39 páginasOEAG ProgramacarmensofAinda não há avaliações
- Apresentação Livro - O Diário de Anne FrankDocumento2 páginasApresentação Livro - O Diário de Anne FrankAna MartinsAinda não há avaliações
- Novo Curriculo PsicologiaDocumento4 páginasNovo Curriculo PsicologiaHadassa PedrinaAinda não há avaliações
- A Metodologia Criativa TRIZ Analisada Por Meio de Um Estudo em PatentesDocumento14 páginasA Metodologia Criativa TRIZ Analisada Por Meio de Um Estudo em PatentesAlexsandroCCarvAinda não há avaliações
- Ementa Didatica Do Ensino SuperiorDocumento5 páginasEmenta Didatica Do Ensino SuperiorsimoneAinda não há avaliações
- Free FireDocumento3 páginasFree FireJohnata Ferreira LeiteAinda não há avaliações
- Trabalho - Acidente Transito - CelularDocumento11 páginasTrabalho - Acidente Transito - Celularjapmf1967Ainda não há avaliações
- Resumo Jackson SorensenDocumento2 páginasResumo Jackson SorensenMiguel PresotoAinda não há avaliações
- Ministério Da Educação Universidade Federal Da Paraíba Centro Profissional E Tecnológica Escola Técnica de Saúde Programa Pós-Tec CofenDocumento118 páginasMinistério Da Educação Universidade Federal Da Paraíba Centro Profissional E Tecnológica Escola Técnica de Saúde Programa Pós-Tec Cofeneliton silvaAinda não há avaliações
- Dissertacao PDFDocumento224 páginasDissertacao PDFaercio manuelAinda não há avaliações
- Calendário Escolar 2023Documento3 páginasCalendário Escolar 2023Claudio Santos juniorAinda não há avaliações
- Neurociência Evolução e Atualidade NEP03Documento5 páginasNeurociência Evolução e Atualidade NEP03Michelle RibeiroAinda não há avaliações
- Simulado - Lei 13.146-2015Documento8 páginasSimulado - Lei 13.146-2015sophieAinda não há avaliações
- Gabarito Ae3 Língua Portuguesa 1º AnoDocumento18 páginasGabarito Ae3 Língua Portuguesa 1º AnoAntonio CorreiaAinda não há avaliações
- GABCp 2 Aprof ENEMAnal Comb ProbDocumento5 páginasGABCp 2 Aprof ENEMAnal Comb ProbMarcelo Renato Moreira BaptistaAinda não há avaliações
- Morfologia de Portugues Lucrencia 2ºDocumento10 páginasMorfologia de Portugues Lucrencia 2ºEdmilson da NaliaAinda não há avaliações
- Didática Da História FoucaultDocumento4 páginasDidática Da História FoucaultBruno da CostaAinda não há avaliações
- Resolucao CEPEC 2017 1557Documento36 páginasResolucao CEPEC 2017 1557Ichigo KurosakiAinda não há avaliações
- Atividade Texto "Psicologia Escolar e Educacional: História, Compromissos e Perspectivas"Documento3 páginasAtividade Texto "Psicologia Escolar e Educacional: História, Compromissos e Perspectivas"Luiza LeseAinda não há avaliações
- Trabalho GeografiaDocumento9 páginasTrabalho GeografiaBorisAinda não há avaliações
- CO & RP - Texto - Portugal - Teresa Ruão e OutrosDocumento129 páginasCO & RP - Texto - Portugal - Teresa Ruão e OutrosMatheus SampaioAinda não há avaliações
- EditalDocumento18 páginasEditalDavi LaraAinda não há avaliações
- 21 Mulheres Incríveis Que Mudaram o Mundo para Melhor - Mega CuriosoDocumento36 páginas21 Mulheres Incríveis Que Mudaram o Mundo para Melhor - Mega CuriosoAquela GuriaAinda não há avaliações
- Você É Capaz de Corrigir Sem Ofender e Orientar Sem HumilharDocumento2 páginasVocê É Capaz de Corrigir Sem Ofender e Orientar Sem HumilharPako Pérez BrasilAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro - Metacompetencia PDFDocumento23 páginasResenha Do Livro - Metacompetencia PDFGilberto Rodrigues100% (2)